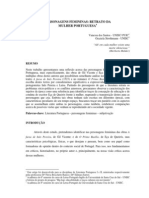Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lagrou Els A Fluidez Da Forma Arte o Poder Da Imagem
Lagrou Els A Fluidez Da Forma Arte o Poder Da Imagem
Enviado por
Daniele Kitty MachadoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Lagrou Els A Fluidez Da Forma Arte o Poder Da Imagem
Lagrou Els A Fluidez Da Forma Arte o Poder Da Imagem
Enviado por
Daniele Kitty MachadoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ELS LAGROU
A FLUIDEZ DA FORMA:
ARTE, ALTERIDADE E AGNCIA EM UMA
SOCIEDADE AMAZNICA (Kaxinawa, Acre)
PPGSA - UFRJ
TO~OI(S
o
~
~
C A P E 5
Copyright 2007 EIs Lagrou
Direitos de edio da obra em lngua portuguesa no
Brasil adquiridos pela TOPBOOKSEOITORA. Todos
os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
pode ser apropriada eestocada em sistema de banco
de dados ou processo similar, em qualquer forma ou
meio, seja eletrnico, de fotocpia, gravao etc.,
sem a permisso do detentor do copyright.
Editor
J os Mario Pereira
Editora-assistente
Christine Ajuz
Para Marco e Marie
Reviso
Luciana Messeder
Capa
Miriam Lerner
Diagramao
Arte das Letras
TODOS os DIREITOS RESEIWADOS PR
Topbooks Editora e Distribuidora de Livros Ltda.
Rua Visconde de lnhama, 58/ gr. 203 - Centro
Rio de J aneiro - CEP: 20091-000
Telefax: (21) 2233-8718 e 2283-1039
E-mail: topbooksjropbooks.corn.br
Visite o sire da editora para mais informaes
www.ropbooks.corn.br
Sumrio
AGRADECIMENTOS 15
INTRODUO: ATENO E FORMA 19
I. ARTF: o PODER DA IMAGEM
Agncia dos objetos 37
Agncia do desenho: relacionar, seduzir ecapturar 54
Etnog .afiado gosto: atica que uma esttica 84
Trilog:a dapercepo: desenho (kene), figura (dami),
imagem (yuxin) esuas relaes com o corpo 108
Uma perspectiva esttica sobre o perspectivismo : 137
1 1 . ALTERIDADE: A SEDUO DO INIMIGO
Alteri Iade eseus disfarces 159
See.i, metades egnero entre os Pano : 171
O estrangeiro eo humano (nawa/huni) 182
1 1 1 . FORMA: OS CAMINHOS DA COBRA E DO Inka
A cobra 193
Mito de origem do desenho edo cip 193
Matana ritual dajibia 201
A jibia easucuri 213
Fluidos e a forma de um novo corpo 216
Crianas misturadas e gmeos 223
O tempo e as formas 232
Origem da morte e dos corpos celestes 236
Origem do tempo e o roubo do sol 255
O dilvio: a rede, asucuri e o arco-ris 272
Encontro das cores: entre a cobra e o lnka 281
IV. AGNCIA: FLUIDEZ E FORMA FIXA
O corpo e seus saberes 303
Nascimento 303
Aes e emoes como conhecimento encorporado 309
Os yuxin dos humanos 315
Morrer, um processo de tornar-se outro 325
Um rito funerrio endo-anibalfstico 329
Os Yuxin e o desejo por um corpo 347
Emergncia do yuxin 347
Cdigo culinrio e os perigos da hemofagia 350
Os yu~in dos animais 354
Yuxibu, seres sem corpo 359
Invisibilidade do xam 366
Controle dos encontros com yuxin 370
Iniciao do mukaya 390
O veneno do dauya , , 395
V. FABRICANDO CORPOS PENSANTES: NIXPUPIMA
Potica kaxinawa: perforrnance verbal e eficcia esttica 413
Criao da humanidade por Nete 424
Batismo e o despertar da sexualidade 438
Dentes e contas 447
Milho e nixpu , ,. """ '" " .. """,' .. ',., .. "., .. "."""", "",. 457
Agncia ritual: fazer cantando , 462
Cantos de abertura " ,.., , , ,466
10
Cantos de trabalho ."", ..,..... ,,' ..'"", "..,,.,,..,... ", ",.,., ,.,., ..".", ... 480
Kenan, o banquinho"."",.,.", .."".""""." .."",.".,., ".,., ..,.".",.489
Preparao da comida ,.."' ,,,.., ,..,..' " ' 505
Remodelagem ritual dos iniciandos Kawa 511
A alquimia do cozimento: gestao, nix/)u efuneral 527
A FIXIDEZ DA FORMA 533
BIBLIOGRAFIA , , , ', .. ", .. , , 541
II
.'
A~
...
,J
- < l 1 ? - < I, ;
,~- ,- -< 10 ; : .. 0 1--< 1-5' ~
- r~. "r"
\"",.r!.~","J o.; :
TI Kulina doIg.,do Pau
.' '\
I Kaxlnawa.Nova Ollnda
, h
l 1 '\
-.,s.
,j.
JI
-:
)' 1'\, WH
M' ---l-,. ,
eeeed e f T ' IIJ r ' l1 c ::lp lo
Ir:TI Unida~ d. ConHlVa;)O
TUln1nd!gena
. PE RU
~.ftl
"Sempre pensava que para se ter o mundo s precisava de dois: a
gua e a luz, o homem e a mulher. Mas descobri que o mundo feito
de trs. No basta ter a gua e a luz, precisa ter o ar, que faz o vento,
que d movimento e faz a ligao, faz com que a coisa ande. o ter-
ceiro elemento que d a vida. Assim tambm por causa do filho do
casal que o mundo continua."
Agostinho Manduca Kaxinawa do rio [ordo, 1991.
llUIh.fro SOCIOMl8tE~14U2007
Mapas cedidos pelo Programa Monitoramento de
reas Protegidas/Instituto Socioambiental, 2007.
AGRADECIMENTOS
ESTE lIVRO O RESULTADO DE QUINZE ANOS DE REFLEXO SOBRE MINHA
experi ncia entre os Kaxinawa. Este perodo abrange praticamente o pe-
rodo inteiro da minha vivncia no Brasil e do meu envolvimento com a
antropologia. Neste perodo muitas pessoas contriburam de maneira dire-
ta ou indireta para a realizao deste trabalho.
Agradeo aextrema generosidade dos Kaxinawa do Alto Rio Purus que
me receberam nas suas casas, me .alirnentaram, me ensinaram e cuidaram
de mim durante os dezoito meses que morei nas suas aldeias com um ca-
rinho e preocupao com meu bem-estar que formaram a base para um
aprendizado e um afeto que me marcaram para sempre. Meus anfitries
conhecem aarte de realmente 'adotar' o antroplogo, de lentamente fazer
acostumar seu 'corpo pensante', como o conhecem, alis, os prprios bra-
sileiros com relao aos estrangeiros que aqui chegam.
Em Cana Recreio morei na casa de Pancho e Maria Anisa. Em Nova
Aliana foram Manuel Sampaio e Maria das Dores que me hospedaram.
A casa de Antnio Pinheiro e Cassilda, Mlton Maia e Sebastiana Pi-
nheiro, Maria Sampaio, Rosa e Marciano, Marlene e Arlindo, de Abel,
J os Paulo, Graa, Rubin eFil estava sempre aberta para minhas visitas e
lhes agradeo pelo carinho epelos ensinamentos. Em Moema fui 'adotada'
por Augusto Feitosa e sua esposa Alcina, meus pais classificatrios, e por
Laura, Maria Antnia, Denis e Santa, 'irmos', Edivaldo, cunhado. Na
casa deles, tive a sensao de estar realmente em casa. Ainda de Moema,
I~
me lembro com afeto dos jovens Francisco, Delicia, Ado e Maria Elena.
Cana Recreio e NOV2 Aliana marcaram o primeiro perodo de aprendi-
zado no Alto Purus, Moerna, para onde segui acompanhando Augusto,
marcou o ltimo.
Tudo comeou no Rio, quando, visitando Berta Ribeiro procura da
'minha tribo', ela me apresentou aNietta Lindenberg Monte, ento coor-
denadora da Comisso Pr-ndio do Acre. Agradeo aNietta pelo convite
e aela eaos outros membros da CPI pela boa recepo, pela amizade epela
ajuda. Paulo Alencar pela assessoria em assuntos mdicos, Terri Aquino
pelos conselhos de veterano, txai dos kaxi, Agostinho Manduca eSi pelas
valiosas conversas antes e depois de chegar da aldeia, assim como Malu,
Renato, Marcello Iglesias, Dd, Verinha, J oaquim Yawanawa emais tarde
Ingrid Weber, que veio integrar a nova gerao. Lus e Uta Carvalho me
hospedaram em Rio Branco e foram grandes amigos, agradeo-lhes pelas
conversas estimulantes, pela ajuda, pelo carinho. Em Manuel Urbano re-
cebi ajuda de Antnia, das Irms ede Roberto, da Sucam. Uma vez voltei
do campo por Sena Madureira, onde fui apresentada a Padre Paulino que
me contou sua apaixonante histria de vida e me hospedou em sua casa.
J ean Langdon, amiga de muitos anos, me colocou no caminho da an-
tropologia, me orientou na UFSC e despertou em mim as grandes ques-
tes que me acompanham at hoje. Dos ex-professores, colegas e amigos
dos tempos em que estudei e lecionei na UFSC contriburam diretamente
para o trabalho Rafael de Menezes Bastos, Miriam Grossi, llka Boaventura
Leite, Sonia Maluf, Slvio Coelho dos Santos, Carmen Ral, Gloria Valle,
Lus Euardo Luna, Alberto Groismann, Maria Ins Mello, Accio Pieda-
de, Aristteles Barcelos, Deise Montardo.
Lux Vidal acompanha meu trabalho com generosidade econselhos des-
de o comeo, nos tempos da UFSC, quando me cedia pilhas de bibliogra-
fia, e depois como orientadora no doutorado na USP. Sua viso crtica e
engajada mudou minha percepo do universo indgena e do lugar nele
ocupado pelos Kaxinawa. Na USP marcaram minha trajetria intelectual
os cursos de Roberto Cardoso de Oliveira, Manuela Carneiro da Cunha e
J oanna Overing, assim como 8. calorosa recepo, a amizade e conversas
I;',
estimulantes com Paula Monteiro, Miguel Chaves, Slvia Caiuby Novaes
e Ornar Thomas. Agradeo tambm Edilene Coffaci, Martha Amoroso,
Flora e Alosio Cabalzar, Lus Donisete, Denise Fajardo, Paula Morgado e
Oscar Calavia, que colaboraram com discusses sobre o trabalho no Labo-
ratrio de Antropologia Visual e no Ncleo de Histria Indgena.
[oanna Overing me convidou como 'Research Assistant' para St. An-
drews. A inspirao e orientao informal se transformaram em orien-
tai.o formal. Agradeo pelo convite, pelo entusiasmo e o constante
estmulo, pela hospitalidade amerndia e pela amizade. Aos amigos na
Esc 5cia: Napier Russel, [uliet O'Keeffe, Alan Passes, Karen J acob, Gi-
sela Pauli, Carlos Londoro, Barry Reeves, Guilherme Werlang, Steven
Kid, Lindsy, Nick Barker, Rebecca, Gonzalo. Elvira Belaunde, amiga fiel
desde os tempos de St. Andrews, acompanhou o processo de elabora-
o do livro de perto, pelas suas valiosas e entusiasmadas contribuies,
sempre grata.
Ceclia McCallum, com generosidade, acompanhou minha pesquisa
corr os Kaxinawa desde o comeo, em Londres, em Florianpolis, em St.
Andrews. Agradeo Kensinger pelas sugestes dadas durante conversas em
St. Andrews epelo estmulo econfiana ao me ceder suas notas de campo
sobre o ritual Nixpupima.
Outras pessoas contriburam com discusses e idias ao trabalho: Lu-
cia van Velthem, Regina Mller, Robert Crpeau, Nadia Farage, Peter
Gow, Steven Hugh-Iones, Eliane Camargo, Philippe Erikson, Sven-Erik
Isacsson, Angela Hobart, Bruno Illius, Denise Amold, Benny Shanon,
Gustaaf Verswijver, Bonnie e jean-Pierre Chaumeil, Philippe Descola,
,
Anne-Christine Taylor. Do grupo de trabalho sobre agentivit em Paris:
Valentina Vapnarsky, Aurore Monod-Becquelin, IsabeIle Daillant, Patrick
Deshayes, Dominique e]acques.
No Rio agradeo meus colegas do Programa de Ps-Graduao em So-
ciologia eAntropologia do IFCS (UFRJ ), que ajudaram de muitas manei-
ras:. os Reginaldo Santos Gonalves, J os Ricardo Ramalho, Maria Laura
Viveiros de Castro Cavalcanti, Maria Rosilene Barbosa Alvim, Mirian
Goldenberg, Glaucia Villas Boas, Neide Esterci, Peter Fry, e especialmen-
17
te Yvonne Maggie, Bila Sorj e Beatriz Herdia pela ajuda concreta na
viabilizao da publicao deste livro.
Agradeo as contribuies dos amigos do grupo de discusso dos semi-
nrios deetnologia amernida no IFCS edos encontros do NUTI/Abaet:
Tnia Stoltze Lima, Mrcio Goldman, Bruna Franchetto, Aparecida Vi-
laa, Carlos Fausto, Eduardo Viveiros de Castro, Cesar Gordon, Cristiane
Lasmar, Marcela Coelho. Agradeo tambm os instigantes questionamen-
tos dos meus alunos, Luana Wedekin, Maria Acselrad, Ana Amlia Bra-
sileiro, Luciana Barbio, Ana Gabriela Dickstein, Mylene Mizrahi, Rafael
Pessoa, Tiago Coutinho, Peter Beysen eSonja Ferson, que me ajudaram a
ampliar os horizontes da pesquisa.
Meus pais me deram o gosto pela viagem e me apoiaram em toda esta
jornada. Por seu afetuoso apoio logstico em vrios momentos decisivos
desta trajetria. Meus irmos (Anncleen, Pierer, David) eamigos prximos
na Blgica (especialmente Karen Phalet eVeerle Fraeters) memantinham
perto deles por vias virtuais; assimcomo minha irm gmea, Katrien, que
me acompanha sempre, mesmo quando longe.
A Marco Antonio Gonalves, companheiro de viagem desde St. An-
drews, diretamente envolvido na produo do livro, por tudo epor estar
sempre perto, eaMarie, nossa filha, que me ensinou que existe algo mais
forte com o poder defazer o trabalho parar.
Recebi financiamento paraapesquisadas agncias financiadoras CNPq,
CAPES, FAPESP eFAPERJ no Brasil; do Vlaams Ministerie voor Kultuur
en Wetenschappen na Blgi a; daUniversity of St. Andrews eo Sutasoma
Trust na Gr-Bretanha. '
INTRODUO: ATE NO E FORMA
A DISCUSSO TERICA PROPOSTA NESTE LIVRO SE BENEFICIA DE UMA
saudvel desestabilizao, nos anos noventa, das fundaes de uma antro-
pologia da arte e da esttica que tinham se firmado como um campo re-
lativamente autnomo dentro da antropologia, marginal s preocupaes
tericas centrais da disciplina. Para alguns aantropologia da arte parecia
coner o srio risco de desaparecer da agenda da disciplina, somente para
reaparecer das cinzas em nova roupagem, com novas questes ecom uma
conscincia renovada, partilhada por autores renomados no campo da te-
oria antropolgica em geral, da central idade das questes colocadas pela
forma, pela objetificao epela visualizao de idias erelaes.
Minha prpria relao com o tpico da esttica - ao fazer campo com
pessoas que visivelmente partilhavam nossa fascinao pelo mundo das
imagens, mas lidavam com elas de maneira muito diferente, comeando
por um interesse muito menos marcado namaterializao das imagens per-
cebidas e imaginadas do que ns - levava em conta a crise do campo da
antropologia da arte esuasubseqente revitalizao nas ltimas dcadas.
Iconoclasme e iconofilie so conceitos que caminham juntos, como sugere
Latour (2002), pois lidamos, neste nosso mundo repleto de imagens vir-
tuais efugidias, com o interessante fenmeno dos iconoclashes: o encontro
das imagens em tenso eem movimento, onde adestruio de uma ima-
gem leva, necessariamente, criao deoutra. Os Kaxinawa estariam sem
dvida de acordo com estediagnstico do estado das coisas, sobre o poder
defascinao das imagens eaambgua tenso entre produo edestruio
'" 1'1
.das imagens, pois seu mundo fenomenolgico se constitui em um campo
de batalha entre imagens flutuantes e 'corpos pensantes', corpos estes que
so justamente a fixao e materializao de determinadas formas que j
foram imagens.
Podemos afirmar com Taussig (1993) que tambm para os Kaxinawa
identidades so construdas a partir de processos complexos de mimese e
alteridade, I em constante processo de se fazer apartir do desfazer e refazer
o outro dentro de si. Podemos constatar deste modo que se os Kaxinawa
no partilham nossas idias ou conceitos sobre arte ou esttica possuem
no obstante idias fascinantes sobre o poder das imagens, das palavras e
dos objetos.
Alfred Gell influenciou o I 'ebate dos ltimos anos sobre arte e imagens,
particularmente com relao a seu poder de agir sobre o mundo. Sua obra
pstuma, Art and Agency (1998), causou grande impacto no campo justa-
mente por combinar icwclasme e iconofilie, explicitando uma ambio de
posicionar o estudo da eficcia da arte, tanto de imagens quanto de objetos,
no centro do debate terico na antropologia social britnica. Gell aborda
de forma direta arelao ambgua, expressa nos termos de amor/dio entre
a antropologia social e as disciplinas relacionadas esttica (a semitica e
hermenutica includas), ousando mesmo afirmar que considera as abor-
dagens sobre arte na tradio da antropologia cultural como no verdadei-
rarnenteantropolgicas (Gell, 1998: 1-5). Excessos parte, a sentena de
morte e sucessivo renascimento do campo proposto por Gell produziram
um efeito revigorador que encontrou solo frtil em todo um movimento
que h pelo menos quinze anos, trouxe de volta o tema dos objetos e das
imagens para o centro das atenes e no somente na disciplina antropo-
lgica.
Deste modo Gell no estava sozinho na sua insatisfao com o culto da
beleza numa disciplina avessa ajulgamentos de valor, assim como com uma
I "Identidade [...1 n50 deve ser considerada uma coisa em si, mas uma relao tecida
a partir da mimese (; alteridade dentro dos domnios coloniais da representao. Tudo
alude aparncia ... " (Taussig, 1993: 133). Todas as tradues das citaes neste livro
so minhas.
20
abordagem inspirada nas cincias da linguagem que procuram explicar fe-
nmenos que se caracterizam, justamente, por suas caractersticas no-lin-
gsticas. O mesmo argumento dos problemas contidos na avaliao esttica
transcultural inspirou o debate, hoje considerado decisivo para se pensar os
rumos que tomou o campo da antropologia da arte (Ingold, 1996).
Negar aos conceitos de esttica ou de arte uma aplicabilidade univer-
sal, no significa declarar esta rea da sensibilidade e atividade humanas
relacionadas atribuio de sentido ou significncia aqualidades eformas
percebidas pelos sentidos e materializadas ou manifestas em imagens, ob-
jetos, sons e movimentos como no representativa para apesquisa compa-
rativa. Pelo contrrio, significa assinalar a importncia destes fenmenos
para todo o campo da teoria antropolgica, subtraindo a antropologia da
arte, que tinha sido capturada por armadilhas metodolgicas colocadas por
outras disciplinas, de seu confinamento a uma subrea especfica da est-
tica ou da arte, redefinindo-a como uma sensibilidade em relao forma,
enqu znro materializao de idias, experincias e relaes.
E .ta renovada ateno ao rendimento cognitivo da forma pode ser en-
contrada na emografia da Melansia e arredores com autores como Wag-
ner '1986), Strathern (1988), Munn (1986), Weiner (2001), Kingston
(2003) e MacKensie (1991). Strathern afirma que:
"Para que um corpo ou uma mente esteja na posio de suscitar um
efeito em outro, para evidenciar poder ou capacidade, este precisa
. se manifestar de maneira concreta, tornando-se deste modo um gari-
. lho evocativo. Este feito pode somente ser realizado a partir de uma
esttica apropriada." (Strathern, 1988: 181)
E Weiner, seguindo Starthern, a complementa:
"Em outras palavras, uma determinada forma de vida ou socialidade
se esconde atrs do dia-a-dia do mundo melanso, como de fato do
nosso prprio, e requer 'uma esttica' para revelar seus contornos."
(Weiner, 2001: 80)
2 /
"Crary argumenta que aateno surgiu enquanto objeto discursivo
quando apercepo seseparou dos cdigos eprticas histricos que
ainvestiram com umpressuposto decerteza enaturalidade. Quando
setornou claro qUE'aviso no era transparente, que um mesmo ob-
jeto erapassvel deser percebido dediferentes maneiras pelo mesmo
ou outros sujeitos, tentativas foram feitas para explicar econtrolar as
variaes daforma em termos de ateno." (Kingston, 2003: 683)
Os Kaxinawa nunca consideraram as formas das coisas como dadas ou
naturais, pois na prpria fluidez da forma perceptvel que se baseia o
conceito de agncia e de poder kaxinawa. Os seres no humanos, yuxin
e yuxibu, so os mestres da transformao da forma e a condio huma-
na reside na conquista de uma determinada forma fixa no meio de uma
multplicdade de formas possveis. A cuidadosa produo da forma apro-
priadamente kaxinawa de pessoas enquanto 'corpos pensanres', ou seja,
de sujeitos com princpios sociais compartilhados, depende de uma lgica
especfica que rege a ateno dada ao poder das imagens eda forma. do
poder das imagens de criar edestruir as formas na vida kaxinawa que este
livro trata.
Igualmente na regio amaznica Overing (1989, 1991, 2000, 2003) su-
gereuma explorao sistemtica das diferentes estticas davida cotidiana,
onde forma e sentido esto inextrincavelmente entrelaados atravs da
produo de sentido no contexto da interao. Podemos, desta maneira,
entender forma e estilo como materializaes 'do impacto da vida sobre
as pessoas' ('ofthe hold life has onpeople', Malinowski, 1976; Gow, 1999).
Uma abordagem que chame aateno para aforma eas imagens lev au-
tomaticamente potica da vida cotidiana (Overing, 2000), onde o papel
inventivo da metfora edo processo contnuo da interpretao enquanto
reinveno do sentido num processo contnuo de autopoiesis so fatores
que remetem igualmente dinmica da forma enquanto fenmeno de-
terminado pela ateno. Com relao a este processo Toren afirma que
"aautopoiesis humana implica que no processo de fabricao de sentido o
conhecimento transformado mesmo quando mantido eque o sentido
sempre emergente, nunca fixo" (Toren, 2003: 710).
71\
1)este modo uma nova chamada paraaimportncia daforma queavida
assi.me significa tomar cuidado em no separar forma e sentido ou opor
ag.icia e sentido. Entender o processo da emergncia do sentido como
fenmeno histrico significa prestar ateno no somente nas formas e
relaes entre formas, mas tambm na relao temporal entre o apareci-
mente eo desaparecimento das formas, na relao entre forma eausncia
de arma (Kingston, 2003), assim como entre fixidez e fluidez da forma.
Est.i questo nos remete crucial relao entre forma ecorporalidade, um
tema obsessivamente trabalhado pelos rituais kaxinawa, que visam afixar
aforma corporal no ritual de sadado recm-nascido edesfaz-Iano anti-
go ritual endocanibalstico, assimcomo remodelar aforma eendurecer o
corpo durante o ritual depassagem.
A filosofiamoral kaxinawa associaasolidez earelativa fixidez daforma
ao comportamento social, definindo apessoapela sua imerso em relaes
mutuamente constitutivas, enquanto os seres no-humanos, yuxibu, so
definidos pela ausncia de laos erazesquegarantem aconstante troca de
fluidos eafetos. O yuxibu o ser no localizvel que passapela aldeia sem
destino conhecido nem lugar de origem identificvel. A volatilidade de
seus laos sociais eaaleatoriedade de seus deslocamentos significam uma
correlata volatilidade das formas potencialmente assumidas por este ser. O
perigo representado por seres semformafixaqueestes podem produzir al-
teraes nas formas dos seres com os quais interagem, humanos includos.
Na Amaznia como na Melansia, apessoa no concebida como um
ser indivisvel, um 'indivduo'. Desde o incio do sculo passado conhe-
CeITiOS, atravs da obra de Leenhardt (1971), apessoa kanaque enquanto
ser relacional de natureza essencialmente processual: a pessoa existe en-
quanto lugar de encontro de diferentes tipos de relaes. Os especialis-
tas da Melansia batizaram o mesmo fenmeno de divduo em oposio
ao conceito de indivduo (Strathem, 1988) ou depessoa fraetal (Wagner,
1991). Na Melansia atroca de valores ebens significa aobjetficao de
relaes entre pessoas egrupos de pessoas e implica na concepo divisf-
vel da pessoa: pessoas so feitas de partes de outros seres humanos e dos
prol lutos das aes destas pessoas. O conceito de divduo alude ao carter
25
ainda permanecia no explorado. Os primeiros escritos sobre os Kaxinawa
apareceram no incio do sculo da pena do padre francs Constantin Tas-
tevin (1919,1920, 1925a, 1925b, 1925c, 1926; Rivet & Tastevin, 1921)
que descreve os costumes dos Kaxinawa eoutros grupos pano que encontra
durante suas viagens pela bacia do [uru-Purus. Ainda durante as primei-
ras duas dcadas desse sculo, aparece uma coleo extremamente valiosa
de narrativas e mitos kaxinawa, uma transcrio e traduo interlinear,
produzida por Capistrano de Abreu (1913, 1941, 1969) em colaborao
com dois jovens kaxinawa que haviam deixado suas aldeias para viverem
na cidade.
Kenneth Kensinger (vide bibliografia e 1995) foi o primeiro antrop-
logo a viver com os Kaxinawa, no Peru. Kensinger produziu uma vasta
coleo de artigos sobre virtualmente todos os tpicos que dizem respeito
vida e sociedade kaxinawa. A gerao de antroplogos que sucedeu a
Kensinger deu continuidade s questes tratadas em seus trabalhos. Igual-
mente no Peru, os Kaxinawa foram estudados por Deshayes &Keifenheim
(1982, 1994, 2003 e vide bibliografia). Ambos os autores privilegiaram
inicialmente os temas de identidade ealteridade esistemas classificatrios.
!v1aisrecentemente estudaram tambm temas relacionados antropologia
dos sentidos (Keifenheim, 1998, 2002; Deshayes, 2000). Marcel D'Ans
(1973, 1975, 1978, 1983) estudou o sistema de nomina? e classifica-
o das cores e elaborou um compndio romanceado sobre mitologia. No
Brasil, os Kaxinawa foram estudados por Aquino (1977), Iglesias (1993),
Lindenberg (1996) e Weber (2004), nos rios [ordo e Humait respecti-
vamente, que centraram suas pesquisas nos temas de relaes intertnicas
e educao. Guimares (2002) se dedica a uma releitura dos cantos. Os
Kaxinawa do Alto rio Purus, o mesmo grupo com quem obtive os dados
para a realizao deste trabalho, foram estudados por McCallum (1989a;
2002 e vide bibliografia). O estudo de McCallum focaliza a organizao
social e as relaes de gnero. No contexto das relaes de gnero aautora
analisa o ritual katxanawa. A grafia adotada para as palavras em kaxinawa
segue a sugerida por Camargo esegue apronncia das letras em portugus
(1987,1991,1995).
"11
I. ARTE:
o PODER DA IMAGEM
AGNCIA DOS OB]ETOSs
Podemos notar na teoria antropolgica contempornea um renovado
interesse pela 'vida dos objetos', assim como pela 'vida das imagens', nos
seus respectivos contextos de significao, transformando as relaes entre
esttica, arte e antropologia em assunto de acalorado debate. Uma abor-
dagem da chamada 'cultura material', considerada como excessivamente
classificatria, tcnica e formal, tinha desviado, por muito tempo, a aten-
o da antropologia social dos artefatos para os sistemas de pensamento
e organizao social- negligenciando o fato de sistemas de pensamento
poderem ser sintetizados e expressos, de maneira exemplar, nos objetos
produzi. 10spelos grupos em questo.
Ilustres excees com relao ao descrdito intelectual em que se en-
contrav 1o estudo da produo material nativa so as reflexes clssicas a
ela dedcadas por Boas, Bateson, Geertz eLvi-Strauss, onde cada um usou
a 'arte' como campo privilegiado para explicitar suas propostas tericas e
metodolgicas mais gerais. Assim, para Boas (1928) os temas da arte e da
esttica foram peas-chave na sua argio contra um evolucionismo re-
ducioni: ta ou um difusionismo que negava acriatividade maior parte das
5 Este car tulo se baseia em texto publicado na Revista Ilha em (2003a). Outros artigos
onde discuto a relao entre arte e antropologia so Lagrou, 2000c, 2002c e 2002d, 2005.
37
culturas. E Lvi-Strauss (1958) usou a recorrncia da 'representao des-
dobrada' em tradies artsticas sem contato histrico demonstrvel para
ilustrar o mtodo estruturalista. Geertz (1983), por sua vez, prope para o
estudo da arte uma etnografia do gosto. A arte como materializao no do
que se pensa, mas de cemo se pensa. O gosto compartilhado por um povo
supe capacidades de interpretao de elementos visuais, para distinguir
certos tipos de formas e de relaes de formas.
Mas em geral, os antroplogos da arte no participavam das prin-
cipais discusses tericas da disciplina; esta situao comeou agora a
mudar e a obra de Gell (1993,1998) teve papel decisivo nesta revirada.
A obra de Gell se situa no contexto de um grupo expressivo de estudos
etnogrficos dedicados ao Facffico - como o de Nancy Munn (1977),
Strathern (1988) e muitos outros - que deu novo impulso reflexo
sobre o potencial de renovao terica contido no estudo dos objetos;
objetos pensados como extenses de pessoas e com papel crucial na
interao social.
At recentemente, no entanto, alm de ser associada auma abordagem
excessivamente museolgica, resqucio de uma herana evolucionista da
qual a moderna antropologia queria se livrar, o tema da 'arte' ou 'produ-
o material' nativa sofria de outro incmodo, que era o de se encontrar
parcialmente no campo de competncia de outra disciplina acadmica,
totalmente oposta em seus valores ecritrios antropologia: ada esttica.
Se a antropologia se define como disciplina no valorativa por excelncia,
desconfiando de qualquer juzo de valor com pretenses universalistas, a
esttica lida por definio com valores e distino desde o momento em
que define seu objeto: arte aquele objeto que responde a determinados
critrios mnimos que permitem que ele seja distinguido de outros obje-
tos no produzidos com este fim. E esta foi a razo pela qual a abordagem
esttica na antropologia da .arte foi atacada de forma to veemente por
defensores de uma nova antropologia da arte, como Gell.
Ao acompanhar este debate, interessante notar que se por um lado
a discusso europia, representada recentemente pela obra de Gell e pelo
debate de Manchester (Ingold, 1996), se concentra sobre o direito di-
,\0
feren:a, o debate norte-americano, por outro lado, reclama o direito
igualifade na diferena. Autores como Clifford (1988) e Marcus e Myers
(199)) chamam a ateno para a simultaneidade e a interdependncia
do n iscimento da arte moderna e da antropologia enquanto disciplina.
A ar tropologia teria dado aos artistas a alteridade que procuravam para
pode' se opor ao establishment. Na viso de Marcus e Myers, o dever da
antrcpologia no seria o de se abster de qualquer julgamento, mas o de se
unir vocao da arte moderna e contempornea ede ser o motor de uma
permanente 'crtica cultural'.
J ames Clifford, por sua vez, questiona o carter provocador eo potencial
revolucionrio da exposio no Museu de Arte Moderna em Nova York
em 1984, que celebrava a influncia da arte primitiva sobre os modernis-
tas. O autor acusa a curadoria da exposio de tratar de maneira manifes-
tamente convencional edesigual as artes 'primitiva' emoderna, relegando
a primeira ao anonimato e existncia a-histrica. Clifford aponta como
a exposio cristalizou em torno de si as opinies antagnicas de crticos
de arte, por um lado, e antroplogos por outro com relao ao modo como
a arte no-ocidental deve ser apresentada.
Importante contribuio a este debate se encontra tambm em Arte
primii,iva em lugares civilizados, de Sally Price (2000). Price chega a con-
cluses similares s de Clifford: h um equvoco nesta celebrao pelos
conncisseurs das qualidades supostamente inerentes e universalmente re-
conhecveis que so encontradas nas 'obras-primas' da 'arte primitiva',
selecionadas entre a massa indistinta de curiosidades colecionadas pelos
etnl ogos. Este equvoco, segundo Price, seresume na simples constatao
de que os produtores destas obras-primas no foram consultados a respeito
nem de seus prprios critrios estticos, nem de sua prpria avaliao e
percepo. Mais ainda, para que as obras possam ser reconhecidas como
obras-primas primitivas, os produtores das peas precisam ser esquecidos,
envoltos pela sombra do anonimato atemporal que os torna universais.
Como soluo, Price defende a incluso da arte no-ocidental em exposi-
es de arte, porm segundo os critrios dos prprios produtores erecepto-
res originais da esttica local em questo e com o mesmo tratamento que
39
porneos que visam constantemente reformular o sentido que a arte tem
para ns.
Ningum expressou melhor, em vida eobra, a relao ambgua cxisten-
te desde asua origem entre a antropologia e aarte moderna do que Alfred
Gell. Se Marcus eMyers chamam aateno para as suas semelhanas, pois
ambas, a arte rnoderna.e a antropologia, se caracterizariam pela vocao
crtica e por seu fascnio pela alteridade, Gell afirma categoricamente em
artigo produzido especialmente para um livro dedicado antropologia,
arte eesttica, eeditado pelos especialistas em antropologia da arte, Coote
eShelton, que aantropologia social moderna "essencialmente, constitu-
cionalmente, anti-arte" (Gell, 1992: 40). Com esta afirmao, Gell- em
estilo agonstico muito apreciado pelos intelectuais ingleses - no visava
somente irritar os seus colegas ao subtrair-lhes o seu campo de pesquisa,
decretando a inexistncia deste ltimo; ele estava, sobretudo, preparando
o campo para o esboo de uma proposta de abordagem totalmente nova
do tema e, para tanto, as abordagens anteriores precisavam ser derrubadas
com veemncia.
Esta nova proposta terica. ser esboada em sua obra pstuma Art and
Agency (1998), e visar uma abordagem antropolgica do tema, pois, se-
gundo Gell, o que se fez antes dele no foi antropologia, pelo menos no a
antropologia social inglesa que ele defende, esim uma antropologia cultu-
ral que sempre teria ido buscar inspirao em outras disciplinas tais como a
esttica, a semitica e a lingstica, a histria da arte ou a crtica literria.
Mas entre a provocao citada acima e a soluo proposta para o dilema
em Art and Agency, Gell escreveu dois outros trabalhos: um livro sobre ta-
tuagem, chamado WraPPing inImages (1993), eum artigo que foi traduzido
para o portugus sob o ttulo "A rede de Vogel, armadilhas como obras de
arte e obras de arte como armadilhas" (1996, 2001).
Em cada um destes trabalhos que antecederam Art and Agency, Gell
tenta olhar para o tema da arte sob uma tica dessacralsanre, pondo sob
suspeita a "venerao quase religiosa" que a nossa sociedade tem pela es-
ttica e pelos objetos de arte. No texto em que diagnostica o antagonismo
entre os pontos de vista antropolgico e esttico, prope uma aproxima-
42
o entre magia e arte, vendo em ambos os fenmenos uma manifestao
do 'encantamento da tecnologia'. Estaramos inclinados a negar este as-
pecto de ouscamento tecnolgico, presente na eficcia de certos obje-
tos decorados, como a proa da canoa usada em expedies de kula pelos
Trobriandeses, porque tendemos a diminuir a importncia da tecnologia
na J iossa cultura, apesar de nossa grande dependncia dela. A tcnica se-
ria ~onsiderada um assunto chato e mecnico, diametralmente oposta
vercadeira criatividade e aos valores autnticos que a arte supostamente
representaria. Esta viso seria um subproduto do estatuto quase-religioso
que a arte detm, como que substituindo a religio numa sociedade laici-
zada ps-iluminista,
f\ssim, Gell se afasta do critrio da fruio esttica para chamar a aten-
o para a eficcia ritual de uma proa superdecorada: a decorao no' se
que! bonita, mas poderosa, visa a uma eficcia, a uma agncia, a uma pro-
duo de resultados prticos em vez de contemplao. A maestria decorati-
va cativa eterrifica os que olham, param epensam sobre os poderes mgicos
de quem produziu e possui tal canoa. Ou seja, a arte possui uma funo
nas relaes estabelecidas entre agentes sociais. Neste sentido, o texto j
antecipa o livro sobre agncia. S que fica ainda muito preso a uma idia
que s identifica arte nos fenmenos extraordinrios, mgicos, que fogem
compreenso humana edemonstram um domnio tcnico to excepcional
que parecem no terem sido feitos por seres humanos. Isto j no supe
uma viso nada universalizvel do campo abrangido pelos objetos de arte?
Lembra a clssica separao entre objetos cotidianos e os extraordinris,
necessariamente extracotidianos. E os povos que no valorizam tal esttica
do excesso, apreciando, pelo contrrio, uma esttica rninirnalista "
Mais convincente, ou pelo menos muito mais inovador, o texto sobre
a rede de Vogel, onde Gell prope um dilogo direto entre arte conceitual
e produes no-ocidentais. O que produziu a reflexo foi uma exposi-
o cnde Suzan Vogel, antroploga ecuradora de uma exposio chamada
7 Ver acrtica de Overing ao uso rranscultural do conceito de esttica esua ntima relao
com a 'religio' do sublime, do extraordinrio (Overing in Ingold, 1996: 249-293).
43
Art/Artifact, no Center for African Art, em Nova York, expe uma rede de
caa amarrada dos Zande como se fosse uma obra de arte conceitual. A
curadora plantou uma verdadeira armadilha para o pblico, \..]uese equi-
vocou totalmente acerca do que viu, sem saber se se tratava de uma obra
de arte conceitual ou no. O texto de Gell visa mostrar o quanto a idia
de armadilha e as engenhosas formas que assume em diversas sociedades se
aproxima do conjunto de intencionalidades complexas postas em opera-
o em torno de uma obra de arte conceitual. Ou seja, melhor do que pro-
curar aproximar povos no-ocidentais da nossa arte atravs da apreciao
esttica de uma mscara ritual seria identificar o que tm em comum mui-
tos artistas contemporneos trabalhando com o tema da armadilha - como
Daniel Hirsch, que colocou um tubaro numa piscina com formol - e as
armadilhas indgenas, dando mostra de um mesmo grau de inventividade,
complexidade e dificuldade.
Ou seja, aqui tambm Gell se afasta do critrio beleza, inclusive porque
este tambm no mais o critrio atravs do qual a arte contempornea
avaliado, para ver como se poderia melhor colocar em ressonncia produ-
es no ocidentais com o nosso campo de produo artstica atualmente
mais prestigiado, o conceitual. Na sua discusso com o filsofo de arte
Arthur Danto, que defende que a rede no uma obra de arte porque no
foi feita com esta inteno e mais ainda porque foi feita para um uso ins-
trumental eno para a contemplao, Gell mostra como instrurnentalida-
de e arte no necessariamente precisam ser mutuamente exclusivas. Uma
armadilha feita especialmente para capturar enguias, por exemplo, poderia
representar muito melhor o ancestral, dono das enguias, do que sua ms-
cara, visto que no representa somente sua imagem (apesar da forma da
armadilha ter a forma de uma enguia), mas presentifica, antes de tudo,
a ao do ancestral, sua eficcia tanto instrumental quanto sobrenatural
e a relao complexa entre intencionalidades diversas postas em relao
como aquelas da enguia, do pescador edo ancestral.
Gell supera, desta forma, aclssica oposio entre artefato earte, mtro-
duzindo agncia eeficcia onde adefinio clssica s permite contempla-
o. Mas o autor mantm, por outro lado, seu fascnio pelo difcil, carac-
44
terstica que mais marcaria, segundo Bourdieu (1979), a nossa concepo
de arte desde Kant: onde o valor dado quilo que distingue, ao gosto
refir ado e informado que no se deixa levar pelo prazer fcil que satisfaz
os S ntidos. O difcil requer esforo intelectual e/ou tcnico e se sobressai,
disti ngue; ou seja, se para Gell a obra de arte teria alguma caractersti-
ca que a distinguisse de outros objetos, esta jX1SScHiapelo seu carter de
algu na maneira excepcional. Muitas produes analisadas como arte no-
ocid ental, no entanto, como a pintura corporal, a cermica e a cestaria,
todas de uso cotidiano, no se encaixariam nesta categoria. V-se como
difcil dizer algo com validade universal sobre um fenmeno que em mui- .
tas culturas sequer tem nome.
Ainda asim, podemos dizer, resumindo a discusso dos dois textos ci-
tados, que estes atacam principalmente a definio do objeto de arte em
termos de esttica, mostrando como esta, por ser essencialmente avalia-
tiva, no combina com uma abordagem comparativa do tema. Tambm
no livro sobre tatuagem (Gell, 1993) nada de esttica. O autor provoca
inclLSive os amantes da tatuagem, afirmando que assim como o fenmeno
era sinnimo de mau gosto para o burgus vitoriano do sculo XIX na In-
glaterra, ele continua mantendo uma ligao com arnarginalidade eo mau
gosto para os intelectuais de hoje. claro que o autor no visitou as praias
cariocas! Aqui tambm a idia ade analisar o fenmeno como fenmeno
social, mais especificamente na Polinsia, e de ver quais poderiam ser as
relaes entre um tipo de organizao social, com alta competitividade e
pouca hierarquia estvel, e a arte guerreira da tatuagem, que florescia, por
exemplo, nas ilhas marquesas, onde a tatuagem funcionava como se fosse
um escudo, uma segunda pele.
Em Art and Agency (1998), o mais visado no mais a esttica. Vere-
mos inclusive que a esttica entrar, disfarada sob o manto da anlise
formal, pela porta de trs no captulo sobre estilo. No existe preocupa-
o com o estilo de uma obra ou de um conjunto de artefatos possvel
sem um mnimo de ateno s qualidades da forma, simetria etc.; e Gell
acaba dando muita ateno forma e s vrias relaes de transformao
entre as formas. Segundo Nicholas Thomas, que escreve a introduo da
4S
obra, esta seria a parte menos revolucionria ou inovadora do trabalho
(1998: X). A mim me parece, por outro lado, ser tambm o momenro
em que Gell faz as pazes com um assunto ao qual dedicou os ltimos dez
anos da sua vida com tanta paixo, o de entender o ser da arte em termos
comparativos.
Mas as razes para deixar a esttica relativamente em paz so tambm
outras. Na abertura do trabalho, onde prope a sua nova teoria, Gell no
revoga seus pontos de vista anteriores - simplesmente os reitera. Tam-
bm tinha ocorrido, ern 1993, um debate promovido pela Universidade de
Manchester a respeito da aplicabilidade transcultural do conceito 'estti-
ca', onde Overing eGow defenderam urna idia similar de Gell, ade abo-
lir o conceito de esttica como conceito com aplicabilidade transcultural
(Ingold, 1996: 249-293). O uso do conceito com fins comparativos foi de-
fendido por antroplogos da arte como Morphy eCoote com o argumento
de que a apreciao qualitativa de estmulos sensoriais uma capacidade
humana universal, e que asua negao seria equivalente aexcluir parte da
humanidade de uma dimenso essencial da condio humana. Overing e
Gow, por outro lado, argumentaram contra o uso do mesmo, apontando
para as origens histricas e culturais do conceito 'esttica'.
Gow invoca A Distino, de Bourdieu (1979). Este localiza a origem da
esttica ocidental na Crtica dojuzo, de Kant eexplica por que aaplicao
do julgamento esttico no pode seno representar o pice do exerccio
da distino social atravs da demonstrao de capacidades de discrimi-
nao, que no seriam inatas e universais como queria Kant, mas apren-
didas e incorporadas atravs de longo processo de exposio e aquisio
do habitus especfico da sociedade em questo. Overing, por sua vez, to-
mando como exemplo a sociedade Piaroa, demonstra como em contex-
tos no-ocidentais a apreciao do belo e da criatividade no recai sobre
uma rea especfica da atividade humana, mas engloba todas as reas de
produo da sociabilidade, desde a procriao at os processos produti-
vos da vida cotidiana. Em votao da platia, que se segue a um longo
debate do qual o prprio Gell participa, o conceito 'esttica' derrotado
enquanto instrumento de anlise transcultural e os defensores da esttica,
46
ctedras da antropologia da arte, voltam para casa de mos vazias, com seu
objeto de pesquisa declarado inexistente.
No era mais preciso, portanto, continuar anatematizando a esttica, e
Gell dedica agora toda a sua fora a outro obstculo da nova antropologia
da arte: a abordagem lingstica, semitica e/ou simblica. A sua recusa
em tratar a arte como uma linguagem ou como um sistema de comunica-
o veemente.
"Recuso totalmente a idia de que qualquer coisa, exceto a prpria
lngua, tem 'sentido' no sentido proposto ... No lugar da comunica-
o simblica, ponho a nfase em agncia, inteno, causao, resul-
tado e transformao. Vejo a arte como um sistema de ao, com a
inteno de mudar o mundo em vez de codificar proposies simb-
licas a respeito dele." (Gell, 1998: 6)
Esra abordagem centrada na ao seria mais antropolgica do que a
abord agem sernitica,
'porque est preocupada com o papel prtico de mediao dos obje-
[Osde arte no processo social, mais do que com a interpretao dos
objetos 'como se' fossem textos." (Gell, 1998: 6)
Um dos autores visados pela crtica de Gell, sem, no entanto, ser cita-
do, , evidentemente, Geertz (1983), o ltimo a propor antes de Gell um
mtodo geral de abordagem antropolgica da arte. Poderamos dizer, em'
defesa de Geertz, que para este autor os smbolos e as artes enquanto siste-
mas simblicos agem tanto como modelos de ao quanto para a ao; ou
seja, Geertz seria o primeiro aafirmar que smbolos no somente represen-
tam, mas transformam o mundo. Tambm para Lvi-Strauss, que trabalha
com o modelo lingstico eenfatiza aqualidade comunicativa da arte, atos
falam epalavras agem, sendo impossvel separar ao, percepo esentido
(Lv-Strauss, 1958, 1993; Charbonnier, 1961).
O uso restritivo que Gell faz da idia de 'sentido' foi recentemente criti-
cado por Robert Layton (2003) que revela o quanto Gell faz de fato uso da
47
semitica de Peirce para definir seu modelo para a agncia especfica atri-
buda arte. Para Layton existe um problema no uso indiscriminado feito
por Gell de conceiros peirceanos distintos, como cone e ndice. Lavton
argumenta que, por no querer pensar ou falar em cultura ou quadros de
referncia que guiam a percepo, Gell acaba chamando todos os objetos
artsticos de ndices inseridos em redes de ao; mas claro que estes ndices
s funcionam deste modo porque so de fato de alguma maneira cones
e que requerem certo tipo de interpretao informada e contextualizada
para desencadearem a rede de interaes nas quais Gell est interessado.
A vantagem da proposta de Gell, por outro lado, est na significativa
ampliao da categoria de objetos que podem ser tratados a partir desta
nova definio:
H[A] premissa da teoria se baseia na idia de que a natureza do ob-
jeto de arte uma funo da matriz scio-relacional na qual est
inserido. No possui 'natureza' intrnseca, independente do con-
texto relacional. [...] Mas, na verdade, qualquer coisa poderia ser
pensada como objeto de arte de um ponto de vista antropolgico,
incluindo-se a pessoas vivas, porque uma teoria antropolgica da
arte (que podemos definir em grandes linhas como 'as relaes so-
ciais na vizinhana de objetos que mediam agncia social') se funde
sem problemas com a antropologia social das pessoas e seus corpos."
(Gell, 1998: 7)
A proposta , portanto, tratar objetos como 'pessoas', proposta que
quando percebida do pomo de vista das cosmologias dos povos sob estudo,
- no caso de Gell, os povos melansios, no nosso caso, os amerndios - pa-
'rece ser convincente. A aproximao dos conceitos de artefato e pessoa se
torna ainda menos estranho ao esforo terico da antropologia se lembrar-
mos que esta se debrua, desde os seus primrdios, sobre discusses acerca
do animismo ("a atribuio de sensibilidade a coisas inanimadas, plantas,
animais etc."). De Taylor at aos dias de hoje, portanto, interessou-se a
disciplina na reflexo sobre "as relaes peculiares entre pessoas e coisas
que de alguma maneira 'se parecem com', ou funcionam como, pessoas".
48
A proposta deve ser lida em termos maussianos, adverte Gell, onde substi-
tuiramos "prestaes" por "objetos de arte" (Gell, 1998: 9).
Ou seja, interessa ver o que estes objetos e seus variados usos nos
ensinam sobre as interaes humanas e a projeo da sua socialidade
sobre o mundo envolvente; na sua relao com seres e corpos humanos
que mscaras, dolos, banquinhos, pinturas, adornos plumrios e pulsei-
ras tm de ser compreendidas. Do mesmo modo que o alargamento do
conceito de pessoa est na base da teoria antropolgica desde Mauss
(1934), com especial relevncia para adiscusso amaznica e melansia,
os dierentes sentidos que a relao entre objeto e pessoa pode adquirir
se ccnstitui em problemtica legitimamente antropolgica. Conceitos
de pssoa podem ser unitrios (como no Ocidente) ou mltiplos; a Me-
lansia cunhou o conceito de 'dividual' (Strarhern, 1988) ou 'distributed
perso.i', a pessoa distribuda (Gell, 1998), a pessoa que se espalha pelos
trao'; que deixa, pelas partes de si que distribui entre outras pessoas; do
rnesrr.o modo, ainda segundo Gell, existem 'distributed objects' (objetos
distribudos) ea 'extended mind' (mente estendida) que se espalha atravs
de um grupo de objetos relacionados entre si como sefossem membros de
uma mesma famlia."
A relao entre objetos e pessoas tal como descrita, relativamente ao
caso elaMelansia, por Gell e Strathern, entra muito bem em ressonncia
com (: material amaznico em geral ekaxinawa em particular. - na relao
entre o esquema conceitual de um povo, suas interaes sociais e a mate-
rializao destes em artefatos e imagens que se encontra a fertilidade d
novo mtodo proposto. E, se relativizarmos os excessos cometidos pelo au-
tor com relao ao sentido dado ao sentido, aproposta de inserir o assunto
da arte no cerne da discusso terica da disciplina evidentemente muito
bem-vinda. Um autor que pode nos ajudar a pensar de modo diferente
o sentido dos objetos Daniel Miller (1994) que mostra como muito
8 Almeida (2000) produziu uma tese sobre a arte shipibo, inspirada em Gell, onde
estuda o conjunto de objetos e escritos em torno do estilo shipibo como uma extended
mind.
49
ressaltam o fato de objetos serem imbudos de agncia e serem pensados
como 'pessoas' de maneira parecida ao que foi notado para o contexto
melansio (Strathern, 1988; Munn, 1986; Gell, 1998).
Deste modo, entre os Waur (Wauja) do Alto Xingu, mscaras e pa-
nelas encarnam poderosos seres, chamados de apapaatai. As mscaras so
as roupas e instrumentos destes apapaatai, que precisam delas para se pre-
sentificar e danar no mundo. O prprio ritual que os pe em cena uma
resposta doena por estes provocados. O xam identifica o causador da
doena ao v-Ia em miniatura no corpo do doente, que se torna dono de
uma festa em homenagem ao seu agressor. Ao dar-lhe a chance de se vi-
sualizar com toda presena teatral que uma performance ritual xinguana
permite, o aposxuuo: causador da doena se torna o aliado de sua vtima, e
anfitrio (Barcelos, 2002).
Entre os Wayana, Lcia Van Velthem (1995, 2003) descreve como os
artefatos tm um tempo e m ritmo de vida iguais aos de uma pessoa,
com direito a descanso nas vigas das casas durante a vida, e com a morte
anunciada quando perdem asua funcionalidade e razo de ser. Os motivos
da cestaria tm uma iconografia precisa, que no omite nem a alimenta-
o dos seres sobrenaturais ali capturados. Arte, para os Wayana e outros
grupos karib das Giuanas, a captura e domesticao dos predadores do
cosmos atravs da miniatura.
Mais importante do que a maneira como o conhecimento estocado
em objetos externos o modo como as pessoas incorporam o conhecimen-
to. Para os Kaxinawa aarte , como memria e conhecimento, incorpora-
da. Esta prioridade explica por que as expresses estticas mais elaboradas
dos grupos indgenas so ligadas decorao corporal: pintura corporal,
arte plumria, colares e enfeites feitos de mianga, roupas e redes tecidas
com elaborados motivos decorativos. Os Kaxinawa no estocam suas pro-
dues artsticas; esto convictos, como muitos outros povos amerndios,
de que objetos rituais perdem o seu sentido e a sua beleza, a sua 'vida',
depois de usados. Se durante o ritual o banco belamente pintado epode
somente ser usado pelota) iniciando(a), depois ele se torna um simples
banco, com a decorao desaparecendo lentamente, podendo ser usado
~7
por iualquer homem (no cotidiano, mulheres no se sentam em bancos,
mas em esteiras).
fi etnografia sobre objetos na Melansia interessante para a etnogra-
fia anerndia, no somente pelas questes que sugere, mas tambm pelas
grandes diferenas entre a vida dos objetos l e aqui. Vimos que entre os
Kaxinawa e muitos outros povos amerndios, o importante na vida de um
objeto no que sobreviva ao seu produtor ou usurio, mas que desaparea
junto com ele: assim como pessoas eoutros seres vivos, o objeto tem o seu
processo de vida, que acaba com o envelhecimento e com a sua destrui-
o. s vezes, este processo ocorre pouco tempo depois de sua fabricao,
outras vezes no. Mas um objeto em geral no sobreviver morte do seu
dono. Os objetos 'morrem' e, na floresta amaznica, costumam cumprir
este destino com uma velocidade muito maior do que em outros contextos
etnogrficos. Quando o corpo se desintegra e as almas tm de partir, tudo
o que lembra o dono e que pode provocar o seu apego precisa se dissolver
ou ser destrudo.
A vida dos artefatos tende a seguir na Amaznia um ritmo diferente
do ri :mo que segue na Melansia, onde os colares e braceletes do kula,
por exemplo, sobrevivem por muito tempo morte biolgica dos seus do-
nos, tornando-se extenses do seu corpo e da sua pessoa, mantendo a sua
lernbana viva (Gell, 1998). Como j assinalava Malinowski (1976), o
processo de vida destes objetos de valor ganha uma relevncia toda espe-
cial, ()objeto incorpora uma histria que faz falar e lembrar, ese torna uma
extenso do seu dono original, aquele que o fez comear a circular ..
0(, mesmo modo que a pessoa pode ser concebida como uma 'entida-
de distribuda', como sugere Gell, transcendendo o espao-tempo de seu
corpo biolgico atravs dos atos, produtos e lembranas que produz, o ob-
jeto pode se tornar igualmente uma 'entidade distribuda', medida que o
campo da sua ao se amplia em termos de tempo e espao. Deste modo,
uma canoa usada no crculo do kula continuava ligada ao seu dono, mesmo
depoi. de ter sido trocada por objetos de valor, e acabava representando
toda arede de interaes e transformaes que vinha sofrendo no decorrer
de sua vida enquanto objeto (Munn, 1977). Deixava, portanto, de ser um
~l
mero objeto material, agregando em torno de si uma rede densa de rela-
es entre ilhas, pessoas e objetos (Gell, 1992).
E igualmente porque objetos no so meros objetos na Amaznia que,
em vez de incorporarem a lembrana do falecido produtor ou possuidor
_ possibilitando que ele continue vivendo entre os vivos atravs das suas
extenses materializadas -, precisam ser desfeitos para ajudarem vivos e
mortos a aceitarem a profunda e inegvel transformao significada pela
morte. Nada continua igual depois da destruio dos corpos.
AG~NCIA DO DESENHO: RELACIONAR, SEDUZIR E CAPTURAR
J os de Paulo Kaxinawa, 1989.
Duas linhas de fora se entrelaam no material a ser apresentado com
relao produo de imagens entre os Kaxinawa: o tema da alteridade
e o de agncia. Mostrarei como algumas idias germinais de Gell (1998)
recebero necessariamente uma inflexo especfica quando vistas sob a
perspectiva da importncia da alteridade para o pensamento amaznico.
Como argumentamos acima, o que torna Gell to atrativo para a et-
nologia o fato de ele propor uma abordagem de objetos, artefatos ou
arte "como se fossem pessoas", enfatizando suas qualidades agentivas. Ao
traduzir esta proposta para o contexto das preocupaes tericas dos ama-
54
zonistas, poderamos formular a questo de forma menos especfica e per-
guntar, com Gow (1988,1999), o que poderia ser a relao entre corpo e
produao de imagens para os amerndios, e tambm o que poderia ser a
rela o entre corpo e artefatos para sociedades amaznicas especficas, no
meu caso, os Kaxinawa.
Visto que outros seres, especialmente animais, recebem o status de
gente ou sujeitos no pensamento amaznico, a questo sobre o que fazer
com artefatos, feitos de plantas e animais por humanos, se coloca auto-
maticamente (Viveiros de Castro, 2004). Mas a questo pode ser apli-
cada tambm a imagens produzidas pela agncia combinada de plantas,
memria, cantos e outras entidades. Devem estes tambm ser conside-
rados como agentes, isto , agentes sociais, ou mesmo pessoas, entidades'
querendo se tornar pessoas, de determinado ponto de vista? O material
kaxinawa sugere que este o caso para alguns artefatos e algumas ima-
gens. Mas veremos que apesar de podermos falar de agncia de desenhos
eobjetos para os Kaxinawa, arelao entre artefatos epessoas diferente
para a Amaznia e a Melansia. Esboarei tambm algumas considera-
es crticas com relao aos conceitos de agncia e a relao de sujei-
to-objeto usada por Gell. Esta considerao crtica ser empreendida a
partir da discusso corrente entre americanistas sobre o tpico animismo
ou perspectivismo.
importante frisar que existe um marcado contraste no livro de Gell,
Art and Agency, entre aprimeira easegunda parte, eque cada parte merece-
ria um tratamento diferente. Os primeiros captulos tratam o objeto de arte
separadamente, como ndice numa cadeia interativa de tipos muito diferen-
tes de sujeitos, todos ligados, uns aos outros, numa relao undirecional de
causa-efeito, isto , de agentes cujas aes produzem pacientes, que, por sua
vez, pxiem se tornar agentes, quando reagindo ao que sofreram.
A .iltirna parte do livro segue um caminho totalmente diferente, pro-
pondu u:nmtodo quase oposto: isto , uma vez tendo reconhecido que um
ndice dearte parte de um grupo de objetos ou formas relacionados, como
uma r essoa parte de uma famlia, somos obrigados a prestar ateno ao
estilo, isto , s relaes formais entre as formas. Uma vez idenrificadas tais
55
relaes, algumas hipteses muito temidas sobre relaes possveis entre
formas e o tipo de sociedade que as produz podem ser formuladas, como
a "lei da menor diferena" ('the law of least difference') proposta por Gell
para o corpus das Ilha" Marquesas composto por Karl Von den Steinen no
sculo XIX. Gell fala em "correlaes em termos de foras culturais e ide-
olgicas sincrnicas" sem postular qualquer lao causal; uma abordagem
muito diferente da teoria de causa-efeito que props para a agncia na
primeira parte do livro (Gell, 1998: 168).
Minha crtica com relao ltima parte do trabalho de Gell seria que
a correlao com a qual trabalha foi descoberta a partir de uma viso ex-
terior, no interior; isto , as conexes entre padres de desenhos e sua l-
gica gerativa com a lifeworld (o mundo vivido) da sociedade que as produz
no foram encontradas atravs de uma conversa com as pessoas para as
quais significam, mas atravs de correspondncias formais entre as estrutu-
ras sociais da sociedade e as estruturas formais guiando aproduo dos de-
senhos. Desta forma, Gell, um dos mais virulentos crticos da tradicional
antropologia da arte, faz concesses forma estudada por conta prpria,
isto , anlise formal (apesar de evitar, cuidadosamente, falar em 'bele-
za'), mas no ao contedo. Ou talvez esta afirmao tambm no esteja
correta, ou somente se aplicaria ao captulo sobre estilo e cultura, porque
Gell s foi capaz de tornar seus 'ndices de arte' em agentes porque admitiu
algum tipo de sentido econtexto de interpretao, que possibilitaram seus
artefatos ou imagens de agir.
Uma nova abordagem da arte certamente ter de encontrar uma con-
ciliao terica entre essas diferentes partes conflitantes de um mesmo
trabalho. E tal sntese s pode ser encontrada em uma etnografia fina onde
o papel do discurso nativo abertamente reconhecido no processo de au-
topoiesis (Toren, 2003: 710); isto , o processo constante de produo de
novos sentidos. E este processo continua, no nosso caso, no contexto do
encontro ernografico. Neste processo, ateno deve ser dada tanto quilo
que dito quanto ao que silenciado.
Por isso, antes de comear com o papel da alteridade na produo das
imagens pelos Kaxinawa, me deterei um pouco no que quero dizer com o
56
termo 'produo de imagens' (image-making). Falo aqui de imagens (tanto
verbais e visuais, quanto virtuais) e no de artefatos porque estou to inte-
ressada em imagens veladas e imateriais ecom a importncia de experin-
cias s quais apenas se alude, mantendo-as essencialmente secretas, quan-
to em objetos interagindo uns com os outros num mundo imediatamente
observvel. Outros autores chamaram recentemente ateno para este
mesno fenmeno. Mentore fala da "glorious tyranny of silence" (Mentore,
200'f: 132-156), a tirania gloriosa do silncio, e Anne-Christine Taylor,
do s-gredo em torno do encontro com o arutan, onde a interiorizao da
relaco estabelecida com o ancestral tornada visvel na pintura corporal,
enquanto o contedo do encontro nunca revelado (Taylor, 2003: 223-
248:. Taussig, em Mimesis and Alterity, tambm aponta para a importncia
de s pensar sobre o que escapa 'objetiticao'. Quando fala sobre o ima-
ginrio verbal usado por Florncio, curandeiro colombiano, para esboar
sua viso, Taussig afirma:
"Parece-me crueial entender que este poder somente pode ser captu-
rado atravs de uma imagem, e melhor ainda, entrando nesta imagem.
A imagem mais poderosa do que aquilo de que uma imagem."
(Taussig, 1993: 62)
Ao escrever sobre um ritual de cura cuna, onde uma mordida de cobra
curada atravs da queima de imagens de mercadorias, Taussig volta a
enfatizar a importncia do efrnero:
"[...] a criao do poder espiritual como imagem animada pela morte
da materialidade da imagem. Dito de outra maneira, aparncia pa-
rece crucial, aparncia pura, aparncia como o impossvel - uma
entidade sem material idade. como se uma lgica perversamente
nostlgica se aplica onde a forma-esPrito s fJode existir como agente
ativo fJelo apagarr,ento da sua forma material. Criao requer destrui-
o - da a importncia da terra dos mortos dos Cuna onde imagens
flutuam com tanta abundncia; da a qualidade fantasmagrica das
fotografias." (Taussig, 1993: 135)
57
As palavras de Taussig aludem a um tema que tem sido recorrente em
escritos recentes sobre a antropologia das imagens, como os de Carlo Se-
veri (2003) eFreedberg (1989); que o de chamar a ateno para o poder
das imagens de afetar as pessoas emocionalmente. A teoria de Gell sobre
agncia, por outro lado, no exclui absolutamente a emoo como um dos
efeitos possveis da agncia dos ndices de arte, mas est mais interessada
em entender cognitivamente o poder da forma e dos objetos de agirem
em relaes sociais do que em explorar o funcionamento da imaginao
humana.
Quando falo em 'produo de imagens' (image-making) quero incluir
estas imagens mentais, expressas por meios, s vezes, muito indiretos,
aludidas em cantos, por exemplo, mas nunca pintados ou rabiscados de
forma representacional em lugar nenhum. O que significa no pintar ou
tornar visvel ou materializar vises obtidas e ativamente procuradas
em arriscadas empreitadas em busca de vises, a famosa vision quest
como acontece com a busca pela viso com o arutan (Taylor, 2003)? O
que Taylor diz sobre o encontro dos Ashuar com o arutan se aproxima
muito desta descrio pelo ento jovem cineasta e figura de destaque
na regio do [ordo, Si Osair, da maneira como os yuxin (espritos)
iniciam um xam:
"Paj detira vida. Para virar paj, vai sozinho para amata eamarra
o corpo todo com envira. Deita numa encruzilhada com os braos
e as pernas abertos. Primeiro vm as borboletas da noite, os husu,
elas cobrem seu corpo todinho. Vemo yuxin que come os husu at
chegar a tua cabea. A voc o abraa comfora. Elesetransforma
em murmur, que tem espinho. Se voc tiver fora e no solta, o
murmur vai se transformar emcobra que se enrola no seu corpo.
Vocagenta, elesetransforma emona. Voccontinua segurando.
E assimvai, at que voc segura o nada. Voc venceu aprova eda
fala, a voc explica que quer receber muka eele ted." (Osair Sales
Si in Lagrou, 1991: 36)
58
o poder est relacionado ao poder de transformao. Este o poder dos
seres espirituais chamados de yuxin ou yuxibu, eles tm o poder de produzir
imag -ns animadas na mente ou no 'corpo perceptivo' das pessoas. Os yuxibu
so o plural ou o superlativo dos yuxin, esprito ou alma, possuem capacidade
de agncia e ponto de vista, in~encionalidade. Estes seres yuxibu no so li-
mirados pela forma, podem se transformar vontade epodem transformar a
forma do mundo asua volta. Tambm possuem acapacidade de viajar defor-
ma veloz com o vento, enquanto so trazidos de volta de longe pela chuva.
A fenomenologia kaxinawa gira em torno desta relao tensa entre a
fabricao da forma slida, onde apessoa saudavelmente incorporada e en-
raizada o artefato por excelncia do trabalho coletivo kaxinawa, eo poder
de imagens livres e flutuantes. Estas imagens se manifestam em trs tipos
de fo'mas diferentes: na forma de espritos ou seus donos (yuxin e yuxibu),
na fo"ma de transformaes em imagens e vises (chamadas dami, estes so
'suas rientiras'), efinalmente na forma de caminhos esboados emdesenhos
(kene). Estes padres de desenhos so chamados de "a lngua dos yuxin", e
podem ser produzidos somente pelas mulheres. Este grafismo chamado de
a arte de escrever a coisa verdadeira: kene kuin. Escrever na linguagem do
alfabeto chamado de nawan kene, aescrita dos estrangeiros, no caso, ados
brancos. Todas estas imagens, as desenhadas ou as tecidas para serem con-
templadas eoutras para serem invocadas emcantos, influenciam ativamente
eagem sobre as formas assumidas pela vida no mundo kaxinawa.
Voltemos agora para uma apresentao muito sinttica do papel da al-
teridade na percepo e produo de imagens e artefatos entre os Kaxina-
wa. O conceito de alteridade tem sido um conceito central na etnologia
da regio desde os escritos de Lvi-Strauss, Clastres, Overing e Carneiro
da Cunha at hoje com os escritos de Descola, Viveiros de Castro e toda
agerao mais recente." Deste modo, condio e socialidade humanas so
entendidas na quase totalidade das sociedades amaznicas como processos
cuidadosos de predao controlada. A predao precisa ser controlada
exatamente porque ela foi reconhecida pelos amerndios como intrinseca-
'i Para os referidos autores, ver bibliografia.
59
~\.\.~ l.. } t . . . . \..'f4 t\.~
mente constitutiva da prpria vida em geral eda vida social em particular
(Overing, 1985b, 1986b, 1993b). O colapso desta precria 'vida tranqila'
est no horizonte de todo discurso amerndio sobre doena, morte, confli-
to e infortnio.
Fausto (2004: 172) se coloca a pergunta: "O que significa no basear
uma cosmologia numa oposio clara entre o bem eo mal? Que tipo de so-
ciedade assim o faz?", econcl .icom certa ironia que "a mesma cultura que
baseia sua tica numa distino universal entre o bem eo mal desenvolveu
[...] uma capacidade insupervel para a violncia e a destruio. Culturas
indgenas que prosperaram em ambivalncia, pelo contrrio, no tiveram
tanto sucesso." A questo sobre a relao entre a capacidade de um grupo
ou sociedade de aumentar seu poder de ao violenta e a nfase de uma
cosmologia na predao recebeu diferentes tratamentos na literatura.
60
Autores que identificam a agncia humana com a inteno predatria
chegam paradoxal concluso de que ningum seria mais humano que o ja-
guar e ningum mais divinamente poderoso que o deus canibal, superlativo
do humano. A 'falta de sucesso' dos amerndios na imposio da sua prpria
violncia sobre o mundo foi, por outro lado, tambm o ponto de partida de
um outro tipo de reflexo que se ateve s implicaes morais deste tipo de
filosofia social. No parece ser um mero acidente, portanto, que vises de
mundo maniquestas levaram a mais destruio em grande escala do que
aquelas que colocam a ambigidade no prprio mago do ser.
Reichel-Dolmatoff(1971), rhem (1993,1996) eIsacsson (1993) formu-
laram teorias de equilbrio csmico e rhem incorporou o conceito de "eco-
sofia" de Guattari (1989), enquanto Overing (1993a, 1996,2000), Belaunde
(2001,2005), Teixeira-Pnto (1997) e outros se concentraram nas implica-
es morais epsicolgicas de teorias amerndias de ambigidade. Overing su-
gere l ma interpretao que est tambm claramente presente na cosmologia
kaxinawa, de que aexistncia de 'Fallible Gods', deuses falveis, pode ser uma
mitologia muito mais saudvel para a construo de sociedades igualitrias
que o infalvel bom exemplo de uma s figura paterna poderosa (Overing,
19851,). A idia da incorporao da alteridade, esua presena dentro do que
const tui o mais interior dos interiores de sociedades epessoas, no , portan-
to, ononoplio do pensamento psicanaltico. No pensamento amerndio,
entretanto, este processo realizado sem a correspondente diviso interna
em natureza ecultura e tem, portanto, resultados diferentes. 10
A importncia da alteridade para aconstituio do eu recebe uma infle-
xo especial entre os Pano (e os Kaxinawa so Pano, tambm neste aspec-
to). Os Pano so to explcitos com relao regra amaznica que diz que
o 'eu constitudo pelo outro', que tm sido considerados especialmente
interessantes para pensar esta modalidade especificamente amaznica de se
relacionar com o outro. Dito de modo sinttico, esta modalidade amaznica
10 Fausto (1999b) chama a ateno para uma lgica da qualidade na guerra indgena, onde
se procura o mximo de rendimento simblico da morte de um inimigo em vez de uma
maximalizao da morte em termos quantitativos. Em vez de coisificar o inimigo, este
qualificado e individualizado. .
61
de relao implica em processos de subjetivao, do tornar-se sujeito, atra-
vs do processo de tornar-se parcialmente outro, sendo que a subjetividade
do eu significativamente aumentada pelo contato ntimo e aeventual in-
corporao do outro (seja este um inimigo, esprito, animal ou planta).
Esta incorporao pode assumir diversas formas, entre as quais as mais
espetaculares, bem conhecidas da literatura, so o costume de comer o
inimigo, tomar sua cabea como trofu, os casos em que o matador incor-
pora aalma, o canto ou o sangue de sua vtima para sempre em seu prprio
corpo; alm dos casos de crianas inimigas adotadas e mulheres raptadas
que so esposadas.'! Se estas prticas, com relao a inimigos humanos,
tm, por razes bvias, se tornado cada vez mais raras na sua forma mais
objetivada, a mesma lgica continua valendo com relao a relaes esta-
belecidas com animais, plantas e outros seres do universo.
Esta observao tem conseqncias para o significado dos artefatos.
Todas essas prticas esto mais ou menos relacionadas a um modelo es-
pecfico de predao, onde o outro, mesmo quando morto ou capturado,
no nunca totalmente aniquilado, mas de alguma maneira, mantido
vivo dentro do prprio matador - como Viveiros de Castro (1986a) foi o
primeiro a demonstrar para o matador-cantor arawet -, ou incorporado
como novo membro dentro da comunidade.
Os Pano eram famosos pelo ltimo modelo de predao, o de atacar
inimigos para raptar suas mulheres. Estas eram em geral tatuadas com o
mesmo motivo minimalista que o usado por seus capturadores, para me-
lhor demonstrar a inteno de totalmente incorpor-Ias (Erikson, 1986).
Nenhuma marca tinha a inteno de marc-Ias para sempre enquanto ca-
tivas, como estrangeiras ou inimigas. Pelo contrrio, a inteno era de se
casar com elas. Pessoas de outros grupos no eram incorporadas como es-
cravos ou para sempre marcados como estrangeiros, mas eram submetidas
11 Apenas alguns exemplos deste vasto universo so: exocanibalismo (Tupinamb - Fer-
nandez, 1970; Viveiros de Castro, 1986a; Viveiros de Castro e Carneiro da Cunha, 1993;
Wari - Vilaa, 1992); reduo de cabeas (jfvaro - Tavlor, 1985); fuso matador-inimigo
(Arawet - Viveiros de Castro, 1986); rapto (mulheres: Yawanawa - Carid, 1999; Perez,
1999; crianas: Kadiwu - Lvi-Srrauss, 1955; Ribeiro, 1980).
62
a um lento e cuidadoso processo que visava habituar seus corpos nova
vida, at se tornarem partes integrantes das suas novas comunidades. Foi
atravs deste mtodo que o falecido chefe fundador dos Yawanawa obteve
um respeitvel nmero de m~lheres (Perez, 1999; Carid, 1999). Todas elas
foram raptadas de grupos de nawa vizinhos, muitos deles hoje extintos, ou
melhor, misturados com outros grupos nawa. Este exemplo mostra que a
filosofia e etnonmia pano sobre o outro sendo constitutivo do eu pode em
alguns casos ser entendido de forma bastante literal.
Este, no entanto, no parece ter sido prtica recorrente entre os Ka-
xinawa que eram chamados txananawa, "os numerosos", j no incio do
sculo XX (Tastevin, 1925a). Os Kaxinawa parecem ter escolhido um
modelo endogmico de se casar perto de casa, preferencialmente na mes-
ma c ldeia com primos cruzados de primeiro grau, algum tempo antes da
chegada dos seringueiros na regio. No se pode decidir pela antiguidade
do modelo e existe um debate entre panlogos com relao questo se
os nawas e sua prtica de captura representam o modelo originalmente
pane ou preto-pano, ou se o modelo preto-pano deve ser encontrado
entre os auto-contidos Kaxinawa. interessante notar que os Culina, vi-
zinhos e inimigos tradicionais dos Kaxinawa, parecem optar pelo mesmo
modelo endogmico de casar com parentes prximos que cresceram jun-
tos (Pollock, 2004). O discurso kaxinawa sobre identidade, no entanto,
, como veremos a seguir, o dos Pano. O outro .sernpre de alguma ma-
neira reconhecido como parte do eu num sentido temporal assim como
constitutivo; deste modo todas as coisas prprias so feitas de alteridade,
e esta lgica tambm vale para 'todas as coisas feitas' ('ali things made',
parafraseando um subttulo de Guss, 1989), todos os sujeitos esto a ca-
minho de se tornarem outros.
A produo da sociedade kaxinawa consiste em um tipo de domestica-
o, ou melhor, familiarizao ou seduo da alteridade. O problema com
o termo 'domesticao' que este termo se refere domesticao de ani-
mais, algo que os amerndios explicitamente escolheram no fazer (Desco-
la, 2001; Hugh- ]ones, 2001). Erikson (1984) usa o termo familiarisation e
Fausto familiarizar (1999a; 1999b; 2001) para falar do processo de habituar
63
filhotes de animais silvestres vida na aldeia. Este termo traduz bem apa-
lavra 'acostumar' usada pelos Kaxinawa para traduzir yudawa, o processo de
refazer o corpo, isto acostum-lo nova situao, comida, ao ambiente.
A traduo literal de yudawa "fazer o corpo". A palavra se refere ao fato
de um novo corpo ser produzido atravs do lento processo de se acostumar
emocional e corporalmente, seno a pessoa adoeceria e morreria.
Este complexo processo de capturar aalteridade conhece diversas estra-
tgias, indo desde a mimese e transformao predao e captura e, no
menos importante, seduo. Ganha-se ascendncia ou poder sobre o ou-
tro, no atravs da pacificao das foras selvagens da alteridade, mas por
meio de uma aproximao cuidadosa, diminuindo a distncia em termos
espaciais, cognitivas e corporais.
Em artigo intitulado "Feito por inimigos", Van Velthem associa igual-
mente o estatuto do 'objeto cativo' pessoa cativa entre os Wayana ( Van
Velthem, 2000: 61-83). Este objeto, feito pelos brancos com tecnologia
desconhecida, distinguido em termos categricos dos 'enfeites verdadei-
ros', objetos feitos pelos Wayana atravs de tcnica ancestral. Cs objetos
industriais? corno as pessoas inimigas, podem ser 'domesticados' atravs
de um processo de estetizao, mas nunca deixaro de ser estrangeiros e
perigosos (Van Velthern, 2000: 71). Entre os Kaxinawa o impulso de in-
corporar o outro, transformando-o em mesmo, parece ser mais forte, tendo
em vista a inteno de apagar as marcas da alteridade, apesar de se tratar
de uma lgica de "guerra, captura eantropofagia" com relao aos poderes
do outro inimigo, que segue lgica similar dos Wayana.
Que o outro creditado com existncia prpria, resistindo reduo em
imagens contrastantes e reducionistas, evidenciado na ambigidade da
categoria do Outro (nawa) no pensamento kaxinawa: no predador ou v-
tima, mas ambos; no sovina ou generoso, mas ambos; no bonito ou feio
mas ambos; dependendo do contexto, da qualidade relacional conquistada
pela pessoa kaxinawa. Os kaxinawaaplicarn a mesma idia do processo de
"se acostumar", ou familiarizar animais de estimao ou inimigos, ao pro-
cesso de adaptao pelo qual ~assa o antroplogo. Este personagem visto
como algum que se props, voluntariamente, a habituar seu corpo, que
64
significa seu eu - e habituar significa, parcialmente, tornar-se um Kaxina-
wa. Esta ambio deve ser co-responsvel pelo fascnio que os Kaxinawa
exercem sobre seus antroplogos.
Foi no meio de tal processo de farniliar izao, habituando meu "corpo
pensante" aos modos kaxinawa, que fui convidada por meus anfitries a
participar, como neito e pesquisadora, no rito de passagem de meninos
e meninas. Este ritual se tornou meu ponto de partida na tentativa de dar
forma fenomenologia kaxinawa, a maneira como avida e o corpo adqui-
rem seu estilo e sua forma especificamente kaxinawa, ou seja, sua particu-
lar forma perceptiva e significativa. Foi durante este ritual que o sentido
do desenho, do artefato esua relao com afabricao do corpo edas ima-
gens ganharam sentido para mim. At aquele momento, parece que tinha
feito as perguntas erradas, para parafrasear Gow, como: "quem o fez, como
se chama, com que se parece e o que significa?" ( Gow, 1999: 230).
As respostas para estas perguntas tinham sido de fato, bastante desenco-
rajadoras: muito curtas eextremamente ambguas, especialmente enquan-
to tentava confirmar a suposta relao entre a diviso da sociedade kaxi-
nawa em metades eseces matrimoniais eo uso de certos motivos, certos
padres de desenho na pintura corporal e na tecelagem. Outros especia-
listas m Kaxinawa e outros grupos pano tinham afirmado que tal relao
existia para os Kaxinawa sem jamais terem feito mais do que isto, afirmar o
a prior da correlao. Este um exemplo dos problemas da prioridade dada
a uma abordagem taxonmica ou lingstica do grafismo, abordagem esta
criticada, dentre outros, por Gell (1998) e Gow (1988,1999).
Urr.a ressalva deve ser feita com relao ao uso de motivos pintados
com urucum durante o ritual de fertilidade, onde as manchas represen-
tam a oele de animais associados s metades. Neste caso, que ser tratado
adiante, trata-se do uso do urucum em rituais de mascaramento. A pintura
chamada dami, disfarce, transformao e no kene, desenho, motivo gr-
fico. ~o caso da pintura com urucum como ckLmi encontra-se a associao
com as metades. O caso que nos interessa aqui, no entanto, o uso dos mo-
tivos grficos kene. O sentido do uso no estava tanto nos nomes especficos
dados aos diferentes motivos, nem nas diferenas entre categorias dedesenho,
65
mas no padro unificante encontrado na maneira emqueo estilo especfico
dosKaxinawa gerado. Ao observar ousododesenho no nixpuPima pudede
umavezpor todas descartar estasupostafuno daartecorporal kaxinawa de
refletir aorganizao social, assimcomo suasuposta funo iconogrfica na
representao de entidades. Mais adiante mostraremos que osdesenhos, en-
quanto "traos", linguagemdosyuxibu remetem aestes seusdonos (ibu). Na
iniciao feminina na tecelagem existemcantos dirigidos aosyuxibu, donos
dos desenhos, para pedir suaobteno. Nossanfase aqui, no entanto, em
outro aspecto da agncia do desenho, o de ligar universos eabrir caminhos
para atransformao perceptiva emvez defuncionar como instrumento de
classificaosococognitivo."
Desenho entre os Kaxinawa sobre "relaes" (relatedness, o estar re-
lacionado). Com issoquero dizer que o desenho alude arelaes, ligando
mundos diferentes, e aponta para a interdependncia de diferentes tipos
depessoas. Nesta suaqualidade de'veculo apontando para o estar relacio-
nado' reside suacapacidade deagir sobre o mundo: sobre os corpos onde o
desenho adere como uma segunda pele esobre as mentes dos que viajam
amundos imaginrios emsonhos evises, onde avisualizao do desenho
funciona como mapa, permitindo aosbedu yuxin, alma do olho, dehomens
emulheres de encontrar amorada dos yuxibu, donos dos desenhos.
O usoeaagncia do desenho no rito depassagemsetomaram clarospara
mimquando vi adiferena entre osdesenhos usados por adultos ecrianas
passando pela interveno ritual. Os desenhos do nixpuPima no diferem
em padro ou forma dos verdadeiros desenhos kene kuin, mas diferem na
maneira emquesoaplicados, assimcomo nalarguradaslinhas pintadas. Os
desenhos dos nefitos so chamados "desenho largo" (huku kene) ou "dese-
nhos malfeitos" (tube kene). Osdesenhos emjenipapo nos rostos dosadultos,
por outro lado, so finos e bemfeitos, kuin. A razo de ser para o desenho
iz Empesquisa em andamento exploro mais a fundo o carter cartogrfico do desenho.
Os nomes dos motivos referem a seres e partes dos seus corpos, assim como a relaes e
caminhos. A traduo dos cantos dos desenhos visarevelar acartografia csmica presente
na descrio estilstica kaxinawa. Veremos assimque nomes de motivos no representam
seus donos, mas levam aeles.
66
largo temaver comaeficciaritual: quanto mais escurasegrossasaslinhas
napi:ttura corporal efacial, maisprofunda seriaapenetrao dos cantos no
corpe dacriana. A agncia do canto dependia, portanto, daintensidade da
cor eda largura das linhas. Depois dos cantos terem entrado nos corpos, a
criana pensar sobre eles, os cantos guiaro seus pensamentos. A pintura
corporal funciona como filtroeadiferena nadistncia entre aslinhas tema
ver comaagncia do desenho, doscantos edosbanhos medicinais quetm
de penetrar apele. O desenho chama a ateno para apermeabilidade da
peleainfluncias exteriores. O corpo ingerepelos orifcios epelapele.
Retomando ao desenho emgeral, osKaxinawa partilham comosShipi-
bo-Conibo (Gebhart-Sayer, 1984; Illius, 1987) ecomos Piro (Gow, 1988,
1999) apresena ea importncia simultnea do desenho nas experincias
visionrias enavidacotidiana. Os trsgrupos tambm partilham uma espe-
cializao de gnero na suarelao como desenho, onde tomar ayahuasca
(uma bebida conhecida por seusefeitos poderosos na induo de vises)
considerado atividade masculina, enquanto as mulheres se especializaram
naex:.cuododesenho. 13 Entre osKaxinawa padres comdesenho sotan-
to tecidosemalgodo ecestaria, quanto pintados no corpo ena cermica.
~"X I ::Hm
K..NE...
~
T~I ~t:. /(f-rjt::.
TXE"-J 1:~t.eUlU
,
1 I I . ,
</1..4:0 .. ~~ ....x-...v.t\.V\,
i l.,.:::r~~~
Alguns motivos recorrentes na cestaria, entre osquais o motivo
txede bedu (olho de periquito).
lJ Ver, entretanto, Colpron (2004) que analisa ascondies eo contexto do surgimento
de xams mulheres que tomam ayahuasca ecuram doenas entre os Shipibo.
67
,~;.." ..i" ~ ... .yn
.'\..~ . .r...... ~.
Rede com motivo dunu kose (espinho de cobra).
Motivo central: txede bedu. Pintura com guache.
Elena Pinheiro Kaxinawa, 1994.
Tecelagem motivo baxu xaka (escama do
peixe tamburat).
68
Adiante exploraremos mais extensivamente este tema, visto que o de-
senho em si e o tecer com desenho mais especificamente parecem se cons-
tituir em metfora-chave para pensar o tema de como seproduz identidade
a partir de alteridade no pensamento kaxinawa. A vida feita do entre-
laar de fios, mas nesta viso os Kaxinawa no esto sozinhos. Tambm
no so os nicos a terem elaborado uma tcnica de tecelagem onde o
entrelaamento de qualidades contrastantes ganhou aforma de duas cores
contrastantes, produzindo figuras e contrafiguras de igual fora visual com
o efeito de os olhos no poderem decidir onde focar permanentemente a
figura e o fundo.
Poderia se elaborar vrias ressonncias entre esta caracterstica formal
do estilo e um estilo de pensamento, como sugerido por Roe para os Shi-
pibo e por Guss (1989) para os Yekuana, que enfatizaram a relao entre
o visvel e o invisvel, ou a natureza transformacional da realidade para
estas cosmologias amerndias. As ressonncias entre estilo e mundo vi-
vido podem tambm ser estendidas para a maneira como a sociedade
constituda, no caso kaxinawa, por exemplo, pelas capacidades produtivas
combinadas de homens e mulheres, de pessoas pertencendo metade dos
inu com as pertencendo metade dos dua.
Estas inferncias de correlaes entre estilo esociedade explicadas "em
termos de foras ideolgicas e culturais sincrnicas" como Gell sugere
(Gell, 1998: 168), entretanto, ainda seriam muito incertas e efmeras e
somos imediatamente lembrados do crtico Boas que j no final do sculo
XIX, incio do sculo XX (1914), olhava com muita desconfianaestas
correlaes entre forma econtedo encontradas por antroplogos ansiosos
por descobrirem sentido onde se supunha que a densidade dos sentidos
ainda no tinha sido 'perdida', ou seja, entre os nativos.
Ests s correlaes, portanto, no seriam mais que conjecturas ou espe-
culaes sobre formas silenciosas se as pessoas que as fazem no tivessem
tambm algo a dizer sobre elas. E aqui nos deparamos de novo com a im-
portncia de levar o silncio a srio. As mulheres kaxinawa eram muito
silenci: .sas com relao ao sentido do desenho e mesmo assim, no final,
muito 1 inha sido dito por caminhos que para mim, no momento, tinham
69
parecido como maneiras muito indiretas de conferir sentido. Muitas mu-
lheres j tinham me drto vrias vezesque os desenhos habiaski "so todos
iguais, tudo um grande desenho." Depois de perguntas demais, a velha
Maria Sampaio, minha protetora e uma mulher que sabia do que estava
falando (isto , o assunto dos yuxin, pois tinha sido tratado para parar de
v-Ias), terminou o assunto com o comentrio "keneki yuxinin hantxaki",
ou seja, "o desenho alinguagem dos yuxin".
Voltaremos a esta clebre frase mais de uma vez neste trabalho. Por
ora, corria introduo ao assunto, interessante lembrar que yuxin e sua
amplificao emyuxibu so seres procura da forma, sempre tentando se
transformar emalgo diferente. Estas imagens flutuantes sopoderosas epe-
rigosasporque podem causar corpos amudarem suasformas eadotar outras
formas como demonstrado emalguns casos dedoena, desaparecimento e
especialmente por ocasio da morte. O mesmo assunto da transformao
corporal estno mago do rito depassagem, onde corpos so pintados, mo-
delados eendurecidos, isto , onde aforma e afora futura dos corpos dos
pequenos estsendo trabalhado. Aqui podeser til adistino usadapor Vi-
veiros deCastro (1979) paraosYawalapiti entre metamorfose efabricao.
O rito de passagem tem a ver com a fabricao de corpos, enquanto a
ingesto ritual da a)'ahuasca tem a ver com uma metamorfose temporria,
vestindo asroupas, istooscorposdeoutros seres, animais ououtros tiposde
pessoas. O desenho tem umpapel importante adesempenhar emam.bosos
processosrituais; umpapel diferente dodesempenhado pelo desenho piroem
contextos similaresdefabricao emetamorfosedecorpos, poisseentre estes
ltimos o desenho somente v=rncompletar ou anunciar uma transformao
visual oucorporal quando dasadadamoapbere (como no casoxinguano)
ecomo preldio verdadeira viso (Gow, 1988, 1999,2001), no caso kaxi-
nawa, odesenho tempapel deagente ativo ecrucial neste processo.
Para entender a origem do desenho, diversos mitos so importantes,
Para uma primeira aproximao ao tema que nos acompanhar ao longo
deste trabalho, comearemos no item que segue esta introduo com o
mito de origem do desenho (kene), por um lado, e da bebida que revela
o mundo das imagens fluidas, por outro, para passar, depois, anlise do
70
mito de origem do dono do desenho e das imagens. Por ora, resumo as
questes que nos interessam aqui.
O desenho foi ensinado a uma mulher kaxinawa pelo yuxin da jibia,
Sidika, na forma de uma senhora de idade. A tcnica atravs da qual os
padr: sforamensinados foi atecelagem (informao decrucial importn-
cia seg undo a linha boasiana eque no escapou a ateno da museloga
Dawscn, 1975 e de Gow, 1988). Esta tcnica primordial foi responsvel
pelas caractersticas estilsticas especficas do desenho pintado. Encontra-
mos o mesmo tipo de motivos labirnticos de gregas e losangos na pintu-
ra faci.il e corporal dos Kaxinawa que os encontrados emmuita cestaria
amaznica. A originalidade do fazer kaxinawa reside na tecelagem destes
padres emtecidos de algodo.
Outra verso do mito, contada por Agostinho Manduca do rio [ordo,
esboa outro contexto deaprendizado, odaseduo. Uma jovem vai todo
final de tarde para a floresta onde se encontra com seu amante, a jibia
Yube na forma de umbelo jovem. Fazemamor edepois Yube setransforma
novamente emjibia, seenrola no seu corpo todo at ficar com a lngua
na cara damoa eficanesta posio por horas, ensinando aelaossegredos
do desenho. Este mito demonstra muitas semelhanas como mito de ini-
ciao masculina no mundo das imagens.
No mito de origemda ayahuasca, o yuxin da cobra aparece na,formade
uma jovem mulher belamente pintada para umcaador kaxinawa. O ho-
memqueria fazer amor comelaefoi levado parao mundo debaixo da gua
onde arrendeu apreparar etomar ayahuasca, chamado dunu himi oudunaun -
isun, re.pectivarnente sangue e urina dasucuri. Quando morreu, seu corpo
interrac odeuorigemtanto Psichotria viridis, afolha, quanto aoBanisteriop-
sis caapi, ocip, quejuntos fazemabebida nixi pae, cip embriagante.
Resumindo, podemos dizer queoyuxibu dajibia/sucuri deu ao homem
o conhecimento tanto de preparar quanto de tomar a bebida, o conhe-
cimento de produzir vises, e s mulheres o conhecimento de produzir e
gerar desenhos. Todos osdesenhos possveisseencontram virtualmente na
pele da cobra, onde umdesenho pode ser transformado emoutro seguindo
certas regras de composio.
71
Veremos tambm como o paralelismo mtico corroborado pelo pa-
ralelismo ritual: a iniciao feminina no desenho equivale iniciao
masculina na caa ena experincia visionria ou vice-versa. Isto , am-
bos, homens emulheres podem ritualmente matar jibias para secomu-
nicarem com seu yuxin. Dieta e recluso so pr-requisitos para o bom
xito destes atos de predao controlada tanto para as mulheres quanto
para os homens. E para associar estes rituais com a literatura amaz-
nica sobre o sangue do guerreiro e o sangue menstrual, basta lembrar
que a matana da jibia tem a ver com o controle do fluxo de sangue
(na caa e na menstruao) tanto quanto com o controle do fluxo das
imagens."
Estes dois rituais so poderosos, perigosos e secretos, porque o que
dito para o yuxin da jibia ganha existncia virtual prpria e, serevelado
aoutros, pode setornar contra oprprio enunciador originrio. Mulheres
negociam comajibia aobteno deum"olho para desenho" eodomnio
sobre sua prpria fertilidade atravs do controle do fluxo sanguneo. O
controle do desenho edafertilidade so intimamente ligados.
Homens podem obter sorte na caa atravs do pacto comajibia, mas
podem tambm pronunciar o desejo de provocar a morte de inimigos.
importante lembrar que asorte na caa to associada viso quanto o
dom pelo desenho das mulheres. A cobra fita acaa e aatrai pelo olhar
hipntico. A sorte na caa est ligada cautela do caador que no se
afasta dos caminhos (kene) traados, mas atrai a caa, seduzindo-a a se
aproximar. O poder da viso obtida pelas mulheres, por outro lado, pode
tambm ser usado como magia deamor, hipnotizando homens da mesma
maneira que o desenho da sucuri mulher hipnotizou Yube no mito."
14 Para outro contexto emque existe uma associao entre diferentes fluxos femininos e
o desenho ver Gow (1999); para uma anlise comparativa do significado cosmolgico do
sangue no pensamento amerndio, com especial nfase no estatuto do sangue menstrual
ver Belaunde (2005).
15 Entre os Culina do Alto Purus, vizinhos dos Kaxinawa, estes ltimos so famosos por
sua magia do amor, que pode levar morte se no for curado por umespecialista pano.
Tanto a magia quanto sua cura pertencem esfera de competncias do especialista no
preparo ei10 uso da ayahuasca (Pollock, 2004: 210).
72
svezes lembretes destes encontros so levados para casaeguardados
na forma de um chapu feito do couro da jibia, no caso dos homens,
ou n1forma de um pedao deste mesmo couro guardado pelas ~ulheres.
Tais itens, ndices de umenc~ntro passado, mas duradouro, que intensifi-
ca a subjetividade do detentor, tm de ser mantidos escondidos para no
causar afria do dono, seu yuxin. O chapu exposto somente durante o
katxanawa (ritual de fertilidade), enquanto o couro guardado pela mulher
nunca setornar umobjeto deexposio. Estes artefatos atestam ofato de
a jibia permanecer viva no objeto. So objetos relacionais. Realam o
caris.na eascapacidades produtivas dosquesesubmeteram aoritual, man-
tendo amemria do encontro vivo, ao mesmo tempo emque o contedo
do encontro mantido emsegredo para qualquer outra pessoa. Relaes
dentro dacomunidade deparentes eafinsprximos sodiretamente afeta-
daspor relaes como mundo exterior.
Estes artefatos aludem capacidade da pessoa de agir sobre o mun-
do atravs de umconhecimento produtivo, de maneira muito similar aos
colares de mianga ou contas de granito usados pela mulher piaroa para
aludir quantidade de filhos que criou, ou do ruwang para visualizar sua
capacidade de drenar conhecimento produtivo das fontes exteriores do
mundo social humano. Se dentro do corpo estas capacidades produtivas
socristalizadas na forma decontas degranito invisveis, porque internos,
forado corpo os adornos falamdeforas ocultas (Overing, 1988, 1989).
As relaes entre artefatos ehumanos separecem com asrelaes en-
tre humanos e animais eso conseqncias destas, como no caso da ma-
tana dajibia. As mesmas relaes tambm valem entre humanos eseus
inimigos emgeral. A relao entre o caador ou a caadora humana e a
jibia reveladora. A jibia morta, mas no se vinga. Pelo contrrio,
entra no corpo do seu matador e fica com ele/ela, estabelecendo uma
relao duradoura, similar descrita por Viveiros de Castro (1986a) para
o matador e sua vtima, que continua viva dentro do corpo do matador
manifestando-se atravs do canto. Augusto adicionou uma alternativa
muito ilustrativa matana da jibia: era possvel tambm, segundo ele,
criar uma jibia pequena como bicho deestimao num vasilhame.
73
A agncia da jibia se manifesta atravs do aumento da capacidade da
viso; ela (ou ele) passa aos humanos a capacidade de gerar desenho e o
desenho fornece a moldura e ".condio para agerao de qualquer tipo de
forma. Esta idia ser extensivamente ilustrada com exemplos no texto ase-
guir. Quero por ora questionar a lgica da predao aqui proposta: ser que a
jibia realmente um bom representante da alteridade para os Kaxinawa?
Uma possvel resposta ser encontrada no mito do grande dilvio. En-
quanto o resto da humanidade e dos artefatos desapareceu ou se transfor-
mou em animal, um casal, deitado em rede com desenho, se transformou
em sucuri. Este tambm o mito de origem da humanidade atual. So-
. mente uma mulher sobreviveu, Nete, que deu a luz aos primeiros novos
humanos. A consubstancialidade de humanos e da grande jibia/sucuri
j era, portanto, dada no mito. Isto , a sucuri j foi humana, e mais, era
a combinao de um homem e uma mulher que estavam fazendo amor
quando surpreendidos pelo dilvio: a cobra mtica ou o yuxin da jibia/su-
curi combina agncia feminina e masculina. A humanidade na sua forma
atual, por outro lado, s foi produzida depois do dilvio. Neste sentido,
sucuris ehumanos so realmente coisas muito diferentes; a interao entre
estes diferentes tipos de seres implica em perigos inerentes ao lidar com a
alteridade e se d nos termos da predao: mata-se ajibia.
Concentrar-rne-ei por ora somente num aspecto da agncia do dese-
nho: o da seduo. luz do mito do grande dilvio sobre o casal fazendo
amor na sua rede que afrase seguinte de um canto comea afazer sentido.
Enquanto a senhora eleidade me explicou que o desenho era a linguagem
dos yuxin - um comentrio que faz sentido quando entendemos o desenho
como agente de ligao que tece caminhos entre mundos diferentes -,
uma explicao diferente com relao qualidade relaciona I do desenho
me foi dado por um jovem adulto.
"Olha, disse, voc no vque aslinhas tmque tocar? Emtodo bom
desenho as linhas tm que tocar, no pode ter linhas soltas, isto
porque as linhas significam 'fazer amor', tmque tocar como ajunta
do joelho." (Paulo Lopes Kaxinawa, 1991)
74
1_\'-I ~~i 7:; =>
" I I . ..., l .J I "";" , ...
J ,,~ :. I J - - L 1
1.__ # ,--_.~ I . .-.J
--~~ I
'@ J '
I rl I
I LJ
~l\--> [11-;
~~
._)';-i ,J
,-_~-J
~Glr~
[LJ U J
noc.e::::'u PE..
CDNST,zt!~0
ne, D.)ENHO FMI/\L
E COR PU K 1\ '---- '
omesmo tema volta num canto de amor, um canto sobre fazer amor,
em que os movimentos do casal so descritos em termos de "o desenho da
cobra", seu desenho sendo seus movimentos, os traos deixados (pelo casal
ou peIacobra) na areia:
Noba'ca debukii ee (2x).
Txan. tbaka debuki.
Badiq,'aka debuki.
Atsa Jebu n.akaxun.
Mitxu mitxu xinay.
Nawa tete peiwen,
Aku tadun tadunma (2x) ,
Maxi kene dunu.
Bai kene dunu.
Hawen bake buyabi (2x) ...
A nascente do rio nabaka.
A nascente do rio txanabaka.
A nascente do rio badiwaka,
Mastigando anascente da macaxeira.
Pensando no cuspe, no cuspe.
Com apena do gavio real.
Tamborilando, Tun! Tun! Tun!
Na areia, desenho dacobra.
Desenho do caminho dacobra.
Fazendo seu filho...
ocenrio do canto so as cabeceiras dos rios, afonte da gua. Os nomes
dos rios incluem referncias a peixe (baka) e evocam conotaes sexuais.
Uma das nascentes citadas no canto ade "macaxeira". Augusto traduziu
esta frase da seguinte maneira: "a nascente da macaxeira o smen e o
mastigar significa ter relaes sexuais". As frases seguintes completam seu
significado: "Pensando no cuspe, no cuspe" e "Pensar no cuspe significa
pensar na ejaculao". Aps esta descrio metafrica do evento fertili-
75
zante, o canto menciona a pena do gavio real, representando neste con-
texto o pnis. O barulho das asas do gavio real quando pousa associado
ao som emitido pelo tambor.
O encontro se d na praia. "Na areia, desenho da cobra", "desenho do
caminho da cobra". Os traos deixados pelo casal na areia so compara-
dos aos deixados pela cobra que passa. Este outro argumento para ver
no desenho um agente, visto que linhas esto associadas a movimentos.
Outro momento em que linhas so interpretadas como materializando
movimentos quando os componentes do desenho so descritos como
'rios' (duni) e 'caminhos' (bai). Esta a funo do desenho na viso, no
somente como descrito nos cantos com ayahuasca, onde se diz que o canto
pinta caminhos em frente aos olhos fechados do nefito (como entre os
Yaminawa, Townsley, 1988; 1993), mas tambm na afirmao de que uma
pessoa doente no deve dormir em rede com desenho, para que seu yuxin
do olho no se perca no labirinto quando sonha, sob risco de ser levado
para o outro lado, a aldeia dos mortos, e morrer (Keifenheim, 1996).
Exploramos at agora aquesto da agncia da imagem, do trao, da for-
ma, sem q~e esta seja necessariamente materializada. Tratamos do poder
da imagem na sua relao com a imaginao, uma imaginao perceptiva,
que ativamente imagina e constri um mundo possvel apartir de percep-
tos informados pela maneira que os Kaxinawa vivem seu mundo. Mas no
mundo kaxinawa no so somente os desenhos e as imagens que agem,
os artefatos so candidatos a um estatuto equivalente, pois assim como a
desmaterializao da imagem fonte de poder, sua materializao tambm
o . E para esta qualidade de agente material e para o poder oculto dos
artefatos que nos cercam que Miller (1987, 1994) chama a ateno. Eles
nos circundam de forma silenciosa quase fazendo com que nos esqueamos
da sua presena, mas exatamente este carter dado, sua caracterstica
de moldura que permite o foco, o responsvel por seu poder de agir sobre
nosso ser de forma to pervasi va."
16 Ver Miller (1987) para uma elaborao sobre a importncia da objectificao no pro-
cesso de construo do sujeito. M iller retoma o conceito de objectificao de Hegel para
mostrar o quanto o surgimento do sujeito coincide com o do objeto.
76
Encontraremos vrios exemplos de artefatos e 'coisas' que agem ao lon-
go deste trabalho. Na anlise do rito de passagem, a mianga e sua asso-
ciao tanto com a figura mtica do lnka quanto com os brancos, ganhar
destaque. Os Kaxinawa usam as contas para a confeco de colares de
diversas cores para mulheres e crianas, usadas no cotidiano e em maior
quantidade durante as festas. Crianas doentes os usam em maior quan-
tidade que crianas saudveis. Os Kaxinawa contam que 'antigamente' as
crianas usavam pesados colares de contas cruzando seu peito. Em fun-
o d. s mulheres valorizarem menos os colares de sementes coletadas na
florest i do que os de mianga obtidas atravs da troca com estrangeiros,
usam menos colares do que gostariam. Contas brancas so usadas para te-
cer puseiras, braadeiras, tornozeleiras ejoelheiras. Outro uso da mianga,
de orizern aparentemente recente a pulseira tecida com desenho. As
mulheres fazem estas pulseiras com vvidos motivos tirados do estoque de
motivos kaxinawa (kene kuin) eas do de presente aos namorados, maridos
ou amantes. No so comercializadas.
Foi no contexto da traduo dos cantos do nixpuPima que as 'contas
de vidro' chamaram minha ateno para uma reflexo nativa sobre o
fascnio e seduo pelo Outro, desde a mtica figura do lnka ao atual
nawa, o estrangeiro no-indgena. Nos cantos, as contas ligam em cadeia
associativa, atravs das figuras da linguagem, conceitos-chave como den-
tes, olhos, sementes, metal, ossos, milho, kene (desenho), lnka e yuxin.
O tema de fios ou desenhos tecidos com mianga, como caminhos que
ligam mundos distintos (o que os desenhos de fato so para os Kaxinawa;"
Lagrou 1991; 1996a; 1997; 2002a), pode servir como uma metfora para
esta pesquisa sobre amaterializao ou imaginao das vrias faces da alte-
ridade pelos Kaxinawa hoje emdia, incluindo a o fenmeno das fronteiras
permeveis entre grupos e pessoas em constante fluxo e 'estar entre' (m-
betweenness); pessoas que, no entanto, no se esquecem da importncia de
tecer caminhos, de atar ns eretomar pelos mesmos caminhos que vieram.
Os mitos que coletei associam o 'desejo pelas contas' ao perigo de seperder
pelo caminho do inimigo, um caminho da morte ou do tornar-se estrangei-
ro, um caminho pelo qual no se volta nunca mais.
77
Vale a pena chamar a ateno aqui para o fato de a maior parte dos
povos amerndios atriburem a inspirao para sua arte, desde a matria-
prima ao aprendizado dos grafismos de pintura corporal efacial emotivos
tecidos em cestaria ou redes, a conquistas sobre inimigos. Estes inimigos
podem ser desde povos humanos vizinhos a seres sobrenaturais como a
jibia/sucuri mtica, responsvel entre a grande maioria dos povos ama-
znicos pelos motivos usados na cestaria, tecelagem e pintura, ou o lnka,
no caso dos Kaxinawa, dono no dos motivos, mas da arte de desenhar
o corpo e das continhas coloridas, a mianga. As contas do lnka tinham
em comum com as contas do branco seu carter imperecvel e as co-
res brilhantes. importante salientar que a associao entre contas e o
contato com estrangeiros no recente, constitutiva do significado da
palavra em kaxinawa para conta, mane, que significa igualmente metal
e bens no-perecveis obtidos dos nawa, estrangeiros, em geral. Por esta
razo, o prestgio da mianga de vidro est intimamente ligado ao desejo
do contato e da troca com estrangeiros, desejo expresso tam'orn nos
cantos rituais e nos mitos.
"
Nawan kene: desenho do estrangeiro. Laura Feitosa Kaxinawa, 1991.
Este intrigante tema da mianga ilumina bem a relao entre artefa-
tos e pessoas, sendo uma clara manifestao do tipo de sntese que um
artefato opera .e de como ele pode ser lido como extenso da relao
78
entre pessoas. Neste caso se atribui valor esttico especial mianga
pela distino que a matria-prima representa, de invocar uma relao
com o mundo externo, ao mesmo tempo em que reala e mostra de
forma nova, de um outro ponto de vista, motivos que de longe so re-
conhecidos como kaxinawa. As pulseiras so artefatos essencialmente
relacionais; fazem pontes entre mundos, entre os rapazes que as usam e
que s vezes fornecem aprpria matria-prima e as moas que as fazem e
que fornecem o saber do desenho e da tcnica. Estes emblemas da rela-
o amorosa ligam os mundos nos quais os jovens circulam: o mundo da
viagem e das cidades distantes, de onde vem a mianga, e o mundo da
aldeia para onde sempre retornam. Os motivos tecidos pelas mulheres,
por sua vez, so considerados a 'escrita dos yuxin' e remetem ao encon-
tro secreto da desenhista com ajibia ancestral, dona dos desenhos. Ou
seja, tanto por parte dos homens que coletam a matria-prima, quanto
por parte das mulheres que as fabricam, as pulseiras com desenho re-
metem a relaes com um mundo alm do mundo conhecido, relaes
que tm profundos efeitos sobre o mundo interno das relaes sociais.
Tamlxm aqui, como no caso jvaro (Taylor, 2003), vemos operante uma
lgica 'de visibilizao e ocultamente de relaes com O mundo humano
e no-humano que constituem o sentido do eu e a auto-estima, o caris-
ma de uma pessoa.
Strr thern (1988) mostra como os melansios pensam os artefatos na
sua capacidade transformacional: assim um instrumento de cavar o cria-
dor poi encial dos legumes no roado eo colar de conchas atrai outra forma-
de valor, Ou seja, os objetos fazem a troca acontecer e um ser ou artefato
ajuda ra produo de outro. Esta viso est igualmente operante entre os
Kaxinawa e em vrios nveis. Artefatos so materializaes de interaes
entre pessoas e agem sobre estas em redes interativas como agentes secun-
driosGell, 1998). Do mesmo modo que o grafismo age ao estabelecer
relaes entre corpos e pessoas, como filtro ou malha protetora no corpo,
guia no mundo das vises ou armadilha da alma no sonho, os fios de rni-
anga agem sobre o mundo social, objetificandoou tornando visveis redes
de relaes. O acesso memria social ativada por estas imagens-signos
79
(Severi, 2003) se deu a partir da traduo de cantos ligados aos contextos
nos quais os desenhos atuam.
Esses novos objetos e imagens que esto sendo fabricados e circulados
pelos Kaxinawa de ambos os lados da fronteira nos fornecem informaes
relacionais e afetivas (Bateson, 1977). Estes chamados objetos 'hbridos'
na verdade de hbrido nada tm, se levarmos em conta que o prprio ser da
arte ou do agir no mundo pelos Kaxinawa sempre foi movido pelo fascnio
pelo outro, significando um processo de predao, incorporao e transfor-
mao do que era do outro. Todo mito de origem de imagens ou artefatos
refere aesta origem aliengena, fato este que explica sua "eficcia esttica"
(Gell, 1998), sua aura afetiva esua capacidade de agir at certo ponto 'por
conta prpria'.
As lgicas da agncia, alteridade erelacionalidade tambm so operati-
vas na fabricao do banquinho ritual usado pelas crianas para descansar
durante o ritual de passagem. No caso do banco, a madeira usada de
importncia crucial, visto que o banco esculpido das razes tubulares da
samama. A samama no derrubada no evento, mas as pessoas a diri-
gem cuidadosamente apalavra, em canto, para que passe suas qualidades e
seu conhecimento de como viver uma vida tranqila para a criana. Vale
apena frisar, no entanto, que asamama uma entidade predatria, tanto
quanto o lnka ou a jibia. A samama temida pela sua capacidade de
causar tontura ede produzir desmaio em passantes inadvertidos. A sama-
ma lugar de moradia de poclerosos yuxin.
Mas tudo isso deveria ser suficiente para atar meus ns, de forma provis-
ria, neste momento. O que pretendo mostrar aqui uma lio aprendida com
Bateson (que tambm voltar a nos visitar nas pginas seguintes), que arte,
isto , aproduo de imagens no sentido mais amplo da palavra ao qual aludi
no comeo, uma afirmao meta - ou no-lingustica - sobre a qualidade
relativa (do estar relacionado). Arte trata de relaes de seres humanos entre
si ede seres humanos com seres no-humanos que, como vimos para os ame-
rndios, podem ser humanos se adotarmos determinado ponto de vista.
Artefatos no representam ou substituem pessoas e relaes na Ama-
znia, pois se tomam seres em si mesmos, com agncia prpria, e no so-
80
mente com agncia secundria, como resposta numa cadeia de impulsos e
reaes automticas. A agncia do desenho, por exemplo, considerada
intrnseca, prpria do desenho e de sua maneira especfica de agir sobre
o mundo e sobre o corpo kaxinawa e deve ser entendida dentro da tica
das teorias 'internalistas' de agncia, em contraste com as 'externalistas',
propostas por Gell (1998: 126-133).
Descola (2001) e Hugh- J ones (2001) chamaram ateno para o pen-
samento amerndio no dar prioridade complexa elaborao de siste-
mas de troca com apossibilidade de heterosubstituio, como na Melansia
onde porcos e braceletes podem ser trocados por humanos; por mais que
elaborados sistemas de troca existam e existiram nas sociedades indgenas
das Terras Baixas da Amrica do SuL17O pensamento amerndio parece
valorizar o acmulo do conhecimento encorporado, uma forma corporal-
subjetiva de acumulao, ao invs de uma acumulao de relaes atravs
de artefatos. Este 'saber do corpo' estabelece relaes ancoradas numa sub-
jetividade que se constri apartir do estar e se saber relacionado.
Mais importante que as coisas em si o conhecimento de como fazer
as coisas. No caso do desenho kaxinawa este credo ilustrado pelo fato
de os desenhos freqentemente serem interrompidos no meio do padro,
sugerindo sua continuao para alm da superfcie desenhada e para alm
do suporte. Tanto ou mais importante do que amaterializao do conheci,
mente o de ser capaz de invocar a imagem na mente. Desenhos existem
para rios lembrar de ou sugerir sua existncia no mundo, no para exaurir
seu ser na sua visibilizao pelo desenho pintado ou tecido.
No somente so os objetos individuados, porque participam da agncia
do produtor, mas tambm ganham uma existncia prpria que vai alm do
tipo de individualidade instaurada pela sindoque proposta por Gell, onde
a parte participa nas caractersticas do todo (Gell, 1998: 161-162). Arte,
fatos e imagens amaznicos, ou mais precisamente kaxinawa, represen-
1 7 Sisterias elaboradas de trocas existem no Xingu (Bastos, 1989; Barcelos, 2005 etc.),
ao Leste dos Andes (Renard-Casevtz, Saignes, &Taylor, 1988) enas Guianas (Barbosa,
2005 eoutros; Gallois, 1986, 2005; Howard, 2000).
81
tam uma nova sntese, novos seres capazes de agir sobre o mundo) e neste
sentido "so como pessoas." O banco ritual recebe o mesmo tratamento
que o milho e o amendoim recm-colhidos: so assentados nas vigas que
sustentam a casa, e a eles so dirigidos cantos como se fossem pessoas,
com nomes prprios. Isto assim porque 'o milho queria virar gente' e de
certa maneira se transforma em gente. Alguns artefatos e substncias so
tratados como pessoas sendo atribudos a eles lugar para descanso, tempo
de vida prprio, nomes etc. Determinadas substncias e artefatos tm um
ciclo de vida de criao e destruio que paralelo ao de uma pessoa,
como no caso dos \Xiayana Apalai (Van Velthem, 1995, 2003).
Outros seres no so tratados como extenses, posses de uma pessoa,
no mediam relaes entre pessoas, pois tm existncia prpria, so pes-
soas. Na Amaznia o criador tem uma relao com sua criatura no em
termos de agente primrio ou secundrio, mas de ibu, 'dono', ou 'gerador',
aquele que causou a existncia deste ser, mantendo para sempre uma rela-
o de pai ou me/filho com os produtos de seus pensamentos (como suge-
rido por Overing, 1988). Esta relao significa que a pessoa foi o comeo
de algo com intenes e destino prprios. por esta razo que no sepode
falar de sindoque, visto que a criana apenas parcialmente uma rplica
da identidade de um dos genitores, pois sempre participa na identidade de
outros seres, tornando-se nico. Deste modo, crianas so como artefatos
e artefatos so como crianas.
Este raciocnio vale, no caso dos Kaxinawa, para o milho eo amendoim,
e para a madeira da raiz da samama que ser usada para esculpir o banqui-
nho: "eles querem ser gente tambm." O milho continuar aviver dentro do
corpo do homem at que o smen (feito de milho) produza uma nova crian-
a. Estes seres mantm seus laos com seus donos anteriores, ou com aqueles
que causaram sua existncia. Os cantos para o banco ritual o transformam
em um ser, a voz do canto produz agncia na madeira, uma capacidade de
agir e de colaborar com aproduo deste novo ser, o nefito kaxinawa, que
ser a sntese destes esforos combinados. neste sentido da construo da
agentividade que se diz que uma criana que passou pelo rito de passagem j
tem "seus prprios pensamentos" (ma hawen xina hayaki).
82
Artefatos no so tanto coisas para serem possudas, acumuladas e pas-
sadasvdiante, quanto interessantes por causa do conhecimento que foi
preciso ter para faz-Ias. deste modo que os Pirah so capazes de des-
crever todo tipo de objetos que conhecem e sabem como fazer sem nunca
rnaterializ-Ios (Gonalves, 2001). Para os Kaxinawa parece mais impor-
tante nvocar certos adornos corporais nos cantos rituais do que de fato
produ: i-los. Esta foi, tambm, o motivo da querela com o lnka mtico, que
s vezesera at generoso com comida ou fogo, mas no os deixava adquirir
os meios de produzir estes itens por conta prpria. O lnka torraria o milho
antes de oferec-Ia aos Kaxinawa e os deixava usar seu fogo, mas nunca
lev-lr consigo para casa. Esta foi arazo por que mataram o yauxi kunawa,
este gigante sovina.
Poderamos, portanto, com certa cautela, dizer - com Descola - que
no temos sistemas to elaborados de troca na Amaznia, ou pelo menos
em grande parte dela, quanto em outros lugares como na Melansia do
kula, e sim uma outra lgica, a lgica da predao e da incorporao:
acumulando dentro de si aspectos do outro. Esta nfase na incorporao
poderia estar intimamente ligada falta de acumulao. Tambm no
podemos esquecer a muito difundida nfase amaznica na generosida-
de (Descola, 2001; Overing, 2000; McCallum, 2002 etc.), que, quem-
do generalizada enquanto prtica, torna-se incompatvel com sistemas
elaborados de troca de valores, tendo em vista que um av ou uma av
simplesmente no podem negar ao neto ou neta o que quer que seja
que tenham na sua posse como preciosidade (um gravador, por exemplo, -
ou um, quantidade de mianga; exemplos tirados da minha convivncia
com os Kaxinawa).
Esta especificidade amaznica aponta na direo de uma teoria de po-
der relr cionada ao saber, um saber de como fazer pessoas e artefatos e de
como trazer estrangeiros para perto de si, prximo o suficiente para dei-
x-los com vontade de colaborar. O ritual kaxinawa pode, portanto, ser
resumido como uma elaborao esttica de trazer os inimigos para perto,
uma estratgia de alegrar os inimigos predadores (como os lnka, os yuxibu
da samama, os gigantes hidi e outros), pois uma vez alegres doaro volun-
83
tariamente, durante o encontro ritual, exatamente este tipo de conheci-
mento ou saber que notoriamente se recusaram a ceder no mito.
Fao minhas as palavras de Biersack "que estas fontes [exteriores] no so
controladas ou superadas, mas sustentadas para dar evidncia perptua desta
mesma eficcia" (Strathern, [1988], 1990: 130-131). Apesar de, no caso dos
Paiela, tratar-se da complementaridade de gnero, podemos dizer que como
os Paiela e os Wari os Kaxinawa "olham para alm de si mesmos para fon-
tes que aumentam o poder da agncia" (Ibid.). importante frisar que este
estilo de lidar com o inimigo no faz uma equivalncia estrita entre sujeito
e predador e presa e objeto. No caso kaxinawa o sujeito-pessoa no reduz
sua presa posio de objeto, mas o trata como outro sujeito, seduzindo-o a
colaborar, quer se trate de um animal ou de um ser 'sobrenatural'.
ETNOGRAFIA DO GOSTO: A TICA QUE UMA EST TICA
"O estilo o homem."
Buffon emBateson, 1977: 168.
"Se tivermos que entender as regras ticas que regulam uma sociedade,
aesttica que temos que estudar."
Leach, 1954: 12.
"O fenmeno humano uma secoerente idia, organizada mental-,
fsica- eculturalmente emtorno daforma de percepo que chamamos de
'sentido'."
Roy Wagner, 1986: XI.
A especificidade da experincia visual kaxinawa revela as mesmas cate-
gorias fundamentais que determinam os processos cognitivos encontrados
em outros campos da experincia e da ao. Demonstrarei que na trilogia
dinmica constituda por i<ene (desenho grfico, padronizado), dami (figu-
ra, modelo, mscara, transformao) e yuxin (imagem, agncia, ser) est
a chave para a compreenso da experincia visual e da prtica artstica
84
kaxir.awa. A interconexo destes trs conceitos, intimamente relaciona-
dos, constitui um campo de reflexo abstrata sobre a fabricao, mutao
e desntegrao do corpo humano e da pessoa. Isto significa que na elas-
sificaco dos fenmenos visu~is e na relao complexa que existe entre
estes termos, podemos apreender idias sobre aestrutura do ser: adialtica
entre identidade e alteridade, entre visvel e invisvel, perecvel e eterno,
vida e morte, feminino e masculino, o invlucro e o envolvido, criao e
destruio.
O que pretendo demonstrar com a interconectividade dos campos de
reflexo e de ao a impossibilidade em apreender o esttico enquanto
domnio separado. Ao procedermos desta forma, as qualidades criativas,
sensveis e perceptivas de experincias interpessoais so concebidas en-
quani o 'fatos sociais totais' (Mauss, 2004). Este procedimento no signifi-
ca uma reduo do 'esttico' ao 'sociolgico' querendo, deste modo, negar
sua unicidade e originalidade. Pelo contrrio, damos experincia estti-
ca sua voz (embora silenciosa) no quadro polifnico de outras vozes que
juntas constituem o socius, entendido como uma interconexo de vises e
discursos sobre um mundo vivido, refletindo as experincias do mundo que
fazem sentido atravs da repetida interpretao intersubjetiva e da comu-
nicao contnua no interior de um grupo de pessoas que se reconhecem
como seres de um mesmo tipo.
A abordagem intersemitica quer chamar a ateno para um universo
de interpretao que reconhece discursos distintos embora relacionados
(mutuamente 'traduzveis') em um todo interligado. Evita-se os termos
'cultural' e 'social' por estes transportarem uma conotao 'totalzante'.
A abordagem intersemitica da etnoesttica uma tentativa de analisar
a organizao das capacidades de leitura visual das pessoas que produzem
expresses estticas especficas na sua interdependncia com outros dis-
cursos ou prticas (percepes no-visuais, ritual, mito, organizao social,
escatologia etc.) que se contradizem ou se reforam no jogo criativo que
aconstante reinveno da vida social.
A leitura de elementos visuais depende do 'olhar da poca' (Baxan-
dall, 1972) assim como do 'olhar do lugar'. A distino entre formas e as
85
relaes entre formas so detectadas a partir de categorias mentais que
estruturam a percepo das formas e das cores associando-as a contedos
semnticos especficos que enfatizam relaes econtrastes cognitivamente
significativos para o grupo. Nas palavras de Geertz esta abordagem "olha
para as raizes da forma na histria social da imaginao" (1983: 119), en-
quanto na concepo de Wagner (ver epgrafe) estamos trabalhando com
a "forma de percepo que chamamos de 'sentido". Faz-se ntida a influ-
ncia de urna abordagem he. menutica:
"Em vez de limitar [...] a esttica a uma descrio e determinao
das caractersticas do objeto de um modo particular de experincia,
a esttica, o questionamento hermenutica desafia a prpria noo
de urna experincia puramente 'esttica'. O encontro com a obra
de arte um projeto de compreenso interpretativa, no somente
uma recepo e apreciao passivas e distanciadas de um objeto in-
dependente ... A tarefa filosfica ao pensar sobre a arte no mais
explicar a beleza eterna da natureza, mas esclarecer as condies do
processo atravs do qual arte compreendido e interpretado." (Hoy,
1978: L37)
Esta concepo filosfica se aproxima do que urna antropologia da arte,
da esttica, ou do 'estilo' deve ser, ou seja, o projeto de entendimento
interpretativo do significado das qualidades sensveis na percepo, ex-
presso e cognio nativa. Esta compreenso progride por meio de um
mover-se espiralado entre o global e o particular, sem a lente ou grade de
possveis mtodos ou conceitos preconcebidos colocados entre o perceptor
eo percebido. Conceitos e idias preconcebidas que determinam e tornam
nossa percepo possvel so, portanto, sistematicamente sujeitas dvida
sempre que a observao e a escuta cuidadosa no refletirem seu significa-
do original (Gadamer, 1984).
Procedendo deste modo, o primeiro obstculo que encontramos o
fato de que a maioria das sociedades no-ocidentais, incluindo-se aqui os
Kaxinawa, no possuem urna palavra para 'arte'. Nem mesmo possuem um
conceito subjacente e equivalente ao conceito de arte que poderia existir
86
sem ser nomeado corno tal. Precisa-se, entretanto, de pouca familiaridade
com a vida destes povos para perceber que este fato no significa que lhes
falta a idia de 'beleza' ou o jufzo esttico, ou que no esto interessados
em 'embelezar o (seu) mundo' (Witherspoon, 1977).
Poder-se-ia na verdade afirmar o contrrio, que ao invs de nada, tudo
julgado esteticamente, no somente produes materiais, mas tambm
aes: J modo de falar, sentar, comer, os gestos, o comportamento social,
o chei-o e a textura corporal, a sade. O campo inteiro de interao e
produo est sujeito ao juzo esttico, de modo que se poderia dizer que
termina por no caber mais na categoria daquilo que ns chamaramos
de 'pui amente esttico'. Isto o caso porque nada produzido ou apre-
ciado pelo nico motivo de ser 'belo' (como acontecia com a arte 'pura'
ociden :al que obedecia concepo de I' art pour I' are). Beleza no existe
enquar.to campo separado de apreciao, est associada aoutros domnios
de perc epo, cognio e avaliao."
18 A arte moderna tem sido enftica na defesa de sua independncia de outros domnios
davida ~,)Cial. "A arte pela arte" umcredo tanto de artistas quanto dos que pretendem
levar a a'te asrio e reflete, segundo Overing (1989), uma dificuldade empensar a cria-
tividade individual e a autonomia pessoal juntas com a vida emsociedade. Na tradio
ps-ilurninista o artista assume a imagem do indivduo desprendido, livre das limitaes
do "senso comum" sociocntrico. Neste contexto, h uma associao entre coletividade
e coero e o poder de criatividade projetado fora da sociedade. Um resultado deste
estatuto solitrio de gnio seria que o artista moderno perde, atravs de umuso idiossin-
crtico de signos e smbolos, suacapacidade de comunicao: no h linguagem fora da
sociedade. Lvi-Strauss reflete sobre a influncia da "arte primitiva" sobre a "arte mo- _
derna" (cf. Charbonnier, 1961: 63-91). Para o autor a tradio intelectual ocidental
responsvel por trs diferenas entre arte "acadmica" earte "primitiva", diferenas que
aarte moderna tenta superar: 1. A individualizao da arte ocidental, especialmente no
que diz respeito a sua clientela, que. provoca e reflete uma ruptura entre o indivduo e
asociedade emnossa cultura - um problema inexistente para o pensamento indgena
sobre socialidade; 2. A arte ocidental seria representativa e possessiva enquanto a arte
"primitiva" somente pretenderia significar; 3. A tendncia na arte ocidental de sefechar
sobre si mesma: "peindre apres les maftres". Os impressionistas atacaram o terceiro prob-
lemaatravs da "pesquisa decampo" eoscubistas osegundo, recriando esignificando, em
vezde tei.tando imitar de maneira realista - aprenderam comassolues estruturais ofe-
recidas pla arte africana - ; mas aprimeira ecrucial diferena, a da arte divorciada do
seupblico, no pde ser superada eresultou, segundo Lvi-Strauss, num "academicismo
de lngua ze..s'': cada artista inventando seus prprios estilos e linguagens ininteligveis.
' n
A belezano considerada como algoexterno, existindo emummundo
deobjetos independentemente dequemosperceba, mascomo algoqueper-
tence relao entre omundo eumacapacidade dever, baseada no conhe-
cimento adquirido. A importncia darelao intersubjetiva deco-presena
entre operceptor eo percebido eumacompreenso dapercepo como um
processo ativo e no passivo, aproxima esta viso das abordagens fenorne-
nolgicas dapercepo, como expressapor Heidegger quando fazaseguinte
observao sobre apercepo auditiva: "somente aquele quejcompreende
pode escutar" (Heideger, 1927:237). Sobre apercepo visual, declara que
umprocesso emque asignificao temprioridade sobrearecepo passiva:
"Ao mostrar como toda viso est enraizada principalmente na
compreenso (a circunspeo da considerao compreenso como
senso comum [Verstdndigkeit)), privamos a intuio pura [Anschauen]
da sua prioridade, o que corresponde noticamente priorida-
de do que est mo (present-at-hand) na ontologia tradicional."
(Heidegger, 1927: 219)
o'present-at-hand' a definio de Heidegger da Natureza, no vista
como algo que existe lforasemrelao alguma comaconscincia huma-
na e a ao encorporada, mas algo que existe por causa do nosso envolvi-
mento comela:
"Aquilo que est mo (ready-to-hand) descoberto enquanto tal
na sua aproveitabilidadr sua usabilidade, e sua nocividade. A totali-.
dade dos envolvimentos revelada enquanto o todo categrico da
interconexo fJossvel daquilo que est mo. Mas mesmo a 'unida-
de' deste mltiplo que est mo, da Natureza, pode somente ser
descoberta se sua possibilidade foi revelada. Ser um mero acaso que
a questo sobre o Ser da natureza aponta para as 'condies de sua
possibilidade'?" (I-Ieidegger, 1927: 217)
Assim como o mundo exterior, ser humano no mundo (Dasein) um
projeto de tornar-se, constituir-se:
00
"Como Ser-possvel [... ] Oasein nunca qualquer coisa menos isto;
isto quer dizer, essencialmente aquilo que, na sua potencalidade-
para-Ser, ainda no . Somente porque o Ser do "l" (there) recebe
sua Constituio atravs da compreenso e atravs do carter do
entendimento como projeo, somente porque () que se torna (ou
alternativamente no se torna), pode ele dizer para si mesmo 'Torne-
se o que s', e diz-lo com compreenso." (Hcidegger, 1927: 218)
o entendirnento fenomenolgico daNatureza eda existncia humana
emtermos de possibilidade edeprocesso, como um'tornar-se' (becoming),
poderia se aproximar mais da viso amerndia sobre a existncia do que
uma idia clssica da Natureza que a percebe como uma realidade obje-
tiva e exterior, a ser revelada edescoberta emseu ser puro e por si. Este
poderia ser umdos modos para entendermos o significado mais profundo
dasrazespor que osamerndios entendem natureza enquanto physis
1 9
, um
todo interconectado de seres no-humanos comintencionalidade eagn-
ciasemelhantes nossa, capazesdeadotar umponto devista. Uma grande
diferena persiste, no entanto, tendo emvista que Heidegger fala de uma
natureza mais passiva do que ativa.
Se as realidades aserem percebidas mudam comaagncia encorporada
que v,~eage de acordo comuma perspectiva, os seres adquirem identida-
des mltiplas, apesar de estarem interligados num mesmo campo signfi-
cante de uma percepo informada pela inteno de mtua predao ou
cuidado. Deste modo, Natureza, a soma desta intrincada malha de seres
e coisas, torna-se, tambm, mltipla, Poderamos afirmar com Goodman
(1978), Overing (1990) e Schweder que "Quando as pessoas vivem no
.mundo de maneira diferente, pode ser que vivam emmundos diferentes"
(Schweder, 1991: 23).
O que examinamos acima tem uma relao direta com a teoria kaxi-
nawa da percepo eda criao esttica, porque aquesto da percepo e
19 Como o faziamosgregos antigos. Para esta comparao entre o pensamento amerndio
egrego sobre a natureza, aterra enquanto ser vivo, ver Bastos (1989).
BO
criatividade somente pode ser entendida se captarmos como o pensamen-
to nativo concebe arealidade. Levando em conta anfase ontolgica fun-
damental da concepo amaznica do mundo na constante transformao
de um ser em outro, somos obrigados a reinterpretar a relao entre, por
um lado, percepo ecriao (com apercepo sendo, de alguma maneira,
uma criao) e, por outro, entre aparncia, iluso e realidade. Esta ltima
questo nos leva ao problema dos estados de conscincia. Desde que cons-
cincia inconcebvel sem uma considerao do estado do corpo, estados
de conscincia tornam-se estados do ser.
A clssica questo nas teorias da percepo sobre a relao entre iluso
e realidade substituda por uma considerao da relao entre estados
diferentes de ser dos humanos edos no-humanos. Esta questo ser trata-
da em maior detalhe na prxima seo quando abordaremos a tnade kene
(desenho), dami (transformao), yuxin (ser, imagem no espelho). Neste
momento, quero apenas enquadrar esta questo num quadro mais amplo
de reflexo terica. Encontramos nas reflexes de Schweder (1991) sobre
estados da mente e como esto relacionados, questes prximas a nossa
problemtic;a:
"Alguns argumentam, por exemplo, que a imaginao oposta
percepo [... ] Outros sustentam que percepo uma forma de
imaginao (como a afirmao de que a percepo visual uma
'construo'), enquanto outros argumentam que imaginao uma
forma de percepo (por ex., que o sonho o testemunho de outro
nvel de realidade). Outros ainda argumentam em ambas as direes,
e dialeticamente, a favor da'percepo imaginativa e da imaginao
perceptiva." (Schweder, 1991: 37)
Um exemplo da relao entre percepo imaginativa e imaginao per-
ceptiva pode ser encontrado em uma das caractersticas estilsticas mais
marcantes do tecido desenhado feito pelas Kaxinawa: considerando que os
padres so interrompidos imediatamente depois de terem comeado aser
reconhecveis no pano tecido, precisa-se da capacidade imaginativa para
perceber a continuao do padro atravs de uma viso mental. A tcnica
90
sugere que abeleza a ser percebida no exterior est tanto, ou at mais pre-
sente no mundo invisvel ou no mundo das imagens a serem visualizadas
pela criatividade perceptiva, do que na beleza externalizada pela produo
artstica.
Este dispositivo estilstico revela um elemento importante do signi-
ficado do desenho na ontologia kaxinawa: o papel desempenhado pelo
desenho na transio entre percepo imaginativa e imaginao per-
ceptiva, ou a transio de imagens percebidas pelos olhos no estado de
ser cotidiano para as imagens perceptveis somente para o olho mental
ou o yuxin do olho. Desenho um sinal do yuxin. Por esta razo, a nica
resposta que Dona Maria Sampaio - quase cega e, portanto, impossi-
bilitada de fazer desenhos - me deu, no final da minha estadia entre
eles, pergunta sobre o significado dos desenhos foi que: "O desenho
a lngua dos espritos" (kene yuxinin hantxaki). Voltaremos a esta frase
mais udiante.
OsShipibo (grupo pano do Ucayali, Peru) vo mais alm na importn-
cia dada percepo imaginativa quando afirmam que o corpo humano
pode ser visto como estando permanentemente desenhado, quando se tem
a caps cidade de v-lo. A pintura invisvel funciona como armadura con-
tra a in.vaso da doena. Gebhart-Sayer (1986) interpreta a transio de
visibil idade invisibilidade na manifestao shpibo da pintura corporal
como medida de proteo usada pelos Shipibo na sua relao d proximi-
dade com no-nativos. Illius (1987), por outro lado, duvida que a pintura
corpo] ai tenha em algum tempo sido usada fora do contexto ritual. Os
no-S'upibo somente tm acesso manifestao exterior dos belos ecom-
plexos padres shipibo atravs da pintura na cermica e em panos (estes
desenhos no so, como entre os Kaxinawa tecidos, mas aplicados sobre o
tecido pronto) (Roe, 1982).
Os prprios Shipibo, entretanto, podem visualizar estes motivos,
com alta significao cultural, sem precisar t-los materialmente na sua
frente. Mulheres com conhecimento de desenho podem sonhar sobre o
assunto (freqentemente com a ajuda de plantas que induzem sonhos
com desenho (Illius, 1987), como o fazem as mulheres kaxinawa}, en-
91
quanto homens, mais especificamente os xams, visualizarn, com a ajuda
dos seus cantos, o desenho Invisvel que cobre a pele de seus pacientes,
quando sob a influncia da ayahuasca (Gebhart-Sayer, 1986).20 Illius e
Gebhart-Sayer sugerem que a relao sinestsica entre canto e desenho
na experincia com a ayahuasca diz mais respeito melodia do que s
palavras do canto. Mais adiante teremos oportunidade de voltar a esta
relao complexa entre os sentidos na experincia holstica da percep-
o imaginativa.
Os Navajo dos Estados Unidos atribuem igualmente grande importn-
cia ao lado oculto da beleza. Witherspoon afirma:
"Para os Navajo a beleza no est tanto no olho do contemplador
quanto na mente do seucriador ena relao entre ocriador eocria-
do (isto , o transformado, ou o organizado). O Navajo no procura
beleza; agera dentro de si eaprojeta no universo. O Navajo diz shil
hzh 'beleza est comigo', shii hzh 'h beleza dentro de mim', shaa
hzh 'beleza irradia de mim'. A beleza no est 'l fora', nas coisas
a serem percebidas pelo contemplador perceptivo e apreciativo;
uma criao do pensamento. Os Navajo experimentam beleza pri-
mariamente atravs da expresso e criao, no atravs da percep-
o epreservao" (Witherspoon, 1997: 151).
Uma bem conhecida manifestao da filosofia de vida dos Navajo e da
atitude frente arte que dela decorre so as pinturas na areia, destrudas
logo depois ou durante os rituais de cura. Os Navajo no vem sentido na
tentativa de tentar fixar eu guard-Ias (atravs da fotografia, por exemplo)
econsideram tal atividade como potencialmente perigosa. O perigo liga-
do ao princpio bsico que associa vida ao movimento e morte ausncia
de movimento. O prazer esttico navajo reside no ato de criao, no na
sua contemplao e conservao. Witherspoon completa:
10 Ver,no entanto, Colpron (2004) sobremulheresxamsshipiboquetomamayahuasca
eno precisamintermediao masculina.
92
"A sociedade navajo umasociedadedeartistas (criadores dearte) en-
quanto asociedade Anglo consisteprimariamente emno-artistas que
olhamarte (consumidores dearte) [...]O no-artista umararidadeen-
treosNavajo. Almdomais, osartistasnavajo integramsuasaspiraes
artsticas nas suasoutras atividades. A vidano umamaneira defazer
arte, masaarte umamaneira deviver." (Withcrspoon, 1997: 153)
Retomando nossa discusso sobre o conceito de esttica, no h d-
vida de que, no sentido amplo da palavra, as sociedades constroem sua
'esttica' ou teoria do gosto ligado a um valor e, conseqentemente, a um
julgamento. Percepes visuais, gostos, cheiros e sons que agradam sero
sempre contrastados com outros que desagradam e esta percepo implica
em interpretao evalor, pressupondo esquemas de significao que prece-
dem a mera possibilidade de percepo. Percepes dos sentidos so classi-
ficada.: ejulgadas de acordo com o que significam para o perceptor. Grupos
sociai.. se diferenciam em termos do que gostam, e os critrios variam de
acordo com o uso poltico ou social do julgamento esttico.
Na sociedade ocidental moderna, o 'gosto', o exerccio do julgamento
esttic o, tem sido usado como critrio de distino social e est ligado
aos fenmenos de mobilidade epertencimento aclasses sociais (Bourdieu,
1979). O gosto tem sido cultivado como campo especializado de julgamen-
to refinado. difcil mudar o gosto porque implica em um processo lento
de aprendizado ede 'encorporao' de atitudes, um tipo de conhecimen-
to corporal que se adquire atravs dos hbitos compartilhados e do viver
junto. por esta razo que o gosto to importante na comunicao, um
pertencer que expressa uma filosofia social e uma histria de vida. O gosto
guia aes, percepes edesejos sem reflexivdade consciente do sujeito.
Vis! o nesta perspectiva, o gosto se torna de importncia crucial para as
identidades pessoal e grupal. Por mais que a lgica da distino esttica
entre os Kaxinawa esteja totalmente distinta da lgica da distino que
dita o gosto das elites edas classes populares analisadas por Bourdieu, no
deveria surpreender-nos o fato de, ao serem perguntados a respeito dos
seus 'outros' prximos, meus interlocutores kaxinawa responderem com um
93
julgamento evalor esttico. A questo que mais os preocupava era o 'jeito'
ea aparncia dos prximos (pessoas que, como os Culina ou os Yaminawa,
ocupavam frente ao branco, uma posio equivalente deles): se usavam
ou no roupas e decoraes bonitas; se cheiravam bem ou no; como se
alimentavam etc. O gosto pelo outro passa pelos sentidos e, como nos aler-
ta Miller, as coisas possuem mais preciso do que as palavras na expresso
das pequenas diferenas (Miller, 1987: 407).
Por outro lado, para os Kaxinawa, mais importante que a maneira que
o conhecimento era alocado em objetos externos, era o modo com que
as pessoas incorporam e encorporam (embody) o conhecimento, conheci-
mento social e a arte de viver bem esem doena." Arte , como memria
e conhecimento, encorporada entre os Kaxinawa, e objetos no so seno
extenses do corpo. Esta prioridade explica por que as expresses estticas
mais elaboradas dos grupos indgenas so ligadas decorao corporal: pin-
tura corporal, arte plumria. colares eenfeites feitos de mianga, roupas ere-
des tecidas com elaborados motivos decorativos. Os Kaxinawa no guardam
muitas das suas produes artsticas. Como osNavajo, esto convictos de que
objetos rituais perdem seu se .tido esua beleza (como seu dua, brilho, encan-
to) depois de terem sido usados. O banco ritual, especialmente fabricado para
os iniciantes durante o rito de passagem e tratado com cuidados especiais,
logo aps o ritual, cai no uso comum passando aser um simples assento.
Povos indgenas variam muito no valor que atribuem produo mate-
rial,22mas podemos afirmar que, em geral, 3 produtividade tecnolgica e a
li Sigo asugesto de Viveiros de Castro (1996: 138) de traduzir o conceito antropolgico
de embodiment por ncorporao Emvez de incorporao.
I I Comparar, por exemplo, os ritualsticos Kavap-Xikrin (Vidal, 1992; Gordon, 2003),
Bororo (Dona, 1981) ou WayanajApalai (Van Velthern, 1995) com sua exuberante arte
plumria e elaborada cestaria, com a sobriedade da cultura material pirah (Gonalves,
1995). O interessante no caso dos Pirah que estes vem seus Deuses como possuidores
de toda qualidade de tcnicas enquanto so, ao mesmo tempo, incapazes de p-Ias em
prtica por causa dos seus corpos inperfeitos (deformados). Para fazerem as coisas pre-
cisam da ajuda dos humanos. Os humanos, por sua vez, 'nada sabem' mas tm umcorpo
perfeito eso pescadores sofisticados eprendados que, como uso de instrumentos simples
mas provenientes de solues sofisticadas, obtm resultados infalveis.
94
inovao acumulativa no tm o mesmo valor que para asociedade indus-
triali .ada. Geralmente, as populaes indgenas - eos Kaxinawa, emparti-
cular - desejam os produtos industrializados. Esta questo ocupa um lugar
central em suas reflexes sobre a relao que estabelecem com os brancos.
A maior parte das mitologias levantadas a respeito considera a diferen-
a em produtividade tecnolgica a conseqncia de uma escolha feita no
passado: a explicao de que 'ns escolhemos arco e flecha, enquanto eles
escolheram armas de fogo' uma concluso recorrente na reflexo mitol-
gica dos amerndios a respeito deste tpico. Neste contexto, a importncia
da sua prpria agncia no processo da tomada de deciso enfatizada, sem,
no entanto, defender adeciso como a melhor possvel."
Percebemos s vezes um sentido manifestamente poltico esocial nesta
nfase dada escolha que ocorre no mito que, por sua vez, produz a dife-
rena entre o estilo de vida indgena e o dos brancos. Se no fosse porque
escolheram viver deste modo, poderiam ter migrado para as cidades ou
se misturado aos brancos, e a distino entre eles e os brancos teria sido
abolida. Sabe-se, por outro lado, que o tradicionalismo ou conservantismo
indgena mais uma idia fixa do senso comum e de muitos antroplogos,
do que dos nativos. As pessoas no vivem da maneira que o fazem hoje
porque sempre o fizeram, mas vivem deste modo por causa dos eventos
histricos e seus efeitos, aliados a escolhas feitas pelos povos indgenas
na luta pelo 'projeto de continuidade social diferenciado' no qual esto
engajados (Albert, 2000: 240-242). Vale notar que esta uma deciso que
por definio no pode ser tomada individualmente. Como o caso kaxina-
wa no; deixa entrever: a 'vida indgena' reside exatamente no fato do ser
kaxinawa significar viver em comunidade com parentes prximos ao invs
de viv er em famlias nucleares como os brancos.
A f losofia social que resulta da escolha de viver em sociedades de peque-
na esc lia, politicamente autnomas e construdas ao redor do parentesco,
tem ccnseqncias de longo alcance para o estilo de vida e para aproduo,
2J Ver a, excelentes anlises a respeito deste tema por Alben (2000), Buchillet (2000),
Howard (2000) eVan Velthern (2000).
95
e por esta razo tambm para a prxis social do julgamento esttico, es-
pecialmente quando esta escolha da prtica social tem sido feita desde
tempos remotos contra um fundo alcanavel de estilos de vida diferentes.
No caso dos Kaxinawa e seus vizinhos pano e aruak a tentao e a ameaa
do 'Estado Nao' mais antiga que a primeira chegada dos espanhis na
costa peruana. Sua posio fronteiria entre o altiplano Andino e aflores-
ta Amaznica os colocou ern contato prximo com a expanso quchua
e incaica, e a pesquisa histrica sugere que alguns destes grupos (possivel-
mente os Kaxinawa e Conibo) trabalharam nas minas de ouro de Potosi
quando os primeiros cronistas l chegaram (Renard-Casevitz, Saignes e
Taylor, 1988, vol. I: 121-132).
O contato espordico com o contexto poltico do Estado dos Incas onde
o poder coercitivo regulava arelao entre conquistador evassalo atraa os
povos da montanha (floresta) tanto quanto os repelia. Fontes do primeiro
perodo colonial mencionam que estes povos da floresta nunca foram to-
talmente subjugados. Vinham e iam, desaparecendo na selva quando que-
riam e retomando quando precisando de metal, ouro, ou outros bens ine-
xistentes na floresta. Tentou-se muitas vezes manter esta modalidade de
relao com os missionrios e seringalistas: trabalhavam temporariamente
para estes, mas podiam aqualquer momento desaparecer de novo. Foi deste
modo que no incio do sculo umgrupo kaxinawa que trabalhava na rea do
rio Envira, se rebelou contra o seringalista que abusava das suas mulheres. O
seringalista foi morto, levaram suas armas e desapareceram na floresta. Este
grupo migrou para o rio Curanja no Peru edeu origem aos Kaxinawa perua-
nos, contatados por Kensinger nos anos cinqenta (cf. Kensinger em Dwyer,
1975; Aquino, 1977; McCallum, 1989a; Montag, 1998).
N as suas relaes com missionrios, seringueiros e antroplogos se co-
locava no somente a questo da difcil conquista de reciprocidade na
relao de troca de bens, mas tambm a dificuldade de reciprocidade na
poltica de aliana matrimonial. No se sabe se a ideologia endogmica
kaxinawa uma racionalizao ou resposta difcil poltica de alianas
com outros grupos mais ou menos estrangeiros. O problema no se dava
somente na relao com os estrangeiros brancos, pois os prprios vizinhos
96
pano so conhecidos na literatura pela prtica disseminada de rapto de
mulheres de grupos vizinhos.
Pocemos nos perguntar, no entanto, porque os Kaxinawa escolheram
a figur 1do lnka para dar voz a esta temtica recorrente da alteridade e da
difcil conquista de alianas. A centralidade da figura do lnka no mito e
ritual caxinawa de fato intrigante. E no somente entre os Kaxinawa.
Emco .itraste com outros grupos, como os Shipibo que dividem afigura do
Inca en duas outras mutuamente exclusivas, o canibal e o Messias, o lnka
dos Knxinawa somente um. Concentra-se na sua ambigidade toda a
complexidade psicolgica da relao dos Kaxinawa com o poder do Estado
ecom o poder coercitivo.
Sabemos da importncia da memria do imprio incaico, que entrou
em colapso com a chegada dos espanhis, tanto para as populaes nati-
vas quanto para a construo da imagem da identidade nacional peruana.
Inclusive, a penetrao do poder colonial nas reas amaznicas atravs
dos sculos que seguiram a chegada dos espanhis quase sempre teve um
rosto quchua, desde os caucheiros aos madeireiros. Os espanhis tomaram
emprestado dos Quchuas eda antiga aristocracia inca seu medo dos ama-
znicos: um contraste entre sedentarismo e Estado por um lado erebelio,
amor pela liberdade e nomadismo por outro existia muito tempo antes da
chegada dos conquistadores Espanhis no Peru (Renard-Casevitz, Saignes
eTayl(lr, 1988).24
Mas, poder-se-ia perguntar, so estas informaes suficientes para jus-
tificar ;t presena da figura do lnka no mito contemporneo? Ser possvel"
estabelecer uma relao entre a presena do lnl<a no mito e no ritual e o
registro de uma m~mria que perpassa mais de quinhentos anos? Esta ou-
sada hi ptese foi de fato formulada por alguns estudiosos dos Shipibo (ver
apolmica: Lathrap, Gebhart-Saver & Mester (1985); DeBoer & Raymond
21 H, cada vez mais, uma crescente necessidade deserelativizar oscontrastes esebuscar
as continuidades, as redes de rroca e o intercmbio de saberes que parecem ter sempre
existido entre o mundo andino e amaznico (Taylor, 1992: 235-236). Recentemente
'. (2006) esta proposio ganhou concretude no seminrio organizado por Platt, Daillant,
Santos Granero eGow, na Universidade de Sr. Andrews.
97
Se, entretanto, estas trspalavras, dua, hawendua eduapa fossemlexicamente
relacionadas, como suadecomposio poderia sugerir, teramos encontrado
na lngua kaxinawa aconfirmao deuma associao do julgamento tico e
esttico, notada comfreqncia emoutros contextos nativos.
Quando falamos da ligao entre esttica etica, importante estabe-
lecer, desde ocomeo, adistino entre prtica social eimaginao social.
A prtica do julgamento esttico ligada a problemas ontolgicos que
ocupam a reflexo nativa: a natureza do poder como coexistncia inevi-
tvel dos seus lados criativos ecanibalsticos earecusa de aceitar o poder
econmico ecoercitivo no seio dacomunidade, ligados mencionada ob-
sesso amerndia com "a noo filosficado significado do ser similar ou
diferente" (Overing, 1986b:142).
No julgamento esttico concreto osKaxinawa valorizamamoderao, a
nitidez eo detalhe nos cuidados como corpo, no comportamento eno uso
deornamentos edesenhos. A relao daarte comosenso decomunidade e
comacriao de um modo culturalmente prprio de vida construtiva ao
invs dedestrutiva. O estilo artstico no demonstra nenhuma tendncia de
quebrar coma tradio, pois acriatividade considerada possvel somente
dentro enunca foradasuarede especficadesentidos sociais esensveis.
Vemosdeste modo queasregrasqueguiamacriao eojuzoartstico so
avisualizao de outro aspecto da imaginao esttica que aquela expressa
na descrio dos seres poderosos do outro mundo. Emvez de experimen-
tar comasmanifestaes perigosasdo excesso, expressamalgicacontrria
da moderao eda medida, prtica esttica que exprime o funcionamento
pragmtico deuma filosofiasocial queno permite adiferena extravagante
e exagerada ao nvel da vida socialmente desejada. Deste modo, enquanto
sua vida imaginria pode visitar todas as possibilidades de forma e luxria
visualizadasnas cidades coloridas dosnawa feitasdepedra, cristal eferro, na
vidacotidiana, aexpresso artstica ganha valor no atravs do espetculo e
exuberncia, mas atravs depequenos detalhes idiossincrticos.
O conceito de 'tecido da vida' concebido enquanto entretecimento de
elementos iguais(seresocupando amesmaposio no sistema), cadaumper-
tencendo a uma das duas metades contrastantes (figurasescuras alternadas
100
comfigurasclaras), evocado no tecido quemostra como oentrelaamento
repetido esistemtico deopostoscomplementares (opostosnacor,masiguais
naforma) podeformar umpadro infinito. Um tecido rene oqueoposto,
masaomesmo tempo essencialmente igual emforma, substnciaequalidade:
motivos pretos ebrancos sofeitosdomesmoalgodo, einu edua, ouhomem
emulher soambos feitosdosmesmosfluidoscorporais eagnciayuxin.
M,\E.f1U X ~ !NAw'AI i
19o@ J ls][gl @ J ~ vJ ~11
1'1A"_11uX'\ T
~, ~ 'Y o'il [Ej] Um li] ~ NI \~.\N
~~ ::J [TI ~~ "c"
~~ ffr ll~lrDll r
~V~~JN ~
\\C" V7" ""q ~--
~@ J
~~
~J J [lJ GJ ~
NAWAN
,"1- "
T
- SI\W XANT' MA
Motivos usados na tecelagem.
O tecido desempenha afuno deumapele, contendo oespaocorporal
no seuinterior, oudeumaplacenta etecido amnitico, filtrando eprotegen-
do, aomesmo tempo emqueconecta oqueestdentro comoqueestfora.
seguindo a lgica do 'invlucro protegendo a semente' (onde 'semente'
representa apotencialidade deumcontedo) que asassociaessimblicas
dedesenho compele, por umlado, eplacenta etecido amnitico comde-
senho, por outro, ganham sentido. A mesma lgicaassociapele comaspa-
redes d3. casa (chamadas kene) eo teto esfrico comacpula do cosmos.
101
Se o conceito de corpo ('\Iuda) pode ser estendido a nukun yuda (nosso
corpo), incluindo parentes prximos que partilham comida e teto (antiga-
mente grandes malocas podiam hospedar uma aldeia inteira), o fato de a
casa ter sido escolhida como metfora daquilo que contm o corpo segue
como conseqncia lgica. As aldeias dos yuxibu no cosmos so imagina-
das da mesma maneira como conjuntos fechados de corpos ecomunidades:
so esfricos e fechados e a entrada uma porta. O que liga estes fenme-
nos o conceito de desenho (kene), um desenho que nunca existe como
conceito abstrato, mas que adere sempre a alguma coisa ou encorporado
em um suporte. Desenho aquilo que separa o que dentro daquilo que
fora do 'corpo' (ou mundo), do mesmo modo que aquilo que constitui o
meio de comunicao entre ambos os lados.
Deste modo, voltando anlise formal do estilo e do significado que o
estilo revela quando aforma associada s estruturas principais que orien-
tam a concepo kaxinawa do mundo, chegamos a uma unidade sinttica
na dualidade. Esta estrutura bsica expressa a caracterstica principal da
vida na terra para os Kaxinawa. Da mesma maneira como esta constituda
pela separao e ligao simultneas dos mundos celeste e terrestre, epelo
entrelaamento das qualidades opostas (dua einu, masculino efeminino),
a fabricao de tecido ou a superfcie pintada so o resultado unificado
da sistemtica repetio das unidades de desenho, idnticas e alternadas
nas cores claras (inu) e escuras (dua), que representam respectivamente
o domnio celeste e aqutico, o dia e a noite, o masculino e o feminino.
A unidade do corpo e da vida o resultado do encontro e da mistura dos
princpios opostos do gnero e dos domnios aquticos e celestes.
Conseqentemente, o padro englobante do estilo enfatiza a essencial
igualdade de todos os elementos, em sintonia com uma filosofia social que
reage contra qualquer exacerbao de diferenas (todos os humanos so
mais ou menos iguais como o so as unidades de desenho) e reala a liga-
o dos seres humanos COI 1'\ o cosmos cujos corpos eseres so cobertos com
a mesma malha de desenho. Visualiza igualmente o fato de todo corpo ser
composto da unio das qualidades de inu e dua, e da unio das qualidades
femininas e masculinas. O estilo visualiza a ~fase na homogeneidade e
I '"
coerncia e expressa a idia da comunidade corno sendo um corpo social
(nukun yuda) , coberto pela mesma 'pele' (roupa) cultural, ou rede de cami-
nhos (as unidades mnimas de desenho so chamadas de 'caminhos', bai)
cobrindo todo o mundo explorado, conhecido.
O detalhe esteticamente agradvel, por outro lado, vem do domnio
dos eventos imprevisveis e da criatvidade pessoal. Por este motivo, um
ngulc a mais em uma das mltiplas gregas que compem um padro per-
turbar.i a simetria perfeita da estrutura e chamar a ateno para a autoria
da pea de arte, alm de para o fato de que, mesmo num padro geral de
similar idade, nada produzido duas vezes sem ter sofrido uma pequena
transfc rmao no processo de reproduo. Do mesmo modo que o ser hu-
mano nico por causa da sua histria pessoal e singularidade corporal,
todo produto do trabalho humano nico na tcnica e na concepo, e
o artista kaxinawa nunca deixa de marcar esta singularidade no detalhe
sutil. Deste modo a qualidade de ser nico apesar de parecido conscien-
temente visualizada atravs da introduo de pequenas distores nos pa-
dres clssicos, distores estas que do pea seu carter.
Outro fenmeno que aumenta aparticularidade equalidade distinta de
uma pe a de tecido desenhado a transformao suave de um padro em
outro. Iransforrnaes de padres ocorrem somente em panos com moti-
vos que cobrem uma superfcie extensa." Este fenmeno me foi explicado
da seguinte maneira:
"Na pele de Yube tem todos os desenhos possveis. A cobra tem vin-
te e cinco malhas, mas cada uma d vrios outros desenhos. No fim
das contas, todos os desenhos pertencem mesma pele da jibia."
Edivaldo verbalizou aquesto em termos parecidos:
"O desenho da cobra contm o mundo. Cada mancha na sua pele
pode se abrir e mostrar a porta para entrar em novas formas. Tem
vinte e cinco manchas na pele de Yube, que so os vinte e cinco
desenhos que existem."
Z 7 Cf. Keifenheim (1996).
I ()'l
Emcontraste com o desenho na tecelagem, a marca da unicidade na
pintura corporal ou facial no de difcil obteno, surge a partir do su-
porte e do estilo da mo que pinta: cada face refletir o mesmo padro
diferentemente, e a superfcie complexa fora o desenho a adaptar seus
ngulos emcurvas, acompanhando o relevo do corpo pintado. O desafio
dapintura corporal ou facial no reside tanto no detalhe assimtrico (que,
no entanto, aparece) ena discreta originalidade escondida emumcampo
globalmente simtrico, mas na habilidade de cobrir a superfcie irregular
semperder acoerncia dodesenho eadistncia regular entre aslinhas que
compem o padro."
Na arte plumria, por outro lado, assimetria parece ser mais importante
quesimetria, pelo menos comrelao colocao etamanho daspenas, ape-
sar danecessidade deseobter como resultado final um'buqu' balanceado e
harmonioso. As faixas debambu queservemdesuporte ao equilbrio mvel
das penas, por sua vez, so caracterizadas por uma disposio do desenho
no suporte que menos dinmico do que aencontrada nas pinturas faciais
enos tecidos, onde o centro de gravidade do desenho nunca no meio do
campo. A.descennalizao do desenho na tecelagem ena pintura corporal
2R O mesmo desafio na tentativa de manter o equilbrio entre a coerncia do padro e a
aplicao em suporte irregular foi notado por Lv-Strauss em sua anlise da pintura facial
kadiwu (1955, 1958), e por Gow (1988) em sua anlise do desenho piro. Gow sugere
uma correlao entre a complexidade da relao dinmica entre os elementos grficos e
plsticos no estilo artstico e o suporte primrio no qual o estilo se desenvolveu e conclui
que esta poderia ser a explicao para agrande elaborao do desenho na tecelagem kaxi-
nawa, por um lado, e um sistema de desenho mais complexo na pintura corporal piro, por
outro. As mulheres kaxinawa eram principal e primeiramente tecels, as piro desenhistas.
A mesma hiptese foi sugerida para a tecelagem kaxinawa em relao pintura corporal
por Dawson (1975:131-150). Este argumento da determinao tcnica de toda elabora-
o artfstica lembra o argumento de Boas em seu clssico Primitive Are (1928), estudo que
critica o cego 'reading-into' de significados simblicos em unidades de desenho, mtodo
usado sem avaliao critica nos estudos superficiais pelos estudiosos da arte tnica do seu
tempo. O tratamento da arte enquanto diretamente denotativa no leva a resultados com
sentido coerente. A razo para este fracasso interpreta ti vista, entretanto, no reside no
fato de as formas serem meras formas sem sentido a comunicar (puramente sensoriais e
no conceituais ou cognitivas), mas reside no fato de a linguagem visual comunicar sua
mensagem de modo diferente lgica denotativa e 'simblica'.
104
aumenta aimpresso dacontinuao do desenho foradasbordas do campo
decorado como seo desenho estivesse cortado ao meio," enquanto o de-
senho na coroa debambu disposto emfileiras semcruzamento diagonal.
No cocar, o equilbrio assimtrico das penas complementar ao anel com
decorao simtrica que as segura. O suporte do cocar pode tambm ser
coberto por umtecido dealgodo. Tambm neste caso, omotivo dabase
rgido, como setivesse de compensar afalta desimetria no topo.
Cushma e cocar.
Parao txidin (festado gavio real) fabrica-sea'roupa do gavio real' que
cobreo corpo inteiro comadornos plumrios feitos comaspenas do gavio:
29 O mesmo artifcio estilstico foi notado por Mller (1990) entre os Asurini: cf. Lagrou,
(1991).
105
a cabea, o peito e as costas. As penas do gavio real so difceis de obter e
so guardadas como possesses raras epreciosas pelas pessoas que conseguem
matar aave, mas no por issosero os usurios destas. A comunidade inteira
contribui com suas penas para afabricao do traje do lder de canto ede seu
aprendiz. Cada pessoa que sejunta como aprendiz ao lder ter o direito de se
cobrir com o traje durante o tempo da performance. O traje uma roupagem
ritual que pertence comunidade e montado unicamente por ocasio do
ritual. o produto das contribuies de cada caador da aldeia que teve asor-
te de obter penas de gavio real. Deste modo, o traje contribui para acoeso
social em vez de se tornar ostentao de propriedade ou habilidade privada.
Cocares so igualmente usados no ritual de katxanawa (ritual de ferti-
lidade). Aqui cada participante veste seu prprio cocar e por esta razo a
ocasio se presta com facilidade competio edemonstrao de prestgio
social. A anlise feita por R abineau de uma coleo de adornos pluma-
rios acompanhada das notas de campo realizadas por Kensinger nos anos
sessenta revela interessantes ligaes entre o julgamento esttico e social
(Dawson, 1975: 87-109).30 Os cocaresfeitos pela liderana da aldeia eseu
filho eram .considerados belas obras, demonstrando domnio de tcnica e
delicadeza na execuo e escolha do material. Especialmente o trabalho
do filho era "elogiado pela economia de penas e elegncia no desenho"
(Dawson, 1975: 96). Seu comportamento era discreto e a ambio de su-
ceder o pai no tinha sido abertamente expressa. O produtor do cocar
dominou a esttica da arte plumria eda etiqueta social.
O caso de Muiku era diferente. Muiku era o rival da liderana da aldeia
e parecia no guardar suas ambies para si. Usou para o katxanawa penas
de gavio real, cujo uso era apropriado unicamente no contexto do txidin
edo nixpuPima, e porque no possua penas suficientes para completar um
cocar (outras pessoas evidentemente no colaborariam com ele neste con-
30 Atualmente a produo de adornos plurnrios nas aldeias que visitei no tem sido
freqente. Os exemplares encontrados nas colees feitas por Schultz e Chiara, em 1950-
51 (Museu Paulista), e Kensinger, nos anos cinqenta e sessenta, so mais completos e
variados do que as que encontrei na aldeia. Me parece que o problema no Purus a ob-
teno de quantidade suficiente de penas, especialmente do gavio real, ave rara.
106
texto), teve de mistur-Ias com as penas de jacamim. Esta mistura eo uso
de penas demasiadamente prestigiosas no contexto errado foram estetica-
mente desaprovados pelos parentes. Outro cocar, feito pela mesma pessoa,
foi igualmente desaprovado em termos de beleza. Apesar de demonstrar
boa tcnica Muiku exagerou desta vez no uso de penas amarelas e por esta
razo seu trabalho foi considerado "excessivo".
Os exemplos dados por R abinau ilustram bem a conexo entre regras
sociais e gosto esttico. O significado da esttica da arte plumria , en-
tretanto, mais complexo. Penas tm yuxin (Kensinger, 1991c) eprecisam,
por isso, ser usadas na combinao e contexto apropriados, e pela pessoa
certa. No (como sugere R abineau) a liderana poltica da aldeia que
usa as penas do gavio real como signo de prestgio e autoridade poltica,
mas o lder de canto e seu aprendiz (um dos quais pode ser, mas no ne-
cessariamente a liderana poltica da aldeia). O uso desta roupa sed em
conte <to ritualmente controlado. As penas do gavio real formam parte
do traie do representante ritual do lnka no nixpuPima e no txidin. Pelo fato
de o dono das penas, o Inka na sua manifestao de gavio real, ser chama-
do para o terreiro da aldeia e ser por isso considerado presente durante as
festividades, a pessoa que usa o traje deste personagem necessita saber os
cantos certos que acompanham aperformance, seno se expe aos perigos
que acompanham a exposio ao domnio dos yuxin e yuxibu.
No a liderana da aldeia, nem o xam, que se especializa na arte de
lidar c orn as penas de aves e pssaros, mas o lder de canto, por causa da
bvia ligao entre os pssaros e sua especialidade: a arte de memorizar
e executar os cantos rituais, uma arte que se considera como tendo sido
apren. lida com os pssaros. Estes cantos so ligados ao lnka eaoutros yuxiba
dos cus e da floresta, enquanto outros cantos como os yuan entoados du-
rante as sesses com ayahuasca so ligados aYube e visualizao ritual das
realidades ligadas aos yuxin e yuxibu que aparecem no cip.
Percebemos, desta forma, que as regras que guiam a combinao de co-
res e de materiais so mais complexas do que as regras que visam somente
a regulao da demonstrao de prestgio social. Atravs da categoria dau
(encanto, remdio, veneno) que se aplica roupa e s decoraes usadas
107
pelo lder de canto fica claro que o uso de certos emblemas carregados de
prestgio social tem conseqncias que implicam em compromisso ritual e
no somente em posio social.
Objetos e palavras usados para o canto agem sobre os seres extra-huma-
nos com o qual se quer estabelecer uma conexo. preciso usar as penas
apropriadas em funo do seu dau que aumenta o dua (brilho) do usurio. A
pessoa, entretanto, usa unicamente as roupas que est preparada para usar.
O poder perigoso para quem no est preparado para a tarefa eprecisa por
esta razo ser mantido to invisvel quanto possvel. Do contrrio, a pessoa
se expe competio, inveja e vingana. Esta regra vale para a ostentao
de bens materiais e para o conhecimento ritual. O poder mais exposto de
todos, entretanto, o do xam, eesta arazo por que pertence ao oculto.
o poder mais ambivalente evoltil conhecido pelos Kaxinawa. Aqueles que
no querem perder ou enfraquecer seu poder precisam ser fortes o suficiente
para resistir tentao de partilhar o segredo do seu pacto com Yube.
TR ILOGIA DA PER CEPO: DESENHO (kene), FIGUR A
(dami) E .IMAGEM (yuxin) E SUAS R ELAES COM O COR PO
"Para cada viso deve ser trazido um olho adaptado ao que deve ser visto."
Plotinus em Furst, 1972: 142.
Arte a lente de aumento do sol do significado."
R oy Wagner, 1986: 27.
"Existem duas maneiras de no ver o que pode ser visto. Uma quando voc loca-
liza a ao no espao apropriado de ao, mas no tem experincia o suficiente, ou
no est (ainda) suficientemente equipado, para captar sua riqueza. Voc no v o
suficiente daquilo (que pode ser visto). A outra, mais dramtica, quando voc o
localiza no espao errado de ao. Voc est cego para aquilo (que pode ser visto)".
J akob Meloe, 1988: 91.
A sensibilidade kaxinawa para a presena de desenho (kene) no mun-
do envolvente responsvel pela classificao de seres e coisas (huma-
IOR
nos, animais, plantas e artefatos) em termos de 'com' ou 'sem desenho'.
O fato de um ser ter padres na sua pele sistematicamente mencionado
no seu nome atravs do adjetivo qualificador keneya (com desenho). Os
dois tioos de ona, por exemplo, so distinguidos pelo fato de um deles,
o inu keneya, ter desenho e o outro, txaxu inu (ona veado, ou ona
vermelha), no. Entre as folhas de sororoca usadas para fazer 'patrasca'
(kawaPl existe igualmente um tipo que se distingue dos outros atravs
do seu desenho. O nome genrico para asororoca se refere forma que
similar a da folha da bananeira, mani pei (folha da banana), enquanto a
folha com nervuras violetas na superfcie verde qualificada como mani
pei keneya.
A sensibilidade para a existncia do desenho na natureza se liga alta
valorizao do sistema complexo de desenho que caracteriza sua prpria
produo artstica na pintura e tecelagem. Esta nfase no desenho to
marcada que foi escolhido como elemento crtico na sua auto-imagem. Em
comparao com seus vizinhos, que no usam um estilo de desenho que
segue elaborados padres (como os Culina ou os Ashaninka, ou que usam
motivos menos labirnticos, como os Y arninawa ) os Kaxinawa se distin-
guem como "povo com desenho".
Os Shipibo so considerados como sendo igualmente um povo com
desenho (queneya em Shipibo) e esta pode ser uma das razes por que
Augusi o os chama de huni kuin, no obstante sua afirmao de nunca t-
los conhecido o suficientemente para realmente julgar sua similaridade
ou diferena. Por causa do desenho, os Shipibo so considerados bonitos.
Possue n tambm, nos olhos de Augusro, grandes quantidades de cordes
feitos (e mianga, que usam ao redor do pescoo, dos pulsos, dos braos,
ernbai o dos joelhos e ao redor dos tornozelos, como o fazem os Kaxinawa
eoutros grupos pano. Estes cordes representam a manifestao de riqueza
ebelez I para os Kaxinawa.
31 'Parra. ca' se refere a um pacote feito com as folhas de sororoca para assar cogumelos,
peixe pequeno, midos de caa efolhas medicinais.
109
Os Y aminawa, por sua vez, no so totalmente considerados 'nukun
yuda' (nosso corpo) e so chamados de 'outros huni kuin' (huni kuin bet~
su), no obstante a similaridade do sistema onomstico e da lngua. A
diferena de seus corpos marcada pela falta de 'desenho de verdade',
kene kuin. Seu desenho sechama yaminawa kene, uma coleo de motivos
destacados, no interligados, alguns dos quais foram incorporados pelos
Kaxinawa e so usados pelas crianas, adolescentes e adultos jovens em
ocasies festivas ou quando celebram o retorno dos caadores de uma ca-
ada coletiva.
1
~
Desenho executado emconjunto com Maria Moises Cristbal Kaxinawa,
que refez os contornos eadicionou os motivos yaminawa kene.
okene kuin (desenho verdadeiro), por outro lado, pode ser usado so-
mente por iniciados, jovens que realizaram o rito de passagem. Apesar de
ser mais comum em ocasies rituais ou quando se espera visita do Peru,
todo adulto que queira Se embelezar pode deixar-se pintar comokene kuin
110
por uma parenta feminina prxima oupor suaesposa, no casodoshomens,
sernpi eque haja jenipapo mo.
Imimamente ligado importncia do desenho na experincia estti-
ca ka.cinawa aexperincia visionria comayahuasca. Mais do que para
curar, toma-se ayahuasca para ter vises." A visualizao bem-sucedida
dos mundos dos yuxibu experimentada como esttica eemocionalmente
intensa. O efeito da bebida no considerado como algo dado, automti-
co, mas depende de uma negociao como dono da bebida. Considera-se
apercepo imaginativa no como oproduto dacriatividade doperceptor,
mascomo aentrada emummundo comdinmica prpria. Senada visto
durante uma noite inteira, apesar da ingesto dedoses substanciais dabe-
bida, duas hipteses so levantadas: achacruna (Psychotria viridis) era ve~
lhademais paraproduzir aluzqueproduz aviso, pois ocip (Banisteriopsis
caapi) apenas produz o efeito de pae (pulsao, embriaguez, fora); ou o
dono dabebida, oyuxibu Yube, foi avaro (yauxi) eno abriu seumundo de
imagens (dami eyuxin) para o visitante que no pde ver outra coisa que
.escurido.
Os primeiros sinais dapresena deYube no corpo do bebedor - parado-
xalmeite tambm o momento emque o bebedor entra no 'corpo' (rnun-
do) de Yube - so sentidos como uma acelerao na batida do corao,
queexpresso nos termos: "aforavemchegando como trovo": Algumas
pessoa; vomitam, mas a maior parte no sente nuseas. O vmito pode
ocorre' em vrios estgios do efeito da bebida, no necessariamente no
comeo, e tem o poder de liberar e aliviar os efeitos. Diz-se que a viso"
ficamelhor depois do vmito, por causa da 'limpeza' feita. A chegada da
viso anunciada pelo aparecimento de pequenas figuras luminosas, que
sochamadas hawen kene, odesenho dele, isto , deYube. Depois vem 's
coisas do cip' (nixi pae besti), figuras de lagartas e cobras em movimen-
to, e, finalmente, aparecem cenas mais estveis nas quais surgemtambm
figurashumanas.
32 Deste nado, o uso kaxinawa da ayahuasca difere significativamente do uso feito da be-
bida pel:. populao ribeirinha na Amaznia peruana, onde ayahuasca associada com a
figurado xam enquanto especialista de cura.Ver Gow (1994, 1995) eLuna (1986).
I II
A experincia regular de vises pela maioria dos homens adultos epor
algumas mulheres tem profundas conseqncias para o significado e 'pre-
sentficao' da cosmologia. O tempo mtico e os mundos dos yuxibu se
tomam acessveis experincia atravs de uma imerso no mundo das
imagens, chamadas dami e yuxin. A significao cognitiva e existencial
dessecontato visionrio comomundo dos seres invisveis no est somen-
te na conseqente vivificao de suas imagens, mas no conheci_mento ex-
perimental adquirido do processo constante de transformao do cosmos,
idia que funda aviso de mundo kaxinawa. O quadro dessa experincia
visual especfica circunscreve um movimento que vai de corpos com ou
semdesenho, para o desenho se transformando emimagens visionrias e
destas imagens para amanifestao visionria dos yuxin.
A presena simultnea destas duas manifestaes centrais da experin-
ciaesttica kaxinawa assinala ogrande investimento simblico, cognitivo
e emocional deste ethos na experincia visual e aponta para o papel im-
portante desempenhado pela viso na suapercepo, classificao eapre-
enso do mundo. O fato de a viso receber grande nfase no significa,
entretanto. que os outros sentidos so negligenciados.
Para a identificao de plantas na floresta, o olfato e o gosto so de
crucial importncia. Estas capacidades sensoriais parecem ser muito mais
confiveis do que aviso, visto que aforma eacor das folhas variam cons-
tantemente de acordo como tamanho daplanta, sualocalizao esuapo-
sio geotrpica. Para acaa, por outro lado, necessrio ter boa audio.
A imitao degritos de animais ecantos depssaros so truques eficientes
para chamar a caa. O olfaro igualmente importante, especialmente a
arte de reproduzi, cheiros, novamente comainteno de enganar acaa.
Na floresta, cheiros esons so guias, indicaes daproximidade eiden-
tidade de animais ou pessoas. Porm, aconfirmao da presena e verda-
deira identidade de um ser que percebido sero confirmadas somente
atravs da combinao da viso com o tato: capacidades representadas
respectivamente pelo yuxin do olho e do corpo. Se a audio e o olfato
indicam aproximidade de umser, aviso define se animal ou pessoa ea
experincia tctil confirmar sua identidade: seo ser percebido umcor-
I 17
po ou umyuxin. Deste modo, adistino entre imagens ecorpos somente
pode ser feita atravs do tato. Nas palavras deAgostinho:
"Dami (figura) como yuda ~aka (yuxin do corpo). Voc v, mas no
segura. Desaparece depois do nixi pae (cip), o dami (transforma-
30) do nixi paedo yuxibu."
As imagens (dami, yuda baka, yuxibu) pertencem esferada viso no-
turna do yuxin do olho que age nos sonhos e nas vises com ayahuasca;
enquar.to os corpos pertencem ao dia: so pesados e no desaparecem ao
serem tocados. O tempo e espao certos para a percepo das imagens
quando o corpo descansa, enquanto o lugar/tempo de lidar com corpos
quando seest acordado.
O desenho o meio de ligao que opera atransio entre estes lados
separados dos mundos perceptveis. Na suarelao comosmundos opostos
e complementares representados pelas imagens e os corpos (yuxin/yuda,
noite/dia, imortal/mortal), odesenho funciona como a"metfora" por ex-
celncia no sentido de ponte e ligao, traando caminhos para e entre
mundos separados, ou entre os lados complementares do mesmo mundo,
assim como entre os estados complementares do ser ou da conscincia
humana. Desenhos so vistos no estado deviglia (emcorpos eartefatos) e
nos sonhos (nos corpos das imagens). So guias usados pelo yuxin do olho
ao viajar entre apercepo imaginativa diurna ea imaginao perceptiva
noturna.
cobra, quepossui todos osdesenhos emsuapele, atribuda vida eter-
na por causa desuacapacidade detrocar apele, emulheres sofrteis por-
que trocam sua 'pele interna' durante amenstruao. A associao entre
desenho etero, ambos mediadores importantes na concepo kaxinawa,
parece ser confirmada pelo significado doverbo xani<eii<ii<i,"tecer desenho"
(Montag, 1981: 394). A raiz xani<- da palavra xani<in significa "matriz ou
tero" (Abreu, 1941: 616), "buraco ecanal" (Montag, 1981: 394) ou "ca-
vidade numa rvore" (Camargo, 1995: 109). Dados etnogrficos colhidos
emoutros contextos apontam paraarelao entre desenho eplacenta, em
I I ~
queaplacenta aparece como "odesenho original" que protege ou acompa-
nha ocorpo do recm-nascido, como entre osDesana (R eichel-Dolmatoff,
1972, 1978) e para os Pro, onde aplacenta tem de morrer para deixar o
beb viver (Gow, 1999: 238).
A placenta eo tecido amnitico fazemamediao entre ofeto eo cor-
po da me, filtrando as influncias que vmde fora eprotegendo o corpo
no interior, possibilitando desta forma o contato controlado com afor-a
exterior que alimenta avida. A pele da sucuri csmica, coberta por dese-
nhos, funciona da mesma maneira, servindo de vu entre os mundos vis-
veis e invisveis. Os padres aparecem no espao liminar emque o yuxin
do olho levado deumlado darealidade (o lado da luzsolar) para ooutro
lado, onde as imagens esto prestes asemostrar na penumbra.
Um motivo recorrente usado em redes designado xamanti. O verbo
xaman significa "passar amo na virilha" (Camargo, 1995: 109). Esta tra-
duo encontra confirmao na traduo de xamanti que me foi dada por
Paulo Lopes, professor kaxinawa de Moema: "colocar as coxas na pessoa;
quando coloca, jestjuntado". Paulo fezumgesto quecruzava asmos na
altura do.pbis, indicando que o local da juno das coxas com o tronco
representava ajuno ou continuidade das linhas no desenho. Estes ver-
bos descrevem o ato de juntar ede envolver: o desenho une as linhas (a
regio da virilha une tronco epernas), englobando outro desenho emseu
interior. Paulo me explicou que "colocar as,coxas na pessoa; quando colo-
ca, j est juntado", ummodo desereferir relao sexual. Interessante
notar que o prprio nome do desenho e adescrio do estilo, quando se
diz que "tem que juntar as linhas seno odesenho no ficabom" remetem
unio sexual, amesma imagem qual remete o prprio corpo dajibia:
sua pele sendo a rede na qual o casal estava deitado na hora do dilvio
(ver adiante mito).
114
Xamanti. Marlene Lopes Kaxinawa, 1991.
Na discusso sobre osignificado dodesenho (kene), exploramos arela-
o entre desenho ecorpo, entre apercepo do desenho eaexperincia
visionria e a funo mediadora do desenho na transio entre os dois
lados da realidade, o mundo diurno dos corpos eo noturno das imagens
(yuxin, dami). necessrio, agora, abordar a relao entre os conceitos
relacionados, embora distintos, de dami eyuxin. Porm, antes de prosse-
guirmos neste caminho, a especficidade do 'desenho' (kene) -enquanto
algo distinto da 'figura' ou 'imagem' (dami, yuxin) requer, ainda, maior
elaborao.
No discurso kaxinawa sobreapercepo eproduo visual, yuxin edami
sousados para referir-se 'imagem' ou 'figura', conceitos opostos ao dese-
nho abstrato egeomtrico, kene. Os Kaxinawa separam, primeiramente, o
fenmeno do kene deoutras imagens percebidas ouproduzidas, para depois
associ-lo 'escrita' (o kene dos estrangeiros). Sekene associado escrita,
aquesto aser formulada o que pode ter chamado aateno dos Kaxi-
nawa para estabelecerem uma similaridade entre kene eescrita eno, por
exemplo, entre kene e outras atividades grficas como o desenho de uma
figuraou de umretrato.
1 15
Comearemos por "abordar a proximidade entre kene kuin (desenho
prprio, verdadeiro ou 'nosso') e nawan kene (o kene (a escrita) dos
brancos). Quando da minha primeira viagem aos Kaxinawa logo aps
a sada do barco do Porto de Manuel Urbano a caminho da aldeia,
enquanto escrevia minhas impresses, uma senhora kaxinawa tirou a
caneta de minha mo e passou adesenhar emsua prpria mo padres
estilzados, desenhos tipicamente kaxinawa que eu conhecia das fo-
tografias. Em seguida, Dona Maria Sampaio, sorrindo, mostrou como
fazer o mesmo na minha prpria mo. Percebendo que queria dese-
nhar, ofereci canetas coloridas e papel. Instalou-se uma 'competio'
de quem 'escrevia' mais.
Dona Maria no parava de fazer kene, edurante os quatro dias de via-
gemdesenhou mais detrinta pranchas, interrompendo odesenho somente
para comer edormir. Defato, parou dedesenhar apenas quando avistou do
barco sua aldeia. Cansada de escrever resolvi, tambm, desenhar rostos e
formas humanas de nenhuma pessoaemparticular.
Perguntei a Dona Maria se o que desenhava poderia ser considerado
kene. R espondeu negativamente e disse que o meu desenho era dami, fi-
guras. Passado um tempo comecei a desenhar retratos dos Kaxinawa que
estavam no barco. Estes desenhos geraram muitos comentrios, pois as
pessoas tentavam identificar o modelo desenhado e faziam julgamentos
sobre asirnilitude ou falta de similitude entre o desenho eapessoa retra-
tada. Um destes dami era de tal forma considerado semelhante pessoa
retratada que umobservador surpreso exclamou: "Olhem este! Damimaki
(este no uma 'figura'), yuxinki, hawen yuxinki ( uma imagem, sua
imagem! (seu yuxin) )".
116
..,-' ........" '"
---.----_ ..
/ ~~'b~.
t~ ---- ..
-----,- .-.._------- _ ..~
."P,~;;
" "
<,
" ' ' ' \
" ' ...~. " '-
,'"
_ _,'.;,,'-J ..._ -~._ ~-,. .
-.......~.:.:: .Ii.. "
.)
/
.I
:/
1
/ ' 1
,~
f'Il' -- ._--
i
oyuxin surgequando o corpo est de repouso.
Foi deste modo que obtive, desde ocomeo, achave para aexplorao
da classificao kaxinawa sobre apercepo e expresso visual. Somente
muito mais tarde aprenderia a fazer os verdadeiros kene, kene kuin. Mas
mesmo se soubesse como produzi-los naquele tempo, senti que no era
apropriado tent-lo, visto que minhas tentativas tmidas tinham sido re-
jeitadas por Dona Maria que, comirritao, diziano serem"verdadeiras"
(kenemaki (no desenho) oukene kuinmaki (no umdesenho prprio)).
Parecia querer medizer comissoque eudeveria meater aosmeus prprios
kene, que visivelmente sabia como produzir emgrande quantidade. O que
interessou aos Kaxinawa, mais do que meus kene, foi minha atividade de
produzir yuxin: "representaes", "imitaes" de rostos de pessoas. Soube
depois que fotos so, igualmente, chamadas de yuxin, alm da imagem
refletida no espelho ou na guaparada.
Ao aprender sobre outros usos dos termos yuxin e dami, aprendi que
uma das distines cruciais entre estes dois termos de um lado, e o con-
ceito de kene de outro, se refere ao volume ou falta de volume, ou, em
outras palavras, sua qualidade de aderncia ou no. Kene aplicado a
toda sorte de suportes, mas umsuporte emsi nunca chamado kene; os
conceitos yuxin edami normalmente significam aentidade emsi mesma,
117
com ou sem corpo. Deste modo, o duplo, aaparncia efrnera da imagem
de uma pessoa, yuxin, um ser que pode ou no ser percebido como
decorado com kene. Uma figura modelada em argila ou esculpida em
madeira ou uma mscara pode ser chamada de dami, podendo ou no ser
decorada com kene.
Kene essencialmente grfico, um padro desenhado que cobre a pele
ou as cermicas usadas para servir comida; um tecido, cesto, ou esteira que
serve de parede da casa; enfim algo criado para conter o alimento ou os
corpos. Yuxin e dami, por outro lado, so entidades, imagens com agncia
prpria, com ou sem matria eforma corporal. Yuxin edami cobrem ambas
as categorias de artefatos, "coisas feitas", ede seres ("artefatos animados"),
mas no podem ser chamados de "corpos verdadeiros" (yuda kuin). 'Corpos
verdadeiros' (yuda kuin) cobertos com o 'desenho verdadeiro' (kene kuin)
so a suprerna realizao esttica de seres humanos especficos que preci-
sam dominar outras artes para ser capazes de produzir, modelar e decorar
corpos da maneira que gostam, isto corpos bonitos (hawendua), saudveis
(xua, literalmente gordo, forte) e alegres (benima). Dami e yuxin no pre-
cisam da perfeio, finalizao ou estabilidade de forma e, por esta razo,
no podem ser considerados como 'sendo' corpos. Embora possam 'ter' um
corpo, no seu corpo, mas sua relao especial com corpos que identifica
sua maneira especfica de ser.
Com relao demarcao do campo do kene, entretanto, no basta
afirmar que kene grfico porque, como vimos no episdio que se passou
no barco durante a viagem, figuras dami (figura) e yuxin (retrato) podem,
s vezes, tambm ser grficos. O que torna ken~ especialmente diferente o
fato de ser um grafismo estilizado, estilo que identifica todos os podutos e
artefatos kaxinawa como pertencendo mesma tradio, ao mesmo estilo,
ao passo que a expresso bidimensional de dami e yuxin no da mesma
maneira estilizada pelos Kaxinawa. O desenho de figuras em papel foi in-
troduzido por missionrios e nas escolas, e sua execuo est confinada a
estas esferas de atividades classificadas como nawa. A nica expresso figu-
rativa tradicional a tridimensional, mesmo se em baixo-relevo: bonecos
em madeira ou argila, mscaras em cuia.
118
Em estilo e execuo, kene um sistema complexo de desenho, identi-
ficvel e estritamente codificado. Kene constitui um sistema coerente que
usa os mesmos padres e motivos sobre todos os suportes em que se aplica
(apesar da variao das designaes). Este fato, por sua vez, no desconsi-
dera a influncia do suporte na execuo ena forma do desenho. A forma
do suporte fora o desenho a adaptar suas curvas e seus ngulos para se
ajustar superfcie. A unidade do estilo, que continua reconhecvel em
todos os suportes e corpos em que o desenho se aplica , entretanto, to
importante quanto sua relao com as superfcies que cobre.
Mencionei acima que anica informao explcita que obtive de Dona
Maria sobre o significado do desenho foi aafirmao de que o desenho era
alinguagem dos yuxin: "kene yuxinin hantxaki". Desta frase surgem questes
como: A que tipo de linguagem ela est se referindo? Como se relaciona
esta afirmao com a primeira informao que Dona Maria me deu ao
declarar a explcita associao entre desenho e escrita no momento que
tirava a caneta de minha mo? Esta associao foi reiterada, quando da
realizao do rito de passagem, pela ao ritual de pingar gotas do sumo de
plantas medicinais nos olhos das crianas nefitos. Se anteriormente estas
gotas eram administradas pelas mestras do desenho somente nas meninas
de forma que pudessem aprender o desenho (kene), na ocasio deste ritual,
foi incumbida a mim, como antroploga, a tarefa de administrar as gotas
nos meninos e nas meninas com o intuito de que tivessem xito no apren-
dizado da escrita eda leitura.
Outras culturas que possuem sistemas de desenho altamente estilizados -
tanto na pintura quanto na tecelagem tambm associam seu estilo grfico
escrita (Kavap-Xikrin, Assurini, Siona. Vidal, 1992). Uma qualidade
que a arte grfica e a escrita tm em comum seu carter estilizado, no-
figurativo ou 'no-representativo'. Com relao ao uso do termo 'no-re-
presentativo' em relao aos padres grficos podem existir, de acordo com
o contexto, limites. Este ponto ser abordado quando considerarmos os
aspectos icnicos do kene.
Para os Kaxinawa, entretanto, a escrita e o kene tm mais coisas em
comum elo que o simples constrangimento estilstico e o fato de poderem
1 19
guma 'relevncia' para nos. por esta razoque insisto que emoes
so julgamentos constitutivos: no encontram, mas 'constroem' [ser
up] nossa surrealidade. No aplicam, masfornecem amoldura deva-
lores que do sentido anossa experincia." (Solomon, 1993: 135)
Deste modo Solomon d prioridade aos juzos de valor sobre qualquer
considerao puramente cognitiva, esttica ou de outra qualidade. Isto sig-
nifica que este modo de pensar filosoficamente sobre as emoes pretende
demonstrar seu carter consciente, cognitivo e sinttico. O que est em
jogo a ao proposital em oposio atuao cega movida por impulsos
desconhecidos. Emoes refletiriam a sntese de um processo cognitivo
no sentido amplo da palavra, um processo cognitivo que encontraria seu
objeto focal de reflexo epercepo na qualidade de relao entre o eu eo
outro. Solomon inclui no somente a arte neste campo de juzo subjetivo
e intencional (com inspirao explcita nos escritos de Nietszche ), mas
igualmente a mitologia, cuja meta no seria tanto a de tornar o mundo
inteligvel quanto a de tom-lo pleno de sentido (Solomon, 1993: 144).
As reflexes de Solomon e de Bateson sobre 'arte' (ou o pensamen-
to no-analltico em geral) se interconectam quando definem o objeto
principal e primeiro da 'arte' enquanto uma relao entre o eu e o
outro. A este ncleo relacic.ial Bateson adiciona a relao do eu com
seu ambiente (no-humano). Bateson vai mais alm ao demonstrar o
carter sistemtico desta comunicao no-verbal sobre o estar relacio-
nado, enquanto Solomon procura ampliar o campo de ao do agente
intencional.
Para Bateson, entretanto, o mistrio no o inconsciente 'desconhecido',
mas o eu consciente. Enquanto os mtodos combinatrios do inconsciente
so entendidos como sendo continuamente ativos, necessrios e universais,
amaneira em que coisas epensamentos surgem para aconscincia que pa-
rece menos bvio (Bateson, 1977: 175). Existem muitas maneiras da pessoa
se comunicar e para Bateson a modalidade principal de toda comunicao
no a verbal, mas a corporal, a comunicao atravs da expresso e do
gesto. O verdadeiro objeto da maior parte das comunicaes no seria tanto
122
a infornao trocada sobre coisas, pensamentos epessoas, quanto o testar e
o contirmar a relao da pessoa com o outro e com o ambiente.
Para Bateson, a essncia e raison d' tre da comunicao a criao de
redundncia e de sentido, e a reduo do acaso atravs da restrio (Bate-
son, 1977: 170). Todo estilo, o estilo pessoal do mesmo modo que o estilo
de uma obra de arte, responde, segundo Bateson, esta caracterizao da
comunicao no sentido amplo da palavra e, por esta razo, todos os pro-
dutos criativos da imaginao de uma pessoa comunicam. Para entender
uma mensagem importante distinguir o nfvel de comunicao e escutar a
mensagem da maneira correta. No somente aentidade representada, ou o
componente narrativo (o nome ou o referente) de uma pea de arte signi-
ficam, mas tambm (e de maneira mais importante) o estilo, o 'cdigo ic-
nico' que transformou o referente em novo artefato, e o meio ou material
usado, acomposio, o ritmo, eahabilidade demonstrada na performance
ou na realizao do produto.
As idias de Bateson sobre o que e como a arte comunica esclarecem
sua qualidade comunicativa, sem cair na armadilha de tratar a arte como
um tipo de lngua (reduzindo-a ao modelo da representao 'icnica' e
narrativa nos moldes da 'alegoria'), ou como um tipo de escrita (tentando
l-Ia enquanto um cdigo lingstico). As mensagens contidas em sonhos,
mitos, poesia, percepes induzidas por alucingenos, e artes visuais, co-
municam, segundo Bateson, atravs do cdigo icnico de imagens descri-
tivas, e no atravs do cdigo digital e arbitrrio que caracteriza a parte
verbal da lngua. Uma vez usada na estrutura mais ampla da comunicao, -
entretanto, a lngua se torna igualmente icnica, apesar de seu cdigo b-
sico ser 'digital (Bateson, 1977: 172).
Esta afirmao est de acordo com as pesquisas recentes no campo da
metfora que sugerem que, no fimdas contas, toda linguagem figurativa e
rnetafrica. Toda linguagem pode ser considerada metafrica porque cria,
por meio da juno de significados e campos previamente desconectados,
um sentido para realidades previamente desconhecidas. Deste modo, po-
demos Lcilmente entender o impulso de uma conversao contnua entre
pessoas (e povos) como a 'demonstrao de um objetivo, qual seja, o de
123
relacionarem-se uns com os outros atravs de uma linguagem evocativa
que tenta traduzir em frases as mensagens crpticas transmitidas pela lin-
guagem codificada do pensamento icnico, no-linear.
Bateson define o objeto de toda comunicao artstica (como dos so-
nhos e dos mitos) em termos de 'graa' (grace). Seres vivos e produtos fa-
bricados tm graa (so graciosos) quando todas as partes da mente, destes
seres ou da pessoa que produziu a pea, esto integradas. O sucesso ou o
fracasso da integrao psquica seria o contedo da comunicao artstica,
e esta seria arazo por que as expresses culturais que partem de contextos
culturais desconhecidos podem ser reconhecidos como tal, mesmo por um
olhar desinformado. Quando, entretanto, a conscincia no est em liga-
o com o circuito de atividade psquica que funciona ininterruptamente
por baixo do nvel do estado normal de conscincia, a conscincia se tor-
naria deformada e estreita. A conscincia, no assistida pela arte, pelos
sonhos, poesia etc. nunca ser capaz de apreciar a natureza sistmica da
mente, assim como a ligao de uma mente com outra eda pessoa com seu
ambiente, conclui Bateson.
A idia p'0sta neste nvel geral pode parecer problemtica uma vez que a
arte comunica mais do que uma integrao psquica universalmente reco-
nhecvel ou aqualidade do estar relacionado. Para realmente poder apreciar
aqualidade metafrica ou comunicativa de uma expresso artstica preciso
uma grande familiaridade com as referncias cognitivas e emocionais com
as quais o trabalho dialoga. , por outro lado, igualmente certo que obras de
. arte podem expressar algo para ns, mesmo quando no sabemos nada sobre
o mundo que descrevem ou pintam. Segundo Bateson, tal efeito possvel
graas a certa 'graa' (ou certo charme) que, como a de um gato ou de um
cavalo, fala para ns de um modo particular, intraduzvel.
tambm um fato que a performance de um artista requer certo grau
de inconscincia com relao maneira que alcana seus feitos, que re-
sulta do hbito. Esta a inconscincia do saber executar to bem um ato,
que no mais preciso pens-lo enquanto executado. A ao e criao
fluem e ganham forma de tal maneira que parecem vir do nada (seria na
verdade impossvel sobreviver se a maior parte das nossas aes no fosse
124
execut ada desta forma). Bateson se refere aqui ao conhecimento incor-
porad, afinado com seu ambiente humano e no-humano, como aquele
expres so nos gestos elegantes do mestre em alguma forma de arte. R efere-
se tambm relao do indivduo com o mundo envolvente, um saudvel
saber viver que considera mais prximo da sabedoria (conscincia do estar
relacionado) do que do pensamento puramente racional.
A abordagem de Bateson repercute bem sobre meus dados. O estilo gr-
fico e a arte plumria kaxinawa correspondem s idias bsicas deste povo
sobre o significado da similaridade eda diferena (a relao entre o eu e o
outro), assim como sobre arelao das pessoas com o mundo (a relao en-
tre apessoa e o ambiente). Como no exemplo de Bateson de uma pintura
balinesa, estas idias bsicas no so expressas de modo unvoco e denota-
tivo, como seria o caso em uma representao alegrica de idias abstratas,
mas de modo sinttico e polifnico, permitindo deste modo, simultanea-
mente, leituras e interpretaes diferentes e complementares. No caso da
pintura de Bali, apresentada por Bateson, a mensagem mais importante
no est na procisso de cremao, tema representado no quadro, nem
no simbolismo flico subjacente imagem da torre de cremao, mas na
combir.ao destes nveis diferentes ena composio global da cena, onde
a agitao das figuras no fundo do quadro contrasta com e corresponde
tranqilidade das imagens na parte superior. Conclui Bateson:
"Em ltima anlise, este quadro pode ser lido como uma afirmao
de que seria um grande erro achar que preciso escolher entre tur-
bulncia e serenidade enquanto projeto humano. A concepo e
execuo do quadro fornecem a experincia que expe este erro. A
unidade e integrao do quadro afirmam que nenhum destes dois
plos contrastantes pode ser escolhido ao custo da excluso do ou-
tro, porque so mutuamente dependentes. Esta verdade profunda e
geral dita ao mesmo tempo com relao sexualidade, organiza-
o social e morte." (Bateson, 1977: 194)
De modo similar, a expresso esttica kaxinawa no 'fala' especifica-
mente ou exclusivamente sobre as relaes sociais (igualtarisrno, interde-
125
pendncia e a hipottica perrnutabilidade das posies sociais) ou sobre a
complementar idade constitutiva das metades e do gnero (o dualismo do
pensamento social expresso nas cores contrastantes das figuras e contra
figuras entrelaadas). A esttica kaxinawa tambm no uma referncia
exclusiva interdependncia dos lados visveis e invisveis do mundo, ou
unio sexual (apesar desta ser uma das leituras possveis (sugeridas por
alguns informantes) das linhas de desenho que se unem). A expresso es-
ttica , entretanto, uma comunicao sinttica que se refere a todos estes
nveis simultaneamente.
E esta , segundo Bateson, a razo por que essas expresses estticas po-
dem ser chamadas de 'boa arte'; ao invs de serem meras 'representaes'
ou ilustraes de um conhecimento denotativo sobre o mundo que pode
ser mais bem expresso em palavras, a boa arte cria algo novo, uma nova
maneira de perceber arelao entre o eu, o outro eo mundo. aconscin-
cia sinttica e referncia simultnea da interconexo de diferentes nveis
existenciais que constitui a especificidade da comunicao no-verbal. O
cdigo visual comunica a compreenso e percepo de uma ligao exis-
tencial que consciente em um nvel que escapa o discurso verbal pela
simples razo de ser impossvel verbalizar tudo de uma s vez.
A maneira de entender a arte, sugerida por Bateson, interessante por
explicitar sua especificidade e por realar a necessidade de sua traduo
para que possa ser integrada no discurso verbal. Mostra igualmente seu
efeito estimulante sobre o pensamento analtico por iniciar um processo
de reflexo e associao que serve para ampliar o circuito mental e o cam-
po de percepo cognitiva.
Penso, entretanto, que no devemos esquecer outro aspecto importante
da comunicao (no-verbal), que reside na sua necessria abertura de
sentido (l'oeuvre ouverte). Nenhum trabalho ou expresso carrega em si a
totalidade de seus sentidos. No h nenhum sentido inerente, secreto ou
absoluto a ser encontrado, a no ser no encontro entre o observado e o
observador.
R etomemos trade perceptiva dos Kaxinawa: kene, dami, e yuxin. Es-
pero ter demonstrado a especificidade do conceito kene. R esumindo, kene
126
um tipo de cdigo escrito, inscrito em corpos e objetos, e segue regras
estritas de composio e execuo. Kene no o corpo nem o yuxin a
que refere. sua 'lngua', um cdigo composto de ndices que aludem a
uma presena, possibilidade de revelao de yuxin em forma encorporada.
Kene contm a possibilidade de formas ede seres.
Esta interpretao encontra suporte nos comentrios de Agostinho
e Edivaldo sobre o papel do desenho original (kene) na pele da jibia,
quando sob a influncia da ayahuasca: a pele da jibia, contendo todos
os desenhos, contm igualmente a possibilidade da transformao destes
desenhos em imagens e corpos. As manchas na pele da jibia so seus de-
senhos que se transformam em animais, plantas egente durante amutao
constante do campo visual visionrio. Por esta razo, completa Francisco,
no se deve nunca sair do desenho, preciso us-lo como guia para no se
perder no mundo dos yuxibu.
Desenho, entretanto, tem esta capacidade de multiplicao da forma
somente no nvel do yuxin, mundo de imagens livres, no restringido pelo
lento processo de crescimento de corpos pesados. Este o significado da
afirmao que kene a linguagem dos yuxin, e no a dos humanos: precisa
ser 'traduzido' pelos humanos para ganhar seu lugar no mundo humano.
Por causa de sua ligao com o mundo exterior dos yuxin, desenho pode
ser perigoso para a sade da pessoa, no somente porque pode produzir
imagens mentais (e conseqentemente provocar ou iniciar apercepo de
yuxin), rnas tambm porque traa caminhos aserem seguidos pelo yuxin do
olho quando sonha, Informao adicional obtida por Keifenheim (1996) ,
refora esta interpretao: pessoas doentes no dormem em redes desenha-
das porque o desenho pode enredar o yuxin do olho na sua teia e gui-lo
para o caminho da morte de onde no voltar.
O fato de o kene ser considerado similar linguagem e escrita, no
sentido que alude de forma codificada acorpos eyuxin em vez de coincidir
com estes, e o fato das imagens serem de alguma maneira a efetiva mani-
festao da forma atual de yuxin ede corpos, sugere apossibilidade de uma
aplicao esclarecedora do modelo, igualmente tripartido, dos signos no-
verbais (no-lingsticos) de Peirce.
127
Na sua relao semitica comdami (imagem, transformao), yuxin
pode ocupar o lugar do "objeto dinmico" de Peirce, no sentido de uma
pressuposio metafsica que indica averdadeira qualidade do ser; enquan-
todami, na suaqualidade designo metonmico, serefere aeste, semjamais
comeste coincidir.
Yuxin o referente de dami, sua imagem mais completa efiel, invisvel
para oshumanos no estado cotidiano do ser, mas sempre presente; perten-
cendo aoutro lugar, porm sempre ativa. A imagemdeyuxin coincide com
seuser. Quando yuxin serevela para oolhar humano (yuxin do olho) como
huni kuin (ser humano prprio), este evento uma 'revelao', porque ver
yuxin implica emconhecimento compartilhado epartilha no ser quedeste
modo semostra. "Ver conhecer" e, deste modo, oyuxin que setornou vi-
svel emforma humana, falar uma linguagem inteligvel, comer comida
comestvel, embreve, ter-se- tornado emumoutro similar.
Por esta razo, diz-se 'yuxin' quando sev a apario de uma imagem
humana mvel semcorpo. Neste caso, oyuxin pode ser oduplo quedeixou
seucorpo, ou umser semcorpo, oumesmo pura energia, livre para assumir
qualquer (arma ou corpo. Esta mobilidade no .Iimitada pela inrcia da
matria. Em outras palavras, para o yuxibu (mestre dos yuxin) o corpo
como uma pele ou uma roupa que sepode vestir ou tirar vontade. Isto,
no entanto, no o caso para os yuxin que pertencem a animais ou seres
'deste mundo', pois estes criaram razesno corpo que habitam.
A imagem de um ser nunca mera aparncia. Neste sentido, yuxin
como o psyche na Grcia antiga (Vemant, 1991: 186-191): a manifesta-
o do ausente. O que sev '', pois semostra ao olhar em todos os seus
detalhes, como movimento, adefinio eagraa deumser humano vivo.
Mas no umcorpo, eno deste lugar. No pode ser tocado, seno de-
saparece imediatamente.
Vami, por outro lado, umtomar-se ouumdevir (transformao) eco-
nota movimento. Vami significa imagem, mas uma imagem deformada,
ou uma imagem no processo deser formada. Deste modo, apalavra dami
umtermo relaciona I, umsigno que existe enquanto referncia aalgo que
exterior ou que o transcende. Yuxin pode, neste sentido, ser lido como a
128
potencial idade do ser que existe emepara si mesmo, pois quando sema-
nifesta vemaser algo. Sua manifestao mais reveladora antropomorfa,
pois nesta forma se toma idntico forma e ao ser do humano, uma pre-
condio para acomunicao e,o entendimento mtuo.
Dependendo do contexto, manifestaes diferentes do mesmo ser po-
dem, por esta razo, ser chamadas de seus dami, suas transformaes ou
'mentiras' (txani); disfarces atravs dos quais o yuxibu assusta ou confun-
de o espectador. Esta a lgica que subjaz experincia comayahuasca.
Primeiramente vem-se as 'mentiras', 'nixi pae besti' (s coisas do cip),
rpteis, 'toda qualidade debichos' ecips entrelaados. A cobra que engole
o iniciante pertence aesta mesmafasededami (transformaes). O verda-
deiro nome eaverdadeira imagemdabebida, entretanto, huni, gente, eo
tomador sersatisfeito comaexperincia somente seconseguiu ver 'gente',
huni, o povo do cip semostrando como gente." O prprio yuxibu, entre-
tanto, emtermos deagncia epotencialidade todas estas coisasao mesmo
tempo. simultaneamente Yube, o xam, eSidika, amestre do desenho, e
combina, portanto, ascapacidades produtivas masculinas efemininas.
Usa,seo verbo dami para descrever atransformao de imagens percebi-
das na ayahuasca: "dami en uiin" (vejo transformaes); ou para mencionar
a transrorrnao que o prprio tomador, percebe emsi mesmo: "en damiai"
('Estou sendo transformado' ou 'Estou transformando'). A mesmaexpresso
damiaii, transformar, usada para expressar o processo atravs do'qual uma
lagartasetransforma emborboleta. Domesmo modo, osmitos quesereferem
transformao deanimais emhumanos evice-versausamoverbo damiai.. _
Varri significamodelar, produzir formas. O pai modela o feto na barriga
dame damiwai (McCallum, 1989a), eamodelagem defigurasemargila
igualmente chamada dedamiwai, As mscaras eodisfarcefeito defolhas de
jarina paraesconder osdanarinos durante a'invaso daaldeia' (katxanawa)
sodami (transformaes). Como mesmo motivo dedisfarce, aspessoaspo-
demsepintar comurucum ou jenipapo. Tal pintura consiste emmanchas,
pontos etraos grossos, aplicados comosdedos eevoca aspelesdos animais
34 Os Sharanahua chamariam abebida feita do cip dami (Siskind, 1973a, 1973b), infor-
mao, no entanto, que no foi confirmada por Dlhage (2006, comunicao pessoal).
129
que pretende mimetizar. Este tipo de pintura no chamado de kene (traar
padres), mas puxa (manchar ou colorir), eforma um ntido contraste com
os delicados motivos em jenipapo, aplicados pelas mulheres nos corpos e
nos rostos das pessoas com finas varetas embrulhadas na ponta com algodo.
As manchas so aplicadas na floresta pouco tempo antes da 'invaso' pela
metade 'visitante' sobre os desenhos anteriormente pintados com jenipapo e
so chamados de dami, pois significam amimes eetemporria transformao
das pessoas 'manchadas' em animais.
Os nicos desenhos feitos por meninos ehomens so figuras desenhadas
empapel (atividade ligada acontextos de interao com os nawa), chama-
dos, novamente de dami. Qualquer tentativa dos homens em produzir kene
ridicularizada pelas mulheres como "kenemaki, damiki!" (No desenho,
s figura!). O verdadeiro kene uma atividade estritamente feminina, da
mesma maneira que o so cozinhar, fiar, tecer e fazer cermica.
(
'
~
.. , "'"" ..~e.,,~',.w
Pvt"u. -- ' .l.Q' j,8i
I C i _
0.1 ' ./ \/ 1 ' ). J~>Vf-C\.
... I _.
Anta, Pedro Maia Kaxinawa, 1989.
A ltima inscrio grfica, relacionada ao domnio masculino, e
igualmente designada como dami, a tatuagem. A tatuagem aplicada
na forma de pequenos signos ou traos, na face ou no peito. As nicas
130
tatuagens que vi eram usadas por trs homens de idade bastante avanada.
Apesar de esta interpretao precisar alguma confirmao, creio que a ta-
tuagem ligada guerra. Minha hiptese a de que o costume era tatuar
homens que mataram um inimigo (os trs homens com tatuagem tinham
matado Y aminawa quando jovens). A imposio ritual da tatuagerrr" est
relacionada, evidentemente, com a transformao da identidade de modo
permanente e poderia assinalar a transformao que o homem sofre ao
matar um inimigo, expondo-se ao yuxin de sua vtima.
iDJJ\ Gt.M ; tnr.x"..,..i1.M....t~._ -
-.UM...W,dj)("':'--L:t-t.."...",-.CAl&:>-1~~J L hrllN!.~J~
-",tD1oo-,-t~aMI\ (11)~)-~--r~'Q..-
~ ..T;..J " , e ,~~= ; = ~f.b ., c)~'iI'0-;i~t. ;C: Tc"+;~~J -~ J c . .
. h ..j .. . . . " , D ~ ~ '1"'~
. ; XiM' ~Q.x,1 xt>v\.: ~ MXNI~ . - L...l-....
~---~-= l; PI.TX/ ~~ ~ /Ir ;.~~~
o~t)_, --~, _ V :;;'t-;~~-:---
E
', ---~------_.;p.y\ ttM t~
.,-tt~ ~c..,...,\.: ' {!Vt~_ . __' " .. ~ ~
.: ~-----" '-~'.. _. ---n' x:."'-x~
-.---' r._Mu!.."'~_.~M~ c::::::::;J tJ .,,J,, __ trA4.lk.oJ _ _
~=-:&V-W_2L~_~~ ~_-1.';'~:l~_ o;:f:h~~
~' l._fM&~.X0~~-7f; :' -; ; ; .; f~= _~()),-x~; v-~ '
Motivos de tatuagem.
A re lao de dami (em seus diferentes usos, desde o 'fazer de conta' ao
'tornar secomo') com seu yuxin (a forma perfeita eterminada aque refere)
sirnul :aneamente indexical e icnica. A relao indexical porque dami
'fisicanente' (ou meronimicamente) ligado ao seu objeto (como pegadas
na areia), e icnica porque arelao de dami com seu yuxin no somente
35 A tatuagem aplicada por um txai, referido neste caso como sendo umprimo cruzado.
Para o uso da tatuagem entre outros grupos pano e mais especificamente entre os Matis
e Mayoruna, ver Erikson (1986; 1996), onde a pessoa que ocupa a posio de 'sogro'
potencial que tatua.
131
baseada na contigidade ena metonmia, mas tambm numa similaridade
formal. Na sua qualidade de signo concreto e visual, idiossincrtico e sem
validade generalizada, dami pode ser classificado sob a categoria dos sinsig-
nos icnicos peirceanos. Sua percepo e expresso no so padronizadas,
pois o dami no adere a limitaes e convenes estilsticas especficas
comparveis, por exemplo, s regras que guiam aexecuo do desenho pa-
dronizado, kene. Deste modo, se kene edami esto, ambos, ligados ao yuxin
como significantes visuais, o so de modos distintos.
No obstante o fato de kene ser um sistema complexo e altamente
padronizado de desenho, que no representa, mas significa o mundo dos
yuxin, kene no um smbolo, no sentido peirceano de smbolo, do seu
referente yuxin. O smbolo peirceano conectado ao objeto por fora de
uma idia e sua associao forma do signo convencional e arbitrria.
O smbolo no , neste sentido, da mesma natureza que aquilo que repre-
senta. A escrita um sistema simblico no sentido pleno da palavra, pois
representa apalavra falada atravs de um sistema grfico que no necessita
qualquer relao icnica ou indexical com seu significado, estando co-
nectado quilo que representa somente pela fora da idia. Deste modo,
o kene poderia somente ser chamado de "escrita" em sentido metafrico,
referindo-se ao carter padronizado e estilizado que ambos os sistemas gr-
ficos compartilham.
Por esta razo mais apropriado chamar kene de legisigno icnico. A
categoria peirceana de legisigno diz respeito ao alto grau de focalizao e
abstrao do grafismo, enquanto o adjetivo icnico indica que a relao
entre o significante eseu significado no arbitrria ou convencional; mas
de semelhana. Entre os Kaxinawa esta semelhana pressupe metonmia.
As duas imagens do yuxin, uma figurativa e concreta, o dami, outra padro-
nizada e exprimindo qualidades mais abstratas do referente, o kene, esto,
mesmo assim, ambas ligadas a seu referente de maneira indexical. Ambas,
como parte de um todo maior, partilham aqualidade daquilo aque se refe-
rem, invocando-o em vez de 'represent-lo' e substitu-o.
Os trs termos usados pelos Kaxinawa para falar da percepo visual
mantm, portanto, estreitas relaes entre si; relaes estas caracterizadas
132
pela complementaridade, transio e potencialidade de transformao.
Kene pode se transformar em dami durante a experincia visionria, en-
quanto dami est a caminho de se tornar yuxin, a manifestao dos verda-
deiros seres aos quais alude. Na experincia visionria com ayahuasca esta
manifestao significa arevelao dos yuxibu como humanos. Deste modo,
os termos kene, dami eyuxin, cada um constituindo um conceito altamen-
te polissrnico, constituem um discurso complexo sobre a fenomenologia
do ser que coloca a transformabilidade do universo no centro de reflexo.
Do precedente podemos concluir que para os Kaxinawa todas as ima-
gens s10 de algum modo 'duplos' dos seres aos quais se referem. Deste
modo, os Kaxinawa no se colocam o problema de identificar o verdadeiro
e o ilusrio na percepo, do mesmo modo que a tradio filosfica tem
feito desde Plato. Vernant afirma que as imagens comearam a ocupar
um lugar diferente no pensamento grego a partir do perodo em que se
democratizou o uso da escrita e ilustra esta passagem com os escritos de
Plato, que defende, enquanto contemporneo do processo de mudana,
acontemplao distanciada contra o sistema educacional tradicional, ba-
seado nos mtodos da mimese. O ideal educacional de PIato era, nas suas
prprias palavras, somente possvel atravs do uso da escrita.
Plaro completa a ruptura com o sistema de transmisso oral do co-
nhecimento que usava como mtodo de memorizao a recitao oral de
cantos poticos, habitualmente acompanhada por dana. Este mtodo
promovia o aprendizado atravs da empatia e identificao do pblico com
o ator ou cantor que representava os papis em questo. O mtodo mim--
tico carecia, na viso de Plato, da necessria distncia para a busca do
Conhecimento objetivo, distncia esta que somente aescrita poderia criar.
A crtica de Plato com relao mimesis o levou a uma reformulao da
noo de imagem que marcou, nas palavras de Vernant, "uma fase no que
pode ser chamado de aelaborao da categoria da imagem no pensamento
Ocidental" (Vernant, 1991: 174).
A 'imagem' se torna uma pura aparncia superficial que aliena o estu-
dante da verdadeira 'essncia' do ser, que esttica. A performance per-
sonalizads, usada no processo de memorizao e transmisso do conheci-
133
mento oral, mergulharia o estudante no fluxo sensvel do devir, evocado
atravs da linguagem dramtica, rtmica e emocional dos sofistas e im-
possibilitaria qualquer possibilidade de reflexo e distncia por parte do
receptor da informao.
Sob a pena de Plato, sofistas, poetas e atores foram acusados de se
perderem na multiplicidade das aparncias sensveis que pertencem ao
domnio da mera opinio (doxa) e estariam cegos para o verdadeiro co-
nhecimento do ser (ePisteme) procurado pelo filsofo. A verdade para o
filsofo residiria na idia da 'essncia', da estrutura interna do ser, que
nica e permanente e independe do ponto de vista do observador. Esta
posio filosfica pressupe a existncia de uma realidade objetiva e l-
gica, exterior ao sujeito e governada por leis universais, conhecv eis uni-
camente pelo intelecto. um modo de pensar sobre a relao entre ser e
parecer que mudou radicalmente o status ocupado pela imagem no pensa-
mento grego arcaico. Detemos-nos neste tpico porque clarifica algumas
das idias sobre realidade e iluso que ocuparam o pensamento ocidental
por muito tempo eque foram desafiadas somente pelo advento das teorias
psicolgicas sobre o papel ativo da imaginao nos fenmenos da percep-
o.
36
Cito Vernant:
"Para o pensamento arcaico, a dialtica da presena e ausncia,
igualdade e diferena, se desenvolve na dimenso extracotidiana
que o eidolon, sendo um duplo, contm, no milagre de algo in-
visvel que pode ser vislumbrado somente por um instante. Esta
mesma dialtica reencontrada em Plato. No entanto, uma vez
transposta para um vocabulrio filosfico, no somente muda seu
registro e assume um novo significado, mas os termos so tambm
de alguma maneira invertidos. A imagem, um 'segundo objeto si-
milar', sendo definida em alguns sentidos como Igual, tambm
refere ao Outro. No confundida com o modelo porque, tendo
sido denunciada como falso, no-real, no mais carrega, como no
36 O conceito de 'imaginao', enquanto associado capacidade da mente de produzir
imagens, surgiu no segundo sculo da nossa era (cf Vernant, 1991: 185).
134
caso do eidolon arcaico, a marca da ausncia, do alm e do invis-
vel, mas o estigma de um no-ser realmente no-real. Em vez de
expressar a irrupo do sobrenatural na vida humana, do invisvel
no visvel, o jogo do Igual e o Outro acaba circunscrevendo o
espao do fictcio e ilusrio, entre os plos do ser e no-ser, entre
o verdadeiro e o falso. A 'apario', com os valores religiosos que
a investem, substituda pelo 'parecer', uma aparncia, um puro
'visvel' onde a questo no a de fazer uma anlise psicolgica,
mas de determinar seu status do ponto de vista de sua realidade,
de definir sua essncia a partir de uma perspectiva ontolgica."
(Vernant, 1991: 168)
osensvel se torna ilusrio e falso, enquanto o inteligvel, seu oposto,
se torna a nica realidade. A idia da imagem como iluso e a possibili-
dade de 'ver o que no real esto na base dos conceitos de 'alucinao' e
'representao'. A idia do faux-semblant e da representao artstica so
conseqncias dessa "secularizao" da imagem. No momento desta di-
viso episternolgica a imagem comea a simular a presena de algo sem
qualquer partilha metonmica na qualidade (ou 'essncia') do represen-
tado. A noo de representao supe a ausncia daquilo que substitui,
assim como supe uma diferena qualitativa entre a coisa representada e
a imager.i que a substitui. A imagem no tem nenhuma realidade alm de
,
ser seme lhante coisa a que se refere.
A bu.ca deste tipo de 'puro esprito' (ou idia), presente somente para
si mesmo, poluindo-se quando imerso na matria e nas formas cambiveis
da vida, ocupou o pensamento ocidental at o sculo XVIII quando co-
mea a ser questionado pela hermenutica e pela emergncia das cincias
sociais. Teorias modernas da percepo reintroduziram a noo de agn-
cia e a noo das capacidades criativas da mente humana no conceito de
imagem e desde ento o papel da imaginao e arelao entre realidade e
aparncia comearam a ser reavaliadas. O problema do sentido da fico
e da mimesis est na ordem do dia na antropologia, nas artes e em outras
reas das cincias humanas. Deste modo nos tornamos melhor preparados
135
para aceitar uma leitura e um significado diferentes da vida das imagens
sugeridos pelos Kaxinawa.
R esumimos, guisa de concluso, algumas das caractersticas especfi-
cas do pensamento kaxinawa sobre a experincia visual. A \I iso conce-
bida como um processo dinmico e nunca como passivo ou esttico. Na
produo de desenho no se procura fixar o ponto de vista de quem olha.
Visto que no h fundo ou figura em que os olhos possam deter sua aten-
o e sim uma dinmica desassossegada da percepo alternada de figura
e contrafigura, o olhar do perceptor sugado para dentro da kinestesia do
desenho geomtrico (Guss, 1989: 122).37A 'escrita' kaxinawa (kene kuin) ,
uma 'inscrio' do sentido na acepo ampla da palavra (Derrida, 1967),
trabalha com um conceito de viso que difere bastante do papel dado
viso, pintura e escritura na cultura clssica ocidental, onde a escrita era
considerada antes de mais nada a tcnica que permitia fixar o fluxo do
pensamento e da fala numa forma visual permanente, tornando-o desta
forma suscetvel observao distanciada e objetivada (R icoeur, 1981;
Vernant, 1991; Lagrou, 1995a).
Os Kaxinawa consideram o conhecimento como algo encorporado.
Quando um Kaxinawa se refere ao conhecimento contido nos cadernos
do etngrafo, no se refere s letras (kene) no papel, mas ao papel que con-
tm as letras. Por esta razo chama papel de conhecimento (una).38 Como
aluso a sua concepo corporal do conhecimento, comentrios irnicos
dos Kaxinawa me fizeram entender que a preocupao dos brancos com
o armazenamento de conhecimento em objetos fora dos seus corpos fez
com que seus corpos parassem de conhecer. Os livros so contentores de
conhecimento, una; as fitas cassetes so 'captadores da voz', huibiti; eas c-
meras acumulam imagens perfeitas de corpos, ou seja, yuxin, eso, por esta
37 R oy Wagner (1986) torna o tema do "figure-ground reversal" o piv de sua discusso
sobre a condio humana enquanto uma constante inverso das relaes entre figura
e fundo na percepo intersubjetiva e encorporada que a existncia humana, sempre
'inventando' cultura apartir de tropos hologrficos, isto , tropos que giram emtorno do
englobado que se torna englobante evice-versa.
38 Ver Gow (1990) para uma abordagem semelhante da escrita por parte dos Piro.
136
razo, chamadas de 'captadores de yuxin' (yuxinbiti).3LJ "Mas para aprender
'de verdade''', segundo Augusto, em uma das ltimas tardes em que traba-
lhamos juntos, no havia necessidade dos instrumentos extra corporais, e
por isso, em vez de prosseguir sua fala, levantou-se, me pegou pelo brao e
danando comeou a cantar.
UMA PER SPECTIVA ESTTICA SOBR E O PER SPECTIVISMO
"O olho que existe o que v."
Chico Csar
"Declarar que a prpria escrita uma troca mimtica com o mundo tam-
bm significa que envolve a capacidade relativamente cotidiana, mas pou-
co explorada de imaginar, seno se tornar Outro."
Michael Taussig, 1993: x.
".\ mente individual imanente, mas no somente no corpo. imanente
tambm nos caminhos e mensagens fora do corpo; e existe uma mente
rr aior da qual a mente individual no seno um subsisterna."
Bateson, G., 1977.
Nos ltimos vinte anos, vrios autores chamaram aateno para o car-
ter noessencialista da viso de mundo amerndia. A inclinao filosfica
amerndia seria "norninalista" ao invs de "realista" (Overing, 1976, 1985,
1990; Seeger, e outros 1979). A introduo da noo de perspectivismo
por Viveiros de Castro (1996) e Stoltze Lima (1996) d um passo alm
no processo de compreender o significado das afirmaes nativas. Grosso
modo, o perspectivismo indgena significa que o mundo (realidade) que se
39 Deshayes eKeifenheirn (1982) reportam queosKaxinawa do Peru interpretaram acausa
deuma epidemia desarampo que osafligiupouco tempo depois de uma visita asuasaldeias
docineasta/antroplogo Schultz esuaesposaChiara, em 1950/1951, como efeito dafilma-
gemrealizada por estes na ocasio. A captura do yuda baka, yuxin do corpo, teria reduzido
seutamanho edeixado as pessoas que foramfilmadas fracas esuscetveis doena.
IV
v depende de quem o v, de onde se v e com que inteno um determi-
nado ser olha para outro ser. Neste sentido, o fenmeno da perspectiva,
bem conhecido pelos americanistas, pode ser colocado do seguinte modo:
os animais sevem como humanos enquanto os humanos vem os animais
como caa; os humanos se vem como humanos e so vistos por determi-
nados espritos como caa.
Os humanos podem, frequentemente, mudar seu ponto de vista em
relao aos animais quando diante dos seus olhos, um animal que est
sendo perseguido numa caada, repentinamente, setransforma em um ser
humano. Essas transformaes esto presentes na mitologia amaznica e
so cruciais na experincia cotidiana, mais ainda durante a noite. Estu-
diosos do xamanismo amerndio notaram, desde sempre, essa capacidade
de mudar a percepo enquanto capacidade especfica do xam.? mas,
agora, pode-se facilmente reconhecer essa caracterstica como princpio
estruturante que no se aplica somente ao xamanismo enquanto cam-
po isolado de pensamento e especializao, mas antologia amerndia
como um todo. Esta idia ser retomada na seo sobre a invisibilidade
dos xams kaxinawa.
Esta referncia bsica que pressupe a transformabilidade do mundo
pode ser encontrada, no caso kaxinawa, em todos os campos de pensa-
mento e ao. Com a morte, a pessoa transforma seu corpo; um processo
expresso em termos de mudana de roupa, de transmutao de qualidade
durante o qual aalma do falecido setransforma em lnka, o smbolo arquet-
pico da alteridade. Nos rituais coletivos de ingesto da bebida psicotrpica
ayahuasca, afloresta eseus animais transformam-se em humanos eespritos
na percepo daqueles que ingerem abebida enquanto as grandes rvores
e seus habitantes transformam-se em cidades diante dos olhos fechados
daquele que se transformou em sucuri/ancestral mtico Yube atravs da
ingesto do seu "sangue". A lgica da transformao de uma substncia
animada em outra est presente mesmo nos mais simples dos atos, o de
comer: quando algum come milho, por exemplo, transforma-se em milho
40 Baer &Langdon (1992); Chaumeil (1983); Overing (1990); Crocker (1985) eoutros.
138
e o milho torna-se parte da pessoa, de um modo similar ao descrito por
Isacsson (1993) para os Ember da floresta colombiana e por Stoltze Lima
(1995,2005) para os [uruna,
Parece-me possvel relacionar a percepo da 'qualidade perspectiva'
(rhem, 1993, 1996) ou 'perspectivista' (Viveiros de Castro, 1996) do
pensamento amerndio discusso em curso, realizada por antroplogos e
outros cientistas, sobre o significado eo uso prprio da metfora (Overing,
1985a, 1987; Crocker, 1977; Goodrnan, 1978; Ortony, 1993; R icoeur,
1981). Na sua formulao de uma teoria do perspectivismo amerndio Vi-
veiros de Castro (1996, 2002) observa que o pensamento perspectivista
opera ior uma lgica simetricamente inversa da utilizada no relativismo
cultura' ocidental, onde cada cultura teria seu prprio ponto de vista sobre
uma natureza estanque. No caso amerndio tratar-se-ia de mltiplas natu-
rezas e corpos percebidos por uma s conscincia, um s ponto de vista,
o do hi.mano enquanto agente. Se se considerasse a metfora como uma
figura de linguagem figurativa que s representa e no presentifica, este
instrurr ento da linguagem pertenceria antes lgica relativista ocidental
do que ;1lgica transformacionista amerndia. Entretanto, aabordagem da
metfoi aque proponho aqui leva em conta o valor agencial tanto do pon-
to de vista da ao quanto da fala, a fala atravs de metforas, onde estas
aes sobre o mundo (ou os mundos interconectados dos diferentes seres
e estados do ser) ajudam a faz-lots) em termos bem concretos, moldan-
do-os) e transforrnando-o(s). Deste modo, para os Kaxinawa, o mundo
se encontra num estado permanente de perigosa fluidez da forma at que
intervenes decisivas, entre as quais a fala e a voz, dem forma fixa aos
perceptos.
A discusso em torno da metfora reala o papel cognitivo da simila-
ridade na metfora eno pensamento em geral e reavalia neste sentido,
embora de forma indireta e implcita, algumas das contribuies contidas
na discusso que Lvy-Bruhl faz apropsito do animismo no "pensamento
primitivo" (Goldman, 1994; Cardoso de Oliveira, 1991; Descola, 1992;
. Viveiros de Castro, 1996: 137 (nota 12)). O uso estruturalista da metfora
na tradio lvi-straussiana acentuou acapacidade diferencial da metfora
139
enquanto analogia, deixando de lado a literal e polissmica leitura dos
complexos contedos das afirmaes indgenas que encontraro significa-
o se levado em conta um quadro especfico de referncia. Neste sentido,
as declaraes podem comunicar mais que equivalncias estruturais quan-
do, por exemplo, um Bororo diz "meu irmo um papagaio" (Crocker,
1977) ou um Kaxinawa afirma que "a sucuri nosso ibu (pai/me)".
"Lv-Strauss revela umaspecto proeminente da lgica classificat-
ria tribal: ,aanalogia, onde emsuas palavras (1963: 77), 'no so as
semelhanas, mas as diferenas que seassemelham' que importam,
ou seja, o corvo para ogavio real oque clA para cl B. O 'pri-
mitivo' no reivindica uma ligao mstica nem desangue comseu
totem e, portanto no acredita na similaridade em que se poderia
pensar que acredita quando chama seu vizinho de papagaio ou cor-
vo. Uma conseqncia dacompreenso lvi-straussiana da metfora
a evaso da anlise da similaridade (a relao entre meu vizinho
e um papagaio) que , afinal, to crucial para o entendimento de
afirmaes metafricas quanto diferenas e analogias." (Overing,
1985c;153)
Estudos recentes sobre ametfora (R icoeur, 1981j Shanon, 1993j Lako-
ff, 1990) revelam como toda linguagem , no final das contas, metafrica e
polissmica no seu processo contnuo de atribuir significado experincia,
conectando imagens conhecidas e conceitos previamente no relaciona-
dos, criando, deste modo, novos campos. O processo cognitivo necessita
desses instrumentos criativos para ser capaz de cruzar o fosso entre reali-
dades conhecidas e desconhecidas e nomear novas experincias e percep-
es. Novos mundos so imaginveis atravs da linguagem metafrica e
isso atesta porque a metfora indispensvel tanto para o cientista quanto
para o antroplogo do mesmo modo que o para o artista, que seu trabalho
metafrico e metonrnico, associativo e englobante.
O que une cincia e arte no seu uso da metfora a mudana de nossa
percepo e conhecimento do mundo, e uma vez nossa viso mudada o
mundo nunca ser o mesmo. Este o lao performativo que conecta lin-
140
guagern e percepo ao mundo. Os mundos exteriores podem ser muitos,
o mundo no qual vivemos aquele que imaginvel, perceptvel, expe-
rimentvel e, portanto, pleno de sentido para ns. So nossa perspectiva
e agncia encorporadas, contextualizadas e, por isso, cambiveis sobre o
mundo que fazem o mundo ser o que . E este uma das maneiras de existi-
rem mltiplos mundos (Goodman, 1978). Como veremos, essa percepo
filosfica foi levada bem mais longe pelo pensamento amerndio do que
tem siC:ousualmente na nossa prpria tradio de pensamento.
Se metforas representam nossa "abertura para o mundo", para usar uma
expresso gadameriana, precisamos ser o mais reflexivo possvel sobre as
metforas que usamos. Metforas so usadas para conectar diferentes do-
mnios, diferentes mundos, criando um novo mundo atravs da "fuso de
horizontes" (essa imagem implica mutualidade e no um movimento uni-
direcio'lal, portanto, algo inerentemente inrersubjetivo). As metforas
tornam-se uma limitao para o entendimento do "outro" seas reificarnos,
quandc se tornam meios para reduzir a ansiedade experiencial e cognitiva
provocada pelo defrontamento do nonsense.
O pesadelo do defrontar-se com a incomensurabilidade necess-
rio para desvendar novas metforas e conexes, inimaginveis quando
se est em territrio segure." As metforas falham no seu intento de
produzir compreenso quando elas aniquilam diferenas, reduzindo di-
ferena similitude; quando bem escolhidas, as metforas criam novos
mundos, funcionando como "pontes" capazes de ser ao mesmo tempo
prximas da experincia do sujeito que tentamos evocar e possveis de -
serem imaginadas pela comunidade de possveis leitores para quem es-
tamos escrevendo.
Em seu artigo sobre o perspectivismo amerndio, Viveiros de Castro
(1996) situa sua abordagem do fenmeno dentro do paradoxo clssico da
relao entre Natureza e Cultura, herdado pelo americanismo de Lvi-
Strauss.
41 Uma reflexo sobre os perigos do uso imprprio ela metfora pode ser encontrada em
J ackson (1989: 151).
141
o, a inerente possibilidade de inverso das perspectivas edos papis, em
que o caador torna-se presa.
Esta mesma lgica foi observada para aguerra entre alguns povos ame-
rndios (Fernandes, 1970; Viveiros de Castro, 1986a, 1992). Penso que
esta lgica reflete uma ideologia igualitria implicando a conscincia da
essencial similaridade em qualidade, capacidade evalor do inimigo (caa).
O que caado ir cedo ou tarde caar; o que comido ir querer comer
aquele que o comeu (atravs da doena, por exemplo). Os Kaxinawa com-
partilham esta viso perspectiva de ser caador para alguns e ser caa para
outros, ou, caador e caa para os mesmos seres em diferentes momentos e
contextos e estendem essa relao para plantas e rvores (como as mulhe-
res achuar fazem com suas plantaes de mandioca, tidas como "plantas
canibais" (Descola, 1987)).
Todos os seres esto implicados nesta rede de aes e contra-aes de
predao, alimentao e transformao de seres vivos em materiais para
a produo da vida. A idia abstrata de que para criar vida necessrio a
destruio de algo ou algum, bastante concreta eviva nos estilos de vida
de sociedades caadoras e coletoras que precisam matar para comer.
Estas foras interdependentes em luta no precisam, no entanto, dos
termos do par Natureza/Cultura para serem entendidas. Esse entendi-
mento deriva de uma exegese kaxinawa do mundo, considerando-o estar
imbudo de todas as qualidades possveis ou imaginveis de agncia, in-
tencionalidade e perspectiva. A seguinte declarao feita por Agostinho
Manduca ilustra literalmente essa viso: "A terra est viva, voc sabe; uma
coisa est se transformando em outra". Complementando esta declarao
acrescento outra, proferida por Augusto Feitosa: "A floresta tem seus ibu
(genitor, criador, dono, guardador, plantador), tudo tem seu ibu".
Alteridade para os Kaxinawa no significa a falta de humanidade, sub-
jetividade ou agncia, mas ininteligibilidade e diferentes modos de perce-
ber e olhar as coisas, implicando o relacional e nunca o essencial e o subs-
tancial. Os deuses can ibais lni<a, os brancos e os inimigos no so vistos
enquanto intrinsecamente canibais incontrolveis ou bestas-feras; eles se
comportam deste modo no em funo de qualquer qualidade inerente,
144
mas em virtude de um determinado tipo de relao, uma relao de exces-
so de alteridade, mais que um "eu" pode suportar. Para ser capaz de lidar
com c . alteridade deve-se aprender a tornar-se outro ou imitar o ser outro
no sentido de captar seu ponto de vista no mundo e, desta forma, ganhar
poder sobre a situao interativa.
Apesar de expressar posies reversveis entre presa epredador de modo
similar quele expresso pelos Wari, a oposio ontologicamente fundante
para os Kaxinawa divide o mundo de um modo diferente. O tema central
aqui a relao entre o "eu" e o "outro", huni (ns, propriamente hu-
manos) e nawa (outro, inimigo potencial). Esta relao no denota uma
reversibilidade de posies em que sujeito significa agncia e objeto pas-
sividade, mas uma intersubjetividade em que ambas as posies apresen-
tam a' qualidade da agncia e da subjetividade." Isso parece explicar por
que o termo nawa pode ser representado, ao mesmo tempo, enquanto o
predador mais poderoso e como vtima humanizada de uma expedio de
caa: ele um inimigo que significa, ao mesmo tempo, vtima e agressor.
Como resultado deste processo percebe-se uma ontologia em que todos os
seres assumem uma posio subjetiva; a diferena aqui entre o conheci-
do, agncia propriamente humana (pacfica) e o desconhecido, a agncia
agressiva e predatria. Em um nvel sociolgico o problema, mais uma
vez, o da afinidade virtual.
Outro elemento presente em todas as relaes, e neste ponto retoma-
mos Lvi-Strauss (1991) eDumont (1980), que em relaes antagnicas
entre diferentes seres (e todos os seres so diferentes) sempre h um dese-.
quilbrio de poder, apesar de este ser hipoteticamente reversvel. Essa viso
expressa pelo lugar que ocupam os gmeos no pensamento amerndio.
41 Outras verses do perspectivismo, como as de Stolrze Lima (1996, 1999) e Gonalves
(2001), assim como o animismo de Descola (2005), parecem enfatizar mais o desencon-
tro de perspectivas do que a oposio suj eito/obj eto desenvolvida na chave presa/pre-
dador. Deste modo pensam os queixadas, ao serem caados pelos [uruna (Y udj), estar
fazendo guerra contra os mesmos. A inverso das perspecrvas no , portanto, completa;
o que temos um desencontro de perspectivas que produzem eventos diferentes, e no
uma relao entre objeto/sujeito, passivo/ativo, caa/presa.
145
Na mitologia amerndia os gmeos nunca so pensados como idnticos. O
oposto ocorre no imaginrio indo-europeu e seus mitos sobre gmeos, em
que a fascinao pelos gmeos deriva exatamente de sua qualidade de in-
tercambialidade hipottica (Lvi-Strauss, 1991: 299-320). A especulao
indo-europia sobre gmeos est intrigada pela possibilidade da identidade
dividida (split identity)~ enquanto nos mitos amerndios a idia de duplici-
dade j carrega consigo a idia da diferena.
A diferena entre os gmeos est posta desde o incio, considerando-se
um fato incontestvel, um fato pleno de conseqncias, ou seja, um dos
gmeos nasce primeiro. Deste fato derivam todos os tipos de diferenas
no oposicionais, mas sim graduais. Entre os gmeos existir o menor e o
maior, o mais forte eo mais fraco e, um aspecto que todos os meus interlo-
cutores insistiram em frisar, o com sorte eo azarado. Esta lgica da diferen-
a gradual, do mais velho e do mais moo, do menor e maior, repousa na
base do dualismo de metades e em toda conceitualizao de cornplernen-
raridade nas relaes e no mundo.
No pensamento amerndio, a idia de duplo implica, portanto, dife-
rena. Duplicidade na singularidade possvel, o que no possvel a
igualdade duplcada. A idia a criao de seres de uma mesma classe,
significando similaridade suficiente para garantir o entendimento entre
eles, no danes e rplicas. Uma simetria perfeita nunca ser encontrada
no mundo. Esta idia encontra-se visualizada na arte kaxinawa. Como
salientamos acima, a simetria na arte retificada por um pequeno deta-
lhe assimtrico que transporta a idia de identidade distinta. o detalhe,
a dissonncia que d vida ao trabalho artstico, assim como vida em
si mesma. Deste modo, o estilo grfico kaxinawa pode ser visto como a
visualizao do valor social da autonomia pessoal que se manifesta em
sutis detalhes idiossincrticos, escondidos no padro global de simetria e
igualdade. O efeito studium-punctum descrito por R oland Barthes (1980)
ilumina bem este estilo grfico.
O studium, ou o discurso dominante, seria neste caso arepetio de ele-
mentos iguais num ritmo simtrico eo alto valor dado execuo delicada
de finas linhas paralelas. O estilo grfico kaxinawa caracterizado pelo
146
horror vacui: toda a superfcie dos corpos pintados deve ser coberta com
desenhos e nenhuma linha pode ficar aberta. O padro pode ser cortado
onde a superfcie pintada termina, sugerindo uma continuao do mesmo
padro para alm daquele suporte. Este recurso demonstra a funo do
desent'o como algo que une mais do que separa. O desenho visualiza a
qualidade yuxin (fora animadora) que permeia o mundo kaxinawa sepa-
rando-o dos povos sem (um olhar para o) desenho.
Tecelagem que ilustra bem adinmica do punctum. Motivo hua (flor).
O punctum adissonncia prxima do detalhe invisvel, asurpresa ne-
cessria para a dinmica visual, aquilo que d vitalidade esttica ao todo,
que se manifesta como uma pequena diferena no padro repetitivo, um
ponto assimtrico no interior de uma simetria. necessrio existir certa
homogeneidade nos elementos visuais para que a pequena diferena seja
capaz de tocar nossos olhos. A arte kaxinawa explora elegantemente o en-
147
trelaamento do studium edo !J unctum. Desta forma, para um pano tecido
ou para uma face pintada, a primeira impresso ser a de uma superfcie
coberta por um padro geomtrico atravs da infinita repetio de unida-
des iguais. Um olhar mais acurado perceber que um losango do padro
colmia tem um ngulo a mais que os outros. Este o punctum e sua ocor-
rncia na arte kaxinawa sisrerntca." Outro exemplo deste fenmeno
encontra-se nos colares. Se um colar de contas, por exemplo, composto
pela alternncia de seis contas vermelhas e seis azuis, em algum lugar no
meio do colar se encontrar uma conta branca perturbando, proposital-
mente, aperfeita simetria erepetio do padro.
Na arte masculina dos adornos de cabea, por outro lado, o desequi-
lbrio e assimetria so mais explcitos. Aqui o objetivo parece ser o de
encontrar um delicado equilbrio atravs do desequilbrio, deste modo su-
gerindo o constante movimento das penas. As penas do cocar so proposi-
talmente diferentes em tamanho para sugerir certa ondulao, embora se-
jam normalmente da mesma cor e proveniente do mesmo pssaro (apesar
"deexistirem certas combinaes de penas de pssaros diferentes). Caudas
compostas de distintos materiais (conchas, unhas de diferentes tipos de
mamferos, penas de cores diferentes) podem estar penduradas no cocar de
forma a aumentar o carter idiossincrtico da pea e so designadas como
dau (decorao ou "remdio" do cocar). Como toque final rabos de arara
so postos no topo. Estes longos rabos so presos ao cocar, envergados pelo
peso de um pequeno pedao de cera de abelha atado s suas extremidades.
Na cera so fixadas pequenas penas recortadas. O resultado um equilbrio
sutil e mvel de peas desiguais, porm similares.
Esta marca sutil da personalidade do artista em peas fortemente mar-
cadas por um estilo parece congruerite com o modo que os Kaxinawa ex-
perienciam a vida: criar comunidade fruto do forte desejo de viver tran-
qilamente com os parentes prximos, tornando a sociabilidade possvel
atravs da autonomia pessoal e o respeito pela autonomia alheia.
43 Dawson (1975) nota aocorrncia de detalhes assimtricos na tecelagem kaxinawa.
148
Motivo central isu meken, (mo de macaco); na lateral, baxu xaka (escama de peixe
tamburat). Alzira Maia Kaxinawa, 1991.
O estilo de pensamento perspectivo implica numa constante conscincia
da possibilidade de mudana de pontos de vista, mudando, conseqente'
mente, o olhar sobre o mundo. Como de se esperar, essa mesma atitude
perspectivista pode ser encontrada nos sistemas de desenhos amaznicos.
A qualidade cintica de trocar aperspectiva entre fundo efigura, tpica dos
padres labirnticos da tecelagem eda cestaria de muitas sociedades amaz-
nicas, foi percebida na anlise da "arte abstrata" amerndia por R oe eGuss.
Peter R oe chamou a ateno para a correspondncia entre este estilo
artstico e um estilo de pensamento. O autor argumenta que a "ambigida-
de visual" dos desenhos shipibo (grupo pano do Peru) corresponde em seu
sistema de pensamento auma "nfase na ambigidade mental" (R oe, 1988:
112). "Ambigidade mental" uma expresso um tanto ambgua, mas pode-
ser facilmente substituda por perspectivismo sem, contudo, mudar o signi-
ficado primordial desta analogia. Para R oe a significao da ambigidade
perspectiva na arte indgena "abstrata" repousa no que ela nos fala sobre a
atitude cognitiva do artista e do pblico pretendido. Para os amerndios o
universo transformativo. Isso significa que a viso pode, repentinamente,
mudar diante de nossos olhos. O mundo composto por muitos mundos,
sendo que estes diversos mundos so pensados enquanto simultneos e em
contato, embora nem sempre perceptveis. O papel da arte ode comunicar
uma percepo sinttica desta simultaneidade das diferentes realidades.
149
Ao analise}!"os desenhos indgenas, R oe chama aateno para o padro
esrilstico e no para unidades isoladas constitutivas do padro. Minha in-
vestigao sobre o significado dos desenhos para os Kaxinawa confirma as
percepes de R oe. Quando uma leitura iconogrfica de unidades isoladas
parece confusa e contraditria, necessrio introduzir uma leitura mais
gestltica ou estrutural dos padres como um todo, o que proporciona,
no caso kaxinawa, uma melhor compreenso dos seus usos e significados.
Analogias entre esse cdigo visual e outros cdigos verbais e no-verbais,
que juntos formam o pano de fundo para a significao cognitiva e emo-
cional do estilo artstico, e conseqentemente do seu poder agentivo, so
essenciais.
Outra ilustrao da presena do perspectivismo na arte amaznica pode
ser encontrada no estudo sobre os mitos, cestaria ecanes yekuana (grupo
karib da Venezuela) realizado por David Guss (1989). Depois de abando-
nar a procura do grande mito de origem dos Y ekuana (que sabia existir em
textos antigos), o autor decidiu desiludido sentar-se com os mais velhos e
aprender a arte de tranar cestos. O que descobriu por este modo foi que
a vida para os Y ekuana cor..o o tranado, ou, em outras palavras, que o
tranar era a metfora-chave para a vida para este povo, e que fragmentos
epartes do mito de origem eram tranados, proferidos ecantados pelos ve-
lhos todos os dias, no crepsculo, quando sentavam juntos num crculo.
Conhecimento no pode ser adquirido fora do contexto, uma vez que o
conhecimento nestas sociedades parte constitutiva da pessoa: conheci-
mento e memria so encorporados e so atualizados na medida em que fa-
zem sentido para a criao da vida cotidiana (Gow, 1991). Neste sentido,
nossas valiosas descobertas no campo no vm de maneira to acidental
quanto possamos pensar. Elas surgem quando nossos professores nos consi-
deram maduros para entend-Ias, ou simplesmente, quando se presentifica
o contexto certo, um contexto capaz de revelar no apenas o contedo,
mas tambm a significao e o sentido prtico, moral e emocional de um
determinado conhecimento.
O resultado da iniciao de Guss nas tcnicas de tranado yekuana foi
um profundo entendimento da antologia yekuana.
150
"Com os desenhos abstratos este retrato simultneo de uma reali-
d, de dual se torna muito mais complexo [que no caso do desenho
fiurativoj. Aqui tambm se mostra a imagem e contra-Imagem. No
er-rante, o que realmente representado a relao dinmica entre
os dois. Diferentemente das imagens estticas dos desenhos figura-
tivos, a estrutura kinestsica destas formas cria um movimento sem
fim entre os elementos diferentes, puxando o espectador para den-
tro delas. A percepo agora se torna um desafio, com o espectador
sendo forado a decidir qual imagem real e qual uma iluso. A
dualidade significada pela conquista dos cestos perceptualmente
incorporada na estrutura dos seus desenhos. Aqui todas as oposi-
~sna cultura (feminino e masculino, visvel e oculto, criativo e
predatrio, veneno e comida) so visualmente resolvidas. Mas no
se trata de uma soluo esttica. como a vida cotidiana de todo
Y e<uana uma constante troca entre as formas visveis e as invisveis
que as carregam." (Guss, 1989: 122)
O estilo geral de desenho kaxinawa - designado kene kuin (desenho
prprio), usado na pintura corporal, cestaria, cermica e tecelagem - si-
milar ao estilo do tranado yekuana. O jogo entre imagem e contra-ima-
gem expressa a idia de duplicidade eco-presena das imagens reveladas e
.no-reveladas no mundo. Neste sentido, a antologia kaxinawa, definindo
as condies do ser e no-ser, totalmente dependente e ligada ao real
processo perceptivo em que um agente particular esteja engajado. Uma das
razes por que minhas primeiras tentativas de ligar nomes particulares a
unidades especficas do desenho no foram bem-sucedidas, foi aalternncia
cintica elefundo efigura das imagens. Outra razo foi que os Kaxinawa no
nomeiam unidades, mas padres globais, relaes entre unidades ea aloca-
o do desenho em um suporte. Do mesmo modo que no existe pele que
no cubra um corpo, o desenho sem um suporte no faz sentido na esttica
amerfnda. Observamos, deste modo, que o que se passa com os desenhos,
ocorre, tambm, com o conhecimento em geral: como o desenho, o conhe-
cimento necessita de um corpo e de um contexto prprio como suporte e
razo de Ser. E o suporte, alm do grafismo emsi, que transporta aproprie-
I S I
dade do desenho. Para um desenho ser propriamente um desenho (kuin),
ele depende no somente de suas qualidades inerentes, mas, sobretudo, do
contexto: dependente de quem pinta quem ou o que e quando."
Outra conseqncia do ~zrspectvismo na arte ena percepo em geral
que a tradicional oposio entre aparncia e essncia ou entre realidade
e iluso deixa de fazer sentido. Toda percepo se refere a algum tipo de
existncia especfica. Isso no significa que imagens e corpos ocupem a
mesma posio na ontologia kaxinawa. A diferena entre tipos de per-
ceptos produzida no interior de um quadro de referncia que leva em
conta os distintos estados do ser. Uso "estado do ser" em substituio para
"estado de conscincia" porque deste modo evitamos o perigo de inadver-
tidamente opor mente e corpo."
O estado do ser relaciona estado do corpo e estado da mente. Por isso,
quando algum, entre os Kaxinawa, v fantasmas ou yuxin ou outras apari-
es que no pertencem esfera da percepo cotidiana, ningum questio-
nar o fato de ele ou ela realmente ter visto alguma coisa; se a percepo
foi ou no uma iluso, isto , uma "alucinao", no ser passvel de discus-
so. Etimologicamente, ter alucinaes significa perceber (atravs de um
ou mais sentidos) o que no existe na "realidade". O conceito de "alucina-
o" no existe na lngua kaxinawa porque sua concepo e percepo da
"realidade" so radicalmente diferentes.
O conceito kaxinawa mais prximo da nossa noo de "iluso" e "alu-
cinao" poderia ser "mentira" (txaniki) e, dependendo da seriedade da
experincia, "brincadeira" (beyuski). Quando dito que uma pessoa ou um
esprito da floresta estava somente "brincando", nenhuma conseqncia
perigosa esperada. Mentir, por outro lado, pode ser mais perigoso. So os
estrangeiros, trapaceiros, e espritos (yuxin) que mentem e enganam. Este
um mtodo comum usado para distrair edesviar pessoas que anuam sozi-
44 Gow (1988) retoma em Lvi-Strauss uma observao fundamental sobre a relao
dinmica entre elementos grficos eplsticos na arte amerndia. Para maiores detalhes e
discusso ver Lagrou, 1995c.
45 Tomei a sugesto para usar o conceito de "estados do ser" emprestada de Gonalves
(comunicao pessoal).
152
nhas, inadvertidamente, por caminhos que iro extrav i-os, fazendo com
que percam a orientao e capacidade de retomar ao mundo conhecido.
importante frisar que aquele que 'mente' sobre as percepes que no
se encaixam no mundo cotidiano dos corpos slidos no , geralmente, a
pessoa que viu algo erelatou o que viu aos seus companheiros, mas o agen-
te que produziu o fenmeno percebido. Esses agentes, designados yuxin,
so seres indefinidos e mutveis sem um corpo slido, mas com a capa-
cidade de produzir imagens, aparies que amedrontam e confundem os
humanos.
Alguns destes seres tm tanta potncia que so capazes de transformar-
se asi mesmos no que desejam e at mesmo de produzir imagens de outros
fenmenos. qualidade de este ser aplicar golpes e trapacear os humanos,
capturando-os e transferindo-os para um outro mundo: um mundo perce-
bido eexperienciado diferentemente. Uma imagem usada para expressar a
ultrapassagem deste limiar ado yuxin que espreme a seiva de uma planta
medicinal nos olhos de uma pessoa ea transporta para sua prpria aldeia.
Desta forma de conceber a percepo resulta que o que necessita ser
determinado para a compreenso de um caso extraordinrio de percep-
o o estado especfico do ser perceptor, assim como a qualidade do ser
percebido e do contexto da percepo. A pessoa pode estar doente ou
melanclica ou pode estar num processo de tornar-se xam. Pode, ain-
da, estar num estado perfeitamente normal, mas o contexto, como o cair
da noite ou uma tempestade com relmpagos, pode ser propcio para que
os fenmenos normalmente invisveis se manifestem. Outro contexto em
que se podem perceber imagens normalmente invisveis durante o ritual
de ingesto da ayahuasca.
Estes exemplos mostram que as diferentes possibilidades de percepo
so ligadas a particulares estados do ser. Alguns destes estados implicam
em to alto grau de mimese e entrada em contato com a alteridade, in-
cluindc a mudana da ao eda forma corporal, que pouco sobrou daquilo
que poderamos designar por "eu real", a pessoa imersa na atividade cor-
poral, na interao social enas rotinas dirias. O chamado da floresta com
seus an mais/yuxin querendo transformar sua vtima seduzida em um deles
I))
igualado em perigo ao chamado da cidade com sua cachaa e sua fasci-
nante variedade de habitantes (nawa).
Neste sentido, no de se surpreender que as viagens terra dos yuxin
eyuxibu da flcresta competem agora, na economia das experincias visio-
nrias dos jovens, com as excitantes e perigosas visitas s cidades de So
Paulo, Lima e s cidades dos huxu nawa, brancos estrangeiros (europeus e
americanos) .
Deste modo, a vida e o ser de uma pessoa so vistos como um processo
dinmico com diferentes caminhos e identidades possveis de serem se-
guidos e assumidos. Frente a estas mltiplas possibilidades de existncia e
perigos de transformao em alreridades incontroladas, tarefa da comu-
nidade como um todo encarregar-se da produo da vida em comunidade.
Procura-se transformar jovens em huni kuin, seres humanos propriamen-
te ditos, guiando-os atravs da multiplcidade de percepes, emoes e
atividades possveis e presentes no mundo envolvente, para deste modo
moldar suas prprias criaturas em seres de uma mesma classe, nukun yuda,
"nosso corpo".
Os adultos kaxinawa trabalham para educar crianas com "corpos pen-
. santes", sempre "pensando nos seus corpos (hawen yuda xinankin)", seus pr-
prios eacomunidade enquanto "corpo social". Seus corpos vo carregar pen-
samentos e sentimentos de pertencimento em funo da comida, cuidados
corporais, memrias e valores compartilhados durante avida. Quando longe
de casa, os viajantes sentiro falta da comida, da comensalidade, estrias e
.cuidados daqueles com quem compartilharam a infncia.
Os Kaxinawa evitam, a todo custo, o uso da fora eda agressividadeno
trato com as crianas." A autonomia eo livre arbtrio das crianas so res-
peitados. Entre adultos, brigas, gritos e ordens so igualmente reprovados.
Conflitos so resolvidos atravs da evitao e a mais severa punio que
pode ser intligida a algum o ostracismo (Kensinger, 1988). Uma arma
46 Ver Belaunde (2001) para uma cosmologia que coloca a raiva na origem do mundo e
dos seres, ao mesmo tempo condio para a possibilidade do nascimento e fora conta-
giosaque pode produzir adesarticulao social.
154
eficien:e para impor os valores do compartilhar e da reciprocidade a
fofoca. As decises so tomadas somente quando as partes envolvidas con-
cordarr e quando o acordo parece impossvel, o grupo dissidente decide
partir r'ara deixar as coisas esfriarem ou tentar a vida em outra parte. Esta
moral social igualitria comum a muitas sociedades amaznicas e um
fator importante no modo como estes povos sedefinem como diferentes de
outros )OVOs, especialmente dos nawa (no-ndios).47
O processo permanente de criao e inveno de uma comunidade e
estilo de vida especficos realizado atravs de uma contnua negociao en-
tre o novo e o velho, fazendo frente s mudanas de contexto, incorporan-
do as novas oportunidades que surgem enquanto antigas desaparecem em
um mundo em permanente transformao. Esta constante reinveno da
identidade face alteridade envolvente outra manifestao da concepo
especfica que osKaxinawa tm da noo de identidade ediferena. Se iden-
tidade implica em alteridade, perspectivismo setorna o elemento de ligao
entre estas noes, tornando-as interdependentes e intercambiveis.
Os pares dinmicos ou as trades que funcionam enquanto conceitos-
chave no quadro de referncia ontolgica kaxinawa, podem ser somente
desenhados sobre o fundo do estilo de pensamento perspectivo que nos
permite lidar com paradoxos eambigidades na referncia aos seres eno-
seres. Lepois de ter ficado vrias vezes equivocada aprendi que aquilo que
chamamos de contradio pode nos ensinar muito sobre um estilo espec-
fico de pensamento. A significao e o propsito de uma ambgua distin-
o entre "eu" e "outro" nos fala mais sobre a viso de mundo kaxiriawa -
do que qualquer traduo mais ou menos literal ou satisfatria da palavra
nawa. !\polissemia dos conceitos-chave kaxinawa altamente produtiva
em comunicar um todo ontolgico englobante que faz da duplicidade eda
inerente mutabilidade dos seres vivos o eixo do seu modus vivendi.
47 Como exemplos podemos citar os Piaroa (Overing, 1988, 1989), Cubeo (Goldman,
1963), Arawet (Viveiros de Castro, 1992), Pirah (Gonalves, 1993, 1995), Aro-Fai
(Belaunde, 1992), Pemon (Thomas, 1982).
155
Você também pode gostar
- Panofsky Erwin - A Perspectiva Como Forma SimbolicaDocumento31 páginasPanofsky Erwin - A Perspectiva Como Forma SimbolicaYago Quiñones TrianaAinda não há avaliações
- Ingold, Tim - Contra o Espaço - Lugar, Movimento, ConhecimentoDocumento8 páginasIngold, Tim - Contra o Espaço - Lugar, Movimento, ConhecimentoYago Quiñones TrianaAinda não há avaliações
- Marinle Fabio - O Terraplanismo e o Apelo A Exériência Pessoal Como Critério EpistemológicoDocumento20 páginasMarinle Fabio - O Terraplanismo e o Apelo A Exériência Pessoal Como Critério EpistemológicoYago Quiñones TrianaAinda não há avaliações
- Cesarino Leticia Pós-Verdade e A Crise Do Sistema de PeritosDocumento24 páginasCesarino Leticia Pós-Verdade e A Crise Do Sistema de PeritosYago Quiñones TrianaAinda não há avaliações
- GOLDMAN, Marcio - O Dom e A Iniciação RevisitadosDocumento20 páginasGOLDMAN, Marcio - O Dom e A Iniciação RevisitadosYago Quiñones TrianaAinda não há avaliações
- VAN VELTHEM, Lucia - O Belo É A Fera. A Estética Da Produção e Da Predação Entre Os WayanaDocumento29 páginasVAN VELTHEM, Lucia - O Belo É A Fera. A Estética Da Produção e Da Predação Entre Os WayanaYago Quiñones Triana100% (1)
- Langdon Esther The Symbolic Efficacy of Rituals From Ritual To PerformanceDocumento44 páginasLangdon Esther The Symbolic Efficacy of Rituals From Ritual To PerformanceEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento13 páginasArtigoThiago PiresAinda não há avaliações
- Arma BrancaDocumento7 páginasArma BrancaM Moura SilvaAinda não há avaliações
- SEM FILTRO - As Melhores Cronica - Raiam SantosDocumento380 páginasSEM FILTRO - As Melhores Cronica - Raiam SantosGustavo Henrique100% (2)
- PDFDocumento408 páginasPDFFlavio Ribeiro Vieira AlmeidaAinda não há avaliações
- António de Oliveira SalazarDocumento21 páginasAntónio de Oliveira Salazarhccc000Ainda não há avaliações
- chk9 Questao Aula9Documento2 páginaschk9 Questao Aula9sofia estevesAinda não há avaliações
- Diario Oficial 27-12-13Documento32 páginasDiario Oficial 27-12-13fire2018Ainda não há avaliações
- Caso Concreto 02 (Tutela de Urgência)Documento3 páginasCaso Concreto 02 (Tutela de Urgência)Camila FriasAinda não há avaliações
- 150 Perguntas A Um Guerrilheiro (Alberto Bayo)Documento38 páginas150 Perguntas A Um Guerrilheiro (Alberto Bayo)Yuri MartinsAinda não há avaliações
- Lei 4950-A de 22-04-1966Documento1 páginaLei 4950-A de 22-04-1966BejittoSS2Ainda não há avaliações
- Lista 2 - Combinatória IiDocumento6 páginasLista 2 - Combinatória Iijoao carlosAinda não há avaliações
- Arquiteturas em Cenários Pós-GuerraDocumento366 páginasArquiteturas em Cenários Pós-GuerraSílviaAinda não há avaliações
- Aula 2. Genealogias História Medieval PDFDocumento84 páginasAula 2. Genealogias História Medieval PDFHenrique LustosaAinda não há avaliações
- Marxismo e CulturaDocumento21 páginasMarxismo e CulturaWAllaceAinda não há avaliações
- Estado de Defesa e Estado de Sítio - Aula e ExercícioDocumento3 páginasEstado de Defesa e Estado de Sítio - Aula e Exercíciojoao.garciaAinda não há avaliações
- 30º Aniversário Da Loja No GOBDocumento9 páginas30º Aniversário Da Loja No GOBREDAÇÃOAinda não há avaliações
- LEIC-202-2022 Plano DiretorDocumento3 páginasLEIC-202-2022 Plano DiretorDâmaris QuéziaAinda não há avaliações
- Noções de Segurança PublicaDocumento21 páginasNoções de Segurança PublicaaurelioAinda não há avaliações
- 2 Avaliação de História 2 Etapa2015Documento4 páginas2 Avaliação de História 2 Etapa2015Mirna CardosoAinda não há avaliações
- Tempo de Ser CépticoDocumento1 páginaTempo de Ser CépticoYann SèvegrandAinda não há avaliações
- TAV 2023 - Ana Soares de AlmeidaDocumento61 páginasTAV 2023 - Ana Soares de Almeidacarlos spencerAinda não há avaliações
- A Outra História Da Lava-Jato - Paulo Moreira LeiteDocumento323 páginasA Outra História Da Lava-Jato - Paulo Moreira LeiteMarcela Suelen FerreiraAinda não há avaliações
- Eu Sou Atlântica - Beatriz NascimentoDocumento2 páginasEu Sou Atlântica - Beatriz NascimentoCristiano Lucas Ferreira100% (1)
- Aula Modelos de Atenção À SaúdeDocumento4 páginasAula Modelos de Atenção À SaúdeAna CarolinaAinda não há avaliações
- Encantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaDocumento21 páginasEncantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaTxai Evan Brandao100% (1)
- Personagens Femininas Retrato Da Mulher PortuguesaDocumento10 páginasPersonagens Femininas Retrato Da Mulher PortuguesaCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Casa de MeninasDocumento418 páginasCasa de MeninasCarla GuillenAinda não há avaliações
- BR 04 Iii Serie Suplemento4 2010 PDFDocumento30 páginasBR 04 Iii Serie Suplemento4 2010 PDFEulalia JulioAinda não há avaliações
- ARRIGHI. A Ilusao Do Desenvolvimento - Pag 207-252Documento25 páginasARRIGHI. A Ilusao Do Desenvolvimento - Pag 207-252americpdf50% (2)
- 4º - Formação de Portugal - Ficha de TrabalhoDocumento2 páginas4º - Formação de Portugal - Ficha de TrabalhoEl Marina100% (2)