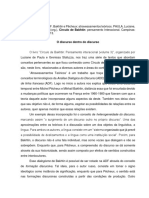Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Eu Te Amo - Análise de Música Do Chico
Eu Te Amo - Análise de Música Do Chico
Enviado por
Luísa TavaresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Eu Te Amo - Análise de Música Do Chico
Eu Te Amo - Análise de Música Do Chico
Enviado por
Luísa TavaresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos de Semitica Aplicada
Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Eu te amo cano de Tom Jobim e Chico Buarque
Eu te amo a song by Tom Jobim and Chico Buarque
Jos Roberto do Carmo Jr
Departamento de Lingstica - USP
Resumo: Este ensaio analisa a cano de Chico Buarque (letra)
e Tom Jobim (melodia),
observando o trabalho do poeta e do msico na criao de uma rede de compatibilidades entre
palavra e msica. A letra da cano apresenta-se como um texto passional, paradoxalmente
entretecido de argumentos que Perelman denomina quasi-lgicos; no texto meldico o gnero da
valsa, a forma do rond e a circularidade harmnica so alguns dos elementos que apresentam
ressonncias com a letra composta por Chico Buarque.
Palavras-chave: cano; plano da expresso; argumentao.
Abstract: This essay analyses Chico Buarque's and Tom Jobim's song by taking into account the
work of both the poet and the musician as a way to create an array of compatibilities between
lyrics and melody. The lyrics are presented as a passionate text paradoxically woven with so called
quasi-logic arguments (Perelman), whereas for the melody the waltz genre as well as the rondo
and the harmonic circularity are some of the elements found in resonance with Chico Buarque's
lyrics.
Key-words: song; expression plan; argumentation.
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Eu te amo
(Tom Jobim & Chico Buarque)
Ah, se j perdemos a noo da hora
Se juntos j jogamos tudo fora
Me conta agora como hei de partir
Se, ao te conhecer, dei pra sonhar fiz tantos desvarios
Rompi com o mundo, queimei meus navios
Me diz pra onde que inda posso ir
Se ns, nas travessuras das noites eternas
J confundimos tanto as nossas pernas
Diz com que pernas eu devo seguir
Se entornaste a nossa sorte pelo cho
Se na baguna do teu corao
Meu sangue errou de veia e se perdeu
Como, se na desordem do armrio embutido
Meu palet enlaa o teu vestido
E o meu sapato inda pisa no teu
Como, se nos amamos feitos dois pagos
Teus seios inda esto nas minhas mos
Me explica com que cara eu vou sair
No acho que ests s fazendo de conta
Te dei meus olhos pra tomares conta
Me conta agora como hei de partir
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Um sujeito transfigurado
Eu te amo est entre as grandes canes compostas por Tom Jobim e Chico Buarque, duas
das figuras definidoras do cancionista brasileiro, tal como o concebemos. Trata-se de uma cano
imersa num universo passional que, graas maestria dos autores, mostrado de forma pungente,
sem que com isso lhe seja negada a presena das sutilezas inerentes s relaes amorosas. So
essas sutilezas que, por tantas vezes, conferem s interaes passionais um carter paradoxal. Ao
trazer para o cerne dessa cano o tema da separao, os autores evidenciam a fora dos liames
que constroem uma relao de amor.
O narrador nos coloca dentro de um dilogo ao qual a figura do narratrio convocada a
todo o momento atravs do uso de imperativos, embora a voz desse narratrio nunca se faa
presente:
Me conta agora como hei de partir
Me diz pra onde que inda posso ir
Me explica com que cara eu vou sair
A despeito do tema, nota-se que o texto no est centralizado em paixes associadas ao
/querer/. Ao invs disso, encontramos a presena marcante, talvez dominante, de relaes
argumentativas muito particulares entre narrador e narratrio. De fato, parece que um dos sentidos
do texto emerge da relao de manipulao entre esses dois actantes, quando o primeiro afirma
valores de verdade tidos como necessrios para o segundo, como veremos adiante em mais
detalhes.
Em uma primeira aproximao, a cano nos apresenta um tema passional, tecido a partir
do emprego ostensivo de construes fundamentalmente argumentativas, em geral encontradas em
textos dissertativos. Tais argumentos quase-lgicos1 (PERELMAN,1984) nada mais so que uma
1
Os argumentos quase lgicos so aqueles que, pela sua estrutura, lembram os raciocnios formais. Estes parecem o resultado de um
esforo de preciso e de formalizao ao qual teriam sido submetidos os argumentos quase lgicos PERELMAN
C. Argumentao. In:
Enciclopdia Einaudi: Oral/Escrito. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, vol.11, 1984, p. 246 e seguintes.
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
manifestao discursiva de uma estrutura narrativa calcada no na modalidade do /querer/, mas na
modalidade do /no poder no ser/. Do ponto de vista da lgica narrativa, temos um sujeito na
iminncia da separao, da perda de um valor, ou seja, da transformao do estado de conjuno
com o objeto-valor para o estado de disjuno. No entanto, tal transformao no est consumada
e o sujeito, na iminncia de perder o objeto argumenta, ou seja, mostra amada a impossibilidade
da separao, ou, em outras palavras, a necessidade da conjuno entre sujeito e objeto. Segundo
Greimas (1979, p.96), o campo semntico da necessidade recoberto seja pelas modalidades
alticas (/no poder no ser/), seja pelas modalidades denticas (/dever ser/). Em nosso texto, o
sujeito no pode no estar em disjuno com o objeto, o que equivaleria a dizer que o sujeito deve
estar em conjuno com o objeto. Se essa configurao modal bastante comum em textos
passionais, o mesmo no se pode dizer a respeito da maneira utilizada pelo enunciador para
manifest-la no nvel discursivo. aqui que reside a originalidade do texto de Chico Buarque.
Em cada uma das estrofes, o sujeito segue perguntando: como possvel a separao?
Embora exista um /querer/ pressuposto no texto, o sujeito no lamenta explicitamente a separao,
manifestando cime, ou rancor. O que temos nessa cano antes uma demonstrao fundada no
/no poder no ser/, na necessidade da conjuno. Vejamos.Em cada uma das estrofes, compostas
de trs versos, temos ncleos argumentativos atravs dos quais o autor vai construindo o sentido
de necessidade que centraliza o texto. Essa demonstrao manifesta-se atravs daquilo que, em
lgica formal, chamamos de partculas indicadoras. Em cada uma das sete estrofes, com exceo
da ltima, est presente a partcula lgica se, que indica uma proposio antecedente. A ltima
estrofe, no entanto, no contm essa partcula. Trata-se de uma estrofe que funciona como uma
espcie de concluso lgica do poema, reforada pelo No inicial, e que pressupe um ento.
Assim:
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Se...
Se...
antecedente
Se...
Se...
Como, se...
Como, se...
conseqente
(ento) No...
Tal relao de necessidade, de /no poder no ser/, realada no nvel discursivo pelo uso
dos tempos verbais adequados relao de antecedncia ou conseqncia. Assim, a organizao
dos
tempos
verbaisi
obedece
um
esquema
regular
nas
primeiras
trs
estrofes
(passado/passado/futuro na primeira e passado/passado/presente na segunda e terceira), correlatos
organizao
lgica
(antecedente/antecedente/conseqente).
(passado/presente/futuro) e na stima e ltima
Na
sexta
estrofe
temos
(presente/passado/futuro), ambas igualmente
correlatas organizao lgica (antecedente/antecedente/conseqente). As estrofes quatro e cinco
apresentam, no entanto, uma temporalizao diferente, estando toda a quarta estrofe no passado
perfeito e toda a quinta estrofe no presente; justamente essas estrofes esto relacionadas entre si
pela relao de antecedente/conseqente, ou seja, no so mais os versos que apresentam uma
relao lgica entre si, mas antes as estrofes como um todo.
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Esse jogo com a relao antecedente/conseqente, e o sentido de necessidade que da
advm, conduzido no texto criado por Chico Buarque atravs de uma trajetria na qual cada
estrofe manifesta, figurativamente, uma faceta ou variao dessa modalidade. Ao privar-se de uma
srie de faculdades, o que temos um sujeito sem referncias que nada mais faz que reafirmar, a
todo o momento, o /no poder no ser/. Assim, o sujeito perde a referncia temporal (j perdemos
a noo da hora); a referncia espacial (Me diz pra onde que inda posso ir); a referncia tica
(...dei pra sonhar, fiz tantos desvarios); a referncia fsica (j confundimos tanto as nossas
pernas); a referncia visual (Te dei meus olhos pra tomares conta) e, o que nos parece uma
sntese de todo esse movimento, a referncia da individualidade (meu sangue errou de veia e se
perdeu). O que o narrador diz, notadamente nesse ltimo verso, que, ao perder o fluido vital,
deixou de existir como individualidade disjunta do objeto valor no h um sujeito separado do
objeto-valor, pois ele apenas se define como tal na conjuno entre os amantes. Aquele sujeito
sem meios, sem tica, sem identidade, sem viso, antes de no querer, no pode partir. Estamos
diante de uma impossibilidade.
H assim uma dupla transformao operando no sujeito:
a) de disjuno com o mundo (se ao te conhecer, rompi com o mundo) e com os atributos e
faculdades pessoais j citados;
b) de conjuno com o objeto-valor (j confundimos tanto as nossas pernas, te dei meus olhos
pra tomares conta, etc.).
Essa dupla transformao, que seria mais propriamente denominada transfigurao, acaba por
extinguir o primeiro sujeito e criar um segundo, agora fundido com o objeto-valor. Essa
transfigurao tematizada no nvel discursivo como uma fuso entre dois seres, figurativizada
em versos como:
Se juntos j jogamos...
J confundimos tanto...
Se na baguna do teu corao meu sangue...
Meu palet enlaa teu vestido...
...meu sapato inda pisa no teu
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
A identidade do narrador de Eu te amo se confunde, portanto, com a identidade do
narratrio, e essa transfigurao do sujeito constitui certamente um dos eixos do sentido desse
texto. Da a onipresena da necessidade ao longo de cada um de seus versos.
A paixo pode se revelar pelos mais variados meios e formas; para usar de uma
terminologia mais precisa, a paixo pode apresentar muitas variantes. Em Eu te amo, Chico
Buarque nos revela uma variante passional que toca o paradoxal. No temos aqui um sujeito
simplesmente atrado pelo objeto, mas um sujeito excessivo que se transmuta em objeto e,
correlativamente, um objeto que se transmuta em sujeito. O sujeito no pode separar-se do objeto,
porque a separao, aqui, sinnimo de auto-aniquilao: sujeito e objeto so uma s entidade, um
s ser, e o poeta no se limita em mostrar isso atravs de metforas, ele lana mo da fora de
argumentos demonstrativos, fazendo lgica e poesia co-habitarem na trama do texto.
Uma melodia desorientada
A melodia da cano Eu te amo apresenta algumas caractersticas bastante peculiares
quando pensada dentro dos quadros da MPB. Em primeiro lugar, trata-se de uma melodia lenta em
ritmo ternrio (3/4), ou seja, uma valsaii, sem dvida um dos gneros menos freqentados pela
MPB moderna. A valsa uma dana para casal, uma dana que pressupe o contato fsico dos
danarinos, uma vez que estes no se afastam durante toda a dana. Ela se constitui, por sua vez,
em passos regulares, sincronizados e idnticos para ambos os danarinos.
Assim, ao contrrio do tango, por exemplo, onde existem passos e movimentos complexos
e distintos para o homem e para a mulher, passos estes que pressupem um afastamento
momentneo entre os parceiros, na valsa, o que temos so movimentos absolutamente idnticos
entre si. Os danarinos, como que fundidos num s corpo, realizam um nico e mesmo
movimento. Temos assim um primeiro elemento formal do plano de expresso que se coaduna
perfeitamente com o teor do texto potico.
Outra caracterstica dessa cano o fato de ela se estruturar como um rondiii, ou seja, um
tema reiterado intercalado de variaes. De fato, o que se poderia denominar refro ou tema do
rond a melodia das estrofes mpares 1, 3, 5, e 7iv; enquanto as estrofes pares 2, 4 e 6 contm as
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
variaes contrastantes ao tema. Essas variaes, no entanto, so contrastantes somente no aspecto
meldico, posto que no aspecto rtmico a diviso permanece idntica ao refro. A relao entre
tema e episdio poderia ser esquematicamente representada como segue:
Refro (A)
Refro (A)
Refro (A)
Refro (A)
Variao
Variao
Variao
(A1)
(A2)
(A3)
Vale ressaltar que tal esquema de desenvolvimento meldico pouco propcio
organizao de um percurso narrativo, principalmente se considerarmos que aquilo que chamamos
de variao, ou seja, os episdios do rond, variam somente a melodia, mas no a diviso rtmica
que permanece idntica ao longo de toda a pea. Uma cano padrov contm um refro e uma
segunda parte contrastante, esta responsvel por todo e qualquer conflito ou antagonismo que se
apresente na pea. Essa parte contrastante costuma apresentar, em relao ao tema principal ou
refro, uma diversidade rtmica, meldica e harmnica criando, assim, um simulacro de
movimento ou de transformao propcio a narrar um acontecimento ou fato. Assim,
esquematicamente:
Refro (A)
Refro (A)
Segunda parte
contrastante (B)
ou ento,
Refro (A)
Refro (A)
Refro (A)
Segunda parte
contrastante (B)
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
Fato diverso ocorre com a cano que ora analisamos. No rond, como vimos, o refro ou
tema principal atua como uma espcie de centro de gravidade, para onde tendem, necessariamente,
os episdios (os temas contrastantes). H, pode-se dizer, um carter estrutural do rond que
carrega em si o elemento de necessidade, pois a reiterao acaba por criar uma lei: sabemos que o
refro necessariamente retornar aps cada um dos episdios, sejam estes quantos forem. Vamos
percebendo assim paralelismos sutis entre o contedo do texto verbal e a estrutura da melodia.
A circularidade do rond ainda mais evidenciada pela peculiar maneira como ritmo,
melodia e harmonia articulam-se nessa cano. Quanto aos elementos formais especficos da
melodia, podemos observar, em primeiro lugar, que aquilo que denominamos tema no se
apresenta como uma frase tonal tpica, ou seja, uma frase de oito compassos finalizando numa
cadncia que estabelece firmemente uma tonalidade. Ao contrrio, o motivo, que ocupa dois
compassos, repetido um tom abaixo em transposio absoluta. A repetio constitui uma
projeo do paradigma sobre o sintagma musical e, segundo Tatit (1994, p.74), seria uma das
caractersticas das melodias temticas. A repetio com transposio absoluta, por outro lado,
bastante incomum, seja na msica popular ou erudita, simplesmente porque no desencadeia
nenhum movimento meldico. Ao contrrio, funciona como uma espcie de interrogao que se
repete. Para ficarmos apenas num exemplo clssico, o preldio de Tristo e Isolda de Wagner
inicia-se com uma transposio absoluta. O tema meldico de Eu te amo repete o motivo trs
vezes, como se observa na figura abaixo:
per
Ah
--
J
Se
ho
ra
tos
Jun
Se
fo
De
ra
J
taa
Con
Me
mos
Tos
a
jo
Go
ho
No
ga
ra
jun
se
o
Mos
co
ra
jo
ga
Da
Tu
moei
mos
tu
Do
do
De
Par
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
A questo central que a tripla repetio em transposio absoluta cria muito pouco
movimento, pois para isto teria que existir uma meta e esta desfeita a cada reiterao. Inexistindo
um ponto de partida e um ponto de chegada ou de atrao meldica, inexiste movimento. Se
somarmos isso ao cromatismo que ocupa todo um compasso de cada tema, o efeito de sentido de
ausncia de orientao meldica, ou ento, de uma melodia que no sabe para onde ir, se que
possvel expressarmo-nos dessa maneiravi. Se o movimento reiterativo continuasse por mais alguns
compassos, o tema principal se reencontraria, uma oitava abaixo, criando a impresso de um giro
em torno de si mesmo. Isso na verdade ocorre com as notas fundamentais dos acordes empregados
no tema: d, si, si , l, l ...e assim descendentemente, uma nota aps a outra, em graus
conjuntos cromticos.
Esquematicamente, teramos algo similar a:
D
Si
Si
Mi
L
Mi
Sol
F
Sol
Observamos novamente uma reiterao, nesse caso, no do tema, mas a de uma estrutura
descendente de notas fundamentais da base harmnica que sustenta a cano. Por ser exaustiva tal
reiterao, cria o efeito de uma explorao de todas as possibilidades da escala cromtica. Vemos,
ento, que tambm no plano harmnico h uma indefinio o autor no escolhe alguns acordes
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
10
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
em detrimento de outros, mas antes usa todos os acordes possveis retratando no plano da
expresso meldica, o exame exaustivo de possibilidades que faz o enunciador no texto verbal.
Quanto aos episdios do rond (A1 A2 A2), estes atuam claramente como um
contraponto meldico e harmnico ao tema, mantendo, no entanto, intacta a figura rtmica
originria. Se no tema temos cromatismo, nos episdios temos diatonismo, saltos intervalares e
arpejos; enquanto no tema temos apenas um embrio de tonalidade, nos episdios temos uma
tonalidade claramente definida. Tudo indicaria, portanto, que estamos diante de um verdadeiro
contraste capaz de orientar um percurso. Entretanto, a estrutura do rond cerca o episdio e limita
o movimento que ali se esboa. A idia de cercar, limitar, restringir parece bastante apropriada
para representar o que ocorre entre o tema (o que cerca, domina) e o episdio (o que cercado,
dominado). Observe-se que a cano inicia-se com o tema que, por todas as caractersticas j
discutidas, se posta absoluto como um centro de gravidade. O episdio apresenta duas variantes,
sendo que a diferena entre ambas restringe-se fundamentalmente explorao do registro mais
grave na primeira e do registro mais agudo na segunda. Porm, devido maneira como se
intercalam tema e episdio, a melodia que comeara no tema, neste mesmo tema se resolve; tratase de um smile do que ocorre no texto onde o destino inexorvel do sujeito a conjuno com o
objeto.
Concluso: a emergncia do plano da expresso
A anlise de textos sincrticos como a cano ainda deixa a desejar porque, a despeito do
passo fundamental representado pela obra de Tatit (1994), o que sabemos sobre a organizao,
estrutura e hierarquia do plano do contedo infinitamente mais rico do que aquilo que
conhecemos sobre o plano da expresso. O caso da cano parece ser didtico: apesar de letra e
melodia terem cada qual seus planos de expresso e contedo, o papel de cada um desses bem
claro. O plano da expresso da letra pouco contribui para o sentido final do texto, cabendo
melodia tornar sensveis os contedos revestidos pela letra. Porm, o mais importante parece ser o
fato de que o desequilbrio entre o conhecimento sobre o verbal e o musical no um fenmeno
isolado e restrito cano, pois ele mascara, de fato, um descompasso entre a teoria do contedo e
a teoria da expresso. Em suma, o problema diz respeito ao desconhecimento que temos das leis e
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
11
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
princpios que governam o plano da expresso, de modo que qualquer semitica que no a verbal
parece ainda estar numa fase embrionria. Nesse sentido, a semitica da cano pode abrir as
portas para uma teoria do plano da expresso, principalmente se pensarmos no plano da expresso
de linguagens como a msica, o cinema, a poesia, etc.
Embora j esteja firmemente estabelecido um aparato terico para a anlise de alguns
aspectos da melodiavii, outros elementos estruturais da msica como o ritmo e a harmonia ainda
no receberam um tratamento semelhante; e exatamente nesses domnios que emergem questes
para as quais no encontramos respostas adequadas. Para ficarmos apenas num exemplo, a
reinterpretao de melodias antigas faz-se principalmente pela rearmonizao e reviso da diviso
rtmica. Temos msicas completamente transformadas e capazes de sugerir novos significados
com a melodia original deixada praticamente intacta. Parece, portanto, que para uma melhor
compreenso das relaes entre texto verbal e msica, nessa e em outras canes, h que se
procurar estabelecer os elementos mnimos de uma sintaxe e de uma semntica globais da msica
no mesmo nvel de profundidade e com o mesmo poder analtico com que o faz hoje a semitica
do texto verbal.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARROS, D.L.P. Teoria do discurso: fundamentos semiticos. So Paulo: Atual, 1988.
FIORIN, J.L. As astcias da enunciao: as categorias de pessoa, espao e tempo. SoPaulo:
tica, 1996.
GREIMAS, A. J. Pour une thorie des modalites . In: Greimas, A-J. Du sens II. Essais
smiotiques. Paris: Seuil, 1983, pp. 67-103.
PERELMAN, C. Argumentao. In: Enciclopdia Einaudi: Oral/Escrito. Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, vol.11, 1984, p. 234-265.
TATIT, L. Semitica da cano: melodia e letra. So Paulo: Ed
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
12
CASA Vol. 3.n.1, agosto de 2005
As marcas temporais de um texto nos so dadas, explicitamente, pelas desinncias verbais, pelos advrbios e pelos
diticos e, implicitamente, pelo contexto. Num verso como, Se juntos j jogamos tudo fora, o verbo sincretiza os tempos
passado/presente e o nico elemento que pode determinar as relaes temporais o contexto.
ii
Valsa um gnero de dana, lenta ou acelerada, que se caracteriza por apresentar um ritmo ternrio e um acorde por compasso.
iii
Rond uma forma de composio, normalmente instrumental, com uma parte recorrente. A forma padro ABACAD... A parte
recorrente chamada tema e as partes contrastantes episdios.
iv
A rigor, a melodia das estrofes 3, 5 e 7 uma transposio absoluta, uma quinta abaixo, da melodia da estrofe 1, fato que no
impede que sejam igualmente consideradas como tema.
v
Normalmente na forma ABA ou AABA, podendo assumir muitas variaes.
vi
Seria til compararmos esse movimento reiterativo com duas outras memorveis canes da MPB. Em Samba de uma nota s,
por exemplo, temos no refro a repetio da clula ritmo-meldica enquanto a sensao de movimento ou transformao
garantida pela variao na base harmnica. Em Samba em Preldio temos uma melodia temtica que mantm um padro rtmico,
sendo o movimento gerado pelas transformaes meldicas e harmnicas. O refro da cano que ora analisamos no apresenta tais
variaes e, por este motivo, cria o efeito, como dissemos, de uma melodia que no sabe para onde ir.
vii
TATIT, op.cit
http://www.fclar.unesp.br/grupos/casa/CASA-home.html
13
Você também pode gostar
- Progressoes de Acordes PDFDocumento32 páginasProgressoes de Acordes PDFHamilton Fernandes100% (8)
- Ebook Acordes Neo SoulDocumento30 páginasEbook Acordes Neo SoulDanny Hull89% (9)
- Literatura Na Escola 9º AnoDocumento22 páginasLiteratura Na Escola 9º AnoPati S. SilvaAinda não há avaliações
- Guitarra Jazz TeoriaDocumento25 páginasGuitarra Jazz TeoriaDaniel Bento100% (5)
- Análise de Conteúdo (Maria Laura Puglisi Barbosa Franco) Josiele....Documento39 páginasAnálise de Conteúdo (Maria Laura Puglisi Barbosa Franco) Josiele....Eliezer Alves81% (16)
- 3 Ano Ef Plano de Curso 2023 Anos Iniciais-V2001Documento149 páginas3 Ano Ef Plano de Curso 2023 Anos Iniciais-V2001André Gustavo100% (1)
- Atividade NOTÍCIA X REPORTAGEMDocumento6 páginasAtividade NOTÍCIA X REPORTAGEMAdriana RioAinda não há avaliações
- Diagrama em Branco de TecladoDocumento14 páginasDiagrama em Branco de TecladoDanny Hull100% (1)
- 1 Planejamento Anual 4º AnoDocumento71 páginas1 Planejamento Anual 4º Anodavis oliveira santosAinda não há avaliações
- Não Existe Regionalismo Literário (2020)Documento290 páginasNão Existe Regionalismo Literário (2020)Judith RiceAinda não há avaliações
- Alteridade - Cerqueira UfrgsDocumento213 páginasAlteridade - Cerqueira UfrgsMartaMendesAinda não há avaliações
- Andre Green O Silencio Do PsicanalistaDocumento26 páginasAndre Green O Silencio Do PsicanalistaMaria Fernanda FernandesAinda não há avaliações
- Dicionario de Acordes para Teclado e PiaDocumento13 páginasDicionario de Acordes para Teclado e PiaCris LeiteAinda não há avaliações
- Tensões Disponíveis e Evitadas em Acordes deDocumento1 páginaTensões Disponíveis e Evitadas em Acordes deDanny HullAinda não há avaliações
- Resumo de Código Da InteligênciaDocumento3 páginasResumo de Código Da InteligênciaDanny HullAinda não há avaliações
- A Revisão de Textos Numa Abordagem DiscursivaDocumento4 páginasA Revisão de Textos Numa Abordagem DiscursivaSonia Celia OliveiraAinda não há avaliações
- Educação Inclusiva: para Todos Ou para Cada Um? Paradoxos (In) ConvenientesDocumento280 páginasEducação Inclusiva: para Todos Ou para Cada Um? Paradoxos (In) ConvenientesPsicologia TurmaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Linguística IIDocumento6 páginasPlano de Ensino Linguística IIcarlos0912Ainda não há avaliações
- 012 Josiane Barbosa Gouvea PDFDocumento292 páginas012 Josiane Barbosa Gouvea PDFSamanta Borges PereiraAinda não há avaliações
- Por Uma Nova Abordagem Do Ensino de Língua PortuguesaDocumento55 páginasPor Uma Nova Abordagem Do Ensino de Língua PortuguesaLeonardo CorrêaAinda não há avaliações
- Discursividades em Movimento No Interrogatório de Suzane RichthofenDocumento18 páginasDiscursividades em Movimento No Interrogatório de Suzane RichthofenEvelin Mara Cáceres DanAinda não há avaliações
- A Articulação Do TextoDocumento3 páginasA Articulação Do TextoLucieni Santos100% (1)
- Xxiii-Anpoll-programacao - Produção Do Conhecimento em LetrasDocumento56 páginasXxiii-Anpoll-programacao - Produção Do Conhecimento em LetrasCharlesAinda não há avaliações
- Revista Da Educação Básica PDFDocumento393 páginasRevista Da Educação Básica PDFroberto pintoAinda não há avaliações
- Platô de Crítica Cultural Na Bahia: Por Um Roteiro de Trabalho Científico TransgressorDocumento21 páginasPlatô de Crítica Cultural Na Bahia: Por Um Roteiro de Trabalho Científico TransgressorCarlos Alexandre GuimaraesAinda não há avaliações
- Artigo Logica Da IroniaDocumento16 páginasArtigo Logica Da IroniaCamila BackesAinda não há avaliações
- Livro CINEMA E OUTRAS ARTES - Final PDFDocumento265 páginasLivro CINEMA E OUTRAS ARTES - Final PDFPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- CompletoDocumento68 páginasCompletoJuliana MatroneAinda não há avaliações
- Grigoletto, Tfouni - Imaginário e Identificação No Discurso Sobre Donald Trump Análise Do Funcionamento de Capas Das Revistas Exame e IstoéDocumento16 páginasGrigoletto, Tfouni - Imaginário e Identificação No Discurso Sobre Donald Trump Análise Do Funcionamento de Capas Das Revistas Exame e IstoéMatheus RibeiroAinda não há avaliações
- Linguagem e Realidade SocialDocumento9 páginasLinguagem e Realidade SocialMiriam CantagalliAinda não há avaliações
- Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia Limite de Alerta Ficção Científica em Atmosfera RarefeitaDocumento447 páginasAlfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia Limite de Alerta Ficção Científica em Atmosfera Rarefeitaandressa_marAinda não há avaliações
- Estudo Sobre o Conceito de Mediação e Sua Validade Como Categoria de Análise para Os Estudos de ComunicaçãoDocumento16 páginasEstudo Sobre o Conceito de Mediação e Sua Validade Como Categoria de Análise para Os Estudos de ComunicaçãoDuda BorgesAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Girleide Santos Da Silva MeloDocumento242 páginasDISSERTAÇÃO Girleide Santos Da Silva MeloRAFAELAinda não há avaliações
- As Toadas de Bumba-Meu-Boi Sociabilidades, Conflitos e AssociaçõesDocumento12 páginasAs Toadas de Bumba-Meu-Boi Sociabilidades, Conflitos e AssociaçõesMarcelo NicomedesAinda não há avaliações
- Bakhtin e Pêcheux: Atravessamentos Teóricos.Documento2 páginasBakhtin e Pêcheux: Atravessamentos Teóricos.Jahyr AlmeidaAinda não há avaliações
- A Ordem Do Discurso Escolar SommerDocumento13 páginasA Ordem Do Discurso Escolar SommerTelma TeixeiraAinda não há avaliações
- Analise Lacaniana Do DiscursoDocumento18 páginasAnalise Lacaniana Do Discursogabriella_gmoAinda não há avaliações