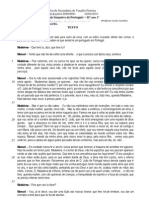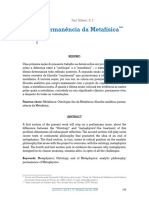Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sociologia Da Infancia Delgado
Sociologia Da Infancia Delgado
Enviado por
Inês PiedadeDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sociologia Da Infancia Delgado
Sociologia Da Infancia Delgado
Enviado por
Inês PiedadeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ana Cristina Coll Delgado & Fernanda Mller
APRESENTAO
SOCIOLOGIA DA INFNCIA:
PESQUISA COM CRIANAS*
ANA CRISTINA COLL DELGADO**
FERNANDA MLLER***
campo da sociologia da infncia tem ocupado um espao significativo no cenrio internacional,1 por propor o importante desafio
terico-metodolgico de considerar as crianas atores sociais plenos. Falar das crianas como atores sociais algo decorrente de um debate acerca dos conceitos de socializao no campo da sociologia. Corsaro
(1997, p. 18) afirma que a perspectiva sociolgica deve considerar no
s as adaptaes e internalizaes dos processos de socializao, mas tambm os processos de apropriao, reinveno e reproduo realizados pelas crianas. Essa viso de socializao considera a importncia do coletivo: como as crianas negociam, compartilham e criam culturas com os
adultos e com seus pares. Isso significa negar o conceito de criana como
receptculo passivo das doutrinas dos adultos (James & Prout, 1997).
Prout (2004, p. 3-4) sustenta a idia de que o encontro entre a
sociologia e a infncia marcado pela modernidade tardia2 e assim a sociologia da infncia encontra-se perante uma dupla misso: criar espao
para a infncia no discurso sociolgico e confrontar a complexidade e ambigidade da infncia na qualidade de fenmeno contemporneo e instvel. Ele aponta, portanto, dois dualismos do campo. Estrutura e ao: a
fundamentao da sociologia da infncia baseada na idia de que a infn-
Agradecemos imensamente a colaborao das professoras Ivany Pino e Ana Lcia Goulart de
Faria na reviso desta apresentao do dossi.
**
Doutora em Educao pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora adjunta do
Departamento de Educao e Cincias do Comportamento da Fundao Universidade Federal
do Rio Grande (FURG/RS). E-mail: anacoll@uol.com.br
***
Doutoranda do Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). E-mail: fernanda.muller@gmail.com
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
351
Sociologia da infncia: pesquisa com crianas
cia uma construo social abandona o reducionismo biolgico, substituindo-o pelo reducionismo sociolgico, o que o autor compreende como
algo problemtico. Ser e devir: o carter inacabado da vida dos adultos
to evidente quanto o das crianas. Assim, as crianas e os adultos devem
ser vistos como uma multiplicidade de seres em formao, incompletos e
dependentes, e preciso superar o mito da pessoa autnoma e independente, como se fosse possvel no pertencermos a uma complexa teia de
interdependncias.
Considerando tais dualismos o socilogo defende que necessrio
intensificar a interdisciplinaridade dos estudos da infncia, incluindo a
psicologia crtica, na procura de um dilogo que explore pontos em comum e diferenas, bem como um envolvimento com as cincias mdicas
e biolgicas. Para Prout (2004, p. 5) no h necessidade de separar arbitrariamente as crianas dos adultos, como se pertencessem a espcies diferentes, e ele prope o uso da metfora rede, baseado em Latour
(1993), sugerindo que a infncia pode ser vista como uma coleo de
ordens sociais diferentes, por vezes competitivas, outras vezes conflituosas.
Essas redes novas, segundo Prout (2004, p. 6), podem sobrepor-se e coexistir com outras mais antigas, mas tambm podem entrar em conflito
entre elas. por isso que uma das questes-chave reside em saber que
tipo de rede produz uma forma particular de infncia ou criana. Um
outro conceito que Prout (idem, ibid.) apresenta o de mobilidade, pois
para ele no possvel perceber a variedade e complexidade da infncia
sem nos centrarmos no movimento, ou nos fluxos que delineiam a relao entre global e local, entre grande e pequeno, entre o grandioso e o
mundano. Assim como as pessoas, as mobilidades transnacionais tambm
envolvem fluxo de produtos, informaes, valores e imagens com os quais
as crianas interagem diariamente. Os processos de socializao cada vez
mais complexos ocorrem a partir do momento em que as crianas de menor idade comeam a passar grande parte do seu tempo fora do contexto
familiar.
De forma geral, os socilogos da infncia compreendem a socializao de forma diferente do modelo vertical de imposio de
Durkheim. 3 Plaisance (2004, p. 3) critica a definio de educao de
Durkheim, como uma socializao baseada na ao dos adultos sobre
os mais jovens, de uma gerao sobre a outra, por este modelo ser profundamente impositivo. Neste sentido, para Plaisance (idem, p. 4) as
concepes contemporneas de socializao insistem na construo do
352
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Ana Cristina Coll Delgado & Fernanda Mller
ser social, por meio de mltiplas negociaes com seus prximos, e na
construo da identidade do sujeito. Do ponto de vista dessas concepes, a socializao um trabalho do ator socializado que experimenta
o mundo social. Esta noo de socializao identificada, entre os socilogos da infncia, como um modelo interativo, 4 e Corsaro (1997,
2003) defende os estudos com e no sobre as crianas. Ainda Jenks
(apud James & Prout, 1997, p. 13) assevera que a transformao social
da criana em adulto no segue diretamente o crescimento fsico, como
parece evidente no pensamento tradicional sobre a socializao, no
campo da sociologia.
Esta noo de socializao na sociologia da infncia estimula a
compreenso das crianas como atores capazes de criar e modificar culturas, embora inseridas no mundo adulto. Se as crianas interagem no
mundo adulto porque negociam, compartilham e criam culturas, necessitamos pensar em metodologias que realmente tenham como foco
suas vozes, olhares, experincias e pontos de vista. A pesquisa
etnogrfica com crianas uma possibilidade5 e Graue & Walsh (2003,
p. 22) defendem a importncia de que os investigadores pensem nas
crianas em contextos especficos, com experincias especficas e em situaes da vida real.
No Brasil temos um campo desenvolvido e legtimo de pesquisas
em educao da infncia6 e atualmente a sociologia da infncia conta com
alguns interlocutores brasileiros,7 que apresentaram algumas publicaes
na dcada de 1990. Ainda temos um longo caminho a trilhar no que se
refere consolidao da rea da sociologia da infncia no Brasil, o que
Quinteiro (2000, 2002a, 2002b) j constatou em publicaes recentes
acerca da emergncia de uma sociologia da infncia no pas.
Com este dossi pretendemos desafiar os estudiosos da infncia a
consolidarem um campo que j tem espao inaugurado nas discusses
acadmicas brasileiras. Tambm queremos apresentar pesquisas que defendem a escuta e enfocam as infncias8 e as culturas infantis, com base
em referenciais terico-metodolgicos desafiadores. Para os socilogos
da infncia importante considerar o ponto de vista das crianas nas
pesquisas, o que tambm exige certo abandono do olhar centrado no
ponto de vista do adulto. Compreendemos que h muitos desafios a
superarmos nas pesquisas com crianas. Bastide (1961, p. 153, prefcio) perguntava: O que somos ns, para as crianas que brincam ao
nosso redor, seno sombras?. Poderamos apontar entre as principais
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
353
Sociologia da infncia: pesquisa com crianas
dificuldades a ultrapassar nas pesquisas com crianas as que esto relacionadas :
1. Lgica adultocntrica9 Ser adulto implica aceitar a idia de
que para as crianas, por vezes, somos como os mveis da casa, parte
do cosmo exterior, no pertencemos a seu mundo, que tem seus prazeres e seus sofrimentos (idem, ibid.). Segundo Graue & Walsh (2003,
p. 17), os investigadores vem as crianas como janelas abertas para as
leis psicolgicas universais ou como indicadores dos efeitos de tratamento de dados. Negando esta concepo os autores defendem a importncia de que os investigadores pensem nas crianas nos seus contextos, nas suas experincias e em situaes da vida real. Graue & Walsh
(idem, p. 13) enfatizam que necessrio um interesse pelas crianas,
pelos modos como negociam e interagem em grupos, ou seja, o que se
passa entre elas, e no dentro delas. Procuramos os significados das
crianas e no dos adultos.
2. Entrada no campo Algumas pesquisas que retomamos neste
dossi nos ajudam, a partir de enfoques diferentes, a pensar nas aproximaes iniciais com as crianas e, mais do que isso, que elas so agentes
ativos, que constroem suas prprias culturas e contribuem para a produo do mundo adulto (Corsaro, 1997, p. 5). Corsaro (idem, p. 29)
sempre perseguiu nas suas pesquisas o que significa ser criana na escola.
Para isso, o autor utilizou o mtodo de entrada reativa no campo, que
consistia em entrar nas reas de brinquedo das crianas e ficar esperando
pelas suas reaes. Alderson (2000) enfatiza que as crianas devem tambm ser consideradas pesquisadoras nas investigaes orientadas pelos
adultos, mostrando, com base em alguns exemplos, o quanto crianas e
adolescentes so pesquisadores no seu cotidiano.
Para Graue & Walsh (2003, p. 10-11), o maior desafio dos investigadores das infncias o de descobrir: descobrir intelectualmente,
fisicamente e emocionalmente algo difcil quando se trata das crianas, pois a distncia fsica, social, cognitiva e poltica entre o adulto e a
criana tornam essa relao muito diferente das relaes entre adultos.
Os autores (idem, p. 21) ainda escrevem que muito mais fcil construir uma srie de argumentaes de como as crianas so, apelando
para a autoridade dos adultos ou aos campos do conhecimento que se
direcionaram s leis universais, excluindo os estudos das crianas nos
seus contextos.10 Descobrir, para estes pesquisadores, tambm tem
um significado de desafiar o que a cultura sabe, e o que quer saber, e
354
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Ana Cristina Coll Delgado & Fernanda Mller
exige procurar respostas em lugares que geralmente evitamos, por processos pouco conhecidos.
3. tica Em se tratando de pesquisas com crianas, a tica um
aspecto fundamental, pois inegvel que existe uma fora adulta baseada
no tamanho fsico, nas relaes de poder e nas decises arbitrrias. A dimenso tica (Alderson, 2000; Kramer, 2002) garante criana o direito
de consentir ou no em participar da pesquisa. O uso de fotografias ou
filmagem, as entrevistas com crianas e as anlises dos dados segundo um
ponto de vista adulto algo autoritrio. Podemos negociar com as crianas todos os aspectos e etapas das investigaes: a entrada no campo e
nossos objetivos, quais crianas querem realmente participar da pesquisa
e contribuir com a coleta de dados. Alderson (2000) convida-nos a entender que crianas tambm so produtoras de dados, e podemos negociar com elas a divulgao das informaes que obtemos nas pesquisas.
Igualmente podemos discutir com elas como podemos divulgar os dados
e como ofereceremos um retorno a partir dos resultados das pesquisas.
Para Graue & Walsh (2003, p. 13), informar os outros deve ser algo que
acontece logo no incio do processo de descoberta e no deve parar nunca, assim o comportamento tico est intimamente ligado atitude que
cada um leva para o campo de investigao e para a sua interpretao
pessoal dos fatos. Entendendo que entrar na vida das outras pessoas
tornar-se um intruso, faz-se necessrio obter permisso, que vai alm da
que dada sob formas de consentimento, e isso raramente feito com as
crianas.
Estas so algumas questes desafiadoras e que seguramente oferecem novas perspectivas no campo das pesquisas com crianas. Os artigos
que constituem este dossi ampliam esses desafios e tambm oferecem
outras abordagens reflexivas no campo da sociologia da infncia. Todos
so inditos no Brasil e foram escritos por pesquisadores com larga produo no campo. No conjunto dos textos encontramos pistas metodolgicas que valorizam as crianas e apontam formas diferentes de fazer cincia, envolvendo as crianas como protagonistas deste processo. Neste
sentido, apresentamos de forma resumida suas principais temticas divididas em dois blocos de textos.
O primeiro bloco problematiza eixos tericos conectados ao campo da sociologia da infncia. Manuel Jacinto Sarmento argumenta que a
sociologia da infncia entende a infncia como objeto sociolgico, resgatando-a das perspectivas biologistas e psicologizantes com base em duas
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
355
Sociologia da infncia: pesquisa com crianas
categorias sociolgicas que so a alteridade e os grupos geracionais.
Claude Javeau problematiza a delimitao das idades de crianas e jovens
em torno das noes de criana, infncia e crianas; esta ltima estaria ligada ao campo propriamente antropolgico ou socioantropolgico.
Suzanne Mollo-Bouvier tambm questiona a delimitao das concepes
de infncia, enfatizando a socializao da criana na qualidade de sujeito
social que participa de sua prpria socializao, mas tambm da reproduo e da transformao da sociedade. J Eric Plaisance indaga qual o
lugar que pode ocupar a questo da deficincia no quadro da sociologia
da infncia. O socilogo analisa a histria da infncia dita deficiente e as
evolues recentes, aps 1975, sobre a escolarizao procurando construir
hipteses complementares sobre a representao da criana portadora de
deficincia e a alteridade da criana com relao ao adulto.
O segundo conjunto de trabalhos igualmente se articula teoricamente sociologia da infncia, como tambm apresenta diretrizes
metodolgicas no trabalho com e sobre as crianas. Priscilla Alderson faz
uma reviso da literatura internacional, considerando trs reas principais: as etapas do processo de pesquisa, nos quais as crianas podem ser
envolvidas; os nveis de participao das crianas; e o uso de mtodos que
podem aumentar o envolvimento das crianas na pesquisa respeitando
seus direitos. William Corsaro apresenta sua pesquisa etnogrfica comparativa entre crianas pr-escolares nos Estados Unidos e na Itlia, focalizando a sua entrada no campo como membro participante; a abertura
do seu mtodo de coleta de dados para a entrada direta das crianas; e o
conceito de etnografia longitudinal, que tenta captar os perodos de transio-chave das vidas das crianas.
Patrick Rayou discute as estratgias metodolgicas que utilizou durante 12 anos em pesquisas sobre a socializao das crianas e dos jovens
com diferentes nveis de escolarizao, quando sempre se preocupou em
escapar do adultocentrismo. Clpatre Montandon desenvolve o estudo
da experincia das crianas e seus pontos de vista, com base em duas pesquisas: as experincias das crianas no quadro familiar e escolar e o desenvolvimento da autonomia das crianas. Marianne Gullestad argumenta que no se estudou suficientemente o lugar das recordaes da infncia
nos relatos autobiogrficos. As histrias de vida, as anlises da relao entre a narratividade e o social, o trabalho de memria e de textualizao
so fontes que se tornam essenciais para a compreenso das experincias
infantis, em particular para entender o ponto de vista das crianas. Por
356
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Ana Cristina Coll Delgado & Fernanda Mller
ltimo, Rgine Sirota apresenta sua investigao etnogrfica sobre os aniversrios na infncia, constatando que ocorre um trabalho de socializao
realizado por este ritual que rene, geralmente, crianas da mesma idade, assim como cada ator social (crianas, familiares, amigos) participa
da construo social desse ritual.
O conjunto destes textos certamente contribui nas pesquisas com
crianas, mas eles tambm indicam que nossos contextos histricos, sociais e culturais apresentam peculiaridades que devemos considerar em
nossas investigaes. No podemos ignorar que as pesquisas e os dados
analisados remetem realidade americana e europia. Entretanto, os estudos desenvolvidos provavelmente interessam aos educadores e pesquisadores da infncia no Brasil e o principal objetivo deste dossi ampliar as reflexes concernentes s pesquisas com foco nas crianas e suas
culturas, em vez de estabelecer comparaes. No Brasil temos um longo caminho a percorrer, no que se refere s pesquisas sobre e com as crianas, suas experincias e culturas. Provavelmente as crianas sabem
bem mais sobre os adultos e as instituies, embora ainda compreendamos pouco sobre suas idias acerca das pedagogias, ou sobre o que
elas pensam dos adultos e das escolas que criamos pensando nelas e nas
suas necessidades. Esperamos que esta publicao desencadeie novas
pesquisas e olhares sobre as experincias e o ponto de vista das crianas
no mundo contemporneo.
Notas
1.
Podemos citar algumas universidades e associaes: A Universidade do Minho/Portugal conta
com o Instituto de Estudos da Criana. Mais informaes podem ser obtidas no site: http://
www.iec.uminho.pt. Na International Sociological Association (http://www.ucm.es/info/isa/
rc53.htm) existe um grupo de pesquisa em sociologia da infncia, cujo principal objetivo
contribuir para a pesquisa sociolgica e interdisciplinar sobre a infncia. A Association
Internacionale des Sociologues de Langue Franaise (AISLF) (http://www.univ-tlse2.fr/aislf/
gt20) agrega atualmente um grupo de socilogos e pesquisadores no Grupo de Trabalho Sociologia da Infncia, criado em 2000 aps um congresso em Qubec (GT 20).
2.
Prout refere-se modernidade tardia com base em Bauman (1991).
3.
Para uma maior aproximao ao pensamento do autor, sugerimos Durkheim (1978, 1982,
1995).
4.
Em alguns textos encontramos outras nomenclaturas como interpretativo ou construtivo.
5.
Corsaro (1997, 2003) incorpora pesquisa etnogrfica um carter longitudinal. O autor considerou em algumas de suas pesquisas nos Estados Unidos e na Itlia a idia de acompanhamento de um grupo de crianas por longo tempo, tentando se apropriar de perodos de transio em suas vidas.
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
357
Sociologia da infncia: pesquisa com crianas
6.
Embora motivadas pelo estado da arte dos trabalhos no campo da sociologia da infncia, realizados por Sirota (2001) e Montandon (2001) em lngua inglesa e francesa, no nossa inteno inventariar a produo brasileira sobre infncia em conexo com a sociologia, como tambm com a educao, histria, psicologia, antropologia e outras reas. possvel consultar trabalhos individuais e de grupos de pesquisa, a partir do incio da dcada de 1990, em sites tais
como www.anped.org.br e www.scielo.br.
7.
Castro (1998, 2001); Kaufman & Rizzini (2002); Rizzini (2004); Quinteiro (2000,
2002a, 2002b); Sarmento & Cerisara (2004).
8.
James & Prout (1997, p. 8) elucidam alguns pontos que caracterizam um paradigma emergente da infncia. Ao afirmarem que o conceito de infncia no corresponde idia de imaturidade biolgica, os autores negam a idia de uma caracterstica natural e universal dos
grupos humanos, mas a consideram um componente estrutural e cultural de muitas sociedades. Assim, as anlises de diversas culturas revelam uma variedade de infncias em vez de
um fenmeno nico e universal. Logo, nosso texto considera esse conceito de James & Prout,
como tambm de Barbosa (2000, p. 84), que afirma: Falar de uma infncia universal como
unidade pode ser um equvoco ou um modo de encobrir uma realidade. Todavia uma certa
universalizao necessria para que se possa enfrentar a questo e refletir sobre ela, sendo
importante ter sempre presente que a infncia no singular, nem nica. A infncia plural: infncias.
9.
importante salientar que, nos anos de 1970, a pesquisadora brasileira Rosemberg (1976,
p. 1.466-1.471) j criticava a postura adultocntrica nos estudos sobre a criana, sobretudo
na psicologia.
10. Para os autores (Graue & Walsh, 2003, p. 30), investigar as crianas em contexto significa
considerar que as coisas que pretendemos descobrir esto situadas histrica, social e culturalmente. preciso considerar a natureza contextualizada do processo de investigao sujeitos, investigadores, o esforo desenvolvido (idem, p. 13-14). Eles defendem a necessidade de se realizarem estudos que localizem a experincia das crianas em contextos histricos
e culturais especficos.
Referncias bibliogrficas
ALDERSON, P. Children as researchers: the effects of participation
rights on research methodology. In: CHRISTENSEN, P.; JAMES, A. (Ed.).
Research with children: perspectives and practices. London: Falmer,
2000. p. 241-255.
BARBOSA, M.C.S. Por amor & por fora: rotinas na educao infantil.
2000. Tese (Doutorado) Faculdade de Educao, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. (verso digital).
BASTIDE, R. As trocinhas do Bom Retiro (prefcio). In: FERNANDES,
F. Folclore e mudana social na cidade de So Paulo. So Paulo: Anhembi,
1961.
BAUMAN, Z. Modernity and ambivalence. Cambridge, Mass: Polity, 1991.
358
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Ana Cristina Coll Delgado & Fernanda Mller
CASTRO, L.R. Infncia e adolescncia na cultura do consumo. Rio de Janeiro: NAU, 1998.
CASTRO, L.R. (Org.). Crianas e jovens na construo da cultura. Rio de
Janeiro: NAU; FAPERJ, 2001.
CORSARO, W. The sociology of childhood. California: Pine Forge, 1997.
CORSARO, W. Were friends, right?: inside kids cultures. Washington,
DC: Joseph Henry, 2003.
DURKHEIM, E. Educao e sociologia. So Paulo: Melhoramentos, 1978.
DURKHEIM, E. As regras do mtodo sociolgico. So Paulo: Nacional,
1982.
DURKHEIM, E. A evoluo pedaggica. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1995.
GRAUE, E.; WALSH, D. Investigao etnogrfica com crianas: teorias,
mtodos e tica. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003.
JAMES, A.; PROUT, A. A new paradigm for the sociology of childhood?: provenance, promise and problems. In: JAMES , A.; PROUT , A.
Constructing and reconstructing childhood. London: Falmer, 1997.
KAUFMAN, N.H.; RIZZINI, I. Globalization and children: exploring
potentials for enhancing opportunities in the lives of children and youth.
New York: Klumer Academic; Plenum, 2002.
KRAMER, S. Autoria e autorizao: questes ticas na pesquisa com crianas. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 116, p. 41-59, jul. 2002.
LATOUR, B. We have never been modern. Hemel Hempstead: Harvester
Wheatsheaf, 1993.
MONTANDON, C. Lducation du point de vue des enfants: um peu
blesss au fond du coeur... Paris: LHarmattan, 1997.
MONTANDON, C. Sociologia da infncia: balano dos trabalhos em lngua inglesa. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 112, p. 33-60, mar. 2001.
PLAISANCE, E. Para uma sociologia da pequena infncia. Educao &
Sociedade, Campinas, n. 86, p. 221-241, jan./abr. 2004.
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
359
Sociologia da infncia: pesquisa com crianas
PROUT, A. Reconsiderar a nova sociologia da infncia. Braga: Universidade do Minho; Instituto de Estudos da Criana, 2004. (texto digitado).
QUINTEIRO, J. Infncia e escola: uma relao marcada por preconceitos. 2000. Tese (doutorado) Faculdade de Educao. Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
QUINTEIRO, J. Infncia e educao no Brasil: um campo de estudo
em construo. In: FARIA, A.L.G.; DEMARTINI, Z.B.F.; PRADO, P. (Org.).
Por uma cultura da infncia: metodologias de pesquisa com crianas.
Campinas: Autores Associados, 2002a.
QUINTEIRO, J. Sobre a emergncia de uma sociologia da infncia: contribuies para o debate. Perspectiva, Florianpolis, v. 20, n. esp., p. 137162, jul./dez. 2002b.
RIZZINI, I. Infncia e globalizao: anlise das transformaes econmicas, polticas e sociais. Braga: Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criana, 2004. (texto digitado).
ROSEMBERG, F. Educao para quem? Cincia e Cultura, So Paulo,
v. 28, n. 12, p. 1466-1471, 1976.
SARMENTO, M.J.; CERISARA, A.B. Crianas e midos: perspectivas
sociopedaggicas da infncia e educao. Porto: Asa, 2004.
SIROTA, R. Emergncia de uma sociologia da infncia: evoluo do
objeto e do olhar. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 112, p. 7-31, mar.
2001.
360
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 351-360, Maio/Ago. 2005
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Você também pode gostar
- Check List para Projeto de PesquisaDocumento4 páginasCheck List para Projeto de PesquisaRafaela Barreto100% (2)
- Apometria 2 - Norberto Peixoto - Jardim Dos OrixasDocumento193 páginasApometria 2 - Norberto Peixoto - Jardim Dos OrixasCcasue Lagutrop50% (2)
- Frei Luis de Sousa Teste 11BDocumento6 páginasFrei Luis de Sousa Teste 11BAntónio Abelha100% (1)
- EMPIRISMODocumento18 páginasEMPIRISMOMarcelo InacioAinda não há avaliações
- Dilemas Éticos Vividos Pelos Enfermeiros Diante Da Ordem de Não ReanimaçãoDocumento7 páginasDilemas Éticos Vividos Pelos Enfermeiros Diante Da Ordem de Não ReanimaçãoMaria LuizaAinda não há avaliações
- Resumo Imagens Da Organização MORGANDocumento2 páginasResumo Imagens Da Organização MORGANRodrigo RibeiroAinda não há avaliações
- Hoevel, C. La Filosofía de La Liberación de Scannone: ¿Teología Pastoral o Teología-Política?Documento32 páginasHoevel, C. La Filosofía de La Liberación de Scannone: ¿Teología Pastoral o Teología-Política?José Leiva PuellesAinda não há avaliações
- Fundamentos Do Texto LiterarioDocumento144 páginasFundamentos Do Texto LiterarioRalney Fonseca100% (2)
- Chico Xavier (Neio Lucio) - Jesus No Lar PDFDocumento65 páginasChico Xavier (Neio Lucio) - Jesus No Lar PDFRilde Nunes de OliveiraAinda não há avaliações
- Historik 2: Entrevista Com o Professor Jörn RüsenDocumento31 páginasHistorik 2: Entrevista Com o Professor Jörn RüsenMarcello AssunçãoAinda não há avaliações
- O Dasein Como Ethos - Filosofia e Autoconhecimento - Gabriel FerrazDocumento29 páginasO Dasein Como Ethos - Filosofia e Autoconhecimento - Gabriel FerrazGabriel FerrazAinda não há avaliações
- Victa de Carvalho PDFDocumento14 páginasVicta de Carvalho PDFJordana FonsecaAinda não há avaliações
- Filosofia - O Que É FilosofiaDocumento77 páginasFilosofia - O Que É Filosofiaqimyabr100% (1)
- Miramez - Filosofia Espírita Vol 2Documento111 páginasMiramez - Filosofia Espírita Vol 2luizhtd100% (2)
- LógicaDocumento16 páginasLógicaAntonio Jose SilvaAinda não há avaliações
- Livro - Epistemologia e Educacao PDFDocumento284 páginasLivro - Epistemologia e Educacao PDFValéria Oliveira100% (5)
- Metodologia Científica (1) .PDF LivroDocumento138 páginasMetodologia Científica (1) .PDF Livrobru_bru2006100% (2)
- Curso Purificação - GasparettoDocumento7 páginasCurso Purificação - GasparettoHugo César Almeida100% (2)
- O Reflexo Na ÁguaDocumento8 páginasO Reflexo Na ÁguaDiana MendesAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - JOVCHELOVITCH, S. (2004) - Psicologia Social, Saber, Comunidade e CulturaDocumento10 páginasFICHAMENTO - JOVCHELOVITCH, S. (2004) - Psicologia Social, Saber, Comunidade e CulturaRegina TrindadeAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento3 páginasResenha CríticaGuilherme OliveiraAinda não há avaliações
- 2584-Texto Do Artigo-17457-1-10-20180525Documento54 páginas2584-Texto Do Artigo-17457-1-10-20180525joallan123Ainda não há avaliações
- Lista de LivrosDocumento5 páginasLista de LivrosSantana SantanaAinda não há avaliações
- 1-Manuscrito de Livro-2-1-10-20180310Documento88 páginas1-Manuscrito de Livro-2-1-10-20180310Vinicius FerreiraAinda não há avaliações
- Impacto Da Criatividade Na Época Da GlobalizaçãoDocumento12 páginasImpacto Da Criatividade Na Época Da GlobalizaçãoMateusAinda não há avaliações
- Enviando Por Email FIL - Silvia Cristina S StrakeDocumento138 páginasEnviando Por Email FIL - Silvia Cristina S Strakeattamebea100% (1)
- Paul Gilbert - Permanência Da MetafísicaDocumento16 páginasPaul Gilbert - Permanência Da MetafísicaCarlos WagnerAinda não há avaliações
- Livro Tu Me ConhecesDocumento43 páginasLivro Tu Me ConhecesLeohanna GomesAinda não há avaliações
- CEC16 10aa9ce912Documento60 páginasCEC16 10aa9ce912CIÊNCIA EM VÍDEO Carmen Lucia ArnosoAinda não há avaliações
- Rawls The Law of Peoples Part 2 PDFDocumento7 páginasRawls The Law of Peoples Part 2 PDFCharles FeldhausAinda não há avaliações