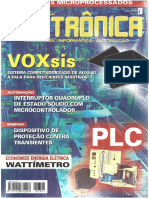Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
679 3234 1 PB
679 3234 1 PB
Enviado por
Rafael KielingTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
679 3234 1 PB
679 3234 1 PB
Enviado por
Rafael KielingDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ECOS
| Volume 1 | Nmero 1
Deleuze, Bergsonismo e
o cinema como um mundo
Deleuze, Bergsonism and the cinema
as a world
Kleber Lopes, Jameson Thiago Faria Silva, Tatiane de
Andrade
Resumo
A
crise
da
psicologia
se
d
quando
torna-se
impossvel
manter
o
dualismo
entre
as
imagens
(conscincia)
e
os
movimentos
(espao).
Henri
Bergson
subverte
a
fora
dessa
crise
ao
propor
teses
sobre
o
movimento,
usadas
por
Gilles
Deleuze
para
pensar
o
cinema.
Deleuze
constri
uma
taxonomia
das
imagens
ao
usar
o
cinema
para
colocar
novos
pontos
de
vista
sobre
tal
problemtica.
Prope
a
noo
de
plano
de
imanncia
e
distingue,
com
o
bergsonismo,
os
aspectos
materiais
da
subjetividade,
fazendo
a
montagem
cinematogrfica
equivaler
ao
agenciamento
das
imagens-movimento.
Apresenta,
desse
modo,
o
cinema
como
um
mundo.
Palavras-chave
Cinema;
imagem-movimento;
montagem.
Abstract
The
crisis
of
psychology
occurs
when
becomes
impossible
to
maintain
the
dualism
between
the
images
(consciousness)
and
movement
(space).
Henri
Bergson
subverts
the
power
of
this
crisis
by
proposing
theories
about
the
movement,
used
by
Gilles
Deleuze
to
think
the
cinema.
Deleuze
builds
a
taxonomy
of
images
using
the
cinema
to
bring
new
point
of
views
in
such
issues.
Proposes
the
notion
of
plane
of
immanence
and
differs,
with
bergsonism,
material
aspects
of
subjectivity,
making
the
cinematographic
montage
equivalent
to
the
agency
of
images-moviment.
Present
thus
the
cinema
as
a
world.
Keywords
Cinema;
image-movement;
montage.
Kleber
Lopes
Universidade
Federal
de
Sergipe
Professor
do
Departamento
de
Psicologia
e
do
Programa
de
Ps
Graduao
em
Psicologia
Social
da
Universidade
Federal
de
Sergipe.
kleber945@hotmail.com
Jameson
Thiago
Faria
Silva
Universidade
Federal
de
Sergipe
Graduando
do
curso
de
Psicologia
da
Universidade
Federal
de
Sergipe.
Bolsista
Pibic
em
2010/2011.
anciao_eldar@hotmail.com
Tatiane
de
Andrade
Universidade
Federal
de
Sergipe
Graduanda
do
curso
de
Psicologia
da
Universidade
Federal
de
Sergipe.
Bolsista
voluntrio
do
Pibic
em
2010/2011.
tatiandrade_86@hotmail.com
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
Introduo
As imagens na conscincia e os movimentos no espao. Esse o corte
operado pela psicologia para explicar a si mesma. Na conscincia, as
imagens inextensas, qualitativas. No espao, os corpos a se moverem
quantitativamente. O problema: como se passa de uma ordem para a outra?
Como o movimento no espao se torna uma imagem na conscincia,
maneira duma percepo, e como, inversamente, uma imagem mental se
torna movimento, como na ao voluntaria de escrever um texto? Invoca-se
o crebro para esta misso, dando-lhe o miraculoso poder de operar estas
mudanas de natureza. No se resolve o problema, contudo. Ao contrrio,
instala-se a uma guerra de trincheira entre o materialismo e o idealismo,
formalizando nesse campo de saber dualismos como entre imagem e
movimento, entre coisa e conscincia. A colocao deste problema foge ao
escopo da prpria filosofia. J o cinema fornece, a sua prpria maneira, as
evidncias duma conscincia-coisa, duma imagem-movimento, como dispe
Gilles Deleuze (2009).
No prlogo de Cinema 1: A imagem-movimento, Deleuze (2009) deixa
claro, logo de incio, que este muito mais um livro de lgica que um livro
sobre cinema. Uma taxionomia imagtica e signaltica que se referencia no
filsofo Charles S. Pierce. Mas este primeiro volume da obra trata dos
elementos de apenas um desses conjuntos, ficando a imagem-tempo como
objeto duma segunda parte do trabalho. Na primeira empreitada, Deleuze
faz parceria com seu conterrneo Henri Bergson para forjar o conceito que
d nome ao livro, usando-o para tratar da prpria imagem cinematogrfica,
colocando o autor de cinema no plano do artista o pintor, o arquiteto, o
msico mas tambm do pensador. O autor de cinema um pensador que
pensa no com conceitos, mas com imagens: imagens-tempo e imagens-
movimento. So destas ltimas que pretendemos tratar.
O movimento no o espao percorrido, mas o ato de percorrer. Se o
espao passado, o movimento presente. Se o espao divisvel
infinitesimalmente! o movimento no se divide sem que se torne, ele
mesmo, espao. Das trs teses de Bergson (1974) sobre o movimento, esta
a mais referenciada e embora ofusque as demais, no passa de introito a
elas. Outro modo de se enunciar esta tese seria o dito de que no se pode
reconstituir o movimento atravs de posies espaciais ou instantes
temporais, ambos recortes imveis do real. Se temos dois cortes a se
sucederem, sejam duas posies no espao, sejam dois instantes no tempo, o
movimento se far sempre entre os dois. E por mais que dividamos,
subdividamos, espartilhemos o espao-tempo, sempre perderemos o
movimento, pois este nunca se d numa coordenada abstrata, mas numa
durao concreta. Tudo isso corresponde ao que Bergson (2005) chama de
iluso cinematogrfica.
O cinema para Bergson (apud DELEUZE, 2009) ofereceria um
movimento falso. Sucedneo de cortes imveis. Diria Bergson que o cinema,
ao reconstituir o movimento, apenas reproduz o modo de funcionamento da
nossa percepo natural, pois sempre que intencionamos pensar, exprimir
ou somente perceber o movimento, fazemos cinema. Para Bergson, o cinema
no passaria de reproduo duma iluso constante e universal da
conscincia. Deleuze, adiante, usaria os escritos de Bergson para enxergar
no cinema uma potncia que o prprio Bergson no percebera em seu
pensamento, compondo desse modo o conceito de imagem-movimento.
106
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
Bergson e as teses sobre o movimento
Vinte e quatro imagens por segundo. Ao corte imvel do cinema,
chamamos fotograma. Mas o que o cinema nos revela no o fotograma,
mas uma imagem-mdia a qual acrescentaria movimento. No um
movimento abstrato resultante da sucesso de cortes imveis, mas um corte
mvel enquanto dado imediato da conscincia: uma imagem-movimento. A
noo de corte mvel ou imagem-movimento, como um para-alm da
percepo natural, foi trabalhada por Bergson em Matria e Memria
(BERGSON, 2006b), onze anos antes da publicao de Evoluo Criadora
(BERGSON, 2005). O que fez com que Bergson se esquecesse de seu genial
conceito, condenando ainda que sucintamente a produo
cinematogrfica, anos depois?
A novidade sempre surge num campo que ainda no a comporta,
devendo evidenciar de si as semelhanas com os demais elementos deste
conjunto, para dele no ser expulsa. O bergsonismo, ao invs de buscar o
eterno, coloca o problema da produo do novo. Bergson (2005) fala que o
carter de novidade imprevisvel, tpico dos viventes, no aparecia nos
organismos primordiais, visto que a vida, de incio, era obrigada a imitar a
matria. Deleuze (2009), do mesmo modo, diz que, na sua aurora, o cinema
era obrigado a imitar a percepo natural. A cmera fixa, o espao imvel e o
tempo abstrato. A emancipao do cinema da percepo natural se d pela
montagem e pela cmera mvel. A mquina de filmagem no mais se
confunde com a mquina de projeo. O plano espacial torna-se temporal. O
cinema deixa de representar a percepo natural e passa a corresponder
imagem-movimento bergsoniana. Recapitulao: uma crtica s tentativas
de reconstituio do movimento atravs de cortes imveis e temporalidades
abstratas (primeira tese sobre o movimento); uma crtica do cinema como
reproduo da percepo ilusria que temos do devir; e a apresentao dos
cortes mveis, planos temporais e imagem-movimento, que to bem
definem, para Deleuze, o cinema. Passemos segunda tese.
O erro, para Bergson, est em querer reconstituir o movimento
atravs de cortes imveis, instantes, posies. Mas ainda, em Evoluo
Criadora, Bergson (2005) distingue dois modos de se cair na iluso:
maneira antiga e maneira moderna. Na antiguidade, o movimento era
concebido como a passagem duma forma imvel e eterna para outra,
atravs de pontos privilegiados. J a m odernidade no lida com instantes
privilegiados, mas com o instante qualquer. No se trata mais duma
sntese inteligvel das poses formais transcendentes, mas duma anlise
sensvel dos cortes materiais imanentes. Deleuze nos apresenta seus
exemplos: a astronomia kepleriana, a lei dos corpos galileana, a
geometria cartesiana e o clculo newtoniano-leibniziano. O comum entre
todos a reconstituio do movimento pela sucesso mecnica, em
oposio antiga dialtica transcendente das poses. A cincia moderna
"deve se definir sobretudo pela sua aspirao de considerar o tempo
uma varivel independente (BERGSON, 2006a, p.41).
Deleuze (2009) coloca o cinema como um sistema que reconstitui o
movimento atravs duma sucesso de instantes quaisquer momentos
equidistantes que cria a impresso de movimento. Diz Deleuze que o
instante cinematogrfico no equivale a poses transcendentes ansiosas
por realizao, mas a pontos singulares pertencentes ao movimento
mesmo. O fotograma no uma foto acabada, mas uma imagem que est,
a todo o momento, se fazendo e se desfazendo. Eisenstein ( 2002) prope
a noo de "pattico" para seu cinema, quando leva uma cena ao seu
pice e a faz colidir com outra, desconstruindo a dimenso orgnica do
filme. Produz uma espcie de paroxismo, que corresponde a uma
107
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
Dialtica
moderna,
proposta
por
Eisenstein.
Nem
arte
nem
cincia,
nem
antiguidade
nem
m odernidade.
Seja
atravs
de
poses
transcendentes
ou
de
cortes
imanentes,
torna-se
impossvel
reconstituir
o
movimento,
porque,
em
ambos,
se
atribui
uma
totalidade,
enquanto
no
movimento
real
o
todo
no
dado.
Ao
lidar
com
o
movimento,
invocando
momentos,
deve-se
considerar
a
produo
da
novidade.
Assim
como
Bergson
recoloca
a
filosofia,
legando
cincia
uma
nova
metafsica,
Deleuze
se
utiliza
da
sua
segunda
tese
para
colocar
o
cinema,
no
como
um
reprodutor
de
iluses,
mas
como
modelo
de
uma
nova
realidade
artstica.
Por
fim,
a
terceira
tese:
assim
como
o
instante
um
corte
imvel
do
movimento,
o
movimento
um
corte
mvel
da
durao,
de
uma
totalidade.
O
movimento
a
mudana
nessa
durao
ou
totalidade.
O
clebre
exemplo
do
copo
de
gua
com
acar
(BERGSON,
2005)
nos
serve
nessa
problematizao.
Antes
de
tomar
a
soluo,
deve-se
esperar
que
o
acar
se
dissolva
por
completo.
Sentena
simples,
mas
no
simplria.
H
uma
passagem
qualitativa
da
gua-onde-h-acar
para
a
gua-com-acar,
movimento
que
exprime
uma
mudana
no
todo.
Se
agitarmos
a
gua
com
uma
colher
parecemos
to
somente
acelerar
o
movimento,
mas,
neste
gesto,
modificamos
a
totalidade,
incluindo
nela
a
colher,
sendo
este
novo
movimento
acelerado
uma
expresso
da
mudana
no
todo
(DELEUZE,
2009).
Se
no
plano
da
iluso
lidamos
com
cortes
imveis
e
a
impresso
de
movimento
decorrente
destes,
temos,
no
plano
do
real,
o
movimento
como
corte
mvel
a
exprimir
uma
mudana
qualitativa
no
todo.
Ao
se
esperar
o
copo
de
gua
com
acar
parar
de
reagir,
fica
expressa
uma
nova
realidade
espiritual,
uma
durao
concreta.
O
erro
da
cincia
moderna
e
dos
saberes
antigos
est
em
buscar
o
todo
no
plano
das
eternidades.
Muitos
so
os
que
afirmaram
a
impossibilidade
de
se
conhecer
o
todo,
o
que
se
desenvolve
na
sentena
de
que
o
todo
uma
noo
sem-sentido.
Mas,
para
Bergson
(apud
DELEUZE,
2009),
o
todo
impassvel
de
conhecimento
por
mudar,
inovar
e
durar
sem
cessar.
Se
um
vivente
uma
totalidade
tal
qual
um
mundo,
no
maneira
de
um
microcosmo
fechado
como
um
universo
dado
e
acabado,
mas
como
uma
abertura
ao
mundo,
sendo
ele
mesmo
tambm
aberto!
O
todo
relao
e
a
relao
no
uma
propriedade
dos
objetos,
mas
lhe
sempre
exterior.
O
todo
ou
os
todos
no
so
como
conjuntos.
Um
conjunto
fechado,
definido
e
artificial.
sempre
um
conjunto
de
partes.
O
copo
de
gua
um
conjunto:
a
gua,
o
copo,
a
colher.
Isto
no
o
todo,
mas
um
conjunto.
O
todo,
criao
incessante,
se
d
como
devir.
O
copo,
a
gua
e
a
colher
so
abstraes
do
todo,
recortadas
pelos
sentidos,
desvelando-se
em
forma
de
conscincia.
Este
recorte
artificial,
transformao
da
totalidade
aberta
num
sistema
fechado,
no
deve
ser
encarado
como
simples
iluso.
As
frmulas
da
primeira
tese
ganham
agora
um
novo
formato.
As
partes
de
um
conjunto
fechado
so
cortes
imveis,
sendo
os
estados
sucessivos
calculados
num
tempo
abstrato,
enquanto
a
abertura
da
totalidade
corresponde
ao
movimento
real
duma
durao
concreta,
sendo
os
movimentos
equivalentes
aos
cortes
mveis
que
atravessam
o
sistema
fechado.
No
se
vai
de
um
copo
com
gua
e
acar
a
um
copo
com
gua
aucarada
impunemente.
O
movimento
duplo.
Passa
por
entre
as
partes
e,
ao
mesmo
tempo,
exprime
o
todo.
Divide
a
durao
em
mltiplos
objetos
e
conjuntos,
e
os
rene
de
novo
na
durao.
Cai
a
ficha
sobre
a
profundeza
do
livro
Matria
e
Memria
(BERGSON,
2006b):
no
h,
apenas,
a
imagem
instantnea,
o
corte
imvel,
mas
imagem-movimento,
corte
mvel
da
durao,
numa
relao
de
mudana
para
alm
do
movimento
mesmo.
108
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
Enquadramento
e
decupagem
O
enquadramento1,
simplifica
Deleuze
(2009),
seria
a
determinao
de
um
sistema
fechado,
que
abarca
uma
imagem
e
tudo
o
que
nela
est
presente
cenrios,
objetos,
personagens
assim
como
um
conjunto
a
compreender
elementos
e
outros
subconjuntos.
Tais
elementos
so
como
dados
de
contedo
e
de
informao.
Por
vezes
numerosos,
saturados,
por
vezes
escassos,
rarefeitos.
A
saturao
e
a
rarefao
so
duas
tendncias
do
enquadramento.
Com
estes
dois
extremos,
aprendemos
que
a
imagem
no
apenas
visvel,
mas
tambm
legvel.
Se
muito
pouco
vemos
numa
imagem
porque
no
sabemos
l-la,
no
sabemos
bem
avaliar
sua
saturao
ou
sua
rarefao.
Jean-Luc
Godard
(apud
DELEUZE,
1992,
2009)
afirma
essa
condio
de
legibilidade
do
quadro.
Entende-o
como
superfcie
opaca
de
informao,
um
quadro-superfcie
ora
saturado
de
contedo
ora
equivalente
a
um
conjunto
vazio,
a
tela
branca
ou
negra.
Enquadrar
limitar.
Tal
limite
pode
ser
analisado
como
geomtrico-
matemtico,
que
tem
a
composio
do
espao
como
receptculo
no
qual
os
corpos
vem
ocupar,
ou
fsico-dinmico,
cujo
quadro
mantm
uma
dependncia
dinmica
das
cenas,
imagens,
personagens,
objetos
e
afins.
Com
esta
mesma
diviso,
podemos
classificar
o
quadro
quanto
s
partes
do
sistema
que
rene
e
separa.
Dentro
de
um
mesmo
quadro
temos
outros
quadros
diferentes
entre
si.
Conjuntos
e
subconjuntos.
Pessoas
e
coisas,
indivduos
e
multides,
potncias
da
natureza
e
tecnologias.
atravs
do
encaixe
destes
quadros
que
as
partes
do
conjunto
se
renem
e
se
separam,
conspiram
e
se
fecham
no
quadro
geomtrico.
O
quadro
dinmico,
por
sua
vez,
nos
induz
conjuntos
vagos
divididos
em
zonas.
No
mais
o
quadro
objeto
das
divises
geomtricas,
mas
de
gradaes
intensivas.
a
indissociao
entre
a
aurora
e
o
crepsculo,
o
cu
e
o
mar,
a
gua
e
a
terra.
Aqui,
o
conjunto
no
se
divide
em
partes
sem
"mudar
de
natureza".
No
se
trata
de
um
ser
divisvel
e
do
outro
ser
indivisvel,
mas
de
ambos
serem
"dividuais".
Indo
mais
alm,
diz
Deleuze
(2009)
que
a
tela
quadro
dos
quadros
d
uma
medida
comum
ao
que
no
a
tem.
A
paisagem
e
o
rosto
dum
personagem,
o
cu
estrelado
e
a
gota
da
chuva.
Partes
dessemelhantes
quanto
distncia,
relevo,
luminosidade,
mas
assemelhados
no
quadro,
que
assegura
uma
desterritorializao
da
imagem.
Uma
coisa
a
mais.
O
sistema
fechado
um
sistema
tico,
referente
a
um
ponto
de
vista
sobre
os
conjuntos
e
suas
partes.
Vez
e
outra,
estes
pontos
de
vista
parecem
extraordinrios,
sobre-humanos,
paradoxais:
vista
a
partir
do
cho,
de
cima
a
baixo,
cmera
ascendendo.
No
entanto,
tais
visadas
no
cinema
moderno
sempre
se
justificam
pragmaticamente,
informaticamente,
confirmando
a
funo
legvel
das
imagens
para
alm
da
sua
funo
visvel.
E,
por
fim,
ao
falar
em
visvel,
torna-se
necessria
a
noo
de
extracampo.
O
extracampo
faz
referncia
ao
que,
embora
presente,
no
se
v,
ouve
ou
perceptua.
O
quadro,
fala-nos
Bazin
(apud
DELEUZE,
2009),
realiza
um
corte
mvel
atravs
do
qual
os
conjuntos
se
comunicam
com
um
conjunto
maior,
mais
vasto.
Se
um
conjunto,
contudo,
se
comunica
com
seu
extracampo
atravs
de
suas
caractersticas
positivadas,
infere-se
que
um
sistema
fechado
por
mais
fechado
que
seja
nunca
suprime
o
extracampo,
atribuindo-lhe
existncia
e
importncia,
sua
maneira.
Todo
enquadramento
determina
um
extracampo,
necessariamente.
A
prpria
matria
se
define
por
este
duplo
movimento
de
constituir
sistemas
fechados
e,
ao
mesmo
tempo,
pelo
inacabamento
dessa
constituio.
Todo
sistema
fechado
comunicante.
O
conjunto
de
todos
os
conjuntos
uma
continuidade
homognea,
um
universo,
um
plano
material
ilimitado.
Mas
no
109
1
Enquadramento,
quadro,
decupagem
e
plano
so
termos
que
assumem
sentidos
variados
na
produo
de
cinema
e
udio-
visual
conforme
as
tendncias
das
escolas
de
montagem.
Aqui,
estes
termos
refletem
uma
apropriao
singular
de
Gilles
Deleuze
que
os
incorpora
s
terminologias
do
pensamento
de
Henri
Bergson.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
o todo. O todo o que impede cada conjunto de se fechar em si mesmo,
forando-o a se prolongar num conjunto maior e maior e ainda maior.
Verdadeiro fio a atravessar os conjuntos e lhes conferir a possibilidade de se
comunicarem entre si. o aberto remetendo mais ao tempo e ao esprito que
ao espao e sua matria. O extracampo, assim sendo, compreende duas
naturezas: uma relativa, no caso do sistema fechado que faz referncia a um
conjunto no enquadrado pela cmera, mas que pode vir a s-lo, arriscando
assim suscitar um novo conjunto no visto, ad infinitum; e uma absoluta, na
qual o sistema fechado se abre para o todo do universo. Deleuze (2009) usa a
metfora do fio grosso e do fio tnue para elucidar os aspectos do extracampo.
Quanto mais grosso for o fio que liga um conjunto visto a outros no-vistos,
melhor o extracampo cumpre sua primeira funo, que acrescentar espao
ao espao. Quanto mais fino o fio for, menos ele reforar o fechamento do
sistema e sua distino do exterior, realizando sua segunda funo, de
introduzir o transespacial no sistema.
Para Deleuze (2009), a decupagem o processo de determinao do
plano, sendo o plano a determinao do movimento no sistema fechado. O
todo o aberto, a durao. O movimento revela uma mudana no todo, uma
articulao na durao, sendo tanto relao entre partes, quanto afeco do
todo. Logo, o plano apresenta dois extremos: um em relao aos conjuntos
espaciais (modificaes relativas entre elementos e subconjuntos) e outro
em relao ao todo (alterao absoluta na durao). O plano intermedirio
do enquadramento dos conjuntos e da montagem do todo, ora tendendo a
um, ora a outro. A decupagem na dimenso do enquadramento opera a
mudana das partes dum conjunto no espao. J na dimenso da montagem
h uma mudana dum todo que se transforma no tempo.
Como tais divises e unies so operadas por uma conscincia,
podemos dizer do plano que ele age como uma. Mas a conscincia
cinematogrfica no nossa, a do espectador, nem a do mocinho na pelcula,
mas a da cmera. Humana, inumana, sobre-humana! atravs da cmera
que o movimento se decompe e volta a se recompor. Podemos, inclusive,
considerar certos movimentos como uma assinatura autoral, seja na
totalidade dum filme ou duma obra completa, ou num movimento relativo
duma imagem ou dum detalhe desta imagem. Essa anlise do movimento
um programa de pesquisa indissocivel da chamada anlise de autor.
Poderamos chamar a isto de estilstica, inclusive.
A grande sacada de Deleuze (2009) fazer equivaler o plano
cinematogrfico imagem-movimento bergsoniana; um corte mvel da
durao. Bergson (2005) demostrava seu desapreo pelo cinema, julgando-o
incapaz de movimento por lidar com um movimento ilusrio, homogneo e
abstrato ao suceder fotogramas. Mas o movimento puro, movimento de
movimentos, variando entre a decomposio e a recomposio, reporta-se tanto
aos conjuntos quanto ao todo aberto que muda e dura incessantemente. E
justamente isto que faz o plano cinematogrfico, ainda mais claramente que a
pintura, visto que esta traz relevo e perspectiva ao tempo, enquanto o cinema
exprime o prprio tempo como relevo e perspectiva. Como aponta Andr Bazin
(apud DELEUZE, 2009) o fotgrafo, por meio de sua mquina objetiva, registra
o movimento e o pe numa moldura. Mas o cinema no s registra o movimento
como se molda sobre ele, captando sua durao2.
Podemos nos perguntar como a imagem-movimento se constituiu e o
movimento se libertou dos elementos moventes? De duas formas: por um
lado, pela mobilidade que a cmera ganhou e cedeu, de tabela, para o plano,
que tambm se torna mvel; por outro lado, pelo raccord, corte que designa
tanto a mudana de plano quanto aos elementos de continuidade entre dois
ou mais planos (DELEUZE, 2009). Essas duas formas constituem a montagem.
no cinema moderno.
Deleuze (2009), citando LExprience Hrtique de Pasolini, coloca o
plano como uma unidade de movimento que compreende multiplicidades
110
2
No
cinema
primitivo,
o
quadro
definido
por
um
ponto
de
vista
nico.
O
espectador
a
visar
um
conjunto
invarivel,
no
havendo
comunicao
de
conjuntos
variveis
e
remetentes
uns
a
outros.
O
plano
indicava,
unicamente,
uma
poro
do
espao
a
certa
distncia
da
cmera,
estando
o
movimento
preso
aos
elementos
que
lhe
servem
de
carona.
Corte
imvel.
Por
fim,
o
todo,
aqui,
se
confunde
soma
de
todos
os
conjuntos,
estando
o
movente
passando,
apenas,
dum
plano
espacial
para
outro,
no
havendo
mudana
na
durao.
No
cinema
primitivo,
podemos
colocar
esta
mxima:
a
imagem
est
em
movimento
mas
no
h
imagem-movimento.
contra
este
cinema
que
Bergson
tece
as
suas
crticas.
O
fenmeno
do
intervalo
s
possvel
na
medida
em
que
a
matria,
ela
mesma,
comporta
tempo.
Falar
de
uma
imagem-
tempo,
no
entanto,
no
o
foco
deste
trabalho,
e
sim
a
imagem-
movimento
e
seus
trs
aspectos
materiais.
Essa
discusso
sobre
a
imagem
direta
do
tempo
trabalhada
por
Gilles
Deleuze
(2006)
em
Cinema
2:
a
imagem-tempo.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
que no o contradizem. Se o todo cinematogrfico um nico e mesmo
plano-sequncia contnuo, temos, por outro lado, que as partes desse
mesmo filme so planos descontnuos e sem ligao aparente. O todo
renuncia a sua idealidade unitria e se torna uma sntese realizada na
montagem das partes, partes estas que se coordenam, se cortam e se
recortam em ligaes que constituem o plano-sequncia virtual, o todo
analtico, o cinema.
Raccords imperceptveis, movimentos de cmera e planos-sequncia de
fato estabelecem uma continuidade a posteriori, o que nos mostra que o
todo de uma ordem para alm dos conjuntos coordenados, sendo aquilo
que impede os conjuntos de se fecharem entre si, ou mesmo de se fecharem
uns com os outros. O todo surge numa dimenso que muda sem cessar.
Dimenso do aberto que escapa aos conjuntos e seus elementos. Um
extracampo impossvel de se filmar. O recorte, longe de romper o todo, o
ato do mesmo, que atravessa os conjuntos e suas partes que, num
movimento inverso, renem-se num todo para alm deles.
Aspectos materiais da subjetividade:
percepo, afeco, ao!
Voltemos ao problema inicial, que colocava as imagens na conscincia,
os movimentos no espao, e nos perguntava como tais naturezas distintas
interagiam. Dois autores, por caminhos muito diversos, empreenderam a
tarefa de superar esta dualidade entre imagem e movimento: Husserl,
dizendo que toda conscincia conscincia de alguma coisa; e Bergson,
colocando que toda conscincia alguma coisa (DELEUZE, 2009). Como j
exposto, este problema no restrito aos domnios da filosofia, j que o
cinema nos fornece pistas para recoloc-lo.
As trs teses de Bergson sobre o movimento, que Deleuze (2009)
apresenta, clareiam a postura deste para com o cinema-iluso-de-
movimento. J Husserl nem tangencia o cinema em suas obras e mesmo
Sartre, ao fazer anlises de tipos vrios de imagem, no conclama a
imagem cinematogrfica. em Merleau-Ponty que vemos um dilogo
entre o cinema e a fenomenologia, ao dizer que o m ovimento p ercebido
e a percepo natural e suas condies so o plano de discusso da
fenomenologia no equivale a uma "Ideia", mas a uma forma sensvel,
uma "Gestalt", que organiza um campo perceptivo para uma conscincia
intencional. Diz Merleau-Ponty (1969) do cinema que, por mais que este
nos aproxime das coisas, suprime o "horizonte do m undo", a "ancoragem
do sujeito" no mundo, substituindo a percepo natural por uma
intencionalidade no plano do saber implcito. D iz, ainda, que no cinema
ao contrrio das outras artes o mundo que se torna imagem e no o
inverso; visa no uma imagem atravs do mundo, mas faz do prprio
mundo uma imagem, um irreal. O cinema, na voz de Merleau-Ponty,
contraria a percepo natural, sendo minimamente exaltado apenas no
que tange a sua capacidade de se aproximar do mundo. No sendo o
mundo, apenas se assemelharia a esse.
A denncia bergsoniana do cinema toma outro caminho. Para Bergson
(2005), se o movimento cinematogrfico no equivale ao movimento real
porque ele emula, justamente, a percepo natural. No a percepo natural
que Bergson toma como modelo do real, ao contrrio dos fenomenlogos, mas
antes um estado de coisas que no estado, mas mudana, fluxo sem qualquer
centro de referncia. a partir deste estado de mudana que, segundo Bergson,
deduzimos a percepo da conscincia, impondo ao fluxo do real uma vista
instantnea, fixa. o que Deleuze nos mostra atravs da sua reviso acerca do
primeiro captulo de Matria e Memria.
111
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
Imagem
tudo
aquilo
que
aparece.
E
toda
imagem
equivale
a
suas
aes
e
reaes,
no
cabendo
procurar
no
movimento
outra
coisa
alm
do
que
nele
j
se
mostra.
Da,
a
exposio
bergsoniana:
"Imagem
=
Movimento".
Um
tomo
uma
imagem,
visto
ser
um
conjunto
de
movimentos,
agindo
e
reagindo
sobre
imagens
outras.
Um
olho
uma
imagem,
e
faz
parte
de
um
corpo,
uma
outra
imagem.
Um
crebro,
idem.
Perguntamos
com
Bergson
(2006b)
como
pode
um
crebro
conter
as
imagens
do
mundo,
visto
ser
ele
uma
imagem
no
meio
de
tantas
outras?
Como
pensar
as
imagens
como
interiores
a
uma
conscincia,
se
um
vivente
uma
imagem,
um
movimento?
Como
ainda
falar
de
tomo,
de
olho,
de
crebro,
de
corpo,
de
"eu",
num
mundo
que
tem
como
nico
universal
a
mudana,
a
variao
e
o
descentramento?
Ao
conjunto
de
todas
as
imagens
conjunto
infinito,
este
Deleuze
e
Guattari
chamam
plano
de
imanncia,
plano
no
qual
a
imagem
existe
em-si,
visto
ser
idntica
ao
movimento
e
matria
(DELEUZE;
GUATTARI,
1992).
No
se
trata
de
um
materialismo
ou
de
um
mecanicismo,
visto
que
estes
implicam
sistemas
fechados,
finitos
e
independentes,
como
conjuntos
exteriores
uns
aos
outros,
dando-se
o
mesmo
com
seus
elementos.
O
plano
de
imanncia
movimento
que
se
estabelece
tanto
entre
os
elementos
dum
mesmo
conjunto
quanto
entre
conjuntos
diferentes,
impedindo-os
de
serem
fechados
em
absoluto.
Tal
plano
um
corte,
mas
no
o
corte
imvel
e
instantneo
do
mecanicismo,
e
sim
um
corte
mvel,
temporal.
Bloco
de
espao-tempo;
maquinismo,
no
mecanismo.
este
o
desdobramento
deleuziano:
o
universo
como
um
metacinema,
colocando,
atravs
do
bergsonismo,
uma
viso
totalmente
outra
da
que
o
prprio
Bergson
props
para
o
cinema.
No
plano
fenomenolgico,
a
conscincia
intencional
no
resiste
em
perguntar
sobre
as
"imagens
em
si",
imagens
que
no
precisam
de
ningum
para
existir.
Como
falar
de
imagem
sem
um
olho
que
a
veja?
importante
distinguir
coisa
e
imagem.
Nossa
percepo
gramatical,
lingustica
e
opera
atravs
de
corpos-substantivos,
qualidades-adjetivos
e
aes-verbos
(BERGSON,
2005;
DELEUZE,
2009).
As
aes
chorar,
correr,
brigar
traduzem
o
movimento
em
um
lugar
para
onde
este
se
dirige,
ou
do
resultado
que
este
produz.
J
as
qualidades
traduzem
o
movimento
por
um
estado,
um
bloco-estado
triste,
cansado,
nervoso
a
esperar
outro
bloco-
estado
para
substitu-lo.
Por
fim,
os
corpos
um
olho,
um
punho,
o
"Eu"
traduzem
o
movimento
como
um
sujeito
a
execut-lo,
um
objeto
a
sofr-lo
ou
um
movente
a
lhe
dar
carona.
Porm,
os
corpos-substantivos,
as
qualidades-adjetivos
e
as
aes-verbos
consistem
em
coisas,
no
em
movimento.
A
identidade
"imagem
=
movimento"
funda-se
na
identidade
"matria
=
luz",
que
Bergson
(2006c)
desenvolve
no
livro
Durao
e
Simultaneidade,
dedicado
relatividade
einsteniana.
Assim
como
Einstein
inverte
a
relao
entre
as
"linhas
de
luz"
e
as
"linhas
rgidas",
dizendo
que
a
figura
luminosa
que
se
impe
s
figuras
rgidas,
slidas
e
geomtricas,
Bergson
fala
da
imagem-movimento
como
imagem
em
si,
ainda
sem
um
corpo
ou
forma
a
lhe
revelar.
Os
blocos
de
espao-tempo
de
Deleuze
so
essas
figuras
de
luz,
a
propagarem-se
sobre
todo
o
plano
de
imanncia,
todo
o
universo
material.
Se
a
imagem
no
aparece
para
um
olho,
porque
a
figura
de
luz
ainda
no
se
refletiu,
se
rebateu,
redobrou-se
como
uma
imagem
cinematogrfica
sem
um
ecr
negro
sobre
o
qual
poderia
se
lanar
(BERGSON,
1974;
DELEUZE,
1999,
2009).
Rompe-se
com
a
tradio
filosfica
que
fazia
da
conscincia
a
luz
do
esclarecimento
a
banhar
o
mundo
e
as
coisas
deste.
Mesmo
a
fenomenologia
ainda
mantm
um
p
neste
circuito,
ao
dizer
que
toda
conscincia
conscincia
de
alguma
coisa.
Bergson
diz
do
contrrio.
So
as
coisas
que
so
luminosas
em
si
mesmas,
sendo
a
conscincia
uma
imagem
dentre
outras
a
servir
de
anteparo.
A
conscincia
alguma
coisa,
aqui,
no
sendo
ela
mesma
a
luz,
mas
o
conjunto
das
imagens,
j
luminosas
por
si.
A
luz,
o
olho,
a
fotografia
j
residem
nas
imagens.
A
conscincia
a
superfcie
opaca
sem
a
qual
a
luz,
o
olho,
a
fotografia
jamais
seriam
revelados.
Deleuze
marca,
112
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
assim, a gritante distino entre Bergson e o projeto fenomenolgico.
Imagens-movimento, figuras de luz, blocos de espao-tempo. Ao conjunto
destas linhas luminosas, chamamos plano de imanncia.
A interrogao que deve ser feita : o que que se passa e o que que
se pode passar nesse universo acentrado em que tudo reage sobre tudo?
(DELEUZE, 2009, p. 101). Para respond-la, Deleuze no introduz elementos
de outra natureza, visto que cairia no dualismo inicial do qual pretende se
distanciar. O que ocorre um intervalo, um hiato entre a ao e a reao.
Isso bastar para definir um tipo de imagem especial entre as outras, as
imagens-matrias vivas3. Imagens esquartejadas, esfaceladas, cheias das
faces e especializaes.
Sua face chamada receptiva, sensorial, isola algumas imagens e
excitaes recebidas dentre todas as imagens e excitaes do universo,
maneira duma percepo subtrativa, e deixam passar as aes exteriores
que lhe so indiferentes. As imagens isoladas tornam-se percepes
(DELEUZE, 1992, 2009). Configuram assim um enquadramento atravs de
reaes que no mais se sucedem aps a ao sofrida. Essas reaes so
lentas, com tempo suficiente para reorganizar seus elementos e
integrando-os no novo, que no pode ser concebido como simples
consequncia de uma excitao. U ma reao que se torna ao, devido ao
hiato temporal que cria condies para a produo da vida e dos
viventes (DELEUZE, 2009).
Se o plano de matria pura luz, as imagens vivas fazem o papel de
obstculo a impedir as imagens inanimadas de se propagarem
indefinidamente, em todas as direes. Uma opacidade a refletir a luz, a
foto, revelando-a. Da, chama-se precisamente percepo imagem
reflectida por uma imagem viva (DELEUZE, 2009, p. 102). A consequncia
mais imediata desta definio a criao dum sistema duplo de
referncia para as imagens: um, no qual cada imagem varia para ela
mesma (e todas as imagens agem e reagem umas sobre as outras, sobre
todas as suas faces e partes); e outro, em que todas as imagens variam
em funo de uma s (que recebe a ao dessas imagens em uma de
suas faces, e reage a ela numa outra). O crebro no pode ser
considerado um centro de imagens e no dele que devemos partir. ,
isto sim, uma imagem entre as outras, constituindo, no universo
acentrado, um centro de indeterminao.
Destarte, a coisa e a percepo da coisa no mantm uma relao
dualista, representativa, pois so a mesma imagem, s que reportada a um
ou outro dos dois sistemas de referncia: o sistema acentrado e o sistema
unicentrado. Ao ser definida assim, a percepo nunca projeta nada na coisa.
Ao contrrio, percebemos a coisa, menos o que no nos interessa, em
funo de nossas necessidades. Percepo que se d atravs duma face
receptora e especializada. Deleuze (2009) coloca esta subtratividade como o
primeiro momento material da subjetividade.
O cinema, nessa esquemtica, no tem como modelo a percepo
natural da fenomenologia, dada a mobilidade de seus centros atravs da
variao dos quadros e planos. Zonas acentradas e desenquadradas operam
o cinema, encontrando o primeiro regime das imagens, o da variao
universal, do universo acentrado, da percepo total, objetiva, difusa. Mas o
que nos interessa, por agora, a percepo subjetiva, unicentrada, que se
diferencia da totalidade objetiva por subtrao. ela o aspecto material
primeiro da imagem-movimento; esta, quando reportada a um centro de
indeterminao, torna-se imagem-percepo.
Tal centro recebe as excitaes interessantes em sua face privilegiada e
ignora o intil. Este detalhe nos avisa de um outro detalhe, o de que toda
percepo prenuncia uma reao retardada e imprevisvel desse centro. Se a
percepo o lado inicial do hiato, do desvio, a ao o outro. Se falamos de
113
3
O
fenmeno
do
intervalo
s
possvel
na
medida
em
que
a
matria,
ela
mesma,
comporta
tempo.
Falar
de
uma
imagem-
tempo,
no
entanto,
no
o
foco
deste
trabalho,
e
sim
a
imagem-
movimento
e
seus
trs
aspectos
materiais.
Essa
discusso
sobre
a
imagem
direta
do
tempo
trabalhada
por
Gilles
Deleuze
(2006)
em
Cinema
2:
a
imagem-tempo.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
imagem-percepo, a mesma j conclama uma imagem-ao. Toda
percepo no , somente, sensorial, mas sensrio-motora, j que o mundo,
ao se encurvar em torno da imagem viva, oferece-lhe a sua face utilizvel e,
no mesmo movimento, alguma re-ao mira utiliz-lo.
() ao percepcionar as coisas l onde elas esto, capto a aco virtual que
elas exercem sobre mim ao mesmo tempo que a aco possvel que eu
exero sobre elas, para me juntar a elas ou para fugir delas diminuindo ou
aumentando a distncia. portanto o mesmo fenmeno de desvio que se
exprime em termos de tempo na minha aco e em termos de espao na
minha percepo: quanto mais a reaco deixa de ser imediata e se torna
verdadeiramente aco possvel, mais a percepo se torna distante e
antecipante e atinge a ao virtual das coisas (DELEUZE, 2009, p, 106).
Eis
a
imagem-ao,
o
segundo
aspecto
material
da
subjetividade.
E
assim
como
a
percepo
substancializa
o
movimento
em
corpos,
a
ao
o
verbaliza
em
atos,
termos,
resultados.
O
hiato
no
se
resume
a
esses
dois
momentos,
que
so
apenas
suas
faces
limites.
Entre
os
dois,
h
um
algo,
um
misto
de
percepo
excitante
e
ao
embrionria,
um
intermdio
que
vem
ocupar
o
intervalo
mas
sem
o
preencher.
aqui
que
o
sujeito
se
confunde
com
o
objeto,
o
sente
e
se
sente
por
dentro.
Este
terceiro
aspecto
material
da
subjetividade
adjetiva
o
movimento,
reportando-o
a
qualidades,
a
vivncias.
Esse
entre
-
dois
a
afeco
(DELEUZE,
2009).
A
afeco,
aqui,
no
um
acidente,
um
simples
revs
do
movimento
percepo-ao.
Bergson
(2006)
fala
que
no
h
apenas
variao
de
grau
entre
a
percepo
e
a
afeco,
mas
sim
diferena
de
natureza.
A
afeco
como
uma
espcie
de
tendncia
motora
sobre
um
nervo
sensitivo
(BERGSON,
2006,
p.
57),
uma
rostidade,
a
estabelecer
relao
entre
o
movimento
recebido,
percepo,
input
e
o
movimento
executado,
ao,
output,
como
uma
liga,
uma
tessitura
a
transformar
movimentos
de
translao
em
movimentos
de
expresso,
expresso
de
qualidade,
de
tendncias,
de
esforo
(DELEUZE,
1999,
2009).
As
imagens-movimento
se
dividem
em
trs
tipos
de
imagens
quando
reportadas
a
um
ser
vivo,
uma
imagem
especial,
um
centro
de
indeterminao:
imagem-percepo,
imagem-ao
e
imagem-afeco.
Somos
o
que
somos
devido
ao
agenciamento
dessas
trs
imagens.
Com
efeito,
o
plano
das
imagens-movimento
um
corte
mvel
de
um
Todo
que
muda,
isto
,
de
uma
durao
ou
de
um
devir
universal
( DELEUZE,
2009,
p.
111).
E sse
p lano
se
a figura
c omo
u m
b loco
d e
e spao-tempo,
u ma
imagem
indireta
do
tempo
resultante
da
combinao
entre
as
trs
variedades
de
imagem,
fazendo
o
Todo
depender
de
uma
montagem
e
o
tempo
depender
de
uma
relao
de
imagens
de
outra
espcie
que
no
uma
imagem-tempo
pura4.
Raccords,
movimentos
de
cmera,
falsos
raccords.
So
trs
os
nveis
bergsonianos:
1. determinao
dos
sistemas
fechados
(um
enquadramento);
2. movimento
entre
as
partes
do
sistema
(a
decupagem);
3. o
todo
cambiante
que
se
exprime
no
movimento.
A
montagem
cinematogrfica,
logo,
equivale
determinao
do
Todo,
numa
operao
que
tem
por
objeto
as
imagens-movimento
para
extrair
delas
uma
imagem,
ainda
que
indireta,
do
tempo,
do
Todo,
da
ideia.
o
agenciamento
das
imagens-movimento
(DELEUZE,
2009).
Se
se
fala
em
escolas
de
montagem,
em
assinatura
autoral,
em
estilstica,
est
a
se
falar
de
diferentes
maneiras
de
conceber
o
todo
em
funo
do
movimento.
Deleuze
(2009)
nos
apresenta
quatro
tipos
de
montagem:
a
montagem
orgnica
do
cinema
americano;
a
montagem
114
4
Essa
discusso
sobre
a
imagem
direta
do
tempo
trabalhada
por
Gilles
Deleuze
(2006)
em
Cinema
2:
a
imagem-tempo.
ECOS | Estudos Contemporneos da Subjetividade | Volume 1 | Nmero 1
dialtica do cinema sovitico; a montagem quantitativa da escola francesa; e
a montagem expressionista da escola alem. pouco til erigir uma dessas
teorias ou prticas concretas como superior s outras, j que s podemos
falar em progressos dentro de cada um desses pensamentos.
O cinema filosofia e pensamento, tanto quanto uma tcnica, e o
progresso desta no determina as escolas, mas as supem. Assim, no d
para pensar a montagem paralela fora do plano americano, j que o cinema
sovitico lida com montagens de oposio, o expressionismo alemo com
uma montagem de contraste, e por a se vai. As formas de montagem
determinam o Todo, um todo orgnico, dialtico, matemtico, dinmico ou
outro que se invente. essa dana das imagens-movimento que devemos
interrogar, em suas variedades e suas duas faces: uma voltada para os
conjuntos e seus elementos; e a outra, quase sempre esquecida, para o todo
e suas mudanas. H a os modos de compor a vida que nos fazem tomar o
cinema como um mundo.
Sobre
o
artigo
Recebido:
20/07/2011
Aceito:
10/10/2011
Referncias
bibliogrficas
BERGSON, H. O pensamento e o movente - primeira parte. In: ______. Coleo
Os Pensadores. SP: Abril Cultural, 1974, p.105-118.
______. A Evoluo Criadora. SP: Martins Fontes, 2005.
______. Memria e Vida. Textos escolhidos por Gilles Deleuze. SP: Martins
Fontes, 2006a.
______. Matria e Memria. 3 edio. SP: Martins Fontes, 2006b.
______. Durao e Simultaneidade. SP: Martins Fontes, 2006c.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que a filosofia? RJ: Ed. 34, 1992.
DELEUZE, G. Trs questes sobre seis vezes dois. In: ______. Conversaes.
RJ: Ed. 34, 1992, pp. 51-61.
______. Bergsonismo. SP: Ed. 34, 1999.
______. Cinema 2 - a imagem-tempo. Lisboa: Editora Assrio & Alvim, 2006.
______. Cinema 1 - a imagem-movimento. Lisboa: Editora Assrio & Alvim,
2009.
EISENSTEIN, S. O Sentido do Filme. RJ: Jorge Zahar Editora, 2002.
MERLEAU-PONTY, M. O cinema e a nova psicologia. In: XAVIER, I. (org.). A
experincia do cinema. Rio de Janeiro: Graal, Embrafilme, 1983, p. 101-
117.
115
Você também pode gostar
- História Do Celular - PrincipaisDocumento16 páginasHistória Do Celular - PrincipaisNayara PaulaAinda não há avaliações
- PLANO DE AULA - AVD - CozinhaDocumento3 páginasPLANO DE AULA - AVD - Cozinhamcfrodrigues0% (1)
- Dimensionamento Medidor de GásDocumento6 páginasDimensionamento Medidor de GásWagner Santa CruzAinda não há avaliações
- Unidade 6 - 2017-2019Documento13 páginasUnidade 6 - 2017-2019twikinight888Ainda não há avaliações
- V5 Ficha de CoterieDocumento1 páginaV5 Ficha de CoterieDavi Gonçalves100% (1)
- Carta Folha de Funcionario - Santander PDFDocumento1 páginaCarta Folha de Funcionario - Santander PDFandriauegAinda não há avaliações
- 2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADADocumento47 páginas2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADACláudia OliveiraAinda não há avaliações
- Rito para o BatismoDocumento9 páginasRito para o Batismo193CiaET 3BPM14RPMAinda não há avaliações
- Diretório Da Catequese 2016 OficialDocumento104 páginasDiretório Da Catequese 2016 OficialLeonardo CamargoAinda não há avaliações
- Exemplo de Relatório de Estágio PsicologiaDocumento4 páginasExemplo de Relatório de Estágio PsicologiaJoellen Galvão100% (1)
- 3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaDocumento1 página3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaAline BackupAinda não há avaliações
- Aula Química 1 SemanaDocumento5 páginasAula Química 1 Semanamarcio galvaoAinda não há avaliações
- Introducao A QuimiometriaDocumento11 páginasIntroducao A QuimiometriaMarli CorreaAinda não há avaliações
- O Codigo Maia PDFDocumento18 páginasO Codigo Maia PDFDavid CaripunasAinda não há avaliações
- PROF YASMIN Conteúdo AdaptadoDocumento2 páginasPROF YASMIN Conteúdo Adaptadoeduardo machadoAinda não há avaliações
- Apanhado de Dicas Sobre Fotografia - 154pgsDocumento154 páginasApanhado de Dicas Sobre Fotografia - 154pgsCris DutraAinda não há avaliações
- 21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfDocumento23 páginas21edb704-1681-40a6-a7c4-87f39a10f1cfThiago SaraivaAinda não há avaliações
- Apostila Relações Humanas e EticaDocumento44 páginasApostila Relações Humanas e EticaLHMatudaAinda não há avaliações
- Administração e Economia para Engenheiros: Conteúdo - Aula 1 ContextualizaçãoDocumento10 páginasAdministração e Economia para Engenheiros: Conteúdo - Aula 1 ContextualizaçãoJhonata CavalcanteAinda não há avaliações
- Gabarito PROVA 602 - Soldado Polícia Militar PRDocumento15 páginasGabarito PROVA 602 - Soldado Polícia Militar PRRafael DuarteAinda não há avaliações
- Alá Funfun: Experiências e Saberes No Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, em Itabuna-BaDocumento15 páginasAlá Funfun: Experiências e Saberes No Ilê Axé Ijexá Orixá Olufon, em Itabuna-BatutmoshAinda não há avaliações
- EntrevistaDocumento5 páginasEntrevistafernandokeven.psiAinda não há avaliações
- Campanha Jejum de DanielDocumento3 páginasCampanha Jejum de Danielra06na16Ainda não há avaliações
- Cópia de PPP Feira de Ciências 2023Documento14 páginasCópia de PPP Feira de Ciências 2023MariaAinda não há avaliações
- Tese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisDocumento86 páginasTese-Arthur-Avelar - 05-05 Avaliação de Imóveis RuraisJONAS MAURICIO BERTOLDO OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Estudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteDocumento20 páginasEstudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteyirerAinda não há avaliações
- Portfolio 3º SemestreDocumento10 páginasPortfolio 3º SemestreGlaise DutraAinda não há avaliações
- SE341Documento84 páginasSE341g30.miranda100% (1)
- Relatorio 5 - Preparação Do Ác. Adipico A Partir Do Ciclo-ExenoDocumento3 páginasRelatorio 5 - Preparação Do Ác. Adipico A Partir Do Ciclo-ExenoFelipe LameferAinda não há avaliações
- Apost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaDocumento56 páginasApost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaJoão Wanderley MartinsAinda não há avaliações