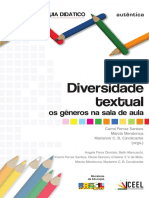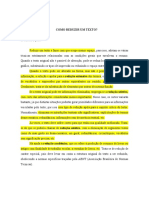Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 Fasee
1 Fasee
Enviado por
Aline MoraisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 Fasee
1 Fasee
Enviado por
Aline MoraisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 Fase
Questes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Colaboradores
ALEX ANTONELLI
ANGELA BORGES MARTINS
ANTONIO CARLOS DO PATROCINIO
ANTONIO CARLOS VITTE
ANTONIO MANOEL MANSANARES
CLAUDETE DE CASTRO SILVA VITTE
CRISTINA MENEGUELLO
EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA
FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE
FRANCISCO DE ASSIS M GOMES NETO
IARA LIS FRANCO SCHIAVINATTO C. SOUZA
IZABEL ANDRADE MARSON
JEFFERSON CANO
JOSE DE ALENCAR SIMONI
KATIA LUCHERI CAVALCA DEDINI
LAURECIR GOMES
MARCIA REGINA CAPELARI NAXARA
MARIA CRISTINA CINTRA G. MARCONDES
MARIA ELISA Q. P. MARTINS
MARIA VIVIANE VERAS C. PINTO
MATILDE VIRGINIA RICARDI SCARAMUCCI
MATTHIEU TUBINO
MAURICIO URBAN KLEINKE
PAULO ROBERTO OTTONI
PETER ALEXANDER BLEINROTH SCHULZ
PLAMEN EMILOV KOCHLOUKOV
RAQUEL RODRIGUES CALDAS
TEREZINHA DE JESUS MACHADO MAHER
Cidade Universitria Zeferino Vaz
Baro Geraldo - Campinas - SP - CEP 13083-970
Tel: (19) 3289 3130 - 3788 7440 - 3788 7665
Fax: (19) 3289 4070
www.comvest.unicamp.br
csocial@comvest.unicamp.br
1 Fase
INTRODUO
Como em anos anteriores, trazemos nesta publicao as trs propostas da prova
de redao 2004 comentadas pela banca examinadora, acompanhadas por
redaes selecionadas para discutir e ilustrar importantes aspectos da correo.
Pretendemos, desta forma, oferecer um material que, juntamente com o programa
que consta do manual do candidato e publicaes anteriores, possa ser utilizado
por professores e candidatos para uma compreenso mais profunda dos aspectos
da prova e de sua correo, com benefcios para a preparao que a antecede.
A prova de redao da Unicamp vem seguindo basicamente um mesmo formato
desde 1987 e um observador atento poder perceber que as mudanas efetuadas
ao longo dos anos foram mnimas e insuficientes para alterar a concepo de
leitura, de escrita e de linguagem que a fundamentam. Apesar de a prova estar em
uso h 17 anos e de muitos professores estarem familiarizados com seus conceitos,
ainda observam-se prticas de ensino que, ao invs de trabalharem os processos
de ler e escrever, limitam-se a apresentar aos alunos estratgias ou frmulas que,
no entender de seus proponentes, so suficientes para um bom desempenho
na prova. Esses comportamentos demonstram conhecimentos equivocados dos
conceitos envolvidos, uma vez que, dada a natureza da prova, essas estratgias
raramente so bem sucedidas.
Como elaboradores deste exame, acreditamos ser nossa responsabilidade fazer
com que cheguem at os professores e candidatos, os conceitos sobre a prova
e sua correo da forma mais completa e detalhada possvel. Esta publicao,
portanto, uma oportunidade mpar para estabelecermos esse dilogo, visando
esclarecer aspectos fundamentais relativos a nossa compreenso dos processos
de leitura e escrita de textos, de forma a manter este exame enquanto um
instrumento potencial de mudanas e no apenas de seleo.
Apresentamos, na prxima seo, a prova de redao 2004. Em seguida,
na segunda seo, focalizamos alguns aspectos salientes da prova, mais
especificamente relacionados estrutura e concepo da coletnea, enquanto
na terceira, discutimos cada uma das trs propostas. Finalmente, na ltima seo,
redaes de nveis distintos so comentadas com base nos critrios utilizados na
correo.
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
1. A PROVA DE REDAO 2004
ORIENTAO GERAL: LEIA ATENTAMENTE.
Proposta:
Escolha uma das trs propostas para a redao (dissertao, narrao
ou carta) e assinale sua escolha no alto da pgina de resposta. Cada
proposta faz um recorte do tema geral da prova (CIDADE), que deve ser
trabalhado de acordo com as instrues especficas.
Coletnea:
um conjunto de textos de natureza diversa que serve de subsdio para
a sua redao. Sugerimos que voc leia toda a coletnea e selecione os
elementos que julgar pertinentes para a realizao da proposta escolhida.
Um bom aproveitamento da coletnea no significa referncia a todos
os textos. Esperamos, isso sim, que os elementos selecionados sejam
articulados com a sua experincia de leitura e reflexo. Se desejar, voc
pode valer-se tambm de elementos presentes nos enunciados das
questes da prova. ATENO: a coletnea nica e vlida para as trs
propostas.
ATENO Sua redao ser anulada se voc :
a) fugir ao recorte do tema da proposta escolhida; b) desconsiderar a
coletnea; c) no atender ao tipo de texto da proposta escolhida.
APRESENTAO DA COLETNEA
A cidade um lugar significativo da experincia humana. Ela tem sido objeto de
reflexo de gegrafos, urbanistas, historiadores, profissionais da sade, estudiosos
da linguagem, filsofos, engenheiros, matemticos, artistas, enfim, de muitos
profissionais que procuram entender seu funcionamento. Ao atrair tantas e to
variadas atenes, a cidade mostra-se complexa e multifacetada.
COLETNEA
1. No primeiro sinal verde aps o relgio do canteiro central marcar 12h40min,
cerca de cem pessoas atravessaram a Avenida Paulista, na altura da Rua Augusta.
De repente, tiraram um sapato, bateram com o solado repetidas vezes no cho,
calaram-no novamente e seguiram seu caminho. Um novo tipo de manifestao
poltica? Longe disso. O que a Paulista viu foi a primeira flash mob (multido
instantnea) brasileira. O fenmeno, mania na Europa e nos Estados Unidos,
consiste em reunir o maior nmero de pessoas no menor tempo possvel por e-mail e celular - para fazer alguma coisa estranha simultaneamente. Os
nova-iorquinos j invadiram uma loja e gritaram em frente a um dinossauro de
brinquedo. Na verso brasileira, ficou decidido tirar o sapato e bat-lo no cho,
como que para tirar areia de dentro. (Adaptado de Anglica Freitas, 40 segundos
de frenesi na Paulista. Flash Mob chega a So Paulo, Estado de S.Paulo, 14 de agosto de
2003).
2. No produtivo ano de 1979, o grupo encapuzou, com sacos de lixo, as esttuas
da cidade, visando chamar a ateno das pessoas que nunca, ou quase nunca,
reparavam em seu dia-a-dia as obras de arte em nossa cidade. Na manh seguinte,
a imprensa registrou o fato. No mesmo ano vedaram as portas das principais
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
galerias [de lojas] com um X em fita crepe, deixando um bilhete em cada uma: O
que est dentro fica, o que est fora se expande. Em 1980, o grupo, em mais
uma ao noturna, estendeu 100 metros de plstico vermelho pelos cruzamentos
e entradas no anel virio da Avenida Paulista com rua Consolao. O Detran,
porm, desmontava essa e outras aes do grupo, que realizou uma srie de 18
intervenes pela cidade at 1982, quando dissolveu-se. (Adaptado de Celso Gitahy,
Graffiteiros passo a passo rumo virada do milnio, Revista do Patrimnio Histrico, 2,
n. 3, 1995, p. 30).
3. O Mapa
Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo
( nem que fosse o meu corpo.)
Sinto uma dor infinita
Das ruas de Porto Alegre
Onde jamais passarei.
H tanta esquina esquisita,
Tanta nuana de paredes,
H tanta moa bonita,
Nas ruas que no andei.
(E h uma rua encantada
Que nem em sonhos sonhei...)
Quando eu for, um dia desses,
Poeira ou folha levada
No vento da madrugada,
Serei um pouco do nada
Invisvel, delicioso
Que faz com que o teu ar
Parea mais um olhar,
Suave mistrio amoroso,
Cidade de meu andar
(Deste j to longo andar!)
E talvez de meu repouso...
(Mrio Quintana, Apontamentos de Histria Sobrenatural. Porto Alegre: Globo, IEL, 1976).
4. As favelas se constituem atravs de um processo arquitetnico e urbanstico
singular que compe uma esttica prpria, uma esttica das favelas. (...) Um
barraco de favela construdo pelo prprio morador, inicialmente, a partir de
fragmentos de materiais encontrados por acaso. A construo cotidiana e
continuamente inacabada. (...) O tecido urbano da favela malevel e flexvel,
o percurso que determina os caminhos. (...) As ruelas e becos so quase
sempre extremamente estreitos e intrincados. Subir o morro uma experincia
de percepo espacial singular, a partir das primeiras quebradas se descobre um
ritmo de andar que o prprio percurso impe. (Adaptado de Paola Berenstein Jacques,
Esttica das favelas, em http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp078.asp).
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
5. O dia-a-dia das sociedades gira em torno dos objetos fixos, naturais ou criados,
aos quais se aplica o trabalho. Fixos e fluxos combinados caracterizam o modo de
vida de cada formao social. Fixos e fluxos influem-se mutuamente. A grande
cidade um fixo enorme, cruzado por fluxos enormes (homens, produtos,
mercadorias, ordens, idias), diversos em volume, intensidade, ritmo, durao e
sentido. Alis, as cidades se distinguem umas das outras por esses fixos e fluxos.
(Milton Santos, Fixos e fluxos cenrio para a cidade sem medo, em O pas distorcido. O
Brasil, a globalizao e a cidadania. So Paulo: Publifolha, 2002).
6. Cidades globais so aquelas que concentram percia e conhecimento em
servios ligados globalizao, independente do tamanho de sua populao. (...)
Megacidade outra categoria dos estudos urbanos. As megacidades so reas
urbanas com mais de 10 milhes de habitantes. (...) Algumas so megacidades e
cidades globais, simultaneamente, como Nova York e So Paulo. (...) As cidades
mdias so outra categoria de classificao das cidades, com populao entre 50
mil e 800 mil habitantes. Abaixo de 50 mil so as pequenas cidades, ideal utpico
de moradia feliz no imaginrio de milhares de pessoas. (Maria da Glria Gohn, O
futuro das cidades, em www.lite.fae.unicamp.br/revista/art03.htm).
7. Se, por hiptese absurda, pudssemos levantar e traduzir graficamente o
sentido da cidade resultante da experincia inconsciente de cada habitante e
depois sobrepusssemos por transparncia todos esses grficos, obteramos uma
imagem muito semelhante de uma pintura de Jackson Pollock, por volta de
1950: uma espcie de mapa imenso, formado de linhas e pontos coloridos, um
emaranhado inextrincvel de sinais, de traados aparentemente arbitrrios, de
filamentos tortuosos, embaraados, que mil vezes se cruzam, se interrompem,
recomeam e, depois de estranhas voltas, retornam ao ponto de onde partiram.
(Giulio Carlo Argan, Histria da arte como histria da cidade. Trad. Pier Luigi Cabra. So
Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 231).
Jackson Pollock, Silver over Black
8. A heterogeneidade de freqentadores dos shopping centers vem se ampliando
e ntida numa cidade como So Paulo, uma vez que estes, outrora destinados
somente a grupos com alto poder aquisitivo, vm abarcando, em sua expanso
por outras regies, grupos que antes no faziam parte da clientela usual. A idia
de um espao elitizado vai sendo substituda pela de um espao interclasses.
Alm disso, uma centralidade ldica sobrepe-se centralidade do consumo,
sobretudo na esfera do lazer: especialmente aos fins de semana, os shopping centers
transformam-se em cenrios, onde ocorrem encontros, paqueras, derivas, cio,
exibio, tdio, passeio, consumo simblico. Tornam-se uma espcie de praa
interbairros que organiza a convivncia, nem sempre amena, de grupos e redes
sociais, sobretudo jovens, de diversos locais da cidade. (Adaptado de Heitor Frgoli
Jr., Os Shoppings de So Paulo e a trama do urbano: um olhar antropolgico, em Silvana
Maria Pitaudi e Heitor Frgoli Jr. (orgs.), Shopping Centers espao, cultura e modernidade
nas cidades brasileiras. So Paulo: Editora Unesp, s/d, p. 78).
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
9. O tombamento de espaos como terreiros de candombl, stios remanescentes
de quilombos, vilas operrias, edificaes tpicas de migrantes e outros dessa
ordem, isto , ligados ao modo de vida (moradia, trabalho, religio) de grupos
sociais e/ou etnicamente diferenciados j no causa muita estranheza: apesar
de ainda pouco comum, a incluso de itens como esses na lista do patrimnio
cultural oficial mostra a presena de outros valores que ampliam os critrios
tradicionais imperantes nos rgos de preservao. Em 1994 ocorreu, entretanto,
um tombamento em So Paulo que de certa maneira se diferencia at mesmo dos
acima citados: trata-se do Parque do Povo, uma rea de 150.000 m2, localizada
em regio nobre e das mais valorizadas da cidade. Dividida em vrios campos de
futebol de terra, ocupada por times conhecidos como de vrzea. (Adaptado
de Jos Guilherme Cantor Magnani e Naira Morgado, Futebol de vrzea tambm
patrimnio, Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, n. 24, 1996, p. 175).
10. Na Rocinha no h quem no respeite o Doutor (cirurgio aposentado
Waldir Jazbik, 75 anos). Morador h 19 anos da maior favela da zona sul do Rio de
Janeiro, ele sabe que pode caminhar pelas ruas de l sem medo, mesmo morando
em uma habitao fora dos padres locais. Sua casa, em estilo colonial, fica num
terreno com mais de 10.000 m2. (...) Meus amigos da high society diziam que
eu era maluco. Eu poderia ter escolhido uma casa num condomnio fechado aqui
perto, mas preferi vir para c. (...) S vim para c porque quero viver a vida que
eu mereo viver. (Adaptado de Antonio Gois e Gabriela Wolthers, Mdico busca vida
tranqila na Rocinha, Folha de S.Paulo, 17 de agosto de 2003, p. C4).
PROPOSTA A
Trabalhe sua dissertao a partir do seguinte recorte temtico:
A cidade o lugar da vida, espao fsico no qual acontecem encontros,
negociaes, tenses, num dinamismo permanente de criao e transformao.
Instrues:
Discuta a cidade como um espao mltiplo;
Argumente em favor de uma viso dinmica dessa multiplicidade;
Explore os argumentos para mostrar que a cidade um espao que se configura
a partir de relaes diversas.
PROPOSTA B
Trabalhe sua narrativa a partir do seguinte recorte temtico:
Hoje, mais do que nunca, podemos afirmar que a cidade no dorme. Alm de
freqentarem bares, clubes, cinemas e bailes, h um crescente nmero de pessoas
que circulam noite pela cidade, fsica ou virtualmente, trabalhando, consumindo,
estudando, divertindo-se.
Instrues:
Imagine a histria de um(a) personagem que encontre um grupo que vivencia
a noite e, identificando-se com ele, passe a ver a cidade a partir de uma nova
perspectiva;
Narre o encontro, o processo de descoberta e a transformao que o(a)
personagem experimentou;
Sua histria pode ser narrada em primeira ou em terceira pessoa.
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
PROPOSTA C
Trabalhe sua carta a partir do seguinte recorte temtico:
As definies do que patrimnio histrico tm mudado, incorporando mbitos
e aspectos que ampliam o alcance do conceito e, com isso, o raio de ao da
legislao. Fala-se em patrimnio edificado, mas tambm em patrimnio afetivo.
Tudo o que relevante para determinada comunidade pode ser considerado
patrimnio.
Instrues:
Escolha um bem urbano, material ou no, que voc considere relevante para
ser preservado em sua cidade;
Argumente em favor da preservao desse bem;
Dirija a carta a uma pessoa que, na sua opinio, pode vir a se tornar um aliado
na luta pelo tombamento desse bem.
2. A COLETNEA
A coletnea da prova de 2004 abordou o tema geral da prova da primeira fase
(Cidades), que foi recortado (da o termo recorte temtico) de maneira distinta
em cada uma das trs propostas (ou temas, em provas anteriores).
Mantendo a concepo de que a prova de redao do Vestibular da Unicamp
uma prova de leitura e escrita, definimos, diferentemente dos anos anteriores,
uma coletnea nica para as trs propostas de trabalho, fazendo dela o lugar
de entrada da prova de redao, o elemento desencadeador da relao leitura/
escrita, no sentido de levar o candidato a re-elaborar sua leitura (da coletnea) no
processo de escrita do texto. Com uma coletnea nica, pudemos reorganizar a
relao entre as trs propostas, de modo que os vrios excertos pudessem ser lidos
de maneiras diversas e no pr-estabelecidas, dependendo da proposta escolhida
pelo candidato. Com essa mudana, visamos tambm alcanar um equilbrio
maior de leitura entre as trs propostas, no havendo excertos exclusivos para
qualquer uma delas.
Buscamos ainda, com a coletnea nica, um equilbrio entre a leitura que
denominamos de instantnea - aquela feita no momento da realizao da prova
- e a experincia de leitura prvia do candidato. Em outras palavras, a coletnea
tem o papel desencadeador na relao do autor com seu projeto de texto,
valorizando sua experincia prvia de vida, leitura e reflexo. essa experincia
que deve ser mobilizada a partir da leitura da coletnea.
Por concebermos a leitura como um processo de construo de sentidos,
procuramos evitar fazer com que a coletnea fosse lida como um roteiro - e que
o foco dessa leitura fosse a recuperao de contedos e de informaes, citadas e
coladas no texto do candidato. Assim, a coletnea no pensada como um roteiro
interpretativo, mas como um conjunto de possibilidades diversas de abordagem
da prpria complexidade do tema, com o qual, supunha-se, o candidato j tivesse
tido algum contato. Alm disso, a coletnea no define uma hierarquia entre os
excertos, que podem ser aproveitados de diferentes maneiras, conforme o modo
de cada candidato mobilizar sua leitura da coletnea (sempre a partir de sua
experincia como leitor e autor de textos), em funo de seu projeto de texto.
Seguindo a tradio do vestibular da Unicamp, os excertos so de natureza
diversa. Havia, na Coletnea 2004, alguns excertos claramente conceituais,
expondo vises sistemticas sobre a cidade, outros de natureza artstica, contendo
elaboraes subjetivas em torno do tema, e outros ainda de teor descritivo,
apresentando casos concretos de experincia urbana.
Ainda ao produzir a coletnea, procuramos evitar a polarizao de idias, que
levaria o candidato a uma tomada de posio sobre opinies dicotmicas, para
no correr o risco de reduzir a produo da redao a um preenchimento de
expectativas j pressupostas. Em outras palavras, a coletnea foi concebida
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
para permitir que as contradies inerentes cidade se manifestassem, sem se
resolverem em dicotomias demarcadas e cristalizadas tais como, por exemplo,
periferia versus centro, pobres versus ricos, cultura popular versus erudita, etc., que
muitas vezes servem apenas como frmula fcil. Isso no significa, evidentemente,
que o candidato estava impedido de formular contrastes ou confrontos; o que se
esperava era a elaborao pessoal do candidato, reconhecendo e movimentandose em um panorama de questes complexas.
A coletnea, assim estruturada, foi introduzida por um texto de apresentao
que, na prova de 2004, forneceu ao candidato a perspectiva da cidade como
um lugar significativo da experincia humana e, por isso, objeto de reflexo
multidisciplinar. Com essa apresentao, a banca examinadora pretendeu
sinalizar a complexidade do tema e evitar reducionismos: idias estereotipadas,
abordagens-clich ou textos prontos, tais como a reduo da cidade ao problema
da violncia, da pobreza, do trnsito catico, da falta de planejamento, etc.
3. AS PROPOSTAS
Como j dissemos acima, cada proposta consistiu num recorte do tema geral e
a cada uma delas correspondeu a um conjunto de instrues que determinava,
tanto a especificidade da abordagem em relao ao tema, quanto a especificidade
do tipo de texto que se esperava que fosse produzido. Essas instrues foram
destacadas no interior de um box sinalizando que seriam cobradas na correo.
Destacamos aqui a necessidade da construo de argumentos no texto
dissertativo, da construo da voz narrativa no texto de fico e da construo de
uma argumentao mediada por uma interlocuo slida na carta.
3.1 A PROPOSTA A: DISSERTAO
As instrues da dissertao procuraram evitar que a proposta fosse apresentada
atravs de frases ttulo, de paradoxos, interrogaes, que pudessem levar a um
fechamento pr-determinado e conclusivo do tema e a uma leitura politicamente
correta do recorte temtico, abrindo um leque praticamente infinito de
possibilidades de apropriao do tema pelo candidato. Dessa forma, foi solicitado
do candidato que discutisse, argumentasse e explorasse argumentos em favor de
uma viso dinmica da cidade como um espao mltiplo, sem, no entanto, prestabelecer o que define tal dinamismo, tal multiplicidade e quais argumentos
deveriam ser mobilizados.
Em funo da apresentao que precede a coletnea e da prpria natureza dos
excertos que a compem, a banca esperava que o candidato percebesse que no
deveria tratar o recorte temtico da proposta A de forma redutora. Isto significa
que a cidade no poderia ser tomada como mero aglomerado fsico, nem como
cenrio catico, oposto fantasia idlica do campo, tampouco como um palco
esttico de problemas insolveis. Evidentemente, esperava-se do candidato um
olhar crtico sobre o recorte proposto capacidade de identificao das partes, de
anlise das relaes e de interpretao dos sentidos.
Pensar sobre dinamismo e multiplicidade implicava tratar o espao (ruas, bairros,
esttuas, muros, edificaes, limites, jurisdies, etc.) a partir da presena
humana, que, individual ou coletivamente, o transforma e re-significa. Essa
presena humana apropria-se do espao urbano mediante atividades profissionais,
familiares, de lazer, etc. e de modos variados (fsica, artstica, afetiva, simblica,
etc.).
As instrues especificavam algumas exigncias objetivas para a dissertao:
1) Discutir a cidade enquanto um espao heterogneo;
2) Trabalhar argumentos que mostrassem que esse espao heterogneo
dinmico (espao-movimento);
3) Explorar esses argumentos na direo da estreita relao entre a presena
humana e o espao fsico (a vida na cidade), de que resulta o dinamismo
(permanente criao e transformao).
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
3.2 A PROPOSTA B: NARRATIVA
As instrues da narrao procuraram estimular a inventividade dos candidatos,
evitando que a proposta ficasse presa a um nmero grande de requisitos pontuais.
Foi na tentativa de evitar uma realizao tcnica e engessada dos processos
narrativos, que se instruiu o candidato sobre os elementos de composio
sem, no entanto, predefinir a maneira como eles deveriam ser estruturados e
desenvolvidos. Ou seja, foi solicitado ao candidato que imaginasse e narrasse
uma experincia noturna, em que estivessem envolvidos um encontro e uma
transformao, sem, no entanto, fixar uma voz narrativa e determinar qual
experincia deveria ser narrada.
Do mesmo modo que na proposta A, esperava-se que o candidato levasse em
conta a complexidade do recorte temtico e considerasse a cidade como um
lugar significativo da experincia humana, espao que est sendo pensado, nos
excertos oferecidos, como lugar de apropriao humana. O candidato encontrava
na coletnea exemplos de vivncias e de re-significaes do espao urbano, tanto
no plano fsico quanto no simblico.
As instrues especificavam algumas exigncias objetivas para a narrativa:
1. A personagem deveria passar por uma experincia no perodo noturno;
2. Essa experincia deveria se dar a partir de um encontro dela com um grupo de
pessoas que j vivencia a noite;
3. Desse encontro resultaria uma transformao no modo como a personagem
vivencia a cidade.
O texto poderia ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Esperava-se que o
candidato, alm de optar por um dos focos narrativos e mant-lo adequadamente,
demonstrasse a relevncia de sua escolha.
3.3 A PROPOSTA C: CARTA ARGUMENTATIVA
As instrues da carta procuraram criar um espao de comunicao interpessoal em
que o candidato no ficasse preso a lugares-comuns tanto em relao ao recorte
temtico, quanto em relao interlocuo mobilizada para dar consistncia
argumentativa ao texto. Para desfazer o lugar da interlocuo como um lugar
de preenchimento de marcas formais (prezado senhor, atenciosamente, etc),
instrumos o candidato que a carta deveria ser dirigida a algum especificamente,
sem, no entanto, pr-estabelecer o nome do interlocutor nem quais argumentos
deveriam ser mobilizados. Ou seja, foi solicitado do candidato que escrevesse
um texto em que a interlocuo era central e a defesa de uma causa tambm;
nesse caso, o candidato deveria construir a imagem desse interlocutor de
forma condizente com a sua escolha do bem urbano a ser preservado e dos
argumentos mobilizados. Estabeleceu-se, atravs das instrues da carta, uma
indissociabilidade entre a construo e desenvolvimento de argumentos e a
construo e desenvolvimento da interlocuo.
Tambm aqui, ao redigir a carta, esperava-se que o candidato considerasse a
complexidade apresentada na coletnea e nas formulaes da prova de redao.
Nesse caso concreto, h um texto preliminar que mostra que o processo de
tombamento de um bem relevante para uma determinada comunidade implica a
considerao de uma vasta rede de interesses e sentidos e no apenas de pensar o
patrimnio como sinnimo necessrio de edificaes antigas, monumentos, obras
de arte. A idia de preservao, como o recorte temtico prope, no alcana
apenas o patrimnio material ou histrico, mas tambm o afetivo e o intangvel,
tudo dependendo da significao estabelecida pelas relaes com o espao.
A escolha do bem cuja preservao ser defendida depende em grande parte
da anlise dessa complexidade e da considerao do interesse coletivo envolvido
(grupo social, comunidade, bairro, parquia, etc.), levando em conta a construo
coletiva de memria.
As instrues determinavam um conjunto de procedimentos:
1. A escolha de um bem urbano que merecesse ser preservado;
2. A identificao de um possvel aliado na luta pela preservao do bem;
3. A argumentao que justificasse o tombamento daquele bem, tramada e
sustentada por meio de uma interlocuo bem construda.
10
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
4. COMENTRIOS SOBRE ALGUMAS REDAES
Discutimos, a seguir, algumas redaes de nveis de desempenho diversos, com
base nos critrios utilizados na correo.
4.1. PROPOSTA A
EXEMPLOS DE REDAES ACIMA DA MDIA
Exemplo1
O fluido urbano
Em razo da rapidez e eficincia dos meios de comunicao e transportes da psmodernidade, o homem tem estado a par de todas as notcias e acontecimentos
dos pases do mundo e, com passos largos, tem podido manifestar-se em prol de
seus interesses e ideologia, de forma a relegar segunda pgina a importncia da
cidade em que vive. A humanidade vem caminhando pelos bairros e avenidas com
olhos grandiloqentes, perseguindo objetivos globais, sem perceber, no entanto,
que a cidade em que se encontra algo muito mais amplo e histrico que sua
cegueira corriqueira costuma imaginar trata-se de um microcosmo de todas as
relaes mundiais sob a pincelada do povo e sua vivncia regional.
Numa cidade como So Paulo, relativamente jovem no que tange colonizao,
possvel verificar desde as razes da vinda dos europeus, africanos e asiticos
at os recentes avanos tecnolgicos e industriais. Num breve passeio pela zona
central, v-se o sincretismo cultural, tnico, artstico e religioso, cuja transmutao
continua e perceptvel: uma pea barroca facilmente combinada com
computadores; um prato tipicamente japons adaptado com feijo e pastis.
De maneira exclusiva, costura-se todo o universo que constitui o presente e o
passado, sendo ele fludo e suscetvel a novas interpretaes e impresses.
Nesse sentido, a cidade constri-se a partir de constantes chegadas e partidas
de indivduos que marcam nela sua memria, seu conhecimento acadmico e
pragmtico e, especialmente, suas utopias. bastante comum, por exemplo,
encontrarmos em cidades interioranas a situao em que as pessoas vivem at
a faixa dos vinte anos numa determinada regio e, aps tal idade, mudam-se
para reas metropolitanas, onde adquirem formao superior e qualificao
profissional, retornando, mais tarde para, seus pontos de origem a fim de
exercerem a atividade para a qual se especializaram. Trata-se, portanto, de um
fluxo migratrio bastante benfico em mbito cultural, social e econmico, bem
como retrata um dos componentes responsveis pelo dinamismo urbano.
Da mesma forma, o fluir da cidade tambm pode ser traduzido pela contoro
do espao fsico, cuja modelao se d de acordo com as necessidades imediatas
e retrata as relaes sociais: numa ruela de um morro possvel detectar desde
as preocupaes da filosofia quanto da medicina e da engenharia. Se por um
lado a excluso (ou a mera no-incluso) potente, por outro a ajuda mtua e a
11
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
solidariedade so gritantes, o que significa que a cidade feita de dispositivos que
anulam e compensam uns aos outros concomitantemente.
Tambm relevante lembrar que o ncleo urbano, ao passo que tradicionalmente
reconhecido pelas realizaes de sua elite econmica e cultural, tem incrustado
nas mincias de suas esquinas e praas o folclore, as danas populares e a
criatividade prpria de um coletivo que no possui time, cor ou credo definidos;
trata-se de um povo sem hierarquia e multicromado, cuja vivacidade transcende a
vida propriamente dita e materializa-se em pinturas e mosaicos nos metrs e nos
viadutos. A cidade, assim, uma mescla de nomes, datas e estatuetas com uma
massa amorfa perfeitamente caracterizada pelo coletivo de sonhos e histria;
o ambiente das relaes humanas, do desenrolar da economia, da educao, da
sade, do aprendizado.
No se pode, por conseguinte, desprezar a importncia desse microcosmo da
humanidade, visto que ao mesmo tempo que ele repete circunstncias e atritos
sociais e polticos de outrora dos tempos do Imprio Romano, em que as
primeiras cidades foram construdas , inova a expresso do cerne humano, seja
atravs da ambivalncia de um terreno que agrega uma favela e uma manso
contguas, seja atravs da constante migrao de um espao a outro. importante
que o ncleo urbano seja visto de forma holstica, como algo plural e dinmico,
visto configurado a partir de diferentes indivduos, os quais carregam consigo
uma bagagem cultural singular e passvel de sincretismo.
COMENTRIOS
Apesar de apresentar alguns problemas, sobretudo em relao a encadeamentos
coesivos e consistncia argumentativa contnua do decorrer do texto, o autor de
O fluido urbano apresenta um bom projeto de texto, absolutamente construdo
a partir da proposta do recorte temtico, movimentando-se com desenvoltura
entre diferentes pontos de entrada de leitura desencadeadores da coletnea, que
s ganham dinamismo e conseqncia, porque so trabalhados atravs de uma
experincia prvia de leitura.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: o autor trabalha o recorte temtico e articula idias a ele vinculadas. Faz um
bom aproveitamento dos elementos selecionados (transita entre os vrios planos
particular/geral, concreto/abstrato, etc), sustentando seu projeto de texto. H
marcas claras de apropriao temtica no processo de autoria, ou seja, explora
bem algumas das possveis relaes suscitadas pela proposta, o que demonstra
reflexo anterior que permite ao autor perceber a complexidade do tema, e tratlo sob diferentes aspectos.
Coletnea: h integrao, com encadeamento de elementos mobilizados a partir
da leitura de excertos que compem a coletnea no texto do autor. Esse encadeamento sustenta o projeto de texto.
Tipo de texto: H constituio de argumentos atravs de uma articulao das
formulaes, o que indica domnio do movimento argumentativo, ou seja, h
desdobramento dos argumentos em uma direo bem definida, garantida pela
progresso dinmica, mesmo que em alguns momentos essa progresso seja
prejudicada por alguns truncamentos coesivos/argumentativos.
Coerncia: No h inconsistncias internas, embora os elementos do texto ainda
no sustentem plenamente, ao longo de todo o texto, o conjunto possvel formulado no interior da dissertao.
Coeso: No h comprometimento da leitura. Embora o uso dos recursos coesivos
apresente falhas, estas no chegam a impedir a unidade na estruturao sintticosemntica do texto.
Modalidade: Mesmo apresentando alguns problemas em termos de imprecises
de algumas expresses, domina com segurana o padro normativo da escrita e
apresenta um conjunto lexical amplo e desenvolto.
12
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Exemplo 2
Cidade: o encontro das diferenas
As sociedades mostram seu constante grau de aprimoramento tcnico e social
atravs da maneira como se organizam e mantm relaes mltiplas no espao
fsico no qual se instalam. O Renascimento urbano do sculo XV na Europa,
deflagrado pela crise do sistema feudal, emblemtico por ter sido resultado de
uma nova realidade econmica e social, j que a recente dinmica do comrcio
e a ascenso social de uma nova classe a burguesia demandavam uma nova
estruturao da arcaica organizao poltico-administrativas dos feudos. Na
atualidade, o que se observa o mais alto grau de adensamento urbano das
cidades mundiais, que vem apresentando complexas Redes Urbanas, as quais
so denominadas diferentemente segundo a influncia que exercem. Diante
disso, torna-se necessria a analise desse novo espao mltiplo em constante
transformao.
Esse novo mapa urbano pode ser analisado e comparado em duas perspectivas.
Uma delas seria com relao s influncias endgenas que aliaram as relaes
sociais de uma cidade, as quais criam um cenrio mltiplo. Sobre isso o gegrafo
Milton Santos j analisava ao propor a existncia de uma dinmica urbana
influenciada pelo que chamou de fixos e fluxos, j que no espao fsico de
objetos naturais ou criados o fixo aplica-se o fluxo, que se caracteriza pela parte
viva e ativa das cidades: os homens e as relaes polticas e econmicas.
Sob um outro aspecto, o das cidades como um local de influncias exgenas, tmse as relaes comerciais, poltico-econmicas entre as diferentes sociedades, o
que cria uma dinmica ativa de idias e influncias. Vale lembrar aqui, porm, que
algo de novo tempera esse tipo de influncia na nova realidade da globalizao;
j que, se antes as cidades dependiam para isso da sua localizao geogrfica
como no caso da antiga Atenas, cuja posio no s a fez progredir no plano
das idias, como tambm economicamente -, na nova realidade esse fator j no
se faz to fundamental, haja visto o aprimoramento tecnolgico que promove a
supresso das barreiras fsicas em prol de um contato mais profundo e eficaz entre
as diversas cidades. Exemplo disso o alto nvel de complexidade de algumas
cidades, elevando-as categoria de cidades globais pelo elevado grau de impacto
que possuem diante de outras.
baseada nesses diferentes tipos de influncia que uma cidade moderna tem
realizada sua estruturao fsica no espao. Acrescentando-se a isso o componente
tnico-cultural, capaz de promover uma abrangente diversidade norteadora das
relaes sociais e da estruturao do espao urbano. Quanto a isso, vale ressaltar a
existncia de uma mudana fsica das cidades com a expanso das favelas urbanas,
as quais abrigam um sexto da populao mundial atual, segundo dado recente.
Esse espao singular revela-se transformador das relaes sociais, j que promove
a desigualdade socioeconmica categoria de segregao fsica. nesse contexto
que se insere o lado oposto dos shopping centers como local de acesso restrito a
uma minoria abastada, realidade essa que vem sendo negada pela disseminao
13
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
desse espao a outras regies da cidade, abrangendo diferentes classes sociais.
No entanto, a segregao fsica ainda no pode ser totalmente refutada, seja pela
crescente disseminao de condomnios fechados de alto padro pela cidade, seja
pela criao do mundo paralelo e excludo das favelas, chegando-se at a falar
em uma esttica das favelas. Portanto, a anlise do meio urbano moderno
enquanto se mostra favorvel a um intercmbio cada vez maior de diferentes
culturas atravs do progresso tecnolgico que nelas impera, alm de permitir a
multiplicidade das relaes sociais, tambm se revela capaz de criar divergncias
e disparidades sociais, criando um caldo frtil para nutrir a intolerncia e o dio
social graas s diferenas que o espao urbano permite coexistir.
COMENTRIOS
Assim como a redao anterior, esta apresenta um bom projeto, trabalhado no
interior das diversas possibilidades trazidas pelo recorte temtico proposto. Apesar
de apresentar alguns problemas coesivos/argumentativos pontuais na trama argumentativa, sua unidade textual garantida. Diferentemente do primeiro texto, a
relao do autor com a coletnea um pouco menos desenvolta, no deixando,
entretanto, de demonstrar que o autor de fato se apropria de alguns elementos articulando-os realmente ao seu projeto de texto, sem encaixes postios, mostrando
que esses elementos so trabalhados a partir de uma experincia prvia de leitura
e formulao escrita do candidato, o que garante que a coletnea no fique restrita a um exerccio de leitura instantnea sem conseqncia.
Pensando em termos dos seis critrios que balizam a correo da redao no
Vestibular da Unicamp, poderamos dizer que somente em relao modalidade
nossos comentrios diferem dos j feitos ao primeiro texto. Nesse critrio, o texto
do candidato, alm de apresentar pequenos problemas em relao ao padro
normativo da escrita, demonstra um conjunto lexical bom (porm no amplo e
desenvolto), com poucas imprecises.
EXEMPLO DE REDAO ABAIXO DA MDIA
A cidade no para
Hoje, as pessoas so divididas e at recebem uma classificao partindo das
cidades onde moram
Mas ao analisar a vida das pessoas de uma cidade, que se pode notar a
diversidade das pessoas que nelas se habitam, no somente se tratando da
questo de serem ricos ou pobres, mas sim de como vivem, no que crem, o que
fazem nas horas vagas por exemplo, revelando a multiplicidade do espao dentro
das cidades.
Desde o empresrio que vive no tumultuado mundo dos negcios e procura se
distrair indo aos shoppings, teatros, com a familia nos finais de semana, at o
14
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
morador de uma favela que batalha por um emprego e tenta sobreviver com o
pouco que tem, e que mesmo assim, arruma tempo para jogar uma partida de
futebol com os amigos. Ambos moradores de uma mesma cidade agitada como
por exemplo So Paulo.
H cidades que se destacam pelos seus dias tumultuado, repletos de fixos e fluxos,
mas h tambm cidades que se destacam pelas lindas paisagens que a natureza
proporciona, tornando-se uma cidade turstica, e visitadas por outras culturas de
outras cidades, formando uma mistura de culturas e ocasionando transformaes
culturais
Enquanto a vida passa as cidades no param de se desenvolver, e as pessoas no
param de criar novas idias para seu desenvolvimento e transformao.
COMENTRIOS
A idia do primeiro pargrafo muito interessante: uma etiquetagem que se produz na memria social que liga as pessoas s cidades em que moram. Porm, essa
direo argumentativa no desdobrada no texto do candidato. Ela contraposta, atravs do segundo pargrafo, heterogeneidade das cidades. Haveria a um
jogo muito interessante a ser explorado no sentido de contrapor (e a a conjuno
adversativa mas, que inicia o segundo pargrafo, ganharia sentido) as imagens
cristalizadas na memria social e histrica que etiquetam sentidos nas pessoas e
nas cidades heterogeneidade marcante desses espaos citadinos.
O segundo pargrafo tambm muito interessante. Apesar de no ser antecedido
por uma formulao que o sustente, mostra que a diversidade/multiplicidade de
uma cidade no se d somente sob o aspecto scio-econmico (lugar-comum
tratado pela mdia em geral), mas no modo como se vive a cidade.
No terceiro pargrafo, o candidato mantm a diviso do modo de se viver a cidade subsumido a uma diviso econmica, incluindo, o que interessante, uma
descrio de diferentes modos de ocupao do espao em termos de lazer. Entretanto, no h desenvolvimento no sentido de mostrar a dinamicidade desses
diferentes modos de ocupao, nem tambm, o que era central nas instrues da
proposta A, no sentido de trabalhar a relao entre os modos de ocupao das
pessoas e a construo/transformao desses espaos. Isto , no h nenhuma
forma de tratamento, mesmo que tangencial, da relao entre o espao fsico e os
homens que nele vivem.
No quarto pargrafo, fica clara uma relao de colagem com a coletnea, o que
interfere consideravelmente no texto do candidato, j que elementos da coletnea
entram no texto de modo automtico, numa tentativa de mero preenchimento,
sem articulao com um possvel projeto de texto. Em outras palavras, no h marcas de apropriao daquilo que est sendo dito. Se nos trs primeiros pargrafos,
mesmo que de modo ainda frgil, havia indcios de um projeto de texto que no
chegava a se formular, nos dois ltimos pargrafos v-se esse projeto ruir fundamentalmente por dois motivos:
1) Falta de articulao dos elementos da coletnea com o modo de abordar possveis trabalhos com o recorte temtico;
2) Finalizao rpida e no sustentada que o candidato d ao seu texto, que responde a um modelo engessado do que seja fazer uma dissertao.
Em suma, o candidato responde imagem que faz da banca e imagem que faz
da imagem de texto dissertativo ideal para a banca. Esse um problema recorrente nas redaes do Vestibular Unicamp que precisa ser trabalhado no espao
da sala de aula.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: As marcas de apropriao temtica no processo de autoria so frgeis, ou
seja, o tema apresentado de forma superficial. Mas, apesar de apresentar um
tratamento simplificado do tema, h tentativa de articulao de idias a ele vinculadas, o que indica alguma reflexo anterior.
15
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Coletnea: Embora haja alguma integrao dos elementos dos excertos que
compem a coletnea no texto do candidato, ela frgil. Essa fragilidade deve-se
a uma integrao apenas pontual desses elementos no texto do candidato.
Tipo de texto dissertativo: A redao do candidato apresenta-se como uma lista
de comentrios que no chegam a constituir argumentos, ou seja, as formulaes
no esto articuladas de modo a definir uma direo.
Coerncia: Tratada sob o aspecto da consistncia textual, diramos que, no texto
do candidato, o modo de tecer essa consistncia frgil, interferindo na sustentao do texto como conjunto possvel.
Coeso: O uso de seus recursos frgil e produz estruturaes sinttico-semnticas apenas localizadas, produzindo um comprometimento da leitura.
Modalidade: H ocorrncias, sobretudo, de problemas de concordncia, pronominalizao de verbo e regncia. O texto marca-se pela presena de um conjunto
lexical razovel, com algumas impropriedades (informalidade, coloquialismo,
inadequao).
EXEMPLO DE REDAO ANULADA EM TEMA
A importncia do shopping center
Os shopping centers so importantes para que haja um aumento na convivncia
entre as diversas classes sociais. O nmero de freqentadores dos shopping
centers vem aumentando cada vez mais.
Antigamente o nmero de freqentadores de shopping centers era bem menor,
pois era destinado a classe social com maior poder aquisitivo, deixando de fora as
classes sociais com menor poder aquisitivo.
Os shopping centers eram um espao eletizado, uma centralidade de consumo,
por isso eram bem menos freqentados e no havia uma convivncia entre as
classes sociais.
Hoje, os shopping centers se tornaram um espao interclasses, onde deixaram
de ser uma centralidade de consumo, para se tornar um cenrio de encontros,
paqueras, passeio, consumo simblico e outras coisas. Por isso os shopping
centers so importantes para que haja uma convivncia entre os diversos grupos
e redes sociais.
16
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
O recorte temtico definido pela proposta A solicitava que o candidato discutisse
a cidade como espao mltiplo, argumentando na direo de uma viso dinmica
dessa multiplicidade.
Esta redao no atende ao recorte solicitado uma vez que ela transforma em
tema um elemento da coletnea o shopping center desviando o foco da proposta. Nesse sentido, no se pode negar o uso da coletnea, embora este seja um
uso redutor, que parafraseia de maneira circular o excerto n 8 nos trs primeiros
pargrafos e, no ltimo, praticamente reproduz a formulao do excerto.
4.2. PROPOSTA B
EXEMPLOS DE REDAES ACIMA DA MDIA
Exemplo1
As paredes do escritrio onde Andr trabalhava eram foscas. Entre pedaos de
tinta cinza que, cuidadosamente, delas se desprendiam, percebia-se uma janela
que recebia a poeira vinda da Avenida Paulista. Em frente a ela permanecia ele
sentado como quem espera por uma conduo que s chegaria muito mais tarde.
Os olhos, cansados, avermelhados, fixos, prendiam-se em ver, partcula a partcula,
as peas da sujeira que o vento se encarregava de trazer e fazer repousar sobre
sua pele. Mesmo imerso no tdio que chegara junto com esta chuva seca, sua
mente constitua-se de milhares de pensamentos e expectativas restauradoras.
Sonhos, planos e verdades que, conforme o desnimo pesava-lhe sobre a cabea,
tomavam mais forma e nitidez. Andr ansiava pela mudana. Queria o ar que no
fosse o que invadia o cmodo do escritrio. Queria perder a saudade que tinha
do que no conhecia.
Com um movimento brusco, embebido das vontades que amontoavam-se-lhe nos
pensamentos, Andr levantou-se de sua cadeira e, prometendo a si mesmo a fuga
do que o sufocava, saiu sem rumo para a rua. O brilho do sol, intenso e incmodo,
ofendeu-o os olhos. Quis voltar, mas seus desejos o impediam. Ento, mesmo que
vendo-se desorientado, aguardava o sinal para poder atravessar a rua. Percebeu
que as pessoas sua volta tinham um sorriso irnico e exato estampado no rosto,
fato que causou-lhe estranheza. Julgou tal percepo como resultado dos raios
de sol que ainda mereciam suas palavras de indignao. O semforo abriu para
os pedestres.
As pessoas que estavam a seu lado olharam-se mais uma vez e, com um movimento
combinado, sacaram seus sapatos e os batiam no cho riscado de branco. Era uma
flash mob. Andr foi tomado novamente pelo anseio da mudana e o impulso o
fez imitar o gesto. Sorria com uma sinceridade que h tempos no experimentava,
e depositou ali, ao bater o calado contra o cho, toda a poeira, fumaa do tdio
que se prendia sobre ele.
17
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
No perdendo o contato com as pessoas que conheceu na mobilizao, aquele dia
era apenas o primeiro de outros que fariam dele uma pessoa exatamente como
imploravam suas expectativas. Fazia parte, agora, de um grupo que, como ele,
sentia a vontade de mudar, ou ao menos questionar o que a realidade apontava. E,
tendo a diverso noturna como nica obrigao, Andr era um homem realizado
e satisfeito.
A cidade vista com os novos amigos, iluminada pela lua, apresentava a ele uma
nova alegria. Via uma cor oposta que a parede do escritrio lhe impunha, e se
arrependia de no ter percebido o que agora aprendia com seus companheiros.
A liberdade dentro da noite de So Paulo era forte e edificante. Cada praa,
poste, rua tinha uma lio a ensinar, as esttuas tinham outros rostos, contavam
histrias, e cada palavra pichada nos muros significavam algo.
A vida, naqueles dias, tivera outro valor a Andr, que buscava a mesma felicidade
a que aspira qualquer humano. Extraiu da vida paulistana das noites a diverso,
absoluta e finita, os vcios. O amor liberdade que s no se pode sobrepor
necessidade de sobreviver. brio, tendo dormido sozinho em uma praa pblica
onde passara observando as estrelas por cima dos galhos da rvore, acordou de
manh quando ouviu os lamentos de um mendigo. E se lembrou que na prxima
segunda-feira ainda teria que trabalhar. Levantou-se vagarosamente e caminhou
at sua casa, onde no entrava desde que entrou para o grupo. No pensou
em despedida, esquecera-se de sentir saudades, e, enquanto escutava os lentos
passos, imaginava o seu escritrio pintado de azul.
COMENTRIOS
Nesta redao, o candidato narra em terceira pessoa a experincia de Andr, que
descobre uma nova alegria de viver ao participar de uma manifestao de flash
mob na Avenida Paulista, local onde ficava seu escritrio de trabalho. A participao espontnea da personagem na manifestao de rua justifica-se, no texto, pela
rotina tediosa em que vivia, da mesma forma com que sua vivncia noturna ao
lado dos amigos que conheceu na mobilizao explica a nova percepo da cidade
e do lugar de trabalho.
Nota-se que o candidato trabalha bem o recorte temtico e atende s instrues
da proposta. Aproveita os elementos selecionados na coletnea re-significandoos, de modo a sustentar seu projeto de texto. A voz narrativa introduz e articula as
informaes numa direo clara, organizando o enredo com propriedade.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: O texto traz marcas claras de apropriao temtica no processo de autoria,
ou seja, explora bem as possveis relaes suscitadas na proposta, o que indica
reflexo anterior que permite ao autor dominar a complexidade do tema.
Coletnea: H integrao, com encadeamento ao longo do texto, dos elementos
dos excertos que compem a coletnea no texto do autor. Esse encadeamento
sustenta o projeto de texto. A presena desses elementos confere dinamismo
ao texto em seu conjunto, demonstrando que o autor tem domnio sobre a sua
conduo.
Tipo de texto narrativo: A voz narrativa, alm de definida, introduz e articula com
propriedade todos os elementos descritivos numa direo narrativa clara.
Coerncia: Entendida sob o aspecto da consistncia textual, os elementos internos
sustentam de forma consistente o texto enquanto conjunto possvel.
Coeso: A estruturao sinttico-semntica bem articulada pelos recursos coesivos. A leitura fluida e envolvente.
Modalidade: O candidato domina o padro normativo da lngua escrita e apresenta um conjunto lexical amplo e desenvolto, com poucas ocorrncias imprprias.
18
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Exemplo 2
Cidade oculta na madrugada
Os ps, da mesma forma que sua cabea, latejavam doloridos aprisionadas nas
sofisticadas prises a que eram submetidos: saltos altos italianos e um penteado
de duzentos reais moda da ltima estao. Mais do que o cansao oculto pela
maquiagem feita com esmero seu rosto ansiava exprimir o desnimo e o tdio que
outro evento como aquele lhe causava, o que inexoravelmente no era permitido.
Convenes sociais impingiam um sorriso estanque e a previsvel alegria. Fechava
as portas de sua galeria de arte, aps outra exposio pautada em comentrios
intelectuais e decorada pelo brilho de jias legtimas questionando-se o que era
feito daquela jovem que fora, to entusiasta e absolutamente fascinada pelo
misterioso mundo das cores, formas e contrastes que descobria na faculdade de
Belas Artes. Era naquele tempo uma pequena cidade esta que escolhera para
morar. Trinta anos corridos que fizeram de si uma renomada artista, e de sua
cidade um catico e impessoal mundo que no mais reconhecia ao sobreplo aqueles casares cheios de sutis toques de arte que representavam em sua
memria o espao em que optara por viver.
Piscava em neon quinze minutos para a meia-noite. Caminhando em direo a
sua casa, notou um grupo de jovens rindo alto e bebendo em garrafas de vinho,
numa praa distncia de uma quadra. Tinham latas de tintas nas mos e estavam
sobre um antigo monumento da cidade. Talvez a madrugada estrelada e quieta,
ou a nostalgia das luzes de mercrio da praa, ou ainda o mais provvel que era
seu fastio com a vida... algo destes a fez aproximar-se do grupo, no sem medo.
Imaginava serem vndalos pichadores, mas qual no foi sua surpresa ao descobrir
tratarem-se de um j noticiado bando de jovens que a tempos realizavam pelas
noites inusitadas aes, a fim de chamar a ateno da imprensa e clamar cuidado
para trechos antigos da cidade. Escreviam poesias no cho. Lia-se em vermelho:
Que grite de dor um monumento no atropelo do viaduto sombra do mais cinza
esquecimento. De incio estranharam a presena de uma mulher to elegante,
mas um breve dilogo os puseram vontade.
Estava fascinada. E no apenas pela beleza dos versos, mas tambm pela da praa
e das formas do monumento, a tantos anos em seu caminho, mas nunca desta
forma em seus olhos. Pediu aos rapazes, quase implorando-lhes que a deixassem
seguir com eles naquela madrugada. Em pouco tempo viu-se sem seu penteado
e seus saltos, em um coreto da dcada de trinta, embriagada de vinho barato
experimentando traos de guache em uma simples folha de cartolina com dizeres
de protesto em metforas juvenis. Era como se criasse sua Gioconda, tamanho o
prazer que sentia. Passeou por antigas galerias de lojas e reparou pela primeira vez
em seus azulejos. Visitou a estao ferroviria e contemplou afrescos deteriorados
como a tempos no contemplava uma tela em qualquer parede.
A certa altura, quando ouviu as quatro badaladas do sino da matriz notou que
descobria algo: a cidade. No aquela cidade de homens de terno, de construes
barulhentas, de festas glamourosas. Definitivamente no a mesma cidade de
19
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
trnsito intenso, de aglomeraes nas caladas, de ritmo acelerado. Descobria,
madrugada com aqueles jovens, uma cidade que podia parar para ver, com fosse
uma obra de arte exposta. Percebia seu corpo de cimento e pedra e sua alma de
luzes e sombras. Sentia perfumes de suas praas e prdios antigos, notava seus
amplos espaos fixos. Subitamente notou a ausncia. A cidade se fazia bela pela
ausncia de seu fluxo. Sentia-se penetrando nas veias desse imenso organismo
urbano, mas como que estivesse este em repouso, com batimentos calmos e
espaados. Aquele jorro de carro, sons, pessoas, luzes dava lugar a uma paz em
que a contemplao era permitida.
Foi tomada da jovialidade daqueles rapazes que lhe mostraram uma cidade
esquecida, cheia de arte e de romantismo. Viu-se penetrada de uma poesia escrita
sob uma malha de avenidas duras. Banhou-se de lembranas acumuladas desde
o dia em que chegara de trem aquele lugar e viu pela primeira vez os afrescos da
estao. Admirou a lua emoldurada pela janela de um antigo casaro abandonado.
Embriagou-se da cidade. Desnudou-se de seu vestido caro e provavelmente fez
amor com algum daqueles rapazes em algum lugar belo e antigo sufocado entre
altos e modernos arranha-cus.
Acordou como de costume com o barulho eletrnico de um despertador quase
em compasso com as buzinas das ruas. Foi janela e olhou os prdios em redor. A
cidade parecia-lhe mais catica do que nunca. Teve vontade de chorar.
COMENTRIOS
Nesta redao, o candidato narra em terceira pessoa o encontro noturno de uma
mulher elegante, proprietria de uma galeria de arte, com um grupo de jovens
que fazem intervenes na cidade, a fim de chamar a ateno da imprensa.
A adeso da protagonista s aes do grupo, durante aquela noite, antecedida
de um longo pargrafo de apresentao em que o narrador, ao mesmo tempo
em que introduz fisicamente a personagem, traz luz seus questionamentos,
sugerindo insatisfao com o trabalho, a cidade e a sociedade. Assim, o envolvimento dela com os jovens desconhecidos e o processo de redescoberta da cidade
encontram motivao real na comparao entre as obras expostas nas galerias
de arte e a arte das ruas, que inclui edificaes, esculturas, poesias e a prpria
movimentao humana.
Nota-se que o candidato trabalha o recorte temtico de forma abrangente e
articula noes a ele associadas. Aproveita bem os elementos selecionados na coletnea re-significando-os, de modo a sustentar seu projeto de texto. Assim como
no texto anterior, a voz narrativa introduz e articula as informaes numa direo
clara, organizando o enredo com propriedade.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp,
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: H marcas claras de apropriao temtica no processo de autoria, ou seja, o
candidato explora bem as possveis relaes suscitadas na proposta, o que indica
reflexo anterior madura que permite ao autor dominar a complexidade do tema
e trat-lo de forma dinmica.
Coletnea: H integrao, com encadeamento ao longo do texto, dos elementos
dos excertos que compem a coletnea no texto do autor. Esse encadeamento
sustenta o projeto de texto. A presena desses elementos confere dinamismo
ao texto em seu conjunto, demonstrando que o autor tem domnio sobre a sua
conduo.
Tipo de texto: A voz narrativa, alm de definida, introduz e articula com propriedade todos os elementos descritivos numa direo narrativa clara. O candidato
demonstra domnio sobre o jogo narrativo, controlando a tenso e o ritmo do
texto.
Coerncia: Entendida sob o aspecto da consistncia textual, os elementos internos
sustentam de forma consistente o texto enquanto conjunto possvel, tornando
singular a integrao entre a forma da narrativa e o contedo narrado.
20
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Coeso: A estruturao sinttico-semntica bem articulada pelos recursos coesivos. A leitura fluida e envolvente.
Modalidade: O candidato domina o padro normativo da lngua escrita e apresenta um conjunto lexical amplo e desenvolto, sem impropriedades.
EXEMPLO DE REDAO ABAIXO DA MDIA
A noite na cidade grande.
De cabea baixa, andava Caico, garoto pobre que veio para So Paulo, iludido
com o sonho de vencer na cidade, sonho esse que logo percebeu que no
conseguiria realizar. Foi quando levantou a cabea e comeou a notar o que a
cidade tinha a oferecer, observou atentamente aquele lugar agitado, onde s se
vira carros, pessoas esquisitas mutiladas com piercings, cabelos pintados, prdios
enormes, o tempo passa rpido na cidade grande, pensou Caico.
Caico ento decidiu conhecer a noite na cidade grande, se juntou a um grupo que
saia durante a noite paulista para observar a vida noturna paulistana.
Foi neste momento que Caico descobriu que a cidade grande no para, coisa de
que ele j ouviu falar e no acreditava. Viu shoppings abertos, academias lotadas,
o futebol correndo solto em plena madrugada, bares, tentativas de assalto, pronto
socorro sempre lotados.
O que pior viu uma cidade em que o lixo jogado nas ruas, ruas sem iluminao,
trafico de drogas sem ser combatido, pessoas passaram por eles com medo
desconfiadas, ou seja, uma grande cidade, com culturas, costume, lazer e muita
diverso e ao mesmo tempo muita violncia e insegurana.
Caico pensou que seria melhor voltar para seu lugar de origem, como vrios amigos
que vieram atrs de emprego fcil e descobriram que a cidade grande diverti, mas
tambm destroe a vida de quem veio com pouco e acaba voltando com menos
ainda. Caico pegou o Itapemirim com destino a Serra Talhada torcendo para que
o progresso desenfreado no tenha chegado a sua regio.
COMENTRIOS
Nesta redao, o candidato narra em terceira pessoa a experincia de um garoto
pobre chamado Caico que, como tantos outros migrantes, vem a So Paulo em
busca de um ideal de prosperidade, logo desfeito. A desiluso do protagonista
com o futuro prspero na cidade grande narrada a partir de sua deciso de
observar atentamente os lugares. Tendo passado por uma srie de descobertas,
conclui pela volta cidade de origem, onde os males do progresso ainda no
chegaram.
Com relao ao recorte temtico, nota-se que o candidato desenvolveu apenas
parcialmente as instrues da proposta. No h, por exemplo, informaes sobre
21
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
o encontro do garoto com o grupo que vivencia a cidade noite, nem menes
ao modo como ele se identifica com este grupo. Sendo assim, a transformao
sofrida pela personagem no resulta do contato com o grupo, mas das constataes relativas a uma viso negativa que o candidato tenta transmitir sobre a vida
nas metrpoles.
Quanto ao aproveitamento da coletnea, nota-se que o candidato pouco utilizou
as possibilidades oferecidas pelos excertos, atendo-se sobretudo, ao enunciado
da proposta que chama a ateno para as atividades contnuas nas cidades. H
no texto do candidato um uso fragmentrio de elementos dos excertos, formando
uma espcie de painel urbano genrico e desligado do tempo e da ao do protagonista, cujo papel se limita ao de observador. Nesse papel, o protagonista no
ganha consistncia e se transforma em mero instrumento de transmisso das
idias do narrador.
Em conseqncia disso, o texto narrativo se aproxima do dissertativo, pois no
explora suficientemente os elementos ficcionais.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp,
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: O texto mostra que as marcas de apropriao temtica no processo de autoria da narrativa so frgeis. Embora no se perca, o candidato trabalha o tema de
forma superficial, justapondo idias atribudas, neste caso, ao personagem, sem
que estas tenham sido motivadas por uma vivncia objetiva na cidade.
Coletnea: Embora haja alguma integrao dos elementos dos excertos que
compem a coletnea no texto do candidato, ela frgil. Essa se deve a uma
integrao apenas pontual dos elementos no texto do candidato.
Tipo de texto narrativo: A voz narrativa est definida em terceira pessoa e h tentativa de organizar o enredo, mas as informaes se articulam de modo frgil e os
elementos descritivos esto dispostos de modo precrio.
Coerncia: Entendida sob o aspecto da consistncia textual, o modo de construir
essa consistncia frgil, interferindo na sustentao do texto enquanto conjunto
possvel.
Coeso: Embora o uso dos recursos coesivos apresente falhas, estas no chegam
a impedir a unidade na estruturao sinttico-semntica do texto. A leitura no
fica comprometida.
Modalidade: H ocorrncias principalmente de pontuao, acentuao e ortografia. O texto apresenta um conjunto lexical razovel, com algumas impropriedades.
EXEMPLO DE REDAO ANULADA EM TEMA E COLETNEA
22
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Joo algum
Joo era um professor do ensino pblico na cidade de So Paulo, dava aulas todos
os dias em uma escola prximo da Avenida Paulista, aulas de matemtica como
seus alunos costumavam dizer. Estava com seus 50 anos prximo de se aposentar,
e dizia que no via a ora de por a mo no seu fundo de garantia para comprar um
sitiozinho no interior pra l poder descansar em paz. Era uma pessoa simples, de
ombros curvados, no s pela idade, mas tambm devido presso, que ele dizia:
um dia destes ainda morro com tanta presso sobre meus ombros, exercida
pela sociedade.
Mas ento quando faltava poucos meses para se aposentar, eis que houve
mudanas no pais, um novo presidente havia sido eleito, e o povo dizia que era
hora de mudana, que o pais agora iria decolar, etc. Joo sabia que no era bem
assim, mas no sabia o que estava por vir.
Um belo dia este novo governante achou melhor fechar as escolas, pois dizia que
no havia melhor sistema de ensino do que a vida, e que com a Internet todos
poderiam ter acesso educao, pesquisa e a qualquer informao que quisesse.
Foi um escndalo. O povo queria tirar o tal governante fora, de qualquer
maneira. Mas o problema que o novo presidente era militar e tinha o apoio dos
militares e de suas armas.
O pais viu-se em meio uma ditadura militar, e Joo viu-se na rua da amargura.
COMENTRIOS
Com relao ao recorte temtico, nota-se que o texto foge totalmente proposta
apresentada, pois narra a decepo sofrida por um professor da rede pblica de
ensino, demitido s vsperas da aposentadoria, em decorrncia da mudana de
regime poltico. O candidato no seguiu as instrues e desenvolveu a narrativa
em torno da problemtica profissional da personagem. Alm disso, nota-se que
embora haja meno cidade de So Paulo, esta no faz parte integrante da
narrativa, nem est descrita em termos de ambiente noturno. No h encontro
de qualquer tipo (fsico, virtual, afetivo, visual, etc.) com um grupo que vivencie
a noite e com o qual a personagem se identifique. A transformao que afeta o
protagonista em sua atividade profissional de ordem poltica, no tendo efeito
na percepo que ele tem da cidade.
Quanto coletnea, pode-se afirmar que no h um aproveitamento mnimo, a
no ser pelo fato de que o texto trata de um episdio ocorrido na cidade de So
Paulo.
23
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
4.3. PROPOSTA C
EXEMPLOS DE REDAES ACIMA DA MDIA
Exemplo1
Campinas, 23 de novembro de 2003
Excelentssima Prefeita,
Venho como fiel eleitor fazer uma singela solicitao, na certeza de que
serei atendido, visto estar ao vosso alcance, e ser de vosso interesse o que pedirei,
como se evidenciar no que segue.
Sou morador do Jardim Santa Genebra. L nasci, l fui criado. Em meu
bairro, a trs quarteires de minha casa, h um grande terreno de esquina: um
terreno de cho batido, palco de minha infncia. Ali meu pai me ensinou a soltar
pipa; naquele pedao de cho batido fiz meu primeiro gol, freqentei minha
primeira quermesse, beijei minha primeira namorada. Ali convivi 43 anos com os
demais habitantes, no s do Genebra, mas tambm dos bairros circunvizinhos;
fiz grandes amizades, que ainda hoje guardo. Ali, nos churrascos improvisados,
surgiram idias que resultaram em Associaes de Moradores e at em enredos
de escola de samba.
Meu pai me contava, quando era vivo, que o at h poucos meses ponto
de encontro da regio era puro mato, cheio de ratos e entulho de construo.
Foram meu pai e seus amigos os transformadores da rea: carpiram, colocaram
traves de futebol, mesas e bancos de cimento espalhados por um belo jardim.
H trs meses uma sbita transformao, feita nossa revelia, ps abaixo
e murou nossa pracinha. Nada pudemos fazer. O dono da propriedade surgiu de
repente. Ficamos desnorteados... onde brincaro nossas crianas? Onde a pelada
de domingo? De freqentadores passamos a invasores. Ns, os mais velhos,
chocados, sem reao. Nossos adolescentes, privados de referncia, partiram para
a depredao, pixando o muro que l foi erguido, quebrando as lajotas que ora
ocultam a histria de centenas de ns.
Depois de trs meses, reunindo-nos ora numa ora noutra casa, algum
teve a idia de comprarmos o terreno por meio das trs Associaes de Moradores
envolvidas: a da Vila Cury, a do Genebra e a do Costa e Silva. Fomos falar com o
proprietrio...
Bem, o terreno era imenso, trs lotes em que cabia boa parte de
nossas vidas. O preo justo j seria alto, mas o valor pedido era impraticvel:
R$ 450.000,00, 50% acima do valor de mercado. A bem da verdade, no
havia interesse na venda. Aquele senhor pretendia construir ali um conjunto de
estabelecimentos comerciais, para locao.
Veja o que pode a especulao imobiliria! Destruir nosso ponto de
referncia, diluindo nossa comunidade; pois era ali, principalmente, que nossa rede
24
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
social era diariamente tecida. Nossa praa, freqentavam tanto os ricos quando
os menos favorecidos, tanto os catlicos quanto os evanglicos, tanto bugrinos
quanto ponte pretanos. Era o nosso lugar, seguro e agradvel, e zelvamos por
ele.
Diante do que narrei, creio que a senhora j tenha uma idia de como nos
ajudar... O que solicito, em nome das comunidades envolvidas, a desapropriao
do terreno e posterior tombamento. E antes de a senhora pensar em verbas
comunico, em nome das Associaes, que estamos dispostos a pagar de nosso
bolso todo o custo da desapropriao, esperando apenas que, pela mediao da
Prefeitura, seja cobrado um preo justo, e negociadas condies de pagamento
de acordo com nossas possibilidades. Pagamos de bom grado, cientes de que no
um terreno o que compramos, mas nossa histria, nossas memrias, e o futuro
harmonioso de trs grandes bairros to dispares, mas unidos no interesse deste
resgate.
Quanto ao tombamento, aps recuperada a praa, para salvaguardar
nossas futuras geraes de possveis interesses polticos contrrios comunidade,
porque doaremos a praa, comprada e recuperada, Prefeitura. Ressalto que
tombar uma praa, um campinho de futebol e um jardim, no idia inusitada. A
idia, alis, nos surgiu quando soubemos que l na capital uns tantos campos de
vrzea foram tombados pelo valor afetivo que tinham para os paulistanos.
Prefeita, peo urgncia na considerao desse pedido, pois a qualquer
momento o proprietrio poder iniciar a construo de seu mesquinho prdio.
Considere que nada custar aos cofres pblicos; pelo contrrio, a cidade ganha
mais um patrimnio, um patrimnio afetivo, mais uma marca de sua identidade.
senhora, minha gratido, certo, reafirmo, de que serei atendido.
De seu mui humilde eleitor,
D.N.R.L,
representante das Associaes de moradores dos Bairros Jardim Santa Genebra,
Miguel Vicente Cury e Costa e Silva.
COMENTRIOS
J afirmamos que uma boa carta deve conseguir ter bem definida a imagem de
quem a escreve e de quem a recebe, o que significa que a interlocuo proposta
pela carta deve ser particularizada, indo alm de um preenchimento formal e
padro.
Esta carta uma redao acima da mdia justamente pelo conjunto de detalhes
que particularizam sua autoria. Vale observar os segundo e terceiro pargrafos,
em que o autor da carta vai construindo um cenrio que distingue a singela
solicitao anunciada no primeiro pargrafo e, inclusive, desfaz o sentido piegas
das expresses fiel eleitor e singela solicitao. O recorte temtico vai sendo
bem articulado num desenho interessante de uma situao que, embora no
sendo incomum o conflito entre a propriedade privada e a utilizao pblica
de um terreno no qual se localizava a pracinha do bairro - adquire contornos de
especificidade que a tornam um bom argumento para uma carta endereada
prefeita de Campinas.
tambm interessante a maneira pela qual o autor apresenta a coletnea, fugindo
de citaes encaixadas ao longo da redao. No nono pargrafo da carta lemos:
A idia, alis, nos surgiu quando soubemos que l na capital uns tantos campos
de vrzea foram tombados pelo valor afetivo que tinham para os paulistanos.
Uma referncia coletnea que mostra a capacidade de apropriao, pelo autor
da carta, da leitura feita dos excertos propostos na prova. Uma questo importante conseguir incorporar a leitura escrita, de forma a que esses dois processos se inter-relacionem. Mesmo que nesta carta o autor no tivesse explicitado a
referncia coletnea, podemos observar que o encaminhamento de sua argumentao e de seu relato vai fazendo ressoar pontos tambm de outros excertos
alm do 9, como por exemplo o excerto 3, que traz uma relao simblico-afetiva
25
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
com a cidade: Suave mistrio amoroso, Cidade de meu andar, que resume as
experincias vividas pelo autor da carta no segundo pargrafo um terreno
de cho batido, palco da minha infncia. Ali meu pai me ensinou a soltar pipa;
naquele pedao de cho batido fiz meu primeiro gol, freqentei minha primeira
quermesse, beijei minha primeira namorada. [...]. Tambm o excerto 7, em que
lemos um emaranhado inextrincvel de sinais, de traados aparentemente arbitrrios, [...] que mil vezes se cruzam, retomado na carta pela formulao era
ali, principalmente, que nossa rede social era diariamente tecida. Ressaltamos
que a relao entre leitura e escrita no precisa, e muitas vezes no deve, ser
pontual. O importante poder observar que o processo de escrita foi afetado pelo
processo de leitura.
Um deslize cometido nesta redao o tempo verbal do sexto pargrafo, escrito
no passado. As questes ali enfocadas so presentes: o terreno imenso, o
valor impraticvel, no h interesse na venda, aquele senhor pretende
construir.
Ainda dois momentos de pieguice a serem desfeitos: salvaguardar nossas futuras
geraes e de seu mui humilde eleitor. Mas so pontos que no conjunto do
texto podem ser relevados, dadas as outras qualidades aqui discutidas.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp,
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: O recorte temtico trabalhado de forma abrangente e as idias a ele vinculadas so bem articuladas, o que configura consistncia no processo de autoria.
H dinamismo no tratamento do tema.
Coletnea: Nesta redao, observamos uma boa integrao da leitura dos excertos que compem a coletnea, com sustentao do projeto de texto.
Tipo de texto: Esta redao apresenta uma slida interlocuo argumentativa e a
convergncia das formulaes com as imagens que estabeleam a relao entre
quem escreve e quem recebe a carta muito consistente, o que particulariza a
solicitao apresentada.
Coerncia: Os elementos internos sustentam consistentemente o texto enquanto
conjunto possvel, tornando singular a integrao entre forma e contedo.
Coeso: A estruturao sinttico-semntica desta redao est bem articulada, e
h fluidez na leitura.
Modalidade: O conjunto lexical desta redao bom, h desenvoltura na sua utilizao, embora observemos a ocorrncia de expresses cristalizadas.
26
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Exemplo 2
Querida Marta!
Obrigada por ter me escrito, que to bom saber que nossos amigos no se
esqueceram da gente. difcil, na nossa idade, largar tudo assim, sair da casa onde
passou a vida inteira. Pelo menos mantendo o contato com os amigos, mata um
pouco a saudade.
Queria te dar parabns. Como voc est se dando ao cargo? Dona Marta,
presidente da Associao dos Moradores do Bairro... Sabe, fiquei muito feliz ao ler
que voc foi eleita, pelo menos vai se preocupar com as coisas. No como aquele
homem que foi presidente quando eu morava por l ainda, como era mesmo o
nome dele? Acredita que eu o vi por aqui h umas semanas, com aquela secretria
pelo brao...
Mas ento... O meu neto, o Luisinho, o mais novo, veio me falando ontem dessas
coisas de patrimnio histrico. Se bem que eu nunca fui muito entendida nisso,
e esses jovens de hoje que me parece que adoram se fazer de inteligentes... Pois
ele me disse que deveriam tombar a pracinha l do bairro. Que eu vivia falando
para eles, ento... Estranhei a cidade est cheia de praas, tudo igual nossa...
Ento o Luisinho foi me explicando, disse que a pracinha patrimnio afetivo da
comunidade, assim mesmo. Que tudo que importante para a populao pode
se tombado.
Fiquei um bom tempo pensando nisso. E no que deveria mesmo? Que a
pracinha eu acho que o lugar mais importante do bairro. Se voc pegar qualquer
pessoa que morou por l por um tempo, no desses que vem e vo, e pedir para
falar da vida, sempre acaba nela... Quem viveu no bairro desde criana, como a
gente, ento... A infncia, a juventude, o que havia de brincadeira, de namorar...
Gente que est casada faz meio sculo e havia se conhecido na pracinha, como
voc e o Jorge.
Olha que deveriam tombar mesmo, talvez assim algum se preocuparia mais em
cuidar de l. Que como est agora eu no sei, mas quando eu estava me mudando
era tudo s mato. Criava at bicho, ratos, um horror. At bandido se escondia l,
lembra que a polcia falou quando assaltaram a casa do seu Cristovo, coitado...
E nem tanto para os velhos, que a gente s memria mesmo, deveriam tombar
para as crianas. Porque olha como est agora, os pequenos brincando tudo pelas
ruas. S por um milagre que ainda no atropelaram ningum...
Fiquei pensando nisso... E quando recebi a sua carta hoje de manh, e li que voc
tinha sido eleita Presidente da Associao dos Moradores, achei que deveria te
escrever sobre isso. Algo to importante para o bairro, como era mesmo? Sim,
patrimnio afetivo da comunidade. Quem sabe voc consegue fazer alguma coisa
para que a pracinha seja tombada e preservada...
Quanto ao resto, estamos todos bem aqui e espero que voc e todos os outros
meus amigos de l do bairro tambm estejam. A Carol te manda beijos.
Abraos,
Ana do G.
27
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
Tambm esta redao acima da mdia apresenta uma interlocuo muito bem
definida, na qual as imagens de quem escreve e de quem recebe a carta vo sendo
ajustadas em torno de uma memria comum. Uma carta que traz bem dosada a
informalidade que caracteriza a amizade das duas interlocutoras e a preocupao
em situar o leitor frente histria de vida comum a ambas, histria da qual faz
parte a pracinha que dever ser tombada e que constitui o principal argumento
da carta.
bem elaborada a maneira pela qual a autora vai tornando familiar a noo de
patrimnio histrico ao argumentar pelo tombamento da pracinha. Ela vai
entrelaando sua argumentao com elementos particulares da sua vida e da
vida de sua interlocutora, o que permite que a pracinha seja significada como
patrimnio afetivo da comunidade e, portanto, um patrimnio histrico a ser
tombado.
Ao propor a pracinha como o patrimnio afetivo da comunidade a ser tombado, significando-a como o espao de convivncia central do bairro, inclusive um
espao no qual, por culpa do descuido, at bandido se escondia, a autora da
redao faz ressoar a parte final do excerto 8 e o excerto 9, nos quais lemos uma
espcie de praa interbairros que organiza a convivncia, nem sempre amena,
de grupos e redes sociais, e tambm o tombamento de espaos como terreiros
de candombl, stios remanescentes de quilombos [...]. No quarto pargrafo da
redao, a pracinha significada como um grande fixo por onde circulam tantos fluxos (excerto 5): eu acho que o lugar mais importante do bairro. Se voc
pegar qualquer pessoa que morou por l por um tempo, no desses que vm e
vo, e pedir para falar da vida, sempre acaba nela... Maneiras de fazer uso da
coletnea sem necessariamente citar trechos pontuais dos excertos.
Em termos de recursos coesivos e padro normativo da escrita, esta redao apresenta vrios deslizes que nos obrigam a avali-la como mediana. No entanto, no
cmputo geral, podemos certamente consider-la um processo de autoria bastante interessante.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp,
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: O recorte temtico trabalhado de forma abrangente e as idias a ele vinculadas so bem articuladas, o que configura consistncia no processo de autoria.
H dinamismo no tratamento do tema.
Coletnea: Nesta redao, observamos a integrao da leitura dos excertos que
compem a coletnea, com sustentao do projeto de texto.
Tipo de texto: Esta redao apresenta uma slida interlocuo argumentativa e a
convergncia das formulaes com as imagens que estabeleam a relao entre
quem escreve e quem recebe a carta to consistente, que produz singularizao
na relao entre o eu e o tu.
Coerncia: Os elementos internos sustentam consistentemente o texto enquanto
conjunto possvel, tornando singular a integrao entre forma e contedo.
Coeso: Embora a estruturao sinttico-semntica desta redao apresente falhas, estas no comprometem a fluidez da leitura.
Modalidade: O conjunto lexical desta redao bom, com a ocorrncia de impropriedades no que se refere ao padro normativo da escrita.
28
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO DE REDAO ABAIXO DA MDIA
So Paulo, 23 novembro 2003
Caro Gustavo Liberato,
Venho por meio desta apresentar a importncia da preservao do estdio de
futebol Ccero Pompeu de Toledo, onde foram revelados diversos cones do
esporte que o smbolo nacional brasileiro.
Tomando como base a necessidade de enaltecer o nosso sentimento patriota,
devemos conservar aquele que foi um dos beros dos cones do esporte que
o nosso smbolo nacional, e que hoje, e antigamente j o fizeram, representam
nosso pas com garra. Analisando o fato de que por diversos motivos o estdio
possa deixar de existir, vemos a necessidade de passar os cuidados do mesmo ao
governo para que sejam tomadas as devidas precaues e ento sempre teremos
esse patrimnio histrico que ser contemplado pelos nossos descendentes.
Peo ento para que colabore e seja mais um aliado na luta para a preservao
deste, que poder um dia no existir mais.
Grato,
GTS
COMENTRIOS
Esta redao abaixo da mdia um bom exemplo do que podemos denominar um
trabalho de escrita e leitura de pouqussimo investimento por parte do candidato.
sem dvida uma carta que fica restrita a um preenchimento formal da solicitao trazida pela proposta C da prova de redao, sem construir um processo de
autoria minimamente particularizado. As imagens dos interlocutores envolvidos
no so trabalhadas em momento algum. A carta, dirigida a Gustavo Liberato,
nos faz lembrar do apresentador Gugu, cujo nome, se no nos falha a memria,
Augusto Liberato. E mesmo que o apresentador tivesse sido corretamente
nomeado, no se desfaz a necessidade de argumentar por essa escolha, menos
bvia que a escolha, por exemplo, de figuras do poder executivo e legislativo.
sempre interessante definir a imagem da pessoa a quem a carta se dirige, e em
alguns casos isso fundamental. Tambm a imagem de quem escreve a carta
fica, nesta redao, absolutamente vazia, o que permite que ela seja assinada por
qualquer outro indivduo. justamente nesse sentido que a carta se caracteriza
como uma carta indistinta, apenas um preenchimento formal da solicitao feita.
O candidato escolheu um bem urbano o estdio de futebol Ccero Pompeu de
Toledo e argumentou em favor da preservao desse bem, sem quaisquer particularizaes e referncias que contextualizem o leitor e expandam o argumento
apresentado: ser um bero dos cones do esporte que nosso smbolo nacional
[...] e representam nosso pas com garra.
Quando lemos analisando o fato de que por diversos motivos o estdio possa
29
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
deixar de existir, vemos a necessidade de passar os cuidados do mesmo ao governo para que sejam tomadas as devidas precaues [...], necessariamente nos
perguntamos: Quais os diversos motivos que podem levar o estdio a deixar de
existir? Quais as devidas precaues a serem tomadas? Esse estdio deve ter prioridade em relao a outros? Boas oportunidades perdidas para um bom trabalho
de escrita e leitura.
E vemos que, em razo de no ter havido um investimento na escrita da carta,
tambm a leitura fica apresentada de forma mnima e o uso da coletnea extremamente restrito. A escolha de um estdio de futebol apenas sintomatiza a leitura do
excerto 9. importante observar que o trabalho da escrita abre para o trabalho de
leitura, assim como o contrrio.
Em relao aos seis critrios balizadores da correo do Vestibular da Unicamp,
resumiramos da seguinte forma a avaliao desta redao:
Tema: As marcas de apropriao temtica no processo de autoria so bastante
frgeis, ou seja, o recorte temtico apresentado de forma banalizada e superficial, com alguma tentativa de articulao de idias a ele vinculadas.
Coletnea: No h integrao da leitura dos excertos que compem a coletnea
nesta redao.
Tipo de texto: Nesta redao, as formulaes configuram um preenchimento
formal do padro carta, sem constituio de uma direo argumentativa e de imagens que estabeleam relao entre quem escreve e quem recebe a carta.
Coerncia: H inconsistncias que fragilizam a sustentao deste texto como
conjunto possvel.
Coeso: A estruturao sinttico-semntica desta redao no apresenta falhas
formais, mas no pode ser definida como bem articulada.
Modalidade: O conjunto lexical desta redao razovel, com a ocorrncia de
algumas imprecises.
30
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO DE REDAO ANULADA EM TEMA E COLETNEA
So Paulo 23 de novembro de 2003
Ao Exmo Geraldo Alqueme
Governador de Estado de So Paulo.
Prezado Governador
Escrevo-lhe esta missiva para convenc-lo sobre os problemas que cercam o
transito da cidade de So Paulo.
Como morador dessa cidade, sinto-me no dever de questionar os muitos riscos e
defeitos que o transito paulista apresenta.
O elevado nmero de automveis, motos, e vns que congestionam cada vez mais
as ruas e avenidas geram muitos acidentes, os quais acabam com vidas colaboram
com engarrafamentos e tornam o transito enfadonho, o que causa um grande
estrs entre os motoristas. Vejo, que tais fatores podem vir a prejudicar a economia
do estado na medida que diminuem a eficincia do trabalhador, pois este j chega
cansado ao trabalho devido as pssimas qualidades que o transito oferece.
Penso tambm, nos problemas ecolgicos gerados pela elevada taxa de gs
carbonico emitidas pelos meios de transportes, que agravam cada vez mais o
efeito estufa.
A meu ver governador Alqueme, acredito que a melhoria nos meios de transportes
coletivos pblicos tornaria a vida do cidado paulista mais prspera, pois o
transporte coletivo bem projetado para o contingente populacional de So Paulo
reduziria o transito vergonhoso que assola tanto esse Estado.
Acredito que investimentos no setor pblico de transportes e a melhor preservao
destes poderia acabar com o caos nas vias pblicas. Digo tambm que essa reforma
geraria mais empregos e poderia aumentar o nmero de pesquisas nesse campo,
fator que estimularia a tecnologia em todo o pas atravs de recursos que possam
diminuir os gstos dos combustveis e conseqentemente preservar a Ecologia.
Entrego-lhe esta idia e aguardo atenciosamente sua colaborao. Pesso que
pense em articular esse projeto, visto que o transito catico no um defeito
apenas de So Paulo e sim de cidades do mundo inteiro.
Respeitosamente,
M.G.
31
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
O recorte temtico definido na proposta C da prova de redao solicitava ao
candidato escrever uma carta a algum que pudesse se tornar um aliado, argumentando em favor da preservao de um bem urbano, material ou no, considerado relevante para a cidade.
Podemos dizer que a discusso proposta nesta redao atende ao tema geral da
prova de primeira fase Cidade -, mas foge ao recorte do tema acima retomado.
Convencer o governador sobre os problemas que cercam o trnsito da cidade
de So Paulo um objetivo que desconsidera tanto a escolha do bem urbano
quanto a argumentao em favor da preservao desse bem.
Tambm observamos a desconsiderao total dos excertos que compem a
coletnea. A perspectiva de cidade apresentada nesta carta completamente
negativa e se restringe a reiterar os lugares comuns nos quais o trnsito sempre
significado: caos, congestionamento, m qualidade... Alm disso, o candidato
estabelece relaes bastante grosseiras, do ponto de vista argumentativo, entre o
trnsito, a economia e a ecologia: prejuzo da economia do Estado pela diminuio da eficincia do trabalhador; diminuio dos gastos dos combustveis e
conseqente preservao da Ecologia.
32
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
MATEMTICA
Como em anos anteriores, as duas questes de matemtica [questes 1 e 2] foram
simples, procurando avaliar a compreenso de textos e de dados; a capacidade
de realizar clculos elementares e de interpretar esses clculos atravs de uma
resposta objetiva. O uso de unidades e o desenvolvimento do raciocnio tambm
so devidamente avaliados atravs de problemas contextualizados.
QUESTO 1
A cidade de Campinas tem 1 milho de habitantes e estima-se que 4%
de sua populao viva em domiclios inadequados. Supondo-se que, em
mdia, cada domiclio tem 4 moradores, pergunta-se:
a) Quantos domiclios com condies adequadas tem a cidade de
Campinas?
b) Se a populao da cidade crescer 10% nos prximos 10 anos, quantos
domiclios devero ser construdos por ano para que todos os habitantes
tenham uma moradia adequada ao final desse perodo de 10 anos? Suponha ainda 4 moradores por domiclio, em mdia.
RESPOSTA ESPERADA
a) (2 pontos)
1.000.000 hab / (4 moradores/domiclio) = 250.000 domiclios.
96% de 250.000 = 240.000.
Resposta: 240.000 domiclios com condies adequadas.
b) (3 pontos)
1.000.000 + 10% de um milho = 1.100.000.
1.100.000 / 4 = 275.000 domiclios.
Logo, tero que ser construdos 35.000 novos domiclios em 10 anos.
Resposta: 3.500 domiclios por ano.
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
33
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
O clculo de porcentagens e a compreenso desse assunto tm sido objeto de diversas questes de matemtica da primeira fase do vestibular da Unicamp, ao longo dos anos. No caso desta questo, alm de avaliar os clculos e o entendimento
das respostas, a banca examinadora procurou dirigir a ateno dos candidatos
para um problema social relevante, no somente na cidade de Campinas, mas
em quase todas as grandes cidades brasileiras. Notamos a dificuldade de alguns
candidatos na compreenso da proposta do item b. Mesmo assim, o resultado foi
considerado satisfatrio, com mdia 3,07 na escala 0-5.
QUESTO 2
Supondo que a rea mdia ocupada por uma pessoa em um comcio seja
de 2.500 cm2, pergunta-se:
a) Quantas pessoas podero se reunir em uma praa retangular que mede
150 metros de comprimento por 50 metros de largura?
b) Se 3/56 da populao de uma cidade lota a praa, qual , ento, a
populao da cidade ?
RESPOSTA ESPERADA
a) (2 pontos)
150 m x 50 m = 7.500 m2.
2.500 cm2 = 50cm x 50cm = 0,5m x 0.5m = 0,25 m2.
7.500 / 0,25 = 30.000
Resposta: 30.000 pessoas.
b) (3 pontos)
3/56 30.000. Ento 1/56 10.000.
56/56 560.000.
Resposta: 560.000 habitantes.
34
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Esta questo, envolvendo idias bsicas de geometria e fraes, procurou avaliar o
uso correto de unidades, a percepo de dimenses e sua adequao realidade
e a capacidade de efetuar clculos simples. A questo no apresentou dificuldade
maior. Conseqentemente, a nota mdia foi alta: 3,73.
35
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
QUMICA
No processo evolutivo da sociedade humana, a cidade ao mesmo tempo em que
conseqncia, causa. Dentro desse complicado mecanismo de evoluo, o
conhecimento e o domnio da matria que forma o nosso mundo so assuntos
de fundamental importncia, pois constituem, a medida em que surgem e juntamente com outros aspectos do saber, o leito por onde corre o fluxo da evoluo
humana. A Qumica, que estuda e compila conhecimentos sobre a matria,
de fundamental importncia nesse processo, inclusive no desenvolvimento da
urbanizao, por permitir a resoluo de vrios problemas pertinentes e por criar
novas possibilidades que favorecem a estruturao das cidades.
Nas duas questes de Qumica apresentadas neste vestibular, a banca procurou,
de uma maneira muito simples, mostrar facetas, at certo ponto bvias, da contribuio desse ramo do conhecimento ao processo de construo das cidades.
QUESTO 3
Da caverna ao arranha-cu, o homem percorreu um longo caminho. Da
aldeia, passou cidade horizontal, e desta, verticalizao. O crescente
domnio dos materiais e, portanto, o conhecimento de processos qumicos
teve papel fundamental nesse desenvolvimento. Uma descoberta muito
antiga e muito significativa foi o uso de Ca(OH)2 para a preparao da argamassa. O Ca(OH)2 tem sido muito usado, tambm, na pintura de paredes, processo conhecido como caiao, onde, reagindo com um dos constituintes minoritrios do ar, forma carbonato de clcio de cor branca.
a) D o nome comum (comercial) ou o nome cientfico do Ca(OH)2 .
b) Que faixa de valores de pH pode-se esperar para uma soluo aquosa
contendo Ca(OH)2 dissolvido, considerando o carter cido-base dessa
substncia? Justifique.
c) Escreva a equao que representa a reao entre o Ca(OH)2 e um dos
constituintes minoritrios do ar, formando carbonato de clcio.
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
cal, cal queimada, cal extinta, cal apagada
hidrxido de clcio, di-hidrxido de clcio
b) (2 pontos)
pH > 7, de 7 a 14, de 8 a 11
Justificativa: porque o Ca(OH)2, ao ser dissolvido em gua, se dissocia em ons
Ca2+ e OH, aumentando assim a concentrao de OH e, portanto, o pH ser
superior a 7.
Justificativa: porque o Ca(OH)2,em soluo aquosa, uma base pois fornece ons
OH.
c) (2 pontos)
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
36
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Trata-se de questo considerada fcil pela banca elaboradora, j que, por um lado,
consiste em uma pergunta clssica e, por outro, consiste em um tpico largamente estudado no Ensino Mdio o hidrxido de clcio e o hidrxido de carbono
e suas reaes. Portanto, era esperado um bom desempenho dos candidatos, o
que foi, de fato, observado, considerando-se a mdia 2,61 obtida (na escala de
zero a cinco).
QUESTO 4
37
No processo de verticalizao das cidades, a dinamizao da metalurgia
desempenhou um papel essencial, j que o uso do ferro fundamental
nas estruturas metlicas e de concreto dos prdios. O ferro pode ser obtido, por exemplo, a partir do minrio chamado magnetita, que um xido
formado por ons Fe3+ e ons Fe2+ na proporo 2:1, combinados com ons
de oxignio. De modo simplificado, pode-se afirmar que na reao de
obteno de ferro metlico, faz-se reagir a magnetita com carvo, tendo
dixido de carbono como subproduto.
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
a) Escreva a frmula da magnetita.
b) Qual a percentagem de ferro, em massa, na magnetita? Massas molares, em g mol-1: Fe = 56 ; O = 16.
c) Escreva a equao que representa a reao qumica entre a magnetita,
ou um outro xido de ferro, e o carvo produzindo ferro elementar.
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
Fe3O4 ou Fe2O3.FeO
b) (2 pontos)
M Fe3O4 = (56x3) + (16x4) = 232g/mol
168 x 100 = 72,4%
232
c) (2 pontos)
Fe3O4 + 2C = 3Fe + 2CO2
Ou
2 Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2
Ou
2 FeO + C = 2Fe + CO2
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
38
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
Como a questo anterior, esta trata de um assunto muito estudado na escola.
Porm, o enunciado foi colocado de uma forma no clssica onde, em lugar de
se pedir conhecimento simplesmente acumulado, exige-se que o candidato retire,
tambm, informaes do prprio enunciado para, ento, chegar s respostas. A
banca estimava que esta questo seria mais difcil do que a 3 acima. O que se
observou, no entanto, que a dificuldade, expressa pela mdia alcanada (0,71
na escala de zero a cinco e tambm os 73,2% de zeros) superou muito as expectativas. Isso mostra que o trabalho de associao de informaes encontra-se,
ainda, aqum do desejado. Podemos dizer que, de um modo geral, os estudantes
continuam a ser treinados a resolver perguntas de modo pr-programado.
FSICA
As duas questes de Fsica tiveram como objetivo avaliar a capacidade do candidato de interpretar grficos e esquemas grficos, associados a conceitos fsicos
de mecnica (questo 5) e termologia (questo 6).
Tendo como tema cidades (tema geral do vestibular), a questo 5 aborda o
problema do trnsito e do transporte de massa em grandes centros urbanos,
enquanto que a questo 6 evoca o problema das ilhas de calor nas grandes
cidades, ilustrando alternativas tecnolgicas para a reduo do problema.
QUESTO 5
Os carros em uma cidade grande desenvolvem uma velocidade mdia de
18 km/h, em horrios de pico, enquanto que a velocidade mdia do metr
de 36 km/h. O mapa ao lado representa os quarteires de uma cidade e
a linha subterrnea do metr.
a) Qual a menor distncia que um carro pode percorrer entre as duas estaes?
b) Qual o tempo gasto pelo metr (Tm) para ir de uma estao outra, de
acordo com o mapa?
c) Qual a razo entre os tempos gastos pelo carro (Tc) e pelo metr para ir de
uma estao outra, Tc/Tm? Considere o menor trajeto para o carro.
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
Da: menor distncia que um carro percorre entre as duas estaes.
Da = 700 m
Existe mais de um caminho entre as duas estaes que o carro pode percorrer
resultando em uma distncia de 700 m.
b) (2 pontos)
Tm : tempo para o metr ir de uma estao outra.
Dm = 3002 + 4002 = 500 mdistncia entre as estaes para o metr.
39
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
Vm = 36 km/h = 10 m/s
Tm =
Dm 500
=
= 50 s
vm
10
c) (2 pontos)
Va = 18 km/h = 5 m/s
Ta =
Da 700
=
= 140 s
va
5
Ta 140
=
= 2, 8
50
Tm
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
40
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
Questo sobre transporte urbano, exigindo a interpretao de um esquema,
aliado manipulao algbrica simples e conceitos de cinemtica.
QUESTO 6
As temperaturas nas grandes cidades so mais altas do que nas regies
vizinhas no povoadas, formando ilhas urbanas de calor . Uma das
causas desse efeito o calor absorvido pelas superfcies escuras, como
as ruas asfaltadas e as coberturas de prdios. A substituio de materiais
escuros por materiais alternativos claros reduziria esse efeito. A figura
mostra a temperatura do pavimento de dois estacionamentos, um recoberto com asfalto e o outro com um material alternativo, ao longo de um
dia ensolarado.
a) Qual curva corresponde ao asfalto?
b) Qual a diferena mxima de temperatura entre os dois pavimentos
durante o perodo apresentado?
c) O asfalto aumenta de temperatura entre 8h00 e 13h00. Em um pavimento asfaltado de 10.000 m2 e com uma espessura de 0,1 m, qual a
quantidade de calor necessria para aquecer o asfalto nesse perodo?
Despreze as perdas de calor. A densidade do asfalto 2.300 kg/m3 e seu
calor especfico C=0,75 kJ/kg C.
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
A curva A corresponde ao asfalto.
b) (1 ponto)
A maior diferena de temperatura entre os dois pavimentos de aproximadamente 10,0 oC que ocorre s 12h00.
41
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
c) (3 pontos)
s 8h00, a temperatura do asfalto de 31 oC e s 13h00, a temperatura do
asfalto de 56 oC.
Ta = 25 oC
(aproximadamente)
Sa = 10.000 m2
ea = 0,1 m
r a = 2300 kg/m3
ma = r a Va = r a Sa ea = 2, 3 106 kg
ca = 0, 75 kJ/kg
Qa = ma ca Ta = 2, 3 106 0, 75 25 = 4, 3 107 kJ
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
42
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
O exemplo de soluo acima da mdia apresenta uma resposta perfeitamente correta, embora os valores obtidos no correspondam aos da resposta esperada. A
correo leva em conta uma faixa de valores para a interpretao de grficos.
GEOGRAFIA
A prova de geografia da primeira fase do vestibular nacional da Unicamp a
exemplo das demais provas, fundamentou-se no tema geral que foi cidades.
Dentro dessa temtica, a banca elaborou duas questes, uma que se baseou na
problemtica do clima urbano e sade, com destaque para os problemas respiratrios em crianas e idosos e outra que abordou as cidades globais, assunto
extremamente atual dado o processo de globalizao e centralizao geogrfica
de algumas das cidades mundiais.
QUESTO 7
Rio Claro, cidade de porte mdio do interior do estado de So Paulo, apresenta alguns problemas relacionados poluio urbana. A partir dessas
informaes e dos grficos abaixo, responda:
(Adaptado de Agnelo W. S. Castro, Clima urbano e sade: as patologias do aparelho respiratrio associadas aos tipos de tempo de inverno, em Rio Claro SP. Rio Claro: UNESP/IGCE,
Tese de Doutoramento, 2000).
a) Qual a massa de ar cuja atuao intensificada nas estaes de outono/
inverno no sudeste brasileiro?
b) Por que razo h uma tendncia para o aumento do nmero de bitos
nas estaes de outono/inverno na cidade de Rio Claro?
c) Quais os tipos de tempo que a massa de ar mencionada acima proporciona? Como eles podem contribuir para o aumento do nmero de
bitos?
43
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
A Massa Polar Atlntica (mPa) tem suas atuaes intensificadas no outono e no
inverno no sudeste brasileiro.
b) (2 pontos)
O aumento no nmero de bitos na estao outono/inverno na cidade de
Rio Claro provocado pelo fenmeno da inverso trmica. Com isto, h uma
dificuldade na disperso dos poluentes, fato que fica agravado pela estabilidade
atmosfrica. Este quadro, associado poluio, provoca o aumento na incidncia
de doenas das vias respiratrias, levando ao bito, principalmente de pessoas
idosas e crianas desnutridas.
c) (2 pontos)
A Massa Polar Atlntica caracteriza-se por ser uma massa fria e seca. No perodo
de outono/inverno, a mesma responsvel por tipos de tempo caracterizados
por ausncia de nebulosidade, estabilidade, inverses trmicas e a ocorrncia de
geadas. A associao de baixas temperaturas, de baixos ndices de umidade atmosfrica e de poluio resulta no incremento das doenas das vias respiratrias
que respondem, em grande parte, pelos bitos registrados nessas estaes.
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
44
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
COMENTRIOS
A questo procurou trabalhar a relao estabelecida entre clima urbano e sade,
particularmente no que se refere aos problemas respiratrios no perodo de inverno, advindos da concentrao de particulados na atmosfera urbana, associada
baixa umidade relativa do ar. A primeira pergunta estava associada ao sentido
de localizao e atuao da Massa Polar Atlntica no Sudeste do Brasil. Os itens
b e c trataram da questo relativa leitura dos grficos e a sua associao com as
caractersticas da massa de ar Polar Atlntica. Infelizmente 47,9% dos candidatos
tiraram nota 0 e apenas 4,5 % dos candidatos alcanaram nota 4,5.
QUESTO 8
O fenmeno da urbanizao ocorre em escala mundial, tanto nos pases
ricos quanto nos pases pobres e em diferentes hierarquias. Considerando
que as megacidades so aquelas que apresentam mais de 10 milhes de
habitantes e que as cidades globais so os centros da economia mundial,
observe o quadro a seguir e responda:
Quadro. As megacidades no novo milnio -1975/2015
(reas urbanas com mais de 10 milhes de habitantes)
Taxa de Crescimento
(em porcentagem)
197520001975
2000
2015
2000
2015
Tquio - Japo
19,8
26,4
27,2
1,16
0,19
So Paulo - Brasil
10,3
18
21,2
2,21
1,11
Cidade do Mxico - Mxico
10,7
18,1
20,4
2,1
0,82
Nova Iorque - EUA
15,9
16,7
17,9
0,21
0,47
Mumbai (Bombaim) - ndia
7,3
16,1
22,6
3,13
2,26
Los Angeles - EUA
8,9
13,2
14,5
1,57
0,62
Calcut - ndia
7,9
13,1
16,7
2,02
1,66
Dacca - Bangladesh
2,2
12,5
22,8
7
3,99
Dli - ndia
4,4
12,4
20,9
4,13
3,45
Xangai - China
11,4
12,9
13,6
0,48
0,36
Buenos Aires - Argentina
9,1
12
13,2
1,1
0,61
Jacarta - Indonsia
4,8
11
17,3
3,31
3,0
Osaka - Japo
9,8
11
11
0,45
-Beijing (Pequim) - China
8,5
10,8
11,7
0,95
0,49
Rio de Janeiro - Brasil
8
10,7
11,5
1,16
0,54
Karachi - Paquisto
4
10
16,2
3,69
3,19
Manila - Filipinas
5
10
12,8
2,75
1,56
(Adaptado de www.fnuap.org.br/ESTRUT/SERV/arquivos/TAB_Indicadores8.xls).
Aglomerao Urbana/Pas
Populao
(em milhes)
a) Quais so as trs megacidades que no perodo 1975-2000 apresentaram as maiores taxas de crescimento? Aponte as principais razes desse
significativo crescimento.
b) Dentre as megacidades, Nova Iorque e Tquio so os principais exemplos de cidades globais. Identifique duas caractersticas das cidades
globais.
c) Explique uma conseqncia scio-econmica do crescimento acelerado
das megacidades nos pases pobres. Justifique sua resposta.
RESPOSTA ESPERADA
a) (2 pontos)
Dacca (Bangladesh), Dli (ndia) e Karachi (Paquisto). So trs megacidades localizadas em pases pobres ou perifricos no cenrio econmico mundial, que vm
passando por fortes xodos rurais, resultantes da forte pobreza que ocorre princi-
45
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
palmente no campo (problemas climticos e agricultura de subsistncia). Pode-se
considerar o crescimento vegetativo como um alimentador desse crescimento
urbano e tambm a atrao que tais cidades oferecem a migrantes, por concentrarem uma mais significativa oferta de servios diversos. Outro fato importante
a influncia religiosa e cultural, como o hinduismo e o islamismo que influenciam
na manuteno de fortes taxas de natalidade.
b) (2 pontos)
Tais localidades caracterizam-se por serem centros de gesto (comando), por concentrarem servios financeiros, mo-de-obra qualificada, pesquisa e desenvolvimento tecnolgico e por serem ns de redes, conectando-se com praticamente
todo o globo pelos meios de comunicao, alm de se caracterizarem como
entroncamento de meios transporte longa distncia. Dito de outra forma, as
cidades globais formam uma rede na qual transita a maior parte das finanas que
alimenta os mercados financeiros internacionais. As cidades globais podem ser
consideradas plos de desenvolvimento tcnico-cientfico e informacional. Elas irradiam progresso tecnolgico, disseminam servios especializados para a indstria
e concentram a grande maioria das sedes das empresas transnacionais.
c) (1 ponto)
As megacidades dos pases pobres concentram no apenas a populao, mas tambm a misria. Como crescem em um ritmo veloz, os governos tm dificuldades
em administrar as necessidades bsicas da maioria das pessoas. Multiplicam-se
rapidamente as carncias de habitao, transporte e saneamento bsico.
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
46
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
O tema relativo s megacidades e ao papel de gesto territorial, em nvel internacional, vem sendo debatido ultimamente por pesquisadores das diversas reas
do conhecimento humano. Assim, esta questo procurou trabalhar a leitura da
tabela da Organizao das Naes Unidas, que traz o ranking das megacidades no
mundo e inclusive as projees de crescimento com a conseqente transformao
qualitativa das mesmas. Os itens b e c trabalharam o conceito de megacidades e
as principais caractersticas que identificam uma cidade global. Diferentemente da
questo 7, na questo 8, o percentual de nota 0 ficou apenas em 14,9%, havendo uma maior concentrao de notas 1 (21,3%), 1,5 (16,0%), 2 (17,8%) e 2,5
(8,8%). Por outro lado, apenas 0,1% dos candidatos tiveram nota 5.
BIOLOGIA
As questes de Biologia subordinaram-se ao tema geral da primeira fase, objetivando tambm a integrao dos vrios ramos do conhecimento biolgico.
Mais uma vez, portanto, essa viso abrangente da Biologia se mostra presente
no vestibular da Unicamp, que pode ser demonstrada pelas duas questes, isto
, na primeira, foram solicitadas informaes sobre marsupiais, mamferos, aves
e rpteis; enquanto que na segunda, cobrou-se conhecimento sobre o ciclo da
gua e a participao das plantas nesse processo.
QUESTO 9
47
Parques Zoolgicos so comuns nas grandes cidades e atraem muitos
visitantes. O da cidade de So Paulo o maior do estado e est localizado
em uma rea de Mata Atlntica original que abriga animais nativos silvestres vivendo livremente. Existem ainda 444 espcies de animais, entre
mamferos, aves, rpteis, anfbios e invertebrados, nativos e exticos (de
outras regies), confinados em recintos semelhantes ao seu habitat natural. Entre os animais livres presentes na mata do Parque Zoolgico podem
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
ser citados mamferos como o bugio (primata) e o gamb (marsupial), aves
como o tucano-de-bico-verde e, entre os rpteis, o tei. (Adaptado de
www.zoologico.sp.gov.br).
a) Como podem ser diferenciados os marsupiais entre os mamferos?
b) As aves apresentam caractersticas em comum com os rpteis, dos
quais os zologos acreditam que elas tenham se originado. Mencione
duas dessas caractersticas.
c) Entre os animais exticos desse zoolgico esto zebras, girafas, lees e
antlopes. Que ambiente deve ter sido criado no zoolgico para ser semelhante ao habitat natural desses animais? D duas caractersticas desse
ambiente.
RESPOSTA ESPERADA
a) (1 ponto)
Os marsupiais tm placenta rudimentar (no desenvolvida) e os filhotes completam o seu desenvolvimento no marspio (bolsa de pele no ventre).
b) (2 pontos)
Poderiam ser citadas duas das caractersticas abaixo:
- ovparos (desenvolvimento externo) ou ovo com casca calcrea;
- ovo com presena de todos os anexos embrionrios (mnion, crion, alantide);
- excreo de cido rico;
- fecundao interna;
- reproduo independente da gua;
- tegumento com escamas crneas;
- presena de cloaca;
- respirao pulmonar.
c) (2 pontos)
O tipo de ambiente deve ser savana, com as seguintes caractersticas (citar duas):
- predomnio de gramneas;
- arbustos e rvores distribudos espaadamente;
- topografia plana;
- perodos de seca e chuvas bem definidos;
- razes profundas para alcanar a gua.
48
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Esta questo procurou associar conhecimentos bsicos de ecologia, zoologia
e evoluo ao tema geral da prova. Em relao s demais questes, mostrou
dificuldade mdia, tanto no total de alunos presentes, como entre os aprovados.
As notas apresentaram-se bem distribudas entre 0 e 5, surpreendendo, porm, a
alta porcentagem de notas 0 (19,6%) entre os alunos presentes, principalmente
porque o item a era assunto de conhecimento geral e nos itens b e c havia vrias
possibilidades de resposta.
49
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
QUESTO 10
A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor, pelo
menos, de 12 m2 de rea verde (dados da OMS). Curitiba supera essa meta
com cerca de 55 m2 por habitante. A poltica ambiental da prefeitura dessa cidade prioriza a construo de parques, bosques e praas que, alm
de proporcionar reas de lazer, desempenham funes como amenizar o
clima, melhorar a qualidade do ar e equilibrar o ciclo hdrico, minimizando
a ocorrncia de enchentes.
a) Explique como as plantas das reas verdes participam do ciclo hdrico,
indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e as funes
por elas exercidas.
b) Qual seria o destino da gua da chuva no utilizada pelas plantas no
ciclo hdrico?
RESPOSTA ESPERADA
a) (3 pontos)
As plantas absorvem gua do solo atravs dos plos absorventes das razes; a
gua transportada pelo xilema (lenho) at as folhas, que a perdem por transpirao atravs dos estmatos.
b) (2 pontos)
A gua no utilizada:
- infiltra-se no solo at o lenol fretico;
- retorna atmosfera na forma de vapor;
- flui para os rios, lagos e/ou mar.
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
50
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Esta questo chamou a ateno sobre a importncia das reas verdes para o bem
estar da populao dos centros urbanos, lembrando que polticas pblicas que
proporcionam o aumento dessas reas podem resultar em benefcios, como por
exemplo, a diminuio das enchentes. Tambm com o objetivo de inter-relacionar
os diferentes campos da Biologia, como na questo 9, valeu-se da referncia s rvores para verificar conhecimentos bsicos sobre aspectos da fisiologia e morfologia vegetal. Porm, entre os candidatos presentes, 20,4% tiveram nota 0 e 83,0%
nota menor ou igual a 2,5, enquanto que as porcentagens dessas notas entre
os aprovados foram respectivamente 9,4% e 72,4%. Esses resultados surpreenderam, principalmente considerando que o item b era bastante fcil. No item a,
foi verificado que muitos no souberam ler a pergunta, focalizando, desnecessariamente a fotossntese, mas sem se referir ao ciclo da gua (veja exemplo de
resposta abaixo da mdia).
HISTRIA
O tema geral Cidade recebeu, aqui, um tratamento histrico. Isto , mostrou
que tal tema configura-se diversamente, com suas especificidades, singularidades
e certas semelhanas na Histria do Ocidente entre os sculos XIV e XX. Nesse
sentido, a questo 11 apresentava um comentrio do historiador Peter Burke que
relaciona as artes visuais, o Renascimento e a experincia urbana, enquanto que a
questo 12 iniciava-se com um comentrio feito por um literato sobre a reforma
urbana do Rio de Janeiro no incio da Repblica.
As duas questes enfatizavam a historicidade do tema Cidade. Por carncia de
contedo didtico disponibilizado ao estudante e pela necessidade de marcar a
historicidade da Cidade, a banca elaboradora elegeu os conhecidos tpicos do
Renascimento e da Reforma Urbana do Rio de Janeiro, a fim de cobrir o contedo
de Histria Geral e do Brasil com o tema definido. A banca tambm privilegiou
as relaes entre Arte/Literatura/Cidade. Essas relaes estavam contempladas
51
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
pelo conjunto de textos da 1a fase. Dessa maneira, a prova de Histria mantinha
a coerncia geral da Prova de 1a fase, embora destoasse da periodizao vista nas
outras questes.
As duas questes solicitavam habilidades de conhecimento em comum: leitura
e informao. E se diferenciavam quanto ao refinamento do contexto histrico
trabalhado pelo candidato. A questo 12 abordava a capacidade de perceber o
significado poltico e simblico da reforma urbana que condena um dado passado
da cidade do Rio de Janeiro. Essa exigncia sinalizava para a prova de 2a fase e
requisitava um tipo de exerccio muito freqente no material didtico de Histria
sobre a Reforma de Pereira Passos.
QUESTO 11
Para as artes visuais florescerem no Renascimento era preciso um ambiente urbano. Nos sculos XV e XVI, as regies mais altamente urbanizadas
da Europa Ocidental localizavam-se na Itlia e nos Pases Baixos, e essas
foram as regies de onde veio grande parte dos artistas. (Adaptado de
Peter Burke, O Renascimento Italiano. So Paulo: Nova Alexandria, 1999,
p. 64).
a) Cite duas caractersticas do Renascimento.
b) De que maneiras o ambiente urbano propiciou a emergncia desse
movimento artstico e cultural?
c) Por que as regies mencionadas no texto eram as mais urbanizadas da
Europa nos sculos XV e XVI?
RESPOSTA ESPERADA
a) (2 pontos)
Espera-se que o candidato nomeie ou referencie caractersticas relacionadas ao
Renascimento. Por exemplo: o humanismo, o antropocentrismo, a valorizao da
Antigidade Clssica, do racionalismo e da cincia.
b) (2 pontos)
O candidato deve apontar relaes entre o ambiente urbano e o Renascimento.
Por exemplo: a prtica do mecenato, o encontro das culturas do Ocidente e
do Oriente, a projeo da burguesia e da aristocracia e a profissionalizao do
artista.
c) (1 ponto)
O candidato deve reconhecer especificidades dessas regies nas quais o comrcio
era atividade predominante, podendo mencionar as rotas comerciais, o acmulo
de capitais e a presena de atividades manufatureiras.
52
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Trata-se de uma tpica muito conhecida do contedo programtico de Histria
Geral: o Renascimento. A partir dele, indagava-se a relao entre o ambiente urbano e esse movimento artstico e cultural. Essa questo conferia um tratamento
histrico ao tema Cidade que regia a 1a fase. Recuperava-se, assim, a especificidade desse ambiente urbano com sua rede de negcios e comrcio integrada a
rotas comerciais, o acmulo de capitais e as atividades manufatureiras. Por outro
lado, o enunciado da questo e seu recorte retomavam as relaes entre arte/
cidade/poltica evidenciadas em vrios documentos que compuseram o dossi textual da Prova. Nesse sentido, a questo mudava a periodizao do tema Cidade,
entretanto mantinha uma mesma abordagem.
Convm mencionar o bom desempenho das respostas em b, porque explicavam
detidamente o mecanismo do mecenato, o prestgio poltico angariado pelas cidades italianas atravs da obra de arte, a profissionalizao e a individualizao
da figura do artista. Na questo 11, o candidato evidenciava sua capacidade de
leitura e interpretao do comentrio feito por Peter Burke, utilizava seu repertrio
de informaes e relacionava o ambiente urbano e o movimento artstico e cultural, mostrando essas habilidades para continuar participando desse Vestibular.
QUESTO 12
Sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro, ocorrida entre fins do sculo
XIX e incio do XX, o literato Lima Barreto comentou: De uma hora para
outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida
por uma mutao de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia.
(Lima Barreto, Os Bruzundangas, em Obras de Lima Barreto. So Paulo:
Brasiliense, 1956, p. 106).
a) Cite uma atividade poltica e uma econmica que sustentaram a im-
53
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
portncia da cidade do Rio de Janeiro nesse perodo.
b) Identifique duas mudanas urbanas realizadas pelo prefeito Pereira Passos na reforma mencionada.
c) Explique a razo pela qual o iderio burgus, cosmopolita e republicano, tinha necessidade de condenar o passado colonial do Rio de Janeiro.
RESPOSTA ESPERADA
a) (2 pontos)
O candidato deve nomear ou referenciar uma atividade poltica (por exemplo,
o fato de que a cidade do Rio de Janeiro era a capital do pas) e uma atividade
econmica (por exemplo, a importncia de seu porto).
b) (2 pontos)
Dentre as mudanas urbanas promovidas por Pereira Passos, o candidato poderia
mencionar: a reestruturao das reas centrais com conseqente expulso da
populao pobre; o saneamento; a pavimentao de ruas; o embelezamento
urbano com abertura de avenidas e praas e a construo de monumentos.
c) (1 ponto)
A razo pela qual o iderio burgus, cosmopolita e republicano condenava o
passado colonial poderia ser identificada com:
a necessidade de destruir a herana da escravido (a pobreza, os cortios, por
exemplo);
a necessidade de superar o atraso cultural do pas, aproximando-o da civilizao europia.
EXEMPLO ACIMA DA MDIA
54
Prova comentada Primeira Fase
1 Fase
EXEMPLO ABAIXO DA MDIA
COMENTRIOS
Centrada na Histria do Brasil, esta questo abordava um tema clssico do BrasilRepblica: a reforma do Rio de Janeiro capitaneada por Pereira Passos, provavelmente a mais conhecida pelo estudante do Ensino Mdio. A banca elaboradora
escolheu este tpico em virtude de sua forte presena no material didtico e paradidtico da rea de histria e porque recobria o momento de fundao da ordem
republicana no pas. O comentrio de Lima Barreto referia-se demolio vivida
na cidade que afetou o cotidiano dos habitantes e modificou profundamente a
paisagem e a estrutura urbanas do Rio de Janeiro. Cabia ao candidato informar
a importncia do Rio de Janeiro nesse momento, bastando reconhecer que era a
capital federal e, em seguida, nomear duas transformaes urbanas que, de certa
forma, eram suscitadas pelo comentrio desse literato. Logo, a resposta em a e b
se valia de informaes e da localizao do contexto da poca. Por fim, em c, solicitava-se uma interpretao de cunho mais poltico e que resvalava na elaborao
da memria social ao indagar sobre o desaparecimento do passado colonial promovido por essa interveno urbana. Aqui o candidato mostrava sua capacidade
de relacionar a paisagem e a reforma urbanas e seus significados polticos, tal qual
estava sugerido em alguns textos do dossi apresentado nesta prova.
55
Prova comentada Primeira Fase
Você também pode gostar
- CASSIN Barbara Elogio Da TraduçãoDocumento4 páginasCASSIN Barbara Elogio Da TraduçãoEvertonRochaVecchiAinda não há avaliações
- Sete HerdeirosDocumento8 páginasSete HerdeirosJackson FigueiredoAinda não há avaliações
- Linguística Aplicada Ao Ensino Do Português: Juliana Battisti Bibiana Cardoso Da SilvaDocumento10 páginasLinguística Aplicada Ao Ensino Do Português: Juliana Battisti Bibiana Cardoso Da SilvaF. F.Ainda não há avaliações
- Plano de Curso - 5º Ano - Girassol - EtevaldoDocumento16 páginasPlano de Curso - 5º Ano - Girassol - EtevaldoEtevaldo Lima100% (1)
- Santos Et Al, 2006 PDFDocumento65 páginasSantos Et Al, 2006 PDFRicardo PercilioAinda não há avaliações
- 03 FundamentoseDidaticadaLinguaPortuguesaIDocumento86 páginas03 FundamentoseDidaticadaLinguaPortuguesaIÁlvaro de SouzaAinda não há avaliações
- O Leitor, o Livro, A Leitura e A Literatura Na Estética Da Recepção e Na História Cultural - Artigo 3Documento11 páginasO Leitor, o Livro, A Leitura e A Literatura Na Estética Da Recepção e Na História Cultural - Artigo 3Rafael MarquesAinda não há avaliações
- Pré-Projeto Produção de Texto SemedDocumento6 páginasPré-Projeto Produção de Texto SemedMarivaldo Coelho100% (2)
- Efai Ce 4ano 4bi CP Final WebDocumento162 páginasEfai Ce 4ano 4bi CP Final WebGreis AnselmaAinda não há avaliações
- A Mediação Da Leitura Literária-Uma Proposta de Metodologia TemáticaDocumento15 páginasA Mediação Da Leitura Literária-Uma Proposta de Metodologia TemáticaKamila BorgesAinda não há avaliações
- PLANO DE ENSINO - LÍNGUA - PORTUGUESA - 5º ANO - 2024 - Com GrifoDocumento18 páginasPLANO DE ENSINO - LÍNGUA - PORTUGUESA - 5º ANO - 2024 - Com GrifoRODRIGO OLIMPIO DE BRITO SILVAAinda não há avaliações
- Como Reduzir Um TextoDocumento7 páginasComo Reduzir Um TextoMichele LimaAinda não há avaliações
- Crité PortuguêsDocumento4 páginasCrité PortuguêsanabelaAinda não há avaliações
- O Livro Infantil A Percepção Por Tras Das IlustraçõesDocumento12 páginasO Livro Infantil A Percepção Por Tras Das IlustraçõesDanilo Leao DaniloAinda não há avaliações
- A Arte de DissertarDocumento3 páginasA Arte de DissertarJean Jack CarlosAinda não há avaliações
- 7º A - Ciências 2Documento9 páginas7º A - Ciências 2Marcos Alexandre Furtado NogueiraAinda não há avaliações
- CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA Praticas Letradas Academicas e Escolares PDFDocumento10 páginasCONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA Praticas Letradas Academicas e Escolares PDFDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Texto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Documento201 páginasTexto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Sabrina Barros XimenesAinda não há avaliações
- Aula 7 - O Que Isso Quis DizerDocumento26 páginasAula 7 - O Que Isso Quis DizerCLAUDIA VIANA DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Estudos Disciplinares Questionario 1 - Unip - Gestao Recursos HumanosDocumento8 páginasEstudos Disciplinares Questionario 1 - Unip - Gestao Recursos HumanosBrenda BarrosAinda não há avaliações
- 1º Bimestre - Bloco 2 - de 19-04 A 07-05-2º Ano BDocumento36 páginas1º Bimestre - Bloco 2 - de 19-04 A 07-05-2º Ano BEliane LimaAinda não há avaliações
- Intertextualidade ImagéticaDocumento17 páginasIntertextualidade ImagéticabrnrdbrrssAinda não há avaliações
- Tipos de IntertextualidadeDocumento7 páginasTipos de IntertextualidadeAndressa DanielAinda não há avaliações
- Classes Gramaticais 1Documento9 páginasClasses Gramaticais 1Wesley FelipeAinda não há avaliações
- Esquematizando o Texto DissertativoDocumento5 páginasEsquematizando o Texto Dissertativof_glassAinda não há avaliações
- Cepmg - Unidade Formosa - Domingos de Oliveira Data: - / - /2024 Ensino Médio Professora: Renata Disciplina: Língua Inglesa Aluno (A)Documento1 páginaCepmg - Unidade Formosa - Domingos de Oliveira Data: - / - /2024 Ensino Médio Professora: Renata Disciplina: Língua Inglesa Aluno (A)artur.oliveira3Ainda não há avaliações
- Faces e Interfaces Do Verbal - Maria Zilda Cunha e Maria Auxiliadora BaseioDocumento183 páginasFaces e Interfaces Do Verbal - Maria Zilda Cunha e Maria Auxiliadora BaseioRodriguesRPAinda não há avaliações
- Zanella, Liane. Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração, 2009Documento166 páginasZanella, Liane. Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração, 2009Cassandra Véras100% (1)
- Estratégias de Leitura Por Sequência Didática - o Gênero PoemaDocumento14 páginasEstratégias de Leitura Por Sequência Didática - o Gênero PoemaNorival Leme JuniorAinda não há avaliações
- 02 - Redação - FlexaDocumento3 páginas02 - Redação - FlexaMarcel NogueiraAinda não há avaliações