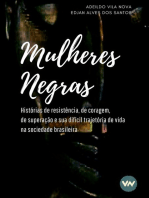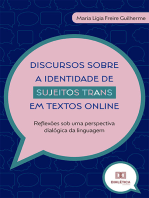Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Racismo e Anti Racismo Antonio Sérgio Guimarães
Racismo e Anti Racismo Antonio Sérgio Guimarães
Enviado por
Manu AbathDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Racismo e Anti Racismo Antonio Sérgio Guimarães
Racismo e Anti Racismo Antonio Sérgio Guimarães
Enviado por
Manu AbathDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RACISMO E ANTI-RACISMO
NO BRASIL1
Antonio Srgio Alfredo Guimares
RESUMO
Os brasileiros imaginam que vivem numa sociedade onde no h discriminao racial. O autor
aponta as vinculaes desse tipo de interpretao a uma problemtica social europia e norteamericana j superada, embora ainda predominante no Brasil. Ele procura tambm demonstrar que a linguagem de classe e de cor no Brasil sempre foi usada de modo racializado,
"naturalizando" desigualdades que poderiam comprometer uma imagem do pas como uma
democracia racial.
Palavras-chave: racismo; anti-racismo; raa; "cor"; Brasil.
SUMMARY
Brazilians imagine that they live in a society free from racial discrimination. In this article, the
author points out how this sort of interpretation is linked to a European and North American
social perspective, which, though outdated in these contexts, remains predominant in Brazil.
The article also seeks to demonstrate how the idiom of class and color in Brazil always was
used in a racialized fashion, "naturalizing" the inequalities that might tarnish the country's
prevailing image as a racial democracy.
Keywords: racism; anti-racism; race; color; Brazil
Qualquer estudo sobre o racismo no Brasil deve comear por notar
que o racismo no Brasil um tabu. De fato, os brasileiros se imaginam numa
democracia racial. Essa uma fonte de orgulho nacional, e serve, no nosso
confronto/comparao com outras naes, como prova inconteste de nosso
status de povo civilizado.
Essa pretenso a um anti-racismo institucional tem razes profundas
tanto na nossa histria, quanto na nossa literatura. Desde a abolio da
escravatura em 1888, no experimentamos nem segregao, ao menos no
plano formal, nem conflitos raciais. Em termos literrios, desde os estudos
pioneiros de Gilberto Freyre no incio dos anos 30, seguidos por Donald
Pierson nos anos 40, at pelo menos os anos 70, a pesquisa especializada
de antroplogos e socilogos, de um modo geral, reafirmou (e tranquilizou)
tanto aos brasileiros quanto ao resto do mundo o carter relativamente
harmnico de nosso padro de relaes raciais. Na ltima edio do
nnnnnnnnnn
26
NOVOS ESTUDOS N. 43
(1) Este artigo foi escrito durante o perodo em que fui
bolsista de ps-doutoramento
da CAPES/Fulbright no AfroAmerican Studies Program da
Brown University. Sou grato
aos comentrios e sugestes
de Michel Agier, Benjamin
Bowser, Nadya Castro, Anani
Dzidzienyo e Lucia Lippi a verses anteriores do mesmo.
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
Dictionary of race and ethnic relations de Cashmore (1994), por exemplo,
Pierre van den Berghe sumariza o verbete "Brazil" do seguinte modo:
Em suma, o Brasil pode ser descrito como uma sociedade onde as distines de classe so profundamente marcadas, onde classe e cor sobrepem-se mas no coincidem, onde a classe muitas vezes prevalece sobre
a cor, e onde a "raa" matria de foro individual e de preferncia
pessoal ao invs de filiao coletiva (Cashmore 1994, p. 49).
Neste artigo, eu argumento que esse tipo de interpretao sobre as
relaes raciais e o racismo no Brasil deve-se a uma problemtica social
europia e norte-americana, j largamente superada a partir dos anos 70,
mas ainda dominante no Brasil. Tal problemtica foi expressa por um
discurso conceitual tambm largamente suplantado em seus termos bsicos,
inclusive no que diz respeito ao significado de "raa" e de racismo. Minha
pretenso dupla. Quero demonstrar, primeiro, que a linguagem de classe
e de cor no Brasil sempre foi usada de modo racializado. Tanto a tonalidade
da pele quanto outras cromatologias figuradas "naturalizaram" enormes
desigualdades que poderiam eventualmente comprometer a nossa autoimagem de democracia racial. Segundo, quero indicar qual tem sido o
contencioso poltico do racismo no Brasil em termos histricos e prticos.
Por isso, ainda que as principais fontes que eu utilize sejam discursos
cientficos, procurarei sempre referir-me s verses populares dos discursos
e crenas.
Antes de iniciar, contudo, preciso reconstituir, ainda que brevemente,
a mudana de problemtica do anti-racismo no Ocidente e apresentar a
idia de "raa como um significante flutante"2.
A mudana de agenda do anti-racismo ocidental
O campo de pesquisa cientfica conhecido como "relaes raciais"
de inspirao norte-americana. Os cientistas sociais tomaram geralmente o
padro de relaes raciais nos Estados Unidos como modelo para comparar, contrastar e entender a construo social das "raas" em outras
sociedades, especialmente no Brasil. Tal modelo, elevado a arqutipo,
acabou por esconder antes que revelar, negar mais que afirmar, a existncia das "raas" no Brasil. De fato, o modelo norte-americano exibia um
padro de relaes violento, conflitivo, segregacionista, vulgarmente conhecido como "Jim Crow", sancionado por regras precisas de filiao
grupal, baseadas em arrazoados biolgicos que definiam as "raas". O
modelo brasileiro, ao contrrio, mostrava uma refinada etiqueta de distanciamento social e uma diferenciao aguda de status e de possibilidades
nnnnnn
NOVEMBRO DE 1995
27
(2) Esse foi o ttulo da primeira
de uma srie de trs palestras
que Stuart Hall proferiu na
Harvard University na primavera de 1994.
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
econmicas convivendo com equidade jurdica e indiferenciao formal;
um sistema muito complexo e ambguo de diferenciao racial, baseado
principalmente em diferenas fenotpicas e cristalizado num vocabulrio
cromtico.
Por que esses dois sistemas foram tomados como plos opostos? Por
que as similaridades funcionais entre eles passaram despercebidas a
cientistas to mergulhados no pensamento funcional-estruturalista?
Aponto apenas trs razes que me parecem mais importantes. Primeiro, o programa poltico do anti-racismo ocidental enfatizava, poca, o
estatuto legal e formal da cidadania, ao invs de seu exerccio factual e
prtico. Programa que refletia a fora dos interesses liberais nos Estados
Unidos e nas ex-colnias europias e no contradizia os interesses da ordem
racial brasileira. No Brasil, portanto, esse programa, esposado por intelectuais "brancos" de classe mdia, ignorou muitas vezes o anti-racismo
popular dos pretos e mulatos que denunciavam as barreiras intransponveis
do "preconceito de cor". Diferenciando "preconceito" de "discriminao",
maneira do que faziam os norte-americanos, e colocando o primeiro no
reino privado do arbtrio individual, negando-lhe portanto uma dimenso
propriamente social, o anti-racismo erudito de ento operou muitas vezes,
de fato, funcionalmente, como um esforo ideolgico de obscurecer o
verdadeiro racismo nacional3.
Em segundo lugar, a definio de "raa" como um conceito biolgico
ou pelo menos como uma noo sobre diferenas biolgicas, objetivas
(fentipos), entre seres humanos escondia tanto o carter racialista das
distines de cor, quanto o seu carter construdo, social e cultural. Se a
noo de "raa" referia-se a diferenas biolgicas hereditrias precisas,
ento, segundo esse modo de pensar, a "cor" no podia ser considerada uma
noo racialista, dado que no teria uma remisso hereditria nica e
inconfundvel, seria apenas um fato concreto e objetivo. Poder-se-ia rejeitar
a noo biolgica de "raa" e ainda assim reconhecer diferenas objetivas de
"cor".
Em terceiro lugar, o realismo ontolgico das cincias sociais buscava
o conhecimento de essncias e a formulao de explicaes causais,
negligenciando a tessitura discursiva e metafrica que escondia o racismo
sob uma linguagem de status e de classe. Desse modo, a simetria entre o
discurso classista e racial no Brasil, quando percebida, foi falsamente
tomada como prova da insignificncia das "raas".
Tratava-se porm de uma tendncia mundial. De fato, no ps-guerra,
a luta anti-racista foi muito clara e precisa em seus objetivos: demonstrar o
carter no-cientfico e mitolgico da noo de "raa" e denunciar as
consequncias inumanas e brbaras do racismo. Ambas as metas foram
levadas a cabo num ambiente de vivido realismo e experincia emprica que
prescindiam de maiores justificativas ontolgicas: o holocausto e a desmoralizao das "raas" enquanto conceito cientfico4.
O programa anti-racista, portanto, teve no ps-guerra dois alvos
privilegiados: a segregao racial nos Estados Unidos (Jim Crow) e o
nnnnnnnn
28
NOVOS ESTUDOS N.43
(3) Referindo-se especificamente a Donald Pierson e a
Oracy Nogueira (1954), Anani
Dzidzienyo (1971, p. 4) observou: "Numa situao onde
considerado
desaconselhvel
indulgir-se em discriminao
franca, pode-se sempre refugiar-se na explicao de que se
trata de preconceito e no discriminao".
(4) Uma histria da formulao e do posterior abandono
do conceito de "raa" pelas
cincias naturais pode ser consultada em Rex (1986); Banton
(1977, 1987); e Barkan (1992).
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
apartheid na frica do Sul, ou seja, os dois sistemas de racismo de Estado
que sobreviveram II Grande Guerra. Tal programa podia, pois, ser
expresso discursivamente em termos de uma lgica universalista que
negava a existncia de diferenas intransponveis entre seres humanos.
Uma lgica conveniente para os brasileiros brancos, j que obscurecia o
racismo assimilacionista que prevalecera historicamente no Brasil, como
veremos adiante.
O anti-racismo anglo-americano, entretanto, no foi um participante
menos ativo na mistificao e idealizao do Brasil como um "paraso
racial". Por exemplo, num livro editado recentemente por Hellwig (1992),
que rene impresses de viajantes e cientistas sociais norte-americanos
negros sobre o Brasil, no se encontra, entre 1910 e 1940, um nico registro
sobre discriminao racial no pas; enquanto de 1940 a 1960 os registros de
discriminao so usualmente ambivalentes ou subsumidos em raciocnios
classistas.
As percepes comearam a mudar apenas quando a segregao
racial foi desmantelada nos Estados Unidos em consequncia do Movimento
dos Direitos Civis. Somente ento as desigualdades raciais passaram a ser
claramente atribudas operao de mecanismos sociais mais sutis a
educao escolar, a seletividade do mercado de trabalho, a pobreza, a
organizao familiar etc. A mudana de percepo da discriminao racial
nos Estados Unidos alterou tanto a percepo do Brasil pelos angloamericanos quanto o programa poltico do anti-racismo. Desde ento a
denncia das desigualdades raciais mascaradas em termos de classe social
ou de status passaram a ser um item importante na pauta anti-racista. Os
racismos brasileiro e norte-americano tinham se tornado muito mais
parecidos entre si.
O nacionalismo negro e o movimento feminista nos anos 70 imprimiram uma outra dinmica s percepes anti-racistas; o primeiro, pela luta
contra a destruio e a inferiorizao do legado cultural africano, denunciando o estatuto subordinado do negro e da frica implcito no anti-racismo
assimilacionista e universalista; o segundo, pela nfase com que denunciou
o carter racializado das diferenas sexuais como parte de um processo de
naturalizao e de justificao social de hierarquias culturais5.
Tal mutao de percepes completou-se com a migrao massiva de
povos do Terceiro Mundo (indianos, caribenhos, rabes, turcos, latinoamericanos, africanos, chineses, coreanos etc.) em direo a uma Europa
que se imaginava anti-racista e que se confrontava agora com "estrangeiros"
inassimilveis: povos de cor que apresentavam e orgulhosamente cultivavam ntidas diferenas religiosas, lingusticas e culturais. Foram esses os
ingredientes para o que se chamou de um "novo racismo", ou um "racismo
sem raa", no qual
A cultura traada ao longo de linhas tnicas absolutas, no como
algo intrinsecamente fluido, mutante, instvel e dinmico, mas como
nnnn
NOVEMBRO DE 1995
29
(5) Ver Guillaumin (1992) e
Stepan (1990), entre outras,
sobre a racializao das relaes de gnero.
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
uma propriedade fixa de grupos sociais, ao invs de campo relacional
no qual os grupos se encontram e vivenciam relaes sociais e histricas. Quando a cultura relacionada "raa" transforma-se ento
numa propriedade pseudo-biolgica de vida comunal (Gilroy, 1993,
p. 24).
Teorizando o racismo
A mudana de pauta do anti-racismo reverberou fortemente na
teorizao do racismo. Nos anos 70, do ponto de vista de suas estruturas,
funes e mecanismos, a definio sociolgica de "raa" "um grupo de
pessoas que num dada sociedade so socialmente definidas como diferentes
de outros grupos em virtude de certas diferenas fsicas reais ou putativas"
(Berghe, 1970, p. 10) mostrava-se insuficiente para distinguir "raa" de
gnero, etnicidade, classe social, ou qualquer outra forma de hierarquizao
social.
De fato, qualquer lista de caractersticas que pretenda especificar e
definir "raas" apresenta o mesmo problema: as caractersticas estruturais e
funcionais apontadas so insuficientes para distinguir entre as diversas
formas de hierarquizao e discriminao sociais6. Os tericos dos anos 70,
entretanto, no pareceram perceber o alcance dessa ambiguidade definicional. Na maioria dos casos, mesmo quando a "raa" era definida de uma
maneira flexvel, no tinham conscincia de que tal definio abarcava
outras formas de hierarquia. Pierre van den Berghe constitui talvez uma
exceo, pois escreve:
Tornou-se cada vez mais claro para mim com os anos que o
assunto no merecia um lugar especial numa teoria geral da
sociedade. Em outras palavras, as relaes raciais e tnicas no
so suficientemente diferentes de outros tipos de relaes sociais
nem, de modo reverso, as relaes tnicas e raciais apresentam
traos comuns exclusivos para justificar um tratamento terico
especial (Berghe, 1970, p. 9).
Nos anos 80, a voga ps-estruturalista vinda da Frana trouxe
autoconcincia ambgua definio de "raa". O desconstrutivismo nas
cincias sociais favoreceu uma metaforizao ampliada do termo "raa". A
anlise do campo discursivo do racismo, tanto antigo (biologismo), quanto
novo (diferencialismo cultural), introduziu a percepo de que, ao analisarmos hierarquias, estvamos lidando com um mesmo processo sub-reptcio
de "naturalizao" e com formas diversas de essencialismo que se escondiam sob diferentes fenmenos empricos.
30
NOVOS ESTUDOS N. 43
(6) John Rex, por exemplo,
define o campo das relaes
raciais pelos seguintes traos:
"(1) uma situao de diferenciao, desigualdade e pluralismo entre grupos; (2) a possibilidade de distinguir claramente tais grupos pela aparncia fsica, a cultura ou ocasionalmente a ancestralidade
de seus membros; (3) o fato de
a justificativa e a explicao
para a discriminao serem
dadas em termos de algum
tipo de teoria implcita ou explcita, frequentemente mas
no sempre de tipo biolgico."
(Rex, 1983, p. 30). Essas caractersticas, como se v, valem
tambm para as relaes de
gnero ou para as relaes de
classe.
A NTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
Desse modo, permanecia-se incapaz de diferenciar teoricamente o
racismo de outras formas de discriminao. Chamar de racismo qualquer
tipo de discriminao baseada em construes essencialistas mesmo que
se revelem assim os mecanismos internos significa transformar o racismo
numa simples metfora, numa imagem poltica.
Christian Delacampagne (1990, pp. 85-6) prov um excelente exemplo dessa conceituao ampliada do racismo e de seu uso metafrico:
O racismo, no sentido moderno do termo, no comea necessariamente quando se fala da superioridade fisiolgica ou cultural de uma raa
sobre outra; ele comea quando se alia a (pretensa) superioridade
cultural direta e mecanicamente dependente da (pretensa) superioridade fisiolgica; ou seja, quando um grupo deriva as caractersticas
culturais de um grupo dado das suas caractersticas biolgicas. O
racismo a reduo do cultural ao biolgico, a tentativa de fazer o
primeiro depender do segundo. O racismo existe sempre que se pretende explicar um dado status social por uma caracterstica natural.
Tal definio imprecisa parcialmente por que reduz a idia de
natureza a uma noo biolgica7. Sabemos, por outro lado, que existem
modos diferentes de "naturalizar" hierarquias sociais. Em geral, "natural"
significa uma ordem a-histrica ou trans-histrica, destituda de interesses
particulares e contingentes, representando apenas os atributos da espcie
humana ou das divindades que a criaram. Essa ordem natural presumida
pode, contudo, assentar em bases to diversas quanto a teologia (origem
divina), a cincia (endodeterminismo), ou a civilizao (a necessidade
histrica justificando a subordinao de uma sociedade por outra).
Toda e qualquer hierarquia social, portanto, faz apelo a uma ordem
natural que a justifique ainda que tal justificativa, e racionalizao, possa se
fazer de diferentes maneiras. A ordem econmica, por exemplo, pode ser
justificada como sendo um produto de virtudes individuais (os pobres so
pobres porque lhes faltam sentimentos nobres, virtudes e valores do ethos
capitalista); do mesmo modo, se justifica usualmente a posio subordinada
das mulheres pelas caractersticas do sexo feminino; a escravido dos
africanos, assim como a posio social inferior de seus descendentes, pelas
limitaes da "raa" negra etc. Em cada um desses casos, quando a idia de
uma ordem natural limita formaes sociais, emergem sistemas hierrquicos
rgidos e inescapveis. Uma teoria "cientfica" da natureza (biolgica ou
gentica) emergiu apenas nos dois ltimos casos.
O processo de naturalizao de fenmenos sociais parece ser um trao
comum a todas as hierarquias. Como Colette Guillaumin (1992, p. 192)
observa, "a implicao ideolgica da idia de natureza (e de grupos
naturais) no pode ser abolida das relaes sociais, onde ocupam ainda
que nos repugne admitir um lugar central. Ideologicamente mascarada
nnnnn
NOVEMBRO DE 1995
31
(7) Essa fuso indevida entre
natureza e biologia tem levado
muitos estudiosos a ignorar a
especificidade da idia de natureza que fundamenta o racismo, idia que no parece
fazer parte do imaginrio clssico ou pr-moderno. Lembro,
a esse respeito, as palavras de
Collete Guillaumin (1992, p.
179): "[...] as sociedades teolgicas emprestaram ao termo
'natureza' um sentido de ordem interna que continua presente na noo contempornea. Entretanto, at o sculo
XIX, o termo no conotava um
determinismo endgeno, como
faz atualmente."
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
(dado que a ideologia se esconde sob as 'evidncias'), a forma 'natural', seja
do senso comum, seja j institucionalizada, constitui o cerne dos meios
tcnicos de que dispem as relaes de dominao e de fora para se impor
aos dominados e mant-los dominados".
De qualquer modo, o grau de fechamento do sistema de hierarquizao parece depender menos da materialidade ou da imutabilidade das
caractersticas em si (traos fsicos, atitudes ou valores) e mais do grau em
que as diferenas estabelecidas (materiais ou imateriais) so consideradas
naturais. Um sistema de naturalizao to mais completo quanto mais as
referncias a diferentes marcas se entrecruzam (religio, aparncia fsica,
costumes, estilos de vida etc.) e quanto mais esse entrecruzamento pode ser
reduzido a uma diferena ltima e irredutvel como o sexo, a "raa", a
cultura, a religio etc.
Sem dvida, pode-se usar o termo "racismo" como uma metfora para
designar qualquer tipo de essencialismo ou naturalizao que resulte em
prticas de discriminao social. Esse uso entretanto frouxo quando a idia
de "raa" encontra-se empiricamente ausente e apenas empresta um sentido
figurativo ao discurso discriminatrio. Penso que se pudemos falar de tais
prticas discriminatrias designando-as por termos especficos como "sexismo" ou "etnicismo" porque a referncia "raa" encontra-se subsumida
em outras diferenas, funcionando apenas como uma imagem de diferena
irredutvel. Para usar as palavras de Louis Henry Gates, Jr.:
A raa tornou-se um imagem da diferena absoluta e irredutvel entre
culturas, grupos lingusticos, ou aderentes a certos sistemas de crenas
que na maioria das vezes mas no sempre apresentam tambm
interesses econmicos opostos. A raa tomou-se afigura suprema da
diferena porque ela necessariamente arbitrria em sua aplicao
(Gates, Jr., 1985, p. 5).
Em certos casos, ao contrrio, o preconceito e a discriminao
pressupem ou se referem idia de "raa" de uma maneira central. Nesses
casos, as outras diferenas possveis so imagens figuradas da "raa"; casos
nos quais a hierarquia social no poderia manter um padro discriminatrio
sem as diferenas raciais. Apenas nesses casos pode-se falar de racismo ou
racismos de um modo preciso.
De fato, quando a "raa" est empiricamente presente ainda que seu
nome no seja pronunciado, a diferenciao entre tipos de racismo s pode
ser estabelecida atravs da anlise de sua formao histrica particular, isto
, atravs da anlise do modo especfico como a classe social, a etnicidade,
a nacionalidade e o gnero tornaram-se metforas para a "raa" ou viceversa. com esse sentido preciso que falo de racismo neste artigo.
32
NOVOS ESTUDOS N. 43
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
"Raa" e cor
Na literatura que trata das relaes raciais no Brasil, como observou
Peter Wade (1994, p. 28), "a distino entre aparncia e ancestralidade
permanece muitas vezes obscura e posta em paralelo com a distino entre
a insignificncia e a significncia da 'raa'". Como os negros no Brasil no
so definidas pela regra "uma gota de sangue negro faz de algum um
negro" e como no h uma regra clara de descendncia biolgica definindo
grupos raciais, mas, ao contrrio, as classificaes seguem diferenas de
aparncia fsica e a "interao entre uma variedade de status adquiridos e
adscritos" (Harris, 1974), isso parece significar para alguns autores que no
se pode falar nem mesmo de grupos raciais no Brasil, mas apenas de
"grupos de cor"8.
Os socilogos aceitaram amplamente a idia segundo a qual no Brasil,
e na Amrica Latina em geral, no havia preconceito racial mas apenas
"preconceito de cor". Thales de Azevedo (1955, p. 90), por exemplo,
escreveu: "Funcionando a cor e os traos somticos, em grande parte, como
smbolos de status, as resistncias aos intercasamentos traduzem ao mesmo
tempo preconceito de classe e de raa ou, melhor, de cor". Wintrop R.
Wright (1990, p. 3) foi ainda mais explcito em sua discusso sobre a
Venezuela: "Mas os venezuelanos consideram negros apenas os indivduos
de pele negra. A cor e no a raa a aparncia e no a origem influencia
muito mais a percepo dos venezuelanos sobre os indivduos".
Florestan Fernandes (1965, pp. 27-8), contudo, j havia apontado o
fato de que o "preconceito de cor" deveria ser usado como uma noo nativa
conceitualizado primeiramente pela Frente Negra Brasileira em 1940
para referir-se forma particular de discriminao racial que oprime os
negros brasileiros. Discriminao em que a "cor", vista como fato objetivo
e natural, e no a "raa", vista como conceito abstrato e cientfico, decisiva.
S possvel conceber-se a "cor" como um fenmeno natural se
supomos que a aparncia fsica e os traos fenotpicos so fatos objetivos,
biolgicos e neutros com referncia aos valores que orientam a nossa
percepo. justamente desse modo que a "cor" no Brasil funciona como
uma imagem figurada de "raa". Quando os estudiosos incorporam ao seu
discurso a cor como critrio para referir-se a grupos "objetivos", eles esto
se recusando a perceber o racismo brasileiro. Suas concluses no podem
deixar de ser pois formais, circulares, e superficiais: sem regras claras de
descendncia no haveria "raas" mas apenas grupos de cor.
Ora, no h nada espontaneamente natural acerca dos traos fenotpicos ou da cor. Pode-se, a esse respeito, recordar as palavras de Henry Louis
Gates, Jr. (1985, p. 6):
Necessita-se de pouca reflexo, contudo, para se reconhecer que essas
categorias pseudocientficas so elas prprias imagens. Quem j viu
nnnn
NOVEMBRO DE 1995
33
(8) Degler (1991, p. 103) segue
esta tendncia, ressaltando "a
enfse brasileira sobre a aparncia e no sobre o legado
gentico ou racial" e referindo-se ao Brasil como "uma
sociedade na qual as distines so feitas entre uma variedade de cores e no entre
raas, como nos Estados Unidos" (Degler, 1991, p. 244).
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
realmente uma pessoa preta ou vermelha, uma pessoa branca, amarela ou marrom? Esses termos so construes arbitrrias, no registros
de realidade. Mas a linguagem no apenas o meio de veiculao
dessa tendncia insidiosa; tambm o seu signo. O uso da linguagem
corrente significa a diferena entre culturas e seu diferencial de poder,
expressando a distncia entre subordinado e superordinado, entre
servo e senhor em termos de sua "raa".
Essa postura se fortalece com o argumento de que no h nada
espontaneamente visvel na cor da pele, no formato do nariz, na espessura
dos lbios ou dos cabelos, ou mais facilmente discriminatrio nesses traos
do que em outros, como o tamanho dos ps, a altura, a cor dos olhos ou a
largura dos ombros. Tais traos s tm significado no interior de uma
ideologia preexistente (para ser preciso: de uma ideologia que cria os fatos
ao relacion-los uns aos outros), e apenas por causa disso esses traos
funcionam como critrios e marcas classificatrios.
Em suma, algum s pode ter cor e ser classificado num grupo de cor
se existe uma ideologia na qual a cor das pessoas tem algum significado. Isto
, as pessoas tm cor apenas no interior de ideologias raciais, stricto sensu.
O racismo no paraso tropical
Qual ideologia racial que particulariza o Brasil?
A especificidade do racismo brasileiro, mas tambm da Amrica Latina
em geral, provm do fato de que a nacionalidade brasileira foi formada ou
"imaginada", para usar a fina metfora empregada por Benedict Anderson
(1992), como uma comunidade de indivduos etnicamente dissimilares que
chegavam de todas as partes do mundo, principalmente da Europa. No
Brasil, a nao foi formada por um amlgama de crioulos9 cuja origem tnica
e racial foi "esquecida" pela nacionalidade brasileira. A nao permitiu que
uma penumbra cmplice encobrisse ancestralidades desconfortveis. Mas a
ordem escravocrata, no entanto, fora apenas substituda por outra ordem
hierquica. A "cor" passou a ser uma marca de origem, um cdigo cifrado
para a "raa". O racismo colonial, fundado sobre a idia da pureza de sangue
dos colonizadores portugueses, cedeu lugar, depois da Independncia do
pas, idia de uma nao mestia (Skidmore, 1979; Wright, 1990; Wade,
1993), cuja cidadania dependia do lugar de nascimento (a nossa "naturalidade") e no de ancestralidade10. Para entender o racismo resultante desse
processo de formao nacional pois necessrio entender como foi
construda a noo do "branco" brasileiro. Voltaremos a isso adiante.
Outras duas caractricas das relaes raciais no Brasil e na Amrica
Latina em geral foram apenas referidas acima e precisam ser mais desenvolvidas. Uma a existncia de uma ordem oligrquica na qual a "raa", isto
nnnnn
34
NOVOS ESTUDOS N. 43
(9) Uso "crioulo" aqui no sentido de descendentes de colonizadores ou estrangeiros nascidos nas Amricas. Esse um
significado mais espanhol que
portugus, dado que no Brasil
reservamos geralmente a palavra "crioulo" para designar
apenas os africanos nascidos
aqui, chamando de "brasileiros" os descendentes de europeus. Esse ltimo uso antecipa
a transposio de significado
entre "europeu", "brasileiro" e
"branco" que explorarei adiante.
(10) Para ser exato, tambm a
cidadania nos Estados Unidos
seguiu o "direito de solo"; entretanto, eles desenvolveram
uma auto-imagem de transplante europeu (o caldeiro
tnico) muito mais exclusivista
(em termos europeus) que a
auto-imagem de mistura de trs
raas que ns desenvolvemos.
exacerbada conscincia de
comunidade, nos Estados Unidos, correspondeu uma nacionalidade mixofbica, aversa a
mistura racial, para empregar
o termo de Taguieff (1987).
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
a "cor", o status e a classe esto intimamente ligados entre si. Suzanne
Oboler escreve:
Como um resultado da miscigenao extensiva corrente nas colnias,
as classificaes raciais, o status social e a honra evoluram para um
arranjo hierrquico que Lipschtz chamou de "pigmentocracia". Esse
era um sistema racial, como Ramn Gutirrez descreveu, no qual a
clareza da pele est diretamente relacionada a um maior status social
e a maior honra; enquanto a cor mais escura estava associada tanto
com "o trabalho fsico dos escravos e dos ndios" quanto, visualmente,
com "a infmia dos conquistados". A noo espanhola de pureza de
sangre fora assim instilada no modo como a aristocracia do Novo
Mundo entendia os conceito inter-relacionados de raa, status social e
honra (Oboler, 1995, p. 28).
No Brasil, esse sistema de hierarquizao social que consiste em
gradaes de prestgio formadas por classe social (ocupao e renda),
origem familiar, cor e educao formal funda-se sobre as dicotomias que
por trs sculos sustentaram a ordem escravocrata: elite/povo e brancos/
negros so dicotomias que se reforam mutuamente simblica e materialmente.
Emlia Viotti da Costa reconhece essa origem do preconceito de cor no
Brasil quando escreve: "O preconceito racial servia para manter e legitimar
a distncia do mundo dos privilgios e direitos do mundo de privaes e
deveres" (Viotti da Costa, 1988, p. 137). A doutrina liberal do sculo XIX,
segundo a qual os pobres eram pobres porque eram inferiores, encontrava
no Brasil sua aparncia de legitimidade no aniquilamento cultural dos
costumes africanos e na condio de pobreza e de excluso poltica, social
e cultural da grande massa dos pretos e mestios. A condio de pobreza dos
pretos e mestios, assim como anteriormente condio servil dos escravos,
era tomada como marca de inferioridade.
Viotti da Costa, Florestan Fernandes e outros demonstraram muito
bem que a elite brasileira (incluindo os abolicionistas) era prisioneira dessa
lgica justificadora das desigualdades. Para os liberais, a escravido significava antes de tudo um obstculo para as suas idias. Eles no tinham uma
reflexo sobre as relaes raciais nem se preocupavam com a condio dos
negros depois da abolio11. A admisso da igualdade universal entre os
homens era colocada no nvel dogmtico e terico, por cima e alm de
qualquer contato ou engajamento com os interesses reais das pessoas
envolvidas. Assim como hoje, essa teoria coexistia sem maiores problemas
com a enorme distncia social e o sentido de superioridade que separava os
brancos e letrados dos pretos, dos mulatos e da gentinha em geral.
De fato, a idia de "cor", apesar de afetada pela estrutura de classe
(por isso "o dinheiro embranquece", assim como a educao), funda-se
nnnnnnn
NOVEMBRO DE 1995
35
(11) As idias de Jos Bonifcio sobre a escravido e a
economia agrcola do perodo
so exemplares a esse respeito. Ver Da Costa (1988) e Florestan Fernandes (1965).
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
sobre uma noo particular de "raa". Tal noo, ainda que gire em torno
da dicotomia branco/negro, tal como no mundo anglo-saxnico, especfica na maneira como define "branco". No Brasil, o "branco" no se formou
pela exclusiva mistura tnica de povos europeus como ocorreu nos Estados
Unidos com o "caldeiro tnico" (Omi and Winant, 1986; Oboler, 1995;
Lewis, 1995); ao contrrio, como "branco" contamos aqueles mestios e
mulatos claros que podem exibir os smbolos dominantes da europeidade:
formao crist e domnio das letras12. Por extenso, as regras de pertinencia
minimizaram o plo "negro" da dicotomia, separando assim mestios de
pretos. O significado da palavra "negro", portanto, cristalizou a diferena
absoluta, o no-europeu. Nesse sentido, um "preto" de verdade no era um
homem letrado nem seria completamente cristo pois carregaria sempre
consigo algumas crenas e supersties animistas (omito propositadamente
qualquer considerao a respeito da mulher negra, sistematicamente ausente do processo identificatrio). Consequentemente, no Brasil, somente
aqueles com pele realmente escura sofrem inteiramente a discriminao e
o preconceito antes reservados ao negro africano. Aqueles que apresentam
graus variados de mestiagem podem usufruir, de acordo com seu grau de
brancura (tanto cromtica quanto cultural, dado que "branco" um smbolo
de "europeidade"), alguns dos privilgios reservados aos brancos.
Anani Dzidzienyo foi um dos primeiros a notar essa peculiaridade das
relaes raciais no Brasil, quando caracterizou em 1971 o que considerou o
"marco da decantada 'democracia racial' brasileira", como "a distoro de
que branco melhor e preto pior e que, portanto, quanto mais prximo
de branco melhor. A fora dessa opinio penetra completamente a sociedade brasileira e abarca a totalidade dos esteretipos, dos papis sociais, das
oportunidades de emprego, dos estilos de vida e, o que mais importante,
serve como pedra de toque para a sempre observada 'etiqueta' das relaes
raciais no Brasil" (Dzidzienyo, 1971, p. 3).
Corrobando a tese de Dzidzienyo, Cleveland Donald, Jr., um jornalista
negro americano em visita ao Brasil em 1972, anotou: "De fato, pouco
importa se um mulato brasileiro no considerado negro; muito mais
importante o fato de que ele nunca branco" (Hellwig, 1992, p. 212).
A mutao do racismo no Brasil
Qualquer anlise do racismo brasileiro deve considerar pelo menos
trs grandes processos histricos. Primeiro, o processo de formao da
nao brasileira e seu desdobramento atual; segundo, o intercruzamento
discursivo e ideolgico da idia de "raa" com outros conceitos de
hierarquia como classe, status e gnero; terceiro, as transformaes da
ordem scio-econmica e seus efeitos regionais. Procurarei em seguida
tocar nos pontos principais (do ponto de vista do racismo atual) de cada um
desses processos.
36
NOVOS ESTUDOS N. 43
(12) Sobre a importncia das
letras em geral, Henri Louis
Gates, Jr. (1985, p. 8) escreve:
"[...] depois de Descartes, a
razo passou a ser valorizada e
privilegiada entre todas as caractersticas humanas. A escrita, especialmente depois que a
imprensa se vulgarizou, foi tomada como o smbolo visvel
da razo. Os pretos eram considerados 'dotados de razo', e
portanto 'homens', se e somente se demonstrassem
maestria nas 'artes e cincias',
a frmula oitocentista para escrita. Assim, ainda que a Ilustrao tenha se caracterizado
por fundar-se sobre a razo
humana, ela usou simultaneamente a ausncia e a presena
da razo para delimitar e circunscrever a humanidade mesma das culturas e dos povos de
cor que os europeus descobriam desde a Renascena".
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
Uma discusso sobre a nacionalidade de fundamental importncia
porque no Brasil, como j sugerido, as regras de pertinncia nacional
suprimiram e subsumiram sentimentos tnicos, raciais e comunitrios. A
nao brasileira foi imaginada como uma conformidade cultural em termos
de religio, raa, etnicidade e lngua. Nesse contexto nacional, o racismo
brasileiro s poderia ser heterofbico, isto , um racismo que " a negao
absoluta das diferenas", que "pressupe uma avaliao negativa de toda
diferena, implicando um ideal (explcito ou no) de homogeneidade"
(Taguieff, 1987, p. 29).
Mas a negao de diferenas no significa que o racismo universalista,
ilustrado, seja necessariamente um racismo disfarado, envergonhado de
ser o que . Ao contrrio, essa timidez do racismo tem ela mesma uma
histria. No comeo do sculo atual, por exemplo, o racismo heterofbico
brasileiro era inteiramente explcito.
O principal cho do pensamento racista brasileiro, quela poca, nada
mais era que uma adaptao do chamado "racismo cientfico", as doutrinas
racialistas que pretenderam demonstrar a superioridade da raa branca. Se
verdade que cada racismo tem uma histria particular, a idia de
embranquecimento certamente aquela que especifica o nosso pensamento racial. Essa doutrina baseava-se, segundo Thomas Skidmore
no pressuposto da superioridade branca algumas vezes implcita
pois deixava em aberto a questo de saber quo "inata" era a
inferioridade negra, e usava os eufemismos "raas mais avanadas " e
"menos avanadas". Mas a esse pressuposto juntavam-se dois outros.
Primeiro, que a populao negra estava se tornando progressivamente
menos numerosa que a branca por razes que incluam uma taxa de
natalidade supostamente menor, uma maior incidncia de doenas e
sua desorganizao social. Segundo, a miscigenao estaria "naturalmente" produzindo uma populao mais clara, em parte porque o
gene branco seria mais resistente e em parte porque as pessoas escolhiam parceiros sexuais mais claros (Skidmore, 1993, pp. 64-5).
Em suma, a particularidade do racialismo brasileiro residiu na
importao de teorias racistas europias, excluindo duas de suas concepes importantes "o carter inato das diferenas raciais e a degenerescncia proveniente da mistura racial de modo a formular uma soluo
prpria para o 'problema negro'" (Skidmore, 1993, p. 77). O ncleo desse
racialismo era a idia de que o sangue branco purificava, dilua e
exterminava o negro, abrindo assim a possibilidade para que os mestios se
elevassem ao estgio civilizado.
A idia de "embranquecimento" foi elaborada por um orgulho
nacional ferido, assaltado por dvidas e desconfianas a respeito do seu
gnio industrial, econmico e civilizatrio. Foi, antes de tudo, uma maneira
nnn
NOVEMBRO DE 1995
37
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
de racionalizar os sentimentos de inferioridade racial e cultural instalados
pelo racismo cientfico e pelo determinismo geogrfico do sculo XIX.
Os primeiros trabalhos de Gilberto Freyre, seguido pouco depois por
Melville Herskovits, Donald Pierson, Charles Wagley e pela constituio de
todo um campo de estudos de antropologia social, decretaram a morte desse
racismo explcito, ainda que ilustrado. No pretendo aqui adentrar na
discusso dos mritos e das deficincias dos estudos antropolgicos do
meado do sculo. Mas certo que eles retiraram da cena intelectual
brasileira o racismo ingnuo do incio do sculo. Pretendo, por isso,
examinar algumas das suas idias na perspectiva crtica de quem se
pergunta sobre a mutao do racismo brasileiro.
Comeo por observar as mudanas no sentimento de nacionalidade.
De fato, quando Donald Pierson (1942), Thales de Azevedo (1955) e outros
conduziam suas pesquisas antropolgicas, toda uma nova gerao de
brasileiros, descendentes de migrantes italianos, espanhis, alemes e
japoneses13 iniciava sua ascenso na vida econmica e social dos estados do
Sudeste. So Paulo tornava-se rapidamente a maior cidade industrial da
Amrica Latina e, ao mesmo tempo, brasileiros do velho estoque miscigenado acorriam em massa para So Paulo em busca de empregos, geralmente
em posies subordinadas. A nacionalidade brasileira, tal como imaginada
tradicionalmente, como produto das trs raas tristes, encontrava-se sob
forte tenso. Tenso que provinha do fato que os "novos crioulos" brancos
(os rebentos brasileiros dos imigrantes recentes) no apresentavam as
mesmas uniformidades culturais dos antigos em termos de religio, por
exemplo e mantinham, em contraste, fortes laos comunitrios. Essa
novidade era ainda mais importante porque esses novos brasileiros se
situavam nas reas agrcolas e industriais mais dinmicas e consolidadas do
Sul e Sudeste, para onde parecia pender tambm o eixo cultural.
As tradicionais reas culturais da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais
permaneciam quase que intocadas na sua composio racial pelo afluxo
migratrio, enquanto outras reas culturais importantes como Rio de
Janeiro, So Paulo e Rio Grande do Sul tinham sua composio racial
radicalmente transformada (Merrick and Graham, 1979; Skidmore, 1993).
Tendo a ler Freyre e a antropologia social dos anos 40 e 50, escrita em
sua maior parte na Bahia e em Pernambuco, como parte de uma reao
cultural da "brasilidade" bem-nascida o modo primeiro de imaginar a
nacionalidade ao desafio cultural que representava a mudana de eixo
econmico e cultural em direo aos estados de migrao recente. Nesse
sentido, a idia de "democracia racial" tal como reinterpretada pela
antropologia de Gilberto Freyre (1933) pode ser considerada um mito
fundador de uma nova nacionalidade.
Seria, entretanto, um erro pensar que o pensamento antropolgico do
meado deste sculo seguindo os passos de Freyre mudou radicalmente os pressupostos racistas da idia de embranquecimento. Na verdade, a
tese do embranquecimento foi apenas adaptada aos cnones da Antropologia Social, passando a significar a mobilidade ascensional dos mestios na
nnnn
38
NOVOS ESTUDOS N. 43
(13) Neste artigo trato apenas
do racismo dirigido contra afrobrasileiros. Acredito, entretanto, que minha anlise pode ser
aplicada, cum grano salis, aos
povos indgenas e aos asiticobrasileiros.
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
hierarquia social. Por um lado, "embranquecimento" era uma constatao
feita atravs de pesquisas empricas, um caminho de mobilidade preferencial encontrado entre os negros; mas, por outro lado, esse caminho
pressupunha uma viso racista da negritude, ainda que interiorizada pelos
negros, para a qual a teoria antropolgica da poca permaneceu muitas
vezes silenciosa e acrlica.
Essa perspectiva eurocntrica da verso culturalista do "embranquecimento" pode ser encontrada em Gilberto Freyre (1933), em Donald Pierson
(1942), em Thales de Azevedo (1955), para ficar entre alguns dos mais
proeminentes e progressistas antroplogos dos anos 30, 40 e 50, respectivamente. Ouamos, por exemplo, Thales de Azevedo:
Por efeito da mestiagem e de outros fatores scio-biolgicos o grupo
mais escuro, de fentipo preto, vem sendo absorvido gradativamente
no caldeamento tnico; os brancos aumentam em ritmo um pouco
mais rpido, enquanto cresce o nmero de mestios, registrados nas
estatsticas como pardos, para afinal virem a submergir, pela mistura,
no grupo de ascendncia predominantemente europia (Azevedo,
1955, p. 51).
"Embranquecimento" passou, portanto, a significar a capacidade da
nao brasileira (definida como uma extenso da civilizao europia,
onde uma nova raa emergia) para absorver e integrar mestios e pretos.
Tal capacidade requer implicitamente a concordncia das pessoas de cor
em renegar sua ancestralidade africana ou indgena. "Embranquecimento"
e "democracia racial" so pois conceitos de um novo discurso racialista14 .
O ncleo racista desses conceitos reside na idia, s vezes totalmente
implcita, de que foram trs as "raas" fundadoras da nacionalidade, as
quais aportaram diferentes contribuies, segundo os seus potenciais
culturais qualitativamente diferentes. A cor das pessoas assim como seus
costumes so portanto ndices do valor positivo ou negativo dessas
"raas".
No cerne desse modo de pensar a nacionalidade, a marca de cor tornase indelvel no porque sinalize uma ancestralidade inferior, mas porque
"explica" a posio inferior atual dessa pessoa.
Trata-se, por outro lado, de um modo muito particular de pensar o que
ser brasileiro. Escrevendo em 1955 acerca das "elites de cor na Bahia",
cidade onde 80% da populao tem algum ancestral negro, Thales de
Azevedo pode dizer sucessivamente que:
1) "Por causa do seu tipo arquitetnico e urbanstico, do seu ar de
antiguidade e do ritmo moderado de existncia da sua populao, a Bahia
hoje considerada a cidade mais europia do Brasil" (p. 25);
2) "A Bahia considera-se uma das comunidades 'mais brasileiras' de
todo o pas em virtude de ter em sua populao um nmero extremamente
nnnn
NOVEMBRO DE 1995
39
(14) Carlos Hasembalg (1984,
p. 2) j havia chamado a ateno para a importncia desses
dois conceitos para o entendimento da particularidade do
racismo brasileiro. Em suas
palavras: "O ideal de embranquecimento estabeleceu um
compromisso entre as doutrinas racistas em voga na virada
do sculo XX e a realidade
scio-racial do Brasil, ou seja,
o grau avanado de mestiagem da populao do pas. O
conceito de democracia racial
uma poderosa construo
ideolgica cujo principal efeito tem sido manter as diferenas inter-raciais fora da arena
poltica, mantendo-as como
conflito latente".
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
reduzido de estrangeiros e de continuar sendo constituda pelos elementos
com que originalmente se povoou o Brasil" (p. 38);
3) "Nenhum dos estados brasileiros que contm grandes nmeros de
pretos apresenta ndices to altos de mestiagem quanto a Bahia. Isso
mostra que o estado da Bahia provavelmente o mais importante caldeiro
tnico euro-africano do Brasil" (p. 48).
Nessas passagens, pode-se perceber claramente o deslocamento sutil
de significado entre "ser europeu", "ser brasileiro" e "ser mestio". O
deslocamento acaba por impregnar de "europeidade" a nacionalidade
imaginada, seja crioulizando-a na referncia ao "caldeiro tnico" que
define os brancos norte-americanos , seja "embranquecendo" a mestiagem.
Entretanto, essas mesmas passagens que revelam a nacionalidade
tpica das elites nordestinas revelam tambm as tenses por que passa essa
nacionalidade como resultado da onda de imigrao europia do final do
sculo passado e comeo deste, quando milhares de italianos, espanhis,
portugueses, alemes, japoneses, srios, libaneses e outros colonos ingressaram nos estados do Sul e Sudeste, parcialmente incentivados por uma
poltica oficial de embranquecimento.
A "brancura" produzida por esse "caldeiro tnico" sulista muito
diferente daquela produzida pelo caldeiro tnico colonial a que Thales de
Azevedo se refere. Principalmente porque esses brancos se misturaram
racialmente na classe mdia brasileira e s residualmente nas classes
trabalhadoras. Em verdade, a classe operria paulista j havia se transformado racialmente nos anos 50, atravs da absoro de imigrantes nordestinos,
principalmente negros e mestios (Andrews, 1991), enquanto os descendentes de imigrantes recentes escalavam a pirmide social. A mobilidade
relativamente rpida dos migrantes europeus testemunha, assim, a relativa
complacncia da sociedade brasileira vis--vis os imigrantes brancos,
contrastando vivamente com o modo subordinado e preconceituoso com
que os africanos foram assimilados. Os descendentes de imigrantes japoneses constituem, a esse respeito, um exemplo curioso. Apesar de sistematicamente deslocados do imaginrio nacionalista (eles so chamados at hoje
de "japoneses" ou, no melhor dos casos, "nisseis"), foram assimilados no
lado branco da bipolaridade de status "branco/negro", herdada da escravido. Talvez por isso, eles tenham encontrado liberdade suficiente para
maximizar seus capitais (cultural e econmico) e lograr uma melhor
insero social que os descendentes de africanos.
De qualquer modo, o fato que as comunidades tnicas formadas por
imigrantes e seus descendentes, vistas pelos brasileiros de quatro costados
como "estrangeiros" e que viam desdenhosamente os "brasileiros" ,
essas comunidades, uma vez absorvidas s "elites" sulistas ou s classes
mdias nacionais, passaram a redefinir os outros, principalmente s classes
trabalhadoras e "ral" brasileira tradicional, marcadamente mestia, como
"baianos", "parabas", ou "nordestinos". Dito de outro modo, "baianos" e
"nordestinos" passaram a ser nesse contexto uma codificao neutra para os
nnn
40
NOVOS ESTUDOS N. 43
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
"pretos", "mulatos" ou "pardos" das classes subalternas; tranformados assim
nos alvos principais do "novo racismo" brasileiro.
Agier, Michel. 1993. Il Aiy: A
inveno do mundo negro.
Salvador, manuscrito.
____. e Carvalho, Maria Rosrio G. de. "Nation, race, culture: les mouvements noirs et
indiens au Brsil". Cahiers de
lAmrique Latine. Paris: IHEAL, 1994, pp. 107-24.
Teorizando o racismo e o anti-racismo no Brasil
H algo muito especial nesse racismo heterofbico que provm da
maneira peculiar em que a nao brasileira foi imaginada. Benedict
Anderson j havia apontado o fato de que as naes latino-americanas foram
definidas principalmente por "fazendeiros abastados, aliados a um nmero
menor de comerciantes e a vrios tipos de profissionais (advogados,
militares, funcionrios civis provinciais e municipais)" (Anderson, 1992, p.
48). Nascida como um projeto elitista e no como resultados de lutas
populares, a nacionalidade no estendeu o imaginrio da cidadania a todos
os brasileiros. Ao contrrio, o imaginrio elistista da nacionalidade aspirou
nas suas verses mais liberais a uma raa mestia que incorporasse
negros e ndios. Por isso, Peter Wade (1993, p. 3) tem razo quando diz que
os pretos e os ndios so incorporados mais "como candidatos potenciais
miscigenao" que como cidados plenos. De fato, eles foram excludos
desde sempre da cidadania, pelo processo mesmo de sua emancipao que
os transformou numa subclasse.
Mas nossos males no comearam com a Repblica. O racismo
heterofbico tem na verdade uma origem pr-republicana. Joo Reis
(1993), em artigo recente, volta a insistir sobre a discriminao a que
estavam sujeitos os africanos, fossem ou no libertos, na Bahia de meados
do sculo passado. A inteno das autoridades quela poca parece ter
sido claramente a de forar a retirada dos africanos para os engenhos,
fossem escravos, ou for-los de volta frica, fossem libertos. A palavra
"africano" foi o termo primeiro a designar o outro racial, o diferente
absoluto. Quando j no havia mais africanos, mas apenas crioulos,
"crioulos" e "negros" e depois "pretos" passaram sucessivamente a designar a africanidade.
O "estranhamento" dos negros no imaginrio nacionalista est presente em todas as classes sociais. Na nacionalidade popular, na subcultura do
futebol no Nordeste, por exemplo, os que no se encaixam no padro racial
da morenidade so chamados de "nego", se so pretos, ou de "alemes" ou
"galegos" se so brancos. Essa aparente simetria de excluso do preto e do
branco , contudo, revertida na cromatologia do status, tal como observaram Donald Pierson (1942) e Thales de Azevedo (1955) na Bahia, na qual
se distingue um "branco fino" (aqueles de pura linhagem europia) de um
"branco da terra", ou seja um branco amestiado e moreno, como meio de
valorizar o "europeu".
Para marcar a origem desse tipo de racismo, Florestan Fernandes
(1965) chamou o processo racialista de "metamorfose do escravo". O
processo consiste justamente em empregar os termos "preto" ou "negro"
nnnn
NOVEMBRO DE 1995
REFERNCIAS
41
Anderson, Benedict. Imagined
communities. Londres: Verso,
1992.
Andrews, George Reid. Blacks
and Whites in Sao Paulo, Brazil, 1899-1988. University of
Wisconsin Press, 1991.
____. "Desigualdade racial no
Brasil e nos Estados Unidos: uma comparao estatstica". Estudos Afro-Asiticos, n
22, pp. 47-84.
Azevedo, Thales de. As elites
de cor, um estudo de ascenso
social. So Paulo: Cia. Editora
Nacional, 1955.
Banton, Michael. The idea of
race. Boulder: Westview Press,
1977.
____. Racial theories. Cambridge University Press, 1987.
Barkan, Elazar. The retreat of
scientific racism. Cambridge
University Press, 1992.
Berghe, Pierre van den. Race
and ethnicity. Basics Books
Inc., 1970.
Cashmore, Ellis. 1994. Dictionary of race and ethnic relations. Londres e Nova York:
Routledge, 3 ed., 1994.
Castro, Nadya e Guimares,
Antonio S. A. "Desigualdades
raciais no mercado e nos locais de trabalho". Estudos AfroAsiticos, n 24, 1993, pp. 2360.
Costa, Emilia Viotti da. 1988.
The Brazilian empire: myths
and histories. Belmont: Wadsworth Publishing Co., 1988.
Degler, Carl N. Neither black
nor white. Madison: Univ. of
Wisconsin Press, 1991.
Delacampagne, Christian. "Racism and the West: from praxis
to logos". In: David Theo Goldberg, org. Anatomy of racism.
University of Minnesota Press,
1990, pp. 85-6.
Dzidzienyo, Anani. The position of blacks in Brazilian society. Londres, 1971.
Fernandes, Florestan. A integrao do negro na sociedade
de classes. So Paulo: Cia Editora Nacional, 2 vols., 1965.
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
que aparentemente designam a cor da pele para significar uma subclasse
de brasileiros marcada pela subalternidade.
Em termos materiais, na ausncia de discriminaes raciais institucionalizadas, esse tipo de racismo se reproduz pelo jogo contraditrio entre,
por um lado, uma cidadania definida de modo amplo e garantida por
direitos formais, mas, por outro lado, largamente ignorados, no cumpridos
e estruturalmente limitados pela pobreza e pela violncia policial cotidiana.
pela restrio fatual da cidadania e atravs da imposio de distncias
sociais criadas por diferenas enormes de renda, de educao; e pelas
desigualdades sociais que separam brancos de negros, ricos de pobres,
nordestinos de sulistas, que o racismo se perpetua.
As elites brasileiras os proprietrios, empresrios, intelectuais e
classes mdias representam diariamente o compromisso (comdia,
farsa?) entre explorao selvagem e boa conscincia. Elas podem se
orgulhar de possuir a Constituio e a legislao mais progressistas e
igualitrias do planeta pois as leis permanecem, no mais das vezes,
inoperantes. O voto universal, por exemplo, permaneceu at 1988 restrito
aos alfabetizados, o que exclua de fato a populao analfabeta, em sua
maior parte negra ou cabocla. Do mesmo modo, o racismo foi considerado
contraveno pela Lei Afonso Arinos em 1951 e, em 1988, graas aos
esforos do Movimento Negro, a Constituio transformou o racismo em
crime. No entanto, at hoje ningum foi punido por crime de racismo, muito
pelo contrrio, casos de flagrante racismo so caracterizados em outros
captulos das leis penais pelos prprios advogados das vtimas, que s assim
tm chances reais de ganhar as causas (Guimares, 1994).
Assim o racismo brasileiro. Sem cara, travestido em roupas ilustradas, universalista, tratando-se a si mesmo como anti-racismo e negando
como antinacional a presena integral do afro-brasileiro ou do ndiobrasileiro. Para esse racismo, o racista aquele que separa, no o que nega
a humanidade de outrem; desse modo, racismo, para ele, o racismo do
vizinho (o racismo americano).
O marxismo, que influenciou enormemente o pensamento e as aes
de uma frao emergente das classes mdias brasileira nas dcadas do psguerra, em nada alterou esse quadro. Ao contrrio, a insistncia marxista no
carter ideolgico das "raas" e sua caracterizao do racismo como um
epifenmeno apenas emprestou uma tonalidade socialista ao ideal de
"democracia racial". Para ser mais preciso, transformou a democracia racial
num ideal a ser conquistado pelas lutas de classes. O evolucionismo
subjacente ao pensamento marxista adaptou-se bem idia de que o
capitalismo (ele prprio cdigo para "europeidade") seria uma fora
civilizadora que os povos de todo o mundo teriam forosamente que
experimentar antes de atingir o socialismo.
Mesmo quando o racismo inerente s teorias culturais e s extensivas
classificaes cromticas (que substituem a polaridade branco/negro)
reconhecido, ouve-se sempre o contra-argumento de que o racismo no
Brasil suave. Suavidade que se deve sem dvida relativa conformidade
nnnn
42
NOVOS ESTUDOS N. 43
Freyre, Gilberto. Casa grande
& senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da
economia patriarcal. Rio de
Janeiro: Schmidt, 1933.
Cates, Jr., Henry L. "Editor's
introduction: writing 'race' and
the difference it makes". In:
Henry L. Gates, Jr., org. "Race",
writing, and difference. Univ.
of Chicago Press, 1985, pp. 120.
Guillaumin, Colette. 1992.
"Race et nature". In: Sexe, race
et pratique du pouvoir. Lide
de nature. Paris: Ct-femmes
ditions, 1992.
Gilroy, Paul. Small acts: thoughts on the politics of black cultures. Londres: Serpents Tail,
1993.
Guimares, Jos Lzaro A. "Racial conflicts in Brazilian law",
conference at Afro-American
Studies Program, Brown University, February, 1994.
Harris, Marvin. 1974. Patterns
of races in the Americas. Nova
York: Norton Library, 1974.
Hasenbalg, Carlos. Discriminao e desigualdades raciais
no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
____. Race relations in modern Brazil. Albuquerque: The
Latin American Institute, University of New Mexico, 1984.
Hellwig, David J. African-American refleclions on Brazil`s
racial paradise. Temple University, 1992.
Lewis, Earl. "Race, the state
and social construction". In:
Santley I. Kutler, ed. The encyclopedia of the United States
in the twentieth century. Nova
York: Simon and Schuster, no
prelo.
Lovell, Peggy. Income and racial inequality in Brazil. Ph. D.
dissertation, University of Florida, 1989.
Merrick, Thomas e Douglas
Graham. Populalion and economic developmenl in Brazil.
Baltimore: *Johns Hopkins
University Press, 1979.
Nogueira, Oracy. "Preconceito
racial de marca e preconceito
racial de origem Sugesto
de um quadro de referncia
para a interpretao do material sobre relaes raciais no
Brasil". Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, realizado em So Paulo em agosto de 1954, vol. I.
Oboler, Suzanne. Ethnic labels, latino lives: identity and
the polilics of representation.
Minneapolis e Londres: University of Minnesota Press, no
prelo.
ANTONIO SRGIO ALFREDO GUIMARES
da populao negra e ausncia de mecanismos legais de desigualdade e
discriminao.
Num certo sentido, o ideal de democracia racial um mito fundador
da nacionalidade brasileira e deve ser denunciado justamente pelo seu
carter "mtico" de promessa no cumprida. De fato, os estudos seminais de
Carlos Hasenbalg (1979) e Nelson do Valle Silva (1980), assim como os de
Telles (1992), Lovell (1989), Andrews (1992), Castro e Guimares (1993),
Silva (1993) e outros desmascaram justamente a pretensa suavidade da
discriminao no Brasil. Eles mostram as desigualdades profundas que
separam os brancos dos outros grupos raciais e revelam uma segregao
real dos negros no emprego, na educao, na habitao etc.
O desafio mais crtico para aqueles que lutam contra o racismo no
Brasil est justamente em convencer a opinio pblica do carter sistemtico
e no-casual dessas desigualdades; mostrar a sua reproduo cotidiana
atravs de empresas pblicas e privadas, atravs de instituies da ordem
pblica (como a polcia e os sistemas judicirio e correcional); atravs das
instituies educacionais e de sade pblica. S assim pode-se esperar
levantar o vu centenrio que encobre as dicotomias elite/povo, branco/
negro na sociedade brasileira.
Para os afro-brasileiros, para aqueles que se chamam a si mesmos de
"negros", o anti-racismo tem que significar, entretanto, antes de tudo, a
admisso de sua "raa", isto , a percepo racializada de si mesmo e dos
outros. Isso significa a reconstruo da negritude a partir da rica herana
africana a cultura afro-brasileira do candombl, da capoeira, dos afoxs
etc. , mas significa tambm se apropriar do legado cultural e poltico do
"Atlntico negro" isto , o Movimento pelos Direitos Civis nos Estados
Unidos, a renascena cultural caribenha, a luta contra o apartheid na frica
do Sul etc.
As novas formas culturais do movimento negro na Amrica Latina e
no Brasil (Agier e Carvalho, 1994; Agier, 1993; Wade, 1993) tm enfatizado
precisamente o processo de reidentificao dos negros em termos tnicoculturais. Ao que parece, um discurso racialista de autodefesa pode
recuperar o sentimento de dignidade, de orgulho e de autoconfiana que
foi corrompido por sculos de racialismo universalista e ilustrado. O
ressurgimento tnico geralmente amparado nas idias gmeas de uma
terra a ser recuperada (o territrio dos antigos quilombos; ou a transformao, largamente simblica, de quarteires urbanos empobrecidos em
comunidades ou "quilombos" negros) e de uma cultura a redimir e
repurificar no contato com uma frica imaginria, a frica trazida e
mantida como memria.
Essa pauta concreta e popular do anti-racismo ferozmente combatida
por muitos brasileiros de boa f, nacionalistas de diversas extraes
polticas, que acreditam no anti-racismo oficial e mitolgico do Brasil. Os
brasileiros so muito suscetveis ao que chamam de "racismo invertido" das
organizaes negras ou ao que chamam de "importao de categorias e
sentimentos estrangeiros". De fato, nada fere mais profundamente a alma
nnnnn
NOVEMBRO DE 1995
43
Omi, Michel e Winant, Howard. Racial formation in the
United States, from the 1960'
s
to the 1980'
s. Londres: Routledge, 1986.
Pierson, Donald. Negroes in
Brazil: a study of race contact
in Bahia. Chicago, University
of Chicago Press, 1942.
Reis, Jos Joo. "A greve negra de 1857 na Bahia". Revista
USP, So Paulo: USP, n 18,
1983, pp. 8-29.
Rex, John. Race relations in
sociological theories. Londres:
Routledge & Kegan Paul, 1983.
____. Race and ethnicity.
Milton Keynes: Open University Press, 1986.
Silva, Nelson do Valle. "O preo da cor: diferenciais raciais
na distribuio de renda no
Brasil". Pesquisa e Planejamento Econmico, v. 10, n 1,
1980, pp. 21-44.
Silva, Paula Cristina. Negros
luz dos fornos: representaes
do trabalho e da cor entre metalrgicos da moderna indstria baiana. Dissertao de
mestrado em Cincias Sociais.
Salvador: UFBa, 1993.
Skidmore, Thomas. White into
black Durham e Londres:
Duke University Press, 1993.
Stepan, Nancy L. "Race and
gender: the role of analogy in
science". In: David Theo Goldberg, org. Anatomy of racism.
University of Minnesota Press,
1990, pp. 38-57.
Taguieff, Pierre-Andr. La force du prjug: essai sur le racisme et ses doubles. Paris: Gallimard, 1987.
Telles, Edward. "Residential
segregation by skin color in
Brazil". American Sociological
Review, n 57, April 1992, pp.
186-97.
Wade, Peter. Blackness and
race mixture. The dynamics of
racial identity in Colombia.
Baltimore: The *Johns Hopkins
University Press, 1993.
____. "Race, nature and,
culture", Man (N.S.) n 28,
1994, pp. 17-34.
Wright, Winthrop R. Caf con
leche. Race, class and national
image in Venezuela. Austin:
University of Texas Press,
1990.
RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL
nacional, nada contraria mais o profundo ideal de assimilao brasileiro,
que o cultivo de diferenas.
Mas mesmo no interior do movimento negro podem-se ouvir vozes
dissidentes que no concordam com a definio forosamente essencialista
que toda formao tnica requer.
Ao explorar os elos entre racismo e anti-racismo no contexto brasileiro
e analis-los da perspectiva do sistema mundial, espero ter contribudo para
desvendar um pouco mais os mitos que fundam as relaes raciais no Brasil.
Isso me parece preliminar para que os intelectuais brasileiros, e latinoamericanos em geral, passem a lutar contra o seu prprio racismo (e no o
do vizinho), aquele que se reproduz e cresce com a sua anuncia.
44
NOVOS ESTUDOS N. 43
Recebido para publicao em
agosto de 1995.
Antnio Srgio Alfredo Guimares professor do curso de
mestrado em Cincias Sociais
da Universidade Federal da
Bahia.
Novos Estudos
CEBRAP
N. 43, novembro 1995
pp. 26-44
Você também pode gostar
- Novos Sujeitos, Pós-Identidades e DecolonialidadeDocumento409 páginasNovos Sujeitos, Pós-Identidades e DecolonialidadetamaniniufprAinda não há avaliações
- Multiculturalismo e EducaçãoDocumento143 páginasMulticulturalismo e EducaçãoDanielle Silva de OliveiraAinda não há avaliações
- Da Invisibilidade Ao GêneroDocumento16 páginasDa Invisibilidade Ao Gênerocarlosedu22Ainda não há avaliações
- O Papel Da Comunidade Na Pacificação Dos ConflitosDocumento120 páginasO Papel Da Comunidade Na Pacificação Dos ConflitosRodrigo Cristiano DiehlAinda não há avaliações
- História Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2No EverandHistória Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2Ainda não há avaliações
- Sexualidade e IdentidadeDocumento16 páginasSexualidade e IdentidadeKayllane Ferreira dos Santos100% (1)
- Feminismo e IntersseccionalidadeDocumento13 páginasFeminismo e Intersseccionalidaderonaldotrindade100% (1)
- # SEGATO, Rita. Gênero e ColonialidadeDocumento27 páginas# SEGATO, Rita. Gênero e ColonialidadeFelipe Laurêncio de Freitas AlvesAinda não há avaliações
- 1 - Texto Dalmo de Abreu DallariDocumento5 páginas1 - Texto Dalmo de Abreu DallariRafael BedinAinda não há avaliações
- Glossário Da DiversidadeDocumento17 páginasGlossário Da DiversidadeRonaldo Vandei AlvesAinda não há avaliações
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemNo EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAinda não há avaliações
- Gênero: A História de Um ConceitoDocumento22 páginasGênero: A História de Um ConceitoSilas SousaAinda não há avaliações
- Marcos Legais Da Educação para As Relações Étnico-Raciais Sob A Perspectiva Afro-BrasileiraDocumento37 páginasMarcos Legais Da Educação para As Relações Étnico-Raciais Sob A Perspectiva Afro-BrasileiraMarcello AssunçãoAinda não há avaliações
- A Diversidade Cultural e o Direito À Igualdade e À DiferençaDocumento11 páginasA Diversidade Cultural e o Direito À Igualdade e À DiferençacamilaAinda não há avaliações
- Brasil Rural X UrbanoDocumento15 páginasBrasil Rural X Urbanowendel BulandeiraAinda não há avaliações
- Manual AntirracistaDocumento1 páginaManual AntirracistaOSWALDO JOSE MOREIRA SOTOAinda não há avaliações
- A Pesquisa Participante - Um Momento Da Educação Popular - CR Brandão e MC BorgesDocumento13 páginasA Pesquisa Participante - Um Momento Da Educação Popular - CR Brandão e MC BorgesMarcelo Ayub Monteiro100% (1)
- Mulherismo AfricanaDocumento2 páginasMulherismo AfricanaCarolina Santos PinhoAinda não há avaliações
- Feminismo Negro - Notas Sobre o Debate Norte-Americano e BrasileiroDocumento9 páginasFeminismo Negro - Notas Sobre o Debate Norte-Americano e BrasileiroSimone OliveiraAinda não há avaliações
- Negro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalDocumento109 páginasNegro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalrenatospgAinda não há avaliações
- A Importância Da Mulher Na SociedadeDocumento28 páginasA Importância Da Mulher Na SociedadeAdam ErlonAinda não há avaliações
- Transgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesNo EverandTransgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesAinda não há avaliações
- Literatura Negra No BrasilDocumento35 páginasLiteratura Negra No Brasilsuelen palharesAinda não há avaliações
- MISKOLCI, Richard .Teoria Queer Um Aprendizado Pelas Diferenças (2012)Documento38 páginasMISKOLCI, Richard .Teoria Queer Um Aprendizado Pelas Diferenças (2012)Bruno De Orleans Bragança ReisAinda não há avaliações
- Fichamento CisneDocumento8 páginasFichamento CisneSimone MeijonAinda não há avaliações
- Laura Burocco - AFROFUTURISMO E O DEVIR NEGRO DO MUNDODocumento12 páginasLaura Burocco - AFROFUTURISMO E O DEVIR NEGRO DO MUNDObernstein_a100% (1)
- Preconceito De Marca X Preconceito De Origem Na AtualidadeNo EverandPreconceito De Marca X Preconceito De Origem Na AtualidadeAinda não há avaliações
- Educação Antirracista - Imprimir Junho 2023Documento6 páginasEducação Antirracista - Imprimir Junho 2023Sonia Gonzales100% (1)
- Somos Todos Miscigenados O Mito Da Democracia Racial Imposta No Período Da Ditadura Civil Militar No BrasilDocumento12 páginasSomos Todos Miscigenados O Mito Da Democracia Racial Imposta No Período Da Ditadura Civil Militar No BrasilGiselle SantosAinda não há avaliações
- Livro Bonecas Falando para o Mundo. Autor: Rodrigo DouradoDocumento289 páginasLivro Bonecas Falando para o Mundo. Autor: Rodrigo DouradoRodrigo DouradoAinda não há avaliações
- A Evolução Do Conceito de CidadaniaDocumento6 páginasA Evolução Do Conceito de CidadaniavanessapiuchiAinda não há avaliações
- Descolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaNo EverandDescolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaAinda não há avaliações
- BERTULLO, Dora Lucia de L. - RACISMO, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS PDFDocumento50 páginasBERTULLO, Dora Lucia de L. - RACISMO, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS PDFAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos-Educacaoo e Interculturalidade As Tensoes Entre Igualdade e DiferencaDocumento4 páginasDireitos Humanos-Educacaoo e Interculturalidade As Tensoes Entre Igualdade e DiferencaWillian VianaAinda não há avaliações
- Aula Doc TrocaDocumento11 páginasAula Doc TrocaStella soaresAinda não há avaliações
- PROBLEMAS DE GÊNERO Feminismo e Subversão Da Identidade - Judith ButlerDocumento7 páginasPROBLEMAS DE GÊNERO Feminismo e Subversão Da Identidade - Judith ButlerLetícia ZanelaAinda não há avaliações
- Ementas Disciplinas AntropologiaDocumento74 páginasEmentas Disciplinas AntropologiaNão vou informar5100% (1)
- História Das Mulheres (Rachel Sueht)Documento7 páginasHistória Das Mulheres (Rachel Sueht)sarizacaetanoAinda não há avaliações
- FLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Documento12 páginasFLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Rhavier Pereira100% (1)
- Avtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoDocumento48 páginasAvtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoHolli DavisAinda não há avaliações
- Resenha Racismo, Sexismo e Desigualdade No Brasil CarneiroDocumento4 páginasResenha Racismo, Sexismo e Desigualdade No Brasil CarneiroLara MendonçaAinda não há avaliações
- Clóvis Moura O Racismo Como Arma Ideológica de DominaçãoDocumento20 páginasClóvis Moura O Racismo Como Arma Ideológica de DominaçãoAna Paula CamposAinda não há avaliações
- ARTIGO Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MUNANGADocumento12 páginasARTIGO Diversidade Etnicidade Identidade e Cidadania MUNANGALuciano SantosAinda não há avaliações
- Gendering A Discipline - TicknerDocumento10 páginasGendering A Discipline - TicknerKaren SusanAinda não há avaliações
- Homofobia, Lesbofobia e Transfobiao Que A Psicologia Tem A Ver Com Isso - Juliana Frota Da Justa CoelhoDocumento7 páginasHomofobia, Lesbofobia e Transfobiao Que A Psicologia Tem A Ver Com Isso - Juliana Frota Da Justa CoelhoSuzanaGuimarãesAinda não há avaliações
- Ativismo Homossexual Indígena e Decolonialidade: Da Teoria Queer Às Críticas Two-SpiritDocumento29 páginasAtivismo Homossexual Indígena e Decolonialidade: Da Teoria Queer Às Críticas Two-SpiritMarlise RosaAinda não há avaliações
- CARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Documento226 páginasCARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Lidi MesquitaAinda não há avaliações
- Hipersexualização Das Mulheres Negras Aspectos Sócio-Históricos e A Influência Da MídiaDocumento29 páginasHipersexualização Das Mulheres Negras Aspectos Sócio-Históricos e A Influência Da MídiaCarlos MonteiroAinda não há avaliações
- O Impacto Do Feminismo Na Comunidade PretaDocumento8 páginasO Impacto Do Feminismo Na Comunidade PretaJacque JoyAinda não há avaliações
- Sobre As CotaDocumento6 páginasSobre As CotaEmerson VasconcelosAinda não há avaliações
- Caminhos Africanos e Giros Afro-BrasileirosDocumento40 páginasCaminhos Africanos e Giros Afro-BrasileirosMatheus AlmeidaAinda não há avaliações
- Resenha: BORRILLO, Daniel. Homofobia - Revista BagoasDocumento7 páginasResenha: BORRILLO, Daniel. Homofobia - Revista BagoasFelipe BrunoAinda não há avaliações
- "Masculinidades, Colonialidade e Neoliberalismo". Entrevista Com Raewyn Connel.Documento14 páginas"Masculinidades, Colonialidade e Neoliberalismo". Entrevista Com Raewyn Connel.Tom OðinssonAinda não há avaliações
- Relações Do Filme ''Kinsey, Vamos Falar de Sexo''Documento2 páginasRelações Do Filme ''Kinsey, Vamos Falar de Sexo''Marcos Vinicius Krause GermanoAinda não há avaliações
- A Atualização Do Conceito de QuilomboDocumento10 páginasA Atualização Do Conceito de QuilombohaborelaAinda não há avaliações
- Heterossexualidade Não É NaturalDocumento2 páginasHeterossexualidade Não É NaturalscootscootAinda não há avaliações
- Negritude Masculinidade Homoerotismo e e PDFDocumento21 páginasNegritude Masculinidade Homoerotismo e e PDFDiogo Marcal CirqueiraAinda não há avaliações
- Resumo 13 de PTEA No Testo de Teresa Pires Do Rio CaldeiraDocumento2 páginasResumo 13 de PTEA No Testo de Teresa Pires Do Rio CaldeiraInocêncio pascoalAinda não há avaliações
- 2019 - ESPM Social Relatório PDFDocumento154 páginas2019 - ESPM Social Relatório PDFfred65Ainda não há avaliações
- Aplicação Da Metodologia de Aprendizagem Baseada em Educação ProfissionalDocumento20 páginasAplicação Da Metodologia de Aprendizagem Baseada em Educação Profissionalfred65Ainda não há avaliações
- Arquivo - Lista Atualizada PDFDocumento256 páginasArquivo - Lista Atualizada PDFfred65Ainda não há avaliações
- Abdias Do Nascimento - Genocídio Do Negro Brasileiro - Processo de Um Racismo Mascarado PDFDocumento92 páginasAbdias Do Nascimento - Genocídio Do Negro Brasileiro - Processo de Um Racismo Mascarado PDFfred65Ainda não há avaliações
- Lista de DvdsDocumento69 páginasLista de Dvdsfred65Ainda não há avaliações
- Os Níveis Cognitivos Da Taxonomia de BloomDocumento16 páginasOs Níveis Cognitivos Da Taxonomia de Bloomfred65100% (1)
- Circuncisão FemininaDocumento3 páginasCircuncisão Femininafred65Ainda não há avaliações