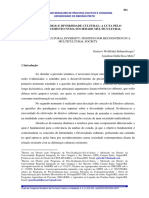Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Psicologia e Violência Escolar
Psicologia e Violência Escolar
Enviado por
PATRICIADireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia e Violência Escolar
Psicologia e Violência Escolar
Enviado por
PATRICIADireitos autorais:
Formatos disponíveis
PSICOLOGIA E VIOLNCIA ESCOLAR: CONTRIBUIES PARA O
ENFRENTAMENTO DO FENMENO
BASTOS, Luiza Burlamaqui1 UNAMA
luizaburlamaqui@yahoo.com.br
rea temtica: Violncias e convivncia nas Escolas: Complexidade, diversidade e
multirreferencialidade
Agncia Financiadora: UNAMA
Resumo
Nos dias atuais, a rotina muda de roupagem, principalmente por vir acompanhada da preocupao
constante com a violncia. Esta se encontra de tal modo arraigada em nosso dia-a-dia que nos
leva a pensar se um modo de ser do homem contemporneo, pois o convvio com ela perde seu
carter circunstancial, chegando, at mesmo, a ser vista como algo natural e, por sua vez,
aceitvel pela sociedade. Na contemporaneidade, a violncia assume diferentes dimenses,
podendo manifestar-se nos mais variados contextos, dentre eles, o espao escolar. A ocorrncia
de violncias nesse espao coloca em risco a funo da escola de socializao das novas
geraes, alm de gerar srias implicaes aos integrantes desta comunidade. Diante de uma
problemtica instigadora de reflexes e estratgias, muitos profissionais, dentre os quais se inclui
o psiclogo, vm procurando se adaptar a esta nova realidade. O presente artigo apresenta como
objetivo discutir sobre a violncia, em especial, a violncia escolar, e refletir, sobretudo, sobre as
contribuies que o profissional de Psicologia, baseado nas especificidades da sua atuao, pode
vir a oferecer comunidade escolar frente ao combate do fenmeno. Este estudo foi elaborado a
partir de bibliografias em circuito nos debates e grupos de estudos realizados no projeto
Observatrio de violncias nas escolas Ncleo-PA, bem como de experincias em pesquisas
realizadas por este projeto que trouxeram importantes recomendaes para o enfrentamento do
fenmeno em questo. Concluiu-se que apesar da violncia ter caractersticas complexas,
passvel de entendimento e de intervenes que visem o seu combate. Consiste em uma demanda
relevante socialmente e que deve ser enfrentada no s pelo governo, entidades civis e
pesquisadores, como tambm por diferentes profissionais envolvidos com a temtica, que de
forma interdisciplinar, podem contribuir significativamente para a erradicao da violncia no
mbito escolar.
Palavras-chave: Violncia; Violncia nas escolas; Psicologia; Psicologia Escolar e Educacional.
Acadmica do 9 semestre do curso de Psicologia da Universidade da Amaznia (UNAMA) e Bolsista de Extenso
Universitria do Projeto Observatrio de Violncias nas Escolas/Ncleo Par.
10503
Introduo
O presente estudo foi elaborado a partir de uma reviso bibliogrfica em circuito nos
debates e grupos de estudos realizados no projeto Observatrio de violncia nas escolas
Ncleo-PA da Universidade da Amaznia, o qual fao parte como bolsista de extenso h dois
anos. O projeto nasceu em cooperao com a Organizao das Naes Unidas para a Educao, a
Cincia e a Cultura (UNESCO), integrando a rede Ibero-Americana de Observatrios de
Violncias nas Escolas (OEI). Este tem como objetivo a produo e divulgao de conhecimento
acerca do fenmeno da violncia nas escolas tendo que, para isso, buscar parcerias com o poder
pblico, entidades da sociedade civil e do setor privado favorecedores de polticas pblicas
destinadas ao enfrentamento e preveno deste fenmeno. Para tal, procura atuar com a
realizao de estudos e pesquisas, promoo de eventos, publicao de trabalhos cientficos em
revistas especializadas, participao em congressos, etc.
Ao longo desses dois anos inserida no projeto, adquiri experincias enriquecedoras que
me deram respaldo terico e prtico para contribuir na realizao de pesquisas, prioritariamente,
no mbito escolar. A pesquisa Diagnstico da Qualidade das Relaes Sociais na Comunidade
Escolar em Escolas da Rede Estadual de Ensino na Regio Metropolitana de Belm que resultou
no livro sob ttulo Relaes sociais e violncias nas escolas de autoria dos pesquisadores do
projeto, bem como a pesquisa em andamento intitulada Manejo dos conflitos nas escolas:
interface entre escola pblica e privada, apresentam recomendaes voltadas para a necessidade
de uma equipe tcnica multiprofissional nas escolas, contendo pedagogos, assistentes sociais e
psiclogos que, de forma interdisciplinar, tero maiores condies estratgicas para a preveno e
o combate do fenmeno. Como acadmica de Psicologia e de extenso, pretendo, atravs deste
artigo, colocar em pauta s possibilidades de atuao do profissional de Psicologia frente
realidade da violncia no espao escolar, contribuindo, sobretudo, com a comunidade cientfica
na produo de conhecimento nesta rea.
10504
Sobre a violncia...
Vivemos atualmente em um mundo no qual a violncia, em suas diversas manifestaes,
passou a fazer parte da vida de milhares de pessoas. O assunto encontra-se com freqncia nos
distintos meios de comunicao - rdio, televiso, jornais, revistas e internet, divulgam a cada dia
inmeras histrias nas quais a violncia tema central. fato que esta vista e sentida
cotidianamente e que afeta de forma significativa a vida daqueles acometidos por ela. Por um
lado, v-se espanto, medo, repulsa e revolta diante s atrocidades. A sociedade busca respostas,
quer solues e se encontra cada vez mais descrdula com o aparelho policial e com a justia.
Assim, vem procurando resolver seus problemas da forma que considera mais justa, estratgias
que s vezes geram ainda mais violncia. J por outro, parece que a violncia se tornou banal,
como se o convvio dirio com ela fosse natural e, por sua vez, aceitvel.
Pode-se dizer que a violncia est to entranhada no nosso dia-a-dia que pensar e agir em
funo dela deixou de ser um ato circunstancial para se transformar num modo de ver e de viver
o mundo do homem, especialmente daquele que vive nas grandes cidades (ODALIA, p. 9,
2004). O que era comum em tempos passados, hoje se torna invivel como: casas sem muros
altos ou equipamentos de segurana, parar nos semforos sem tomar cuidado com assaltos e/ou
seqestros, sentar em frente prpria casa para conversar e olhar a vizinhana ou at mesmo no
deixar de saber onde os filhos esto e o que fazem. Hoje em dia, a rotina muda de roupagem, pois
vem acompanhada da preocupao constante com a violncia: o controle sobre os filhos so
maiores, a famlia passou a isolar-se em casa e muitos mal conhecem seus vizinhos.
Constata-se que desde os ltimos vinte anos, a sociedade contempornea vem sofrendo
transformaes oriundas dos efeitos da globalizao ou de um capitalismo tardio capazes de
interferir substancialmente no modo como as pessoas se comportam e se relacionam. Os
processos de fragmentao social e de excluso scio-econmica favoreceram o surgimento de
prticas de violncia como norma social particular de amplos grupos da sociedade. Os
exemplos cotidianos de violncia tanto no campo como nas cidades brasileiras mostram que a
sociedade tem aceitado a violncia como prtica social vigente, enxergando-a como um meio
normal de acertar uma diferena interpessoal, de obter um bem material que se deseja ou de
impor o mando sobre o outro (SANTOS, p.118, 2002).
10505
Ser a violncia, pois, um fenmeno caracterstico da nossa poca? Ser ela um modo de
ser do homem contemporneo? Sabe-se, que apesar da iminente naturalizao da violncia no
mundo moderno, que esta no um fenmeno recente. Odalia (2004, p.13) afirma que o viver
em sociedade foi sempre um viver violento. Por mais que recuemos no tempo, a violncia est
sempre presente, ela sempre aparece em suas vrias faces. Para Padilha (1971 apud
RODRIGUES, 2000, p. 204), a violncia contempornea do homem e se faz presente em
todas as pocas e lugares. Souza (1993 apud GOMES, 1997, p.98) a considera uma expresso
essencialmente humana de carter histrico, tendo em vista que nas variadas formas de
organizao social, ela assume as condies universal e especfica, com caractersticas,
simultaneamente, quantitativas e qualitativas, internas e externas, configurando-se em relaes
assimtricas.
Parece-me pertinente afirmar que a violncia sempre fez parte da histria da humanidade,
pois como explicaramos os acontecimentos da Idade Mdia, ou ainda mais antigo que isso, o
perodo clssico greco-romano que fora to carregado de violncia como os imprios que o
precederam, na medida em que justificavam a escravido como instrumento necessrio para que
os verdadeiros cidados atenienses pudessem usufruir do cio e do lazer, para se dedicarem s
coisas mais sublimes do esprito (ODALIA, p.18, 2004), ou mais na atualidade com a 1 e a 2
guerra mundial, com o atentado de 11 de setembro, com a fome e a misria presentes na vida de
milhares de brasileiros. Porm, questionamentos permanecem: como podemos explicar o fato da
violncia parecer ter aumentado em nossa sociedade? O que nos leva a achar que hoje ela est
presente de forma mais intensa do que em outras pocas? Que hoje atinge qualquer pessoa, em
qualquer lugar e de diferentes maneiras?
Vejamos que na Idade Mdia parte das pessoas estivessem acostumadas a ver
enforcamentos no centro das praas, que acreditassem piamente que o melhor a se fazer com
aquelas pessoas - consideradas hereges ou adoradoras do demnio - era mat-las para que no
contaminasse o resto da sociedade, que a pobreza ou a riqueza eram as condies de vida a qual
Deus havia lhe dado e que outras formas de se viver no existia. Hoje, consideramos tais
acontecimentos uma violncia, mas ser que a sociedade daquela poca pensava e sentia da
mesma forma? Mesmo que gerassem sofrimento, por um bom tempo, a sociedade pareceu aceitar
ou mesmo se resignar com ela. E a guerra? Ser ela uma violncia sem fundamento, sem razo de
10506
ser, quem tem o poder de julgar ser ou no ser apropriado que ela comece mesmo sabendo que
ocorrero muitas mortes? Odalia (2004, p.23), comenta sobre isso:
O mais bvio de todos os atos violentos, a agresso fsica, o tirar a vida de outrem, no
to simples, pois pode envolver tantas sutilezas e tantas mediaes que pode vir a ser
descaracterizado como violncia. A guerra um ato violento, o mais violento de todos;
talvez, contudo, esse carter essencial parece passar a ser secundrio se o submergirmos
sob razes que vo desde a defesa da ptria s incompatibilidades ideolgicas. Matar em
defesa da honra, qualquer que seja essa honra, em muitas sociedades e grupos sociais,
deixa de ser um ato de violncia para se converter em ato normal quando no moral
de preservao de valores que so julgados acima do respeito vida humana.
Pode-se, portanto, considerar a violncia um fenmeno que possui relao direta com o
contexto histrico, social e econmico no qual est inserida, ou seja, esta pode ser interpretada de
diferentes maneiras, pois o que violncia para uma sociedade pode no ser para outra,
principalmente quando se trata de diferenas culturais, morais, regimentais e demais instrumentos
sociais capazes de legitimar ou no a prtica da violncia em uma sociedade. Logo, pensar no que
levou a sociedade contempornea a sentir mais a presena da violncia no seu dia-a-dia, pode nos
remeter a diferentes fatores. Conforme j apontado, a sociedade modificou-se, hoje a famlia
possui diferentes configuraes, as mulheres adentraram o mercado de trabalho e conquistaram
novos espaos na sociedade, os frutos da era do globalismo, da informao, da competio
exarcebada, do predomnio do individualismo, das relaes virtuais, dentre outros aspectos
facilitaram no s o contato entre as pessoas como tambm o surgimento de novas maneiras da
violncia se manifestar e de ser visualizada.
Todavia, atrelada a este quadro, a contemporaneidade dispe de outros meios tambm
favorecedores de um olhar e um agir diferenciado frente ao fenmeno. O Brasil, por exemplo,
aps a ditadura, passou por um processo de redemocratizao que possibilitou pouco tempo
depois a promulgao da constituio de 1988, esta se consolidou como um importante
instrumento para o combate e enfrentamento de distintas formas de violncia. O advento do
Estatuto da Criana e do Adolescente - ECA e demais estatutos, assim como a Lei Maria da
Penha, tambm contriburam de forma significativa para tornar a violncia objeto de estudo,
preocupao e interveno de diferentes segmentos da sociedade, pois passamos a enxerg-la
10507
com outros olhos, a conhecer suas diferentes maneiras de se manifestar e, sobretudo, a ficar
perplexos com os lugares que ela pode ser presenciada.
Ao compreendermos os diferentes nuances da violncia, abarcando os mais diversos
aspectos relacionados a ela, criamos condies de enxergar de forma mais abrangente como esta
se consolida em lugares distintos. Sabemos que ela pode ser encontrada nas ruas das pequenas e
grandes cidades, no centro e/ou na periferia, no trabalho, no lazer, na sade, na famlia, nas
escolas, etc., pois esta parece envolver a todos e a tudo, seja em qual for o lugar. Contudo, o
presente artigo visa dar enfoque a ocorrncia de situaes de violncia em um espao que deveria
acima de tudo promover cidadania, disseminar valores e contribuir para o desenvolvimento
psicossocial do indivduo: o espao escolar. A violncia escolar coloca em risco a funo da
escola de socializao das novas geraes, logo, voltar-se a ela no apenas uma necessidade,
consiste em algo de extrema relevncia social.
As violncias nas escolas
Os noticirios so alarmantes: agresses fsicas e verbais entre aluno-aluno, alunoprofessor/gestor/funcionrio, discriminao, uso de drogas, professores reivindicando melhores
salrios, escassez da merenda escolar, briga entre gangs, roubo e invaso escolar e at mesmo
assassinatos com arma branca e de fogo, nos leva a questionar qual o real sentido da escola e o
porqu disso tudo. A escola, considerada um espao no s de aprendizagem, mas de
favorecimento da formao de atitudes e do desenvolvimento pessoal dos alunos a fim de
prepar-los para a insero na vida social ativa, v-se com a sua identidade comprometida, pois a
ocorrncia de situaes de violncia neste espao ameaa os princpios e fins da educao
(ABRAMOVAY, 2003). Vale ressaltar que este quadro no somente brasileiro ou dos demais
pases perifricos, em termos mundiais, fala-se da violncia escolar. Esta passou a ser
reconhecida como uma das novas questes sociais globais, j que a instituio escolar entendida
enquanto um lcus de exploso de conflitos sociais em pelo menos dezenove pases nos quais a
questo da violncia no espao escolar foi considerada um fenmeno de sociedade (SANTOS,
2002).
10508
A escola, longe de ser uma ilha, sofre influncia do contexto scio-econmico do qual faz
parte. H algumas dcadas, por exemplo, o processo de disciplinarizao nas escolas brasileiras
era mais rgido, prevalecendo-se o autoritarismo nas relaes. Os professores utilizavam
palmatria quando achavam necessrio e esta era uma forma comum e rotineira de manejar
conflitos. Ao longo do tempo, tais condutas foram vistas como inaceitveis pela sociedade sendo,
portanto, substitudas pela possibilidade de uma gesto mais democrtica e por uma maior
flexibilidade nas relaes que por ora, de forma extremada, possibilitou a perda da autoridade
dos educadores diante os alunos. O advento do ECA no s contribuiu para a reflexo acerca do
regime disciplinar nas escolas, como tambm interferiu na educao proveniente dos pais e nas
polticas de proteo social, abrindo os olhos da sociedade frente a qualquer outro tipo de
violncia cometida contra a criana e o adolescente (PONTES, 2007).
No entanto, apesar dos avanos normativos, a realidade escolar aponta de forma
preocupante o incremento de outras formas da violncia se manifestar. Hoje, se fala em
violncias, tendo em vista que estas h muito deixaram de ser apenas fsicas (brigas, golpes,
ferimentos, espancamentos, roubos, homicdios, suicdios, etc.) e/ou patrimoniais (pichao,
depredao, roubo ou invaso escolar). Alm das consideradas visveis, se encontram presentes
no espao escolar aquelas difceis de serem identificadas, pois so veladas, silenciosas, ocultas e
capazes de alterar tanto a qualidade do ensino-aprendizagem quanto afetar a auto-estima de
alunos e professores. A violncia psicolgica (xingamentos, humilhaes, ameaas, perseguies,
constrangimentos, discriminaes e/ou bullying2), a violncia sexual (assdio, abuso, explorao,
estupro ou aliciamento) e a violncia institucional que para Defrance (1992 apud SANTOS, 2002,
p.
121),
passa
por
regulamentos,
estruturas
organizacionais,
relaes
de
poder
institucionalizadas, (o tamanho dos estabelecimentos escolares e o corpo de professores e
funcionrios, a taxa de fracasso escolar, a qualidade do processo de ensino, ter o ensino como
desprazer, a violncia das relaes de poder entre professores e alunos, a negao da identidade e
satisfao profissional aos professores e/ou sua obrigao de suportar o absentesmo e a
Segundo Fante (2005, p.28), bullying pode ser definido como o conjunto de atitudes agressivas, intencionais e
repetitivas que ocorre sem motivao evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor,
angstia e sofrimento. Ex: Insultos, intimidaes, apelidos cruis, acusaes injustas, danos fsicos, morais e/ou
materiais, etc.
10509
indiferena dos alunos, etc.), so exemplos cotidianos de violncias mascaradas ou pelos
integrantes da comunidade escolar ou pelo prprio sistema que a escola se insere.
As mudanas sofridas pela sociedade ao longo dos ltimos vinte anos atingiram de
maneira significativa as relaes estabelecidas entre os atores sociais desta instituio.
Debarbieux (1999 apud ABRAMOVAY, 2003) cita trs fatores que podem vir a propiciar a
ocorrncia de violncias no espao escolar: a dificuldade de gesto das escolas, resultando em
estruturas deficientes; a desorganizao da ordem social vigente que provoca excluso social,
marginalizao e discriminao; e as tenses internas especficas de cada estabelecimento
escolar. Ele ainda coloca que o prolongamento da adolescncia, o medo do desemprego, os
novos modelos familiares, geram uma crise de identidade entre os professores e os alunos que
freqentemente esto na base dos conflitos (Debarbieux 1997 apud SANTOS, 2002, p.120).
Para Colombier et al (1989 apud SANTOS, p.120) a violncia nasce de uma lgica da
excluso, pois consiste em um discurso da recusa, isto , nasce da palavra emparedada. Santos
(2002, p.125) salienta uma correspondncia entre excluso social e violncia escolar, pois:
Tanto mais o pblico jovem desfavorecido, em termos econmicos como culturais,
tanto mais ele se confronta com a vivncia do desemprego, mais ele experimenta uma
excluso, no s de oportunidades econmicas mas tambm de um prestgio social, que
resulta em um agravamento de sua auto-estima e de sua perspectiva de futuro. Os jovens
vivem hoje a desesperana em relao s promessas de futuro que, antigamente, estavam
contidas na proposta da escola.
Outra autora que nos traz significativas contribuies Sposito (1998 apud
ABRAMOVAY, 2004, p.72) que ao encontrar um nexo entre a violncia e a quebra do dilogo
vem explicitar que a capacidade de negociao - matria prima do conhecimento/educao - no
deve ser de maneira alguma desconsiderada, tendo em vista que sua supresso produz srias
conseqncias ao convvio escolar.
Do exposto, constata-se que as diferentes dimenses do problema e sua complexidade so
importantes para facilitar o entendimento e a atuao sobre o fenmeno. Em nveis nacionais e
internacionais, estudiosos vm cada vez mais produzindo conhecimento acerca do tema,
preocupados no somente em entend-la, mas, principalmente, na criao de estratgias de
preveno e combate ocorrncia da violncia nas escolas. Verifica-se a importncia no s do
governo, como tambm de entidades civis, pesquisadores e profissionais da rea conjugarem
10510
esforos para a erradicao da violncia no espao escolar, que estes possam criar estratgias para
o seu combate, aperfeioando condies para que de forma interdisciplinar, a violncia possa ser
eliminada. Neste sentido, o psiclogo poder oferecer significativas contribuies, conforme
veremos a seguir.
Contribuies da atuao do psiclogo frente ao fenmeno da violncia escolar
Abramovay e Rua (2004) colocam que a violncia se origina de um quadro que est
sujeito a mudanas e que isso significa assumir que tal condio representa um estado e no algo
caracterstico de uma ou de outra escola ou do sistema escolar, logo, os processos pelos quais
cada estabelecimento passa varia de acordo com suas aes. Mudanas na administrao, na
organizao e na estrutura fsica da escola, tornando-a mais segura e conservada; criao de um
ambiente mais amistoso e de cooperao onde prevalea um clima de entendimento e dilogo
entre os alunos, pais professores e diretoria; estabelecimento de vnculos com a comunidade
proporcionando atividades culturais, artsticas, esportivas e de lazer; e iniciativas participao
dos pais e familiares no convvio escolar, so exemplos gerais de medidas que visam o
desarmamento da violncia (ABRAMOVAY, 2003)
Partindo da idia de violncia como um enclausuramento do gesto e da palavra,
Colombier (1989 apud SANTOS, 2002, p.120) afirma ser fundamental instaurar uma instituio
escolar com regras, leis e esferas de poder claras para os que participam da vida escolar, pois
dessa forma, as instituies se fortalecem, criando regras livremente consentidas e levando em
conta os conflitos de forma a organizar meios para sua resoluo: contra a palavra emparedada. O
autor ainda afirma ser necessrio restaurar a autoridade legtima do professor e o
desenvolvimento da possibilidade da fala, mediante a instaurao de lugares para as palavras, esta
tomando o lugar dos atos de violncia, ao mesmo tempo, que esse dilogo paciente, obstinado,
pedaggico, instaura um respeito ao outro, com aes e sentimentos de reciprocidade que podem
ajudar a eliminar a violncia nesse espao, construindo possibilidades de encontro.
Diante dessa perspectiva, o psiclogo, bem como o pedagogo, o assistente social, o
socilogo e demais profissionais que atuam na rea, devem assumir um papel importante frente
ao combate da violncia no mbito escolar. Os psiclogos, por sua vez, trazem contribuies
10511
significativas prprias de sua atuao profissional. Apesar da atuao do psiclogo no espao
escolar ter-se iniciado de maneira eminentemente tcnica, pautando-se somente na identificao
de distrbios de aprendizagem, personalidade e/ou conduta e na correo ou preveno dos
mesmos, hoje em dia, este profissional, volta-se para uma atuao mais comprometida com o
social, tal como expe Del Prette (1996, p.150):
A atuao do psiclogo na escola tem um carter essencialmente social, articulado a
outros fazeres da instituio (dos especialistas, dos professores, da administrao, da
famlia, etc.) e do contexto extra-escolar (pesquisadores, polticos, profissionais de
diferentes reas) resultando em um produto educacional coletivo. O impacto de sua
atuao no pode ter como resultante apenas a melhor adaptao da criana aos
programas e ao ambiente escolar, mas contribuir para a criao de novos cenrios e
prticas educativas e, principalmente, de novas realidades sociais.
Mais especificamente, a atuao do psiclogo escolar e educacional (PEE), requer
capacidade analtica para apreender as mltiplas relaes que caracterizam a instituio escolar e
os agentes nelas envolvidos e para identificar necessidades e possibilidades de aperfeioamento
dessas relaes, bem como capacidade instrumental (tcnica e interpessoal) para fazer parte das
interaes construtivas que se estabelecem com todos esses agentes. Logo, o profissional de
psicologia deve apresentar o desafio de tomar como alvo de sua atuao a complexidade dos
processos interativos que ocorrem na escola (DEL PRETTE, 1996, p.153).
Mediante um quadro geral de estratgias que objetivam o combate violncia escolar,
verifica-se que o apoio dos psiclogos nas escolas se torna substancial, na medida em que
possuem habilidades especficas para um trabalho de resgate a auto-estima tanto dos alunos como
dos professores, por meio do estmulo ao dilogo. A construo de mecanismos de valorizao,
cujo funcionamento tem por finalidade o resgate das identidades dos diferentes atores sociais da
realidade escolar, bem como a abertura de canais de expresso dos alunos, professores, pessoal
tcnico, famlia, etc., podem ser trabalhados de forma eficiente pelo profissional de psicologia,
visto que, como j citado acima, alvo de sua atuao qualquer processo interativo.
Tais medidas se articulam na medida em que valorizar os alunos e/ou professores requer
disponibilizar-lhes um espao em que possam expressar suas opinies, crticas e sugestes diante
a realidade em que a escola se encontra, possibilitando que suas propostas sejam consideradas e
posteriormente socializadas. A importncia de tais estratgias se d pelo fato da escola ao efetiv-
10512
las demonstrar, de certo modo, o cuidado e a ateno que possui para com os integrantes dela,
repercutindo positivamente no clima escolar. Cabe, pois, ao profissional de psicologia trabalhar
os significados de violncia dentro e fora de seus limites abordando aspectos importantes na vida
do estudante, alm de estimular a interao da famlia com a escola.
Correia (2004), aponta alguns dos desafios e requisitos necessrios para uma efetiva
atuao do psiclogo no cenrio escolar: estar sempre se atualizando e construindo novos
conhecimentos; ter habilidade para lidar com a comunidade escolar favorecendo que esta o
compreenda como um profissional que pode contribuir significativamente em todo o processo
educativo e no como avaliador de condutas erradas ou aquele capaz de resolver todos os
problemas da escola; conquistar a participao e compromisso dos profissionais envolvidos na
problemtica alvejada por um programa de mudana (p.78) e; fazer com que a escola perceba
sua importante participao e responsabilidade pelos problemas inerentes vida escolar.
importante ressaltar que embora haja muitas discusses crticas sobre a atuao tcnica
do psiclogo, ainda, infelizmente, encontra-se dentro das escolas este tipo de atuao, a qual est
voltada somente para o diagnstico de problemas dos alunos. Por isso, se faz necessrio que
tanto os que esto em processo de formao quanto os profissionais de psicologia j atuantes na
rea reflitam sobre o fazer psicolgico e as demandas sociais atuais, analisando criticamente o
exerccio de sua profisso. Como aponta Eizirik (1988 apud JACQUES, 2001, p.222):
No o lugar que define a postura de um profissional embora nem todos pensem
assim antes a capacidade de refletir criticamente sobre teorias, mtodos e prticas,
avaliando resultados e pensando acerca das necessidades do pas em que nos
encontramos".
Contudo, embora alguns possam atuar nas escolas, seja de forma tcnica ou no, outros
nem vem a chance de trabalhar nesse espao. Na regio norte do Brasil, por exemplo, o
profissional de psicologia nem mesmo faz parte da equipe tcnica das escolas pblicas, embora
esta rea seja considerada em outras regies como uma das mais promissoras em relao
disponibilidade para a insero deste profissional no mercado de trabalho (NOTISA, 2007).
10513
Consideraes finais
Embora a violncia se configure em um fenmeno complexo, passvel de entendimento
e, por sua vez, de intervenes especficas que visam o seu combate. Esta, ao ser pensada como
um enclausuramento do gesto e da palavra, gera preocupao em relao s suas possveis
conseqncias, bem como sobre as distintas formas e lugares que ela pode se manifestar.
Outro fato preocupante ela estar, de tal modo, entranhada em nosso dia-a-dia, chegando
at mesmo a moldar o nosso pensar e agir, ao ponto de ser vista pela sociedade como algo
natural, aceitvel ou imodificvel, gerando conformismo diante a presena dela. Odalia (2004, p.
22-23) afirma: perceber um ato como violncia demanda do homem um esforo para superar sua
aparncia de ato rotineiro, natural e como que inscrito na ordem das coisas, pois nem sempre ela
se apresenta como um ato, como uma relao, como um fato, que possuam uma estrutura
facilmente identificvel.
O presente estudo procurou trazer as diferentes faces da violncia, alm de ressalt-la
como um fenmeno socialmente determinado, pois facilita uma compreenso abrangente sobre a
temtica. Todavia, mesmo que esta seja um fenmeno atemporal, que venha acompanhando o
desenvolvimento da sociedade, que tenha o poder de moldar o nosso estilo de vida, tais fatores
no negam seu carter destrutivo, gerador de conseqncias inestimveis e que, por isso, deve ser
combatida. Para Abramovay e Rua (2004, p.98) o fenmeno preocupante na instituio escolar,
tanto pelas seqelas que diretamente inflige aos atores partcipes e
testemunhas como pelo que contribui para rupturas com a idia da escola
como lugar de conhecimento, de formao do ser e da educao, como
veculo por excelncia do exerccio e aprendizagem, da tica e da
comunidade por dilogo e, portanto, anttese da violncia.
Ressalta-se que o psiclogo tem muito a contribuir na resoluo desse quadro, visto que
possui habilidades especficas facilitadoras para a implantao de estratgias de preveno e
combate ocorrncia de violncias no espao escolar, dentre elas, a valorizao dos integrantes
da comunidade, alm da possibilidade da abertura de um canal de expresso para alunos,
professores, pessoal tcnico, famlia, etc., na qual favorece o dilogo e a difuso de uma cultura
de paz.
10514
Buscando a superao dos problemas aqui expostos, cabe, por fim, no s aos atuais e
futuros psiclogos, como tambm a todos os outros profissionais envolvidos com essa alarmante
questo, estarem atentos a contemplao de uma abordagem interdisciplinar, voltando-se para
aes intersetoriais frente a todo e qualquer tipo de violncia, neste caso, em especial, a violncia
escolar. Que esta bandeira seja realmente levantada entre os diferentes segmentos da sociedade,
se fazendo notria a importncia no s de se colocar o assunto em pauta, como tambm de
redefinir ou criar novos conhecimentos, prticas e polticas.
REFERNCIAS
ABRAMOVAY, M. Escola e Violncia. Braslia: UNESCO, UCB, 2003.
ABRAMOVAY, M et al. Escolas inovadoras: experincias bem sucedidas em escolas pblicas.
Braslia: UNESCO, UCB, 2003.
ABROMAVAY, M; RUA, M. das G. Violncias nas Escolas. Braslia: UNESCO, 2004.
CORREIA, M. Psicologia e Escola: uma parceria necessria. So Paulo: Alnea, 2004.
DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Habilidades envolvidas na atuao do psiclogo
escolar/educacional. In: Wechsler S.M. (org.). Psicologia escolar: Pesquisa, formao e
prtica. Campinas: Alnea, 1996.
FANTE, C. Fenmeno Bullying: como prevenir a violncia nas escolas e educar para a paz.
Campinas: Verus Editora, 2005.
GOMES, R. A violncia social em questo: referenciais para um debate em sade pblica. Rev.
Latino-Am.
Enfermagem
,
Ribeiro
Preto,
v.
5,
n.
2, 1997
. In:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411691997000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 Ago 2007.
JACQUES, M. das G. Psicologia Social Contempornea. Petrpolis: Ed. Vozes, 2001.
KHOURI, Y. G. Psicologia Escolar: Temas Bsicos de Psicologia. So Paulo: EPU, 1984.
NOTISA, A. Quem o psiclogo brasileiro de hoje? Revista Psique: cincia & vida, So Paulo,
v. 1, p.36-45, ago., 2007.
ODALIA, N. O que violncia? So Paulo: Brasiliense, 2004.
ORTEGA, R.; DEL REY, R. Estratgias educativas para a preveno da violncia. Braslia:
UNESCO, UCB, 2002.
10515
PONTES, R.; CRUZ, C.; MELO, J. Relaes sociais e violncias nas escolas. Belm: Unama,
2007.
RODRIGUES, A. Psicologia Social. Petrpoles: Vozes, 2000.
SANTOS, J. V. T. dos. A violncia na escola, uma questo social global. In: Violencia,
sociedad y justicia en Amrica Latina. Roberto Briceo-Len. CLACSO. 2002. ISBN: 950-923181-9
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/violencia/dossantos.pdf
Você também pode gostar
- O Método 5 - Edgar MorinDocumento36 páginasO Método 5 - Edgar MorinBia Deroide0% (1)
- Slides Tema 2Documento20 páginasSlides Tema 2MartaAinda não há avaliações
- Ego, o Falso Centro (Rev.2022) - OshoDocumento23 páginasEgo, o Falso Centro (Rev.2022) - OshoClaudiney Washington AlvesAinda não há avaliações
- Unidade IVDocumento48 páginasUnidade IVLuiz GustavoAinda não há avaliações
- 1997 Rasmussen Gestao de Risco em Uma Sociedade Dinamica Um Problema de ModelagemDocumento39 páginas1997 Rasmussen Gestao de Risco em Uma Sociedade Dinamica Um Problema de ModelagemDelmer SalesAinda não há avaliações
- Exercicios História 6ano RedutoDocumento3 páginasExercicios História 6ano RedutoMarcus JummitAinda não há avaliações
- Cartaabertaabrases 00802102023Documento29 páginasCartaabertaabrases 00802102023Jessica SiriusAinda não há avaliações
- Scrib 1Documento3 páginasScrib 1Dora Vilas BoasAinda não há avaliações
- Apostila Ensino Religioso 7 AnoDocumento32 páginasApostila Ensino Religioso 7 Anogilvana sousaAinda não há avaliações
- Aula 01 - Disciplina HíbridaDocumento10 páginasAula 01 - Disciplina HíbridaLarissa Marques De CarvalhoAinda não há avaliações
- Um Estudo Da Trajetória e Obra de Maria AuxiliadoraDocumento60 páginasUm Estudo Da Trajetória e Obra de Maria AuxiliadoraUeslei PereiraAinda não há avaliações
- Trabalho de FilosofiaDocumento22 páginasTrabalho de FilosofiaAmandio Antonio100% (1)
- Vianna Oliveira. Populacoes Meridionais Do BrasilDocumento62 páginasVianna Oliveira. Populacoes Meridionais Do BrasilCamilaAinda não há avaliações
- Antropologia - Desafios ContemporaneosDocumento53 páginasAntropologia - Desafios ContemporaneosAknaton Toczek SouzaAinda não há avaliações
- Atuação Do Assistente SocialDocumento59 páginasAtuação Do Assistente SocialSimone Meijon100% (2)
- Como As Instituições Pensam (Mary Douglas)Documento161 páginasComo As Instituições Pensam (Mary Douglas)Elaine Da Silveira LeiteAinda não há avaliações
- Estratificacao Social 2abDocumento4 páginasEstratificacao Social 2abAna Cláudia TaúAinda não há avaliações
- AROUCA, Sergio - O Dilema PreventivistaDocumento69 páginasAROUCA, Sergio - O Dilema PreventivistaLeandro Dri Manfiolete100% (2)
- 01 Slides EducaçãoDocumento80 páginas01 Slides EducaçãoRenato RochaAinda não há avaliações
- Interculturalidade e Educação - Desafios para A Reinvenção Da EscolaDocumento12 páginasInterculturalidade e Educação - Desafios para A Reinvenção Da EscolaValerio Carvalho FilhoAinda não há avaliações
- Midia e Imagem Corporal 3Documento12 páginasMidia e Imagem Corporal 3Kelly Kiara Souza SantosAinda não há avaliações
- Hilsenbeck - o MST No Fio Da NavalhaDocumento291 páginasHilsenbeck - o MST No Fio Da NavalhaFernanda de PaulaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - A BUSCA DE EXCITAÇÃO - Norbert EliasDocumento8 páginasResenha Crítica - A BUSCA DE EXCITAÇÃO - Norbert EliasEdson FernandoAinda não há avaliações
- Vida Urbana e RuralDocumento23 páginasVida Urbana e RuralJessica MarquesAinda não há avaliações
- Dissertação - Ana ManzoliDocumento107 páginasDissertação - Ana ManzoliBell LopesAinda não há avaliações
- Identidade (S) E Diversidade Cultural: A Luta Pelo Reconhecimento Numa Sociedade MulticulturalDocumento12 páginasIdentidade (S) E Diversidade Cultural: A Luta Pelo Reconhecimento Numa Sociedade MulticulturalRosilda Aragão AmorimAinda não há avaliações
- Gestão de Recurso Humanos - FeitoDocumento17 páginasGestão de Recurso Humanos - FeitoClelioAinda não há avaliações
- Elabore Teses Possíveis para Textos Sobre Os Temas Propostos A Seguir 2015 2 º BIMESTRE 2015Documento6 páginasElabore Teses Possíveis para Textos Sobre Os Temas Propostos A Seguir 2015 2 º BIMESTRE 2015Oliver Fausti OliverAinda não há avaliações
- A Sociedade DisruptivaDocumento14 páginasA Sociedade DisruptivaAlexandre Ferreira de SouzaAinda não há avaliações
- Apostila Reconectando Pais e Filhos para TDAH1Documento32 páginasApostila Reconectando Pais e Filhos para TDAH1Adriana FernandesAinda não há avaliações