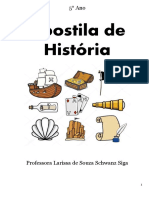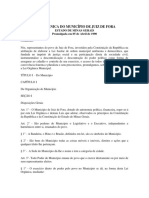Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Historia em Revista 10 Ana Meira
Historia em Revista 10 Ana Meira
Enviado por
renatoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Historia em Revista 10 Ana Meira
Historia em Revista 10 Ana Meira
Enviado por
renatoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POLTICAS PBLICAS E GESTO
DO PATRIMNIO HISTRICO
*
Ana Lcia Goelzer Meira
O campo do patrimnio pressupe atribuio de significado
a determinados bens. Envolve concepes que mudam com o
tempo, com os valores da sociedade. Relaciona-se com os
conceitos de identidade, modernidade e nacionalidade e sua
construo apresenta momentos em comum com as trajetrias dos
conceitos de histria, arqueologia, arte e arquitetura.
H momentos em comum entre a construo dos conceitos
de histria e patrimnio. Para ambos fundamental o surgimento de
noes como alteridade e cronologia. E tiveram momentos
importantes de afirmao em perodos histricos como o
Renascimento, o Iluminismo, a Revoluo Industrial, e outros.
Tanto a histria quanto o patrimnio, no senso comum, se
relacionam com a Antigidade Clssica atravs de imagens
emblemticas. Quando nos lembramos do patrimnio, afloram as
imagens dos remanescentes da Grcia antiga como seu exemplo
consagrado. Quando nos lembramos da histria, para l que
retrocede a origem do ofcio do historiador. Mas nenhum desses
dois conceitos existia, naquela poca, com o entendimento que
temos hoje em dia.
Coube ao Renascimento designar com o nome de
antiguidades herdado de Varro fillogo romano, os temas
histricos que no tinham relao com a concepo de histria
baseada nos temas da poltica e da guerra1. Tambm foram
designados como antiguidades os remanescentes materiais da
civilizao romana. Os estudiosos humanistas comearam a escavar,
medir, identificar esses fragmentos, descobrindo o valor de objetos
antigos e desenvolvendo os rudimentos da arqueologia.
Em Roma, os humanistas clamavam pela conservao das
antiguidades romanas e os papas passaram a assumir as aes de
*
Mestre em Planejamento Urbano e Regional. Tcnica do Instituto do Patrimnio
Histrico e Artstico Nacional-IPHAN. E-mail: anameira@cpovo.net
1
MOMIGLIANO, Arnaldo. La historiografia griega. Barcelona: Ed. Critica, 1984.
preservao, mas de maneira ambgua. A sucesso de bulas papais
proibindo as demolies ocorria na mesma medida em que as
esttuas, mrmores e travertinos dos monumentos romanos
transformavam-se em material de construo e decorao para as
novas igrejas e edificaes religiosas construdas pelos prprios
pontfices.2
Segundo Choay, embora com a designao de antigidade
e sofrendo uma ao ambgua, o conceito de monumento histrico
emergiu nesse contexto Roma, em torno de 1420, no qual se
fundiram as perspectivas histrica, artstica e de conservao. Mas
vo decorrer mais trs sculos antes do conceito adquirir a sua
denominao definitiva, com a Revoluo Francesa.
a partir desse contexto revolucionrio que a preservao do
patrimnio deixa de ser uma preocupao de eruditos ou de setores
da Igreja Catlica e se torna objeto da preocupao de um governo,
embora tambm de maneira contraditria. Os comits revolucionrios
procuravam preservar, mas, ao mesmo tempo, autorizavam as
demolies realizadas por revolucionrios iconoclastas.
Foi implantada uma estrutura de preservao estatal e
centralizada que caracterizou a gesto do patrimnio na Frana e
inspirou muitos pases posteriormente, inclusive o Brasil. A
percepo do passado como herana coletiva dava validade ao
presente e o exaltava (...) e intensificou o interesse por salvar
relquias e restaurar monumentos como emblema da identidade, da
3
continuidade e das aspiraes comunitrias.
Pela primeira vez, as antiguidades foram consideradas como
um bem coletivo de interesse de uma nao, e passaram a ser objeto
de polticas pblicas oficiais e centralizadas. Para diferenciar as
antiguidades nacionais das obras da Antiguidade Clssica, foi-lhes
atribuda a designao de monumentos nacionais4.
As polticas oficiais so responsveis por elevar alguns
artefatos categoria de patrimnio, atuando no nvel do imaginrio e
destacando elementos constitutivos referenciais no desenvolvimento
da sociedade. O poder de instituir a proteo atribuio do Estado
o Estado detentor do monoplio da nomeao oficial, da boa
2
Ver CHOAY, Franoise. Lallgorie du patrimoine. Paris: Seuil, 1992,
ANDRIEUX Jean-Yves. Patrimoine et histoire. Paris: Belin, 1997, e BABELN,
Jean-Pierre; CHASTEL, Andre. La notion de patrimoine. Aubernas: L.Levi, 1994.
3
LOWENTHAL, D. El pasado es un pas extrao. Madrid: Akal Universitria, 1998. p.7.
4
Cf. CHOAY, op.cit.
classificao, da boa ordem5. Essa nomeao oficial, embora
aplicada pelo autor em contexto referente aos ttulos nobilirios, no
caso dos bens patrimoniais consagra-se com o instituto do
tombamento, que tem a seu favor toda a fora do coletivo, do
consenso, do senso comum, porque ela operada por um
mandatrio do Estado6.
As polticas pblicas relacionadas ao patrimnio sempre
tiveram a presena hegemnica de arquitetos, tanto no Brasil
quanto, de maneira geral, em todos os pases ocidentais. Esses
tcnicos atuam em nome de um interesse coletivo que , na maioria
das vezes, o interesse das classes dominantes manifesto atravs do
Estado. Entende-se por polticas pblicas o pensamento formulado
por Mrcia Santanna a partir do conceito de Ana Maria Brasileiro:
As polticas pblicas so um conjunto de aes que visam
determinados objetivos, e podem se desenvolver tanto no plano da
sua implementao efetiva quanto no nvel do discurso atravs de sua
simples formulao. Isto significa que, nestes casos, o plano das
intenes importante, pois ele tem muito a revelar sobre o
pensamento corrente a respeito de um determinado campo de
interesse da sociedade. As polticas pblicas tambm so perceptveis
e ou codificadas por meio de um conjunto de leis, decretos e outros
documentos que regulam a ao do estado. Embora as polticas e as
aes estatais nem sempre estejam completamente previstas ou
regulamentadas em lei, esta sempre o limite mximo, a instncia que
prev os parmetros gerais dentro dos quais deve se dar a deciso ou
7
a tomada de deciso.
s polticas pblicas contrape-se, ou conjuga-se, a
participao dos cidados. Entende-se por participao a parte da
gesto que se realiza com os atores sociais diretamente envolvidos
no processo. No caso da gesto de uma cidade, a participao dos
cidados pode ser espontnea ou incentivada por uma poltica
pblica.
BOURDIEU, Pierre. O poder simblico. Lisboa: DIFEL, 1989. p.149.
Idem, ibidem, p.146.
7
SANT'ANNA, Marcia. Da cidade-monumento cidade-documento: a trajetria da
norma de preservao de reas urbanas no Brasil (1937-1990). Salvador: UFBA,
1995. Dissertao (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de
Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, 1995. p.37.
6
Choay sugere o perodo de 1820 como aquele que marcou o
incio da consagrao do monumento histrico. Poulot indica a
gerao de 1830 como fundamental, ressaltando que a Monarquia
de Julho instituiu a Inspetoria dos Monumentos Histricos e o Museu
8
de Versalhes .
O auge da era industrial havia introduzido uma ruptura
traumtica nos modos de produo com reflexos em todas as
dimenses da vida humana, como na diviso do trabalho e na noo de
tempo e espao. "A busca de origens se tornou inevitvel assim que as
revolues poltica, econmica e industrial comearam a solapar as
9
certezas religiosas e metafsicas dos tempos precedentes" .
No Brasil, foi adotado o modelo francs na preservao do
patrimnio cultural atravs da criao do Servio do Patrimnio
Histrico e Artstico Nacional SPHAN (atual IPHAN), ligado ao
Ministrio da Educao e Sade, em 1937. conhecido o fato do
Brasil ser o nico pas do mundo onde os profissionais que
construram a idia da preservao do passado eram os mesmos
que projetavam o pas do futuro10. A participao dos modernos na
formao do IPHAN muito significativa: Lcio Costa, Carlos
Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Srgio Buarque de
Holanda, Carlos Leo, Manuel Bandeira, faziam parte da instituio
ou participavam de alguns trabalhos.
Antes da criao do SPHAN, existia uma instituio que se
ocupava da fiscalizao dos monumentos e objetos histricos o
Museu Histrico Nacional. Criado em 1922, ano do centenrio da
Independncia do Brasil, destinava-se a guardar e expor as
relquias de nosso passado, cultuando a lembrana de nossos
grandes feitos e de nossos grandes homens11. O Museu teve sua
estrutura alterada em 1934, e passou a abrigar a Inspetoria dos
Monumentos Nacionais que, segundo a viso do integralista
Gustavo Barroso, seu primeiro diretor, seria o embrio do SPHAN.
POULOT, Dominique. Muse, nation, patrimoine: 1789 1815. Paris: Gallimard, 1997.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memria. Rio de Janeiro: Aeroplano, MAM,
2000. p.53.
10
Vrios autores referem-se a esse fato como Franoise Choay, Lauro Cavalcanti,
Jos Pessoa, talo Campofiorito, e outros.
11
DUMANS, Adolpho. A idia da criao do Museu Histrico Nacional. Anais do
Museu Histrico Nacional, Rio de Janeiro, v.29, 1997. p.29.
9
Porm, a viso dos modernos era muito mais abrangente
que a histria ufanista defendida por Barroso. A proposta da lei
elaborada, em 1936, por Mrio de Andrade, mas que no foi
adotada no final, sugeria que o SPHAN deveria se incumbir da
preservao do patrimnio nacional, compreendendo os bens
arqueolgicos, amerndios, populares, histricos e as manifestaes
de arte erudita e aplicada.
A idia de nao pretendida pelos modernistas era capaz de
incluir a diversidade nacional. A associao ideolgica s heranas
monumentais e a conservao dos bens culturais edificados
capazes de exaltar a nacionalidade, de simbolizar um passado sem
conflitos, de expressar unio, harmonia e grandeza, ajudava na
construo da identidade nacional almejada pelo novo governo.
Alm disso, a implantao pioneira, na Amrica Latina, de uma
instituio voltada preservao do patrimnio e que se tornou
respeitada no exterior, inseria o Brasil no conjunto das naes
civilizadas.12
O processo de escolha do que passou a ser considerado
patrimnio nacional teve alguns marcos emblemticos. Minas Gerais
foi identificada como o bero da civilizao brasileira e o barroco
mineiro, descoberto pelos modernistas, adquiriu valor esttico e se
tornou uma unanimidade nacional13. O barroco mineiro passou a
dominar o imaginrio e as referncias do patrimnio nacional fato
que se observa at hoje nas representaes sobre o tema, e Ouro
Preto foi o seu territrio mais importante. Esvaziada
economicamente, a cidade foi usada como matria-prima para um
laboratrio de nacionalidade de inspirao modernista, deixando as
populaes que l moravam subordinadas a esta viso idealizada.14
No campo do patrimnio, enquanto seus oponentes
defendiam aspectos morais e cvicos com uma conotao
nostlgica, os modernistas se dedicavam ao registro e estudo de
manifestaes artsticas e antropolgicas. A partir de suas escolhas,
12
FONSECA, Maria Ceclia Londres. O patrimnio em processo: trajetria da
poltica federal de preservao no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ; IPHAN,
1997. p.137.
13
BORGES, Clia. Patrimnio e memria social. Locus, Juiz de Fora, v.5, n.2,
p.113-125, 1999. p.119.
14
MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma histria de conceitos e critrios.
Revista do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional, Rio de Janeiro, n. 22, 1987.
p.108-122.
o patrimnio passou a se expressar, principalmente, atravs de
exemplares arquitetnicos ligados ao barroco brasileiro, construindo
um imaginrio sobre o patrimnio nacional estratgico para o Estado
15
Novo . No raro, os modernistas da repartio eram acusados de
terem sido cooptados pelo Estado.
Diz Cavalcanti que o trabalho dos modernistas no SPHAN
estava relacionado convico de que o Estado se constitua no lugar
da vanguarda e da renovao, onde eles poderiam implementar as
idias de construo do pas que defendiam em suas obras. Assim,
conseguem realizar o sonho de todo revolucionrio; deter as rdeas
da edificao do futuro e da reconstruo do passado ou, em outras
palavras, escrever simultaneamente o mapa astral e a rvore
genealgica do pas16.
A coexistncia entre passado e futuro est demonstrada em
alguns momentos emblemticos do IPHAN, como na aprovao do
projeto de Oscar Niemeyer para o moderno Grande Hotel em pleno
centro histrico de Ouro Preto, no tombamento do Edifcio do
Ministrio de Educao e Sade (atual Palcio Capanema), em
1948, e no tombamento do Catetinho pelo IPHAN, em 1959, mesmo
antes da inaugurao de Braslia.
A partir do golpe de 64, so promulgados diversos
instrumentos que disciplinam e organizam a produo e a distribuio
dos bens culturais no Brasil. Concretizando o pensamento autoritrio
do estmulo controlado da cultura17 so criados, dentre outros, o
Conselho Federal de Cultura18, a FUNARTE e o Centro Nacional de
Referncia Cultural CNRC. Ortiz observa que o movimento cultural
aps 64 caracteriza-se por dois momentos "que no so na verdade
contraditrios; por um lado ele um perodo da histria onde mais so
produzidos e difundidos os bens culturais, por outro ele se define por
uma represso ideolgica e poltica intensa19.
15
O Projeto de Lei que tratava do tombamento em nvel nacional foi aprovado pela
Cmara Federal e pelo Senado Federal, mas devido ao golpe de 1937, coube a
Getlio Vargas promulg-lo, tornando-se o Decreto-Lei n 25/37.
16
CAVALCANTI, Lauro. Encontro moderno: volta futura ao passado. In: IPHAN.
A inveno do patrimnio. Rio de Janeiro: IPHAN, 1995.p.23.
17
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 4.ed. So Paulo:
Brasiliense, 1994. p. 85.
18
No qual uma das questes centrais era a preservao do patrimnio histrico e
artstico nacional.
19
ORTIZ, op.cit. p.89.
A partir da, houve mudanas importantes nas polticas
pblicas em nvel federal. Segundo Vera Milet, no campo da
preservao, houve a "recorrncia ao nacionalismo e a integrao
20
definitiva dos bens culturais lgica da mercadoria" . As
recomendaes e normas internacionais ofereciam novas diretrizes
e parmetros. Foram promovidas reunies de Governadores, em
Braslia, em 1970, a qual evidenciou a importncia ideolgica que a
preservao do patrimnio assumiu para a ditadura, e em Salvador,
21
em 1971 . Ambas trataram de assuntos relacionados ao patrimnio
e, especialmente, sobre a necessidade de estender aos estados e
municpios as aes de salvaguarda. A partir de ento comearam a
ser assumidas pelos estados e municpios as polticas de
preservao que, at ento, eram prerrogativas do governo federal.
Em 1979, foi criada a Fundao Nacional Pr-Memria, que
passou a ser o brao executivo da Secretaria do Patrimnio
Histrico e Artstico Nacional. O primeiro presidente das duas
instituies foi Alosio Magalhes. E a noo de patrimnio cultural
passou a ser o universo de atuao do rgo federal. Setores at
ento marginalizados das polticas culturais, como as comunidades
locais, comearam a ser reconhecidos como parceiros no trato das
questes relacionadas ao seu patrimnio. Diz Alosio a respeito da
ampliao do conceito de patrimnio ocorrido nessa poca:
muito difcil definir bem cultural numa nao que ainda no se
estabilizou em sua formao. Vrios contextos, vrios momentos,
vrios hbitos, vrios costumes podero caracterizar e gerar um bem
cultural. Ele no uma coisa esttica, necessariamente fixa, mas
depende de algumas constantes que possam ser identificadas, algo
que tenha sido reiterado na trajetria do pas. No tem que ser
necessariamente original ou autctone (...). Esse conceito determina o
cuidado com o bem em criao e com o j estabelecido, este que eu
22
chamo de vertente patrimonial.
20
MILET, apud SANT'ANNA, op.cit.p.186.
Essas reunies, convocadas pelo Governo Federal, tinham como tema o
patrimnio histrico e artstico brasileiro e visavam descentralizao das aes de
preservao.
22
MAGALHES, Alosio. E Triunfo? A questo dos bens culturais no Brasil. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, Fundao Roberto Marinho, 1997.p.71.
21
Mas esse conceito enfrentou muitas resistncias para ser
23
efetivado. A bibliografia converge para o fato de que a preservao
do patrimnio cultural brasileiro, durante dcadas, esteve
comprometida com monumentos considerados importantes para
construir uma identidade nacional suficientemente antigos para
no haver dvidas quanto a sua condio de patrimnio e,
concomitantemente a esse processo, um outro, defendido pelos
mesmos protagonistas, no sentido de ampliar o iderio da
24
arquitetura modernista no pas. O critrio de seleo esttico e o
25
histrico tradicional foi o preponderante .
Na virada para os anos 90, um novo contexto claramente
marcado pela poltica neoliberal no pas coincide com iniciativas
26
novas de "revitalizao" de centros urbanos Salvador, Recife,
Vitria, Porto Alegre, So Paulo e muitos outros. Algumas
experincias foram inspiradas no pioneiro e srio trabalho do
Corredor Cultural do Rio de Janeiro ou no projeto Praia Grande de
So Luis. Outras tiveram no turismo o seu objetivo principal como as
experincias recentes de Salvador e Tiradentes. Acabaram
provocando um processo de 'artificializao' de espaos de grande
vitalidade social, reduzindo-os a museus urbanos."27
23
Dentre os autores que fazem uma reflexo sobre o tema encontram-se Maria
Ceclia Londres Fonseca, Jos Reginaldo Gonalves, Lauro Cavalcanti, Augusto
Arantes e Marcia Sant'Anna. A prpria Revista do Patrimnio editada pelo IPHAN
desde a dcada de 30, publica artigos que fazem uma reflexo sobre os conceitos e
prticas da sua atuao, demonstrando uma busca constante de aperfeioamento.
24
Pioneiramente, j nas dcadas de 40 e 50 o Brasil tombava edificaes
representativas do perodo modernista.
25
Tambm o histrico passou a ser valorizado depois. Alguns bens patrimoniais que
no eram obras de arte nem relacionados a fatos histricos tambm foram tombados
por serem relevantes para a construo do patrimnio nacional. Sobre isso ver
SANT'ANNA, op.cit.
26
Esse termo, cujo significado ressuscitar, generalizou-se e muitas vezes
empregado de maneira equivocada, como no caso de Porto Alegre, na qual o
programa de Revitalizao do Centro tem por objeto uma das reas mais dinmicas
da cidade, que no precisa de uma nova vida, mas sim de uma reabilitao.
27
MORAES, Fernanda Borges de. O tangvel e o intangvel: preservao do
patrimnio urbano e cultural na ps-modernidade. Texto digitado, apresentado no
V Seminrio de histria da cidade e do urbanismo, Campinas, [199-].
Atualmente, ampliaram-se as discusses acerca do
patrimnio cultural imaterial, cuja preservao no era contemplada
com um instrumento jurdico apropriado. Para preservar esses bens
patrimoniais, o governo federal instituiu o "Registro de Bens
28
Culturais de Natureza Imaterial" . Atravs dos Livros de Registro
dos Saberes, das Celebraes, das Formas de Expresso e dos
Lugares, sero inscritos os conhecimentos, modos de fazer, rituais,
festas, manifestaes literrias, musicais, plsticas, cnicas e
ldicas, mercados, feiras, santurios, praas e demais espaos,
tendo como referncia "a continuidade histrica do bem e sua
relevncia nacional para a memria, a identidade e a formao da
29
sociedade brasileira" . Trata-se de um avano que ter reflexos nos
nveis estadual e municipal, como ocorreu com a lei de tombamento
federal, que se transformou em modelo para as demais legislaes.
No mbito dos municpios, a preservao do patrimnio
cultural edificado, no Brasil, foi tradicionalmente efetivada atravs de
lei de tombamento e pelos instrumentos de planejamento urbano
planos diretores, leis de uso do solo, etc. Muitas capitais brasileiras
apresentam esses instrumentos, porm de maneira parcial ou em
poca mais recente.
Em So Paulo, a lei de proteo de 1985 e foi modificada
no ano seguinte30. Considera o tombamento de bens mveis e
imveis em funo de seu valor cultural, histrico, artstico,
arquitetnico, documental, bibliogrfico, paleogrfico, urbanstico,
museogrfico, toponmico, ecolgico e hdrico; estabelece a criao
do Conselho Municipal de preservao do Patrimnio Histrico,
Cultural e Ambiental da Cidade de So Paulo CONPRESP e do
Fundo de Proteo do Patrimnio Cultural e Ambiental. O conselho
passou a funcionar s em 1988. Antes a preservao era
contemplada pela legislao urbana, que previa um zoneamento
especial de preservao, cujo controle de competncia da
Secretaria do Planejamento.
28
Assinado em agosto de 2000.
BRASIL. Decreto n 3551, de 04 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimnio cultural brasileiro, cria o
Programa Nacional do Patrimnio Imaterial e d outras providncias.
30
Leis n 10032/85 e 10236/86. Em nvel estadual, So Paulo apresenta uma das
primeiras legislaes 1968. As informaes sobre So Paulo foram obtidas junto
ao DPH Departamento do Patrimnio Histrico da Prefeitura Municipal.
29
Florianpolis conta com uma das mais antigas leis de
tombamento municipal do pas, promulgada em 1974 junto com a
criao do Servio do Patrimnio Histrico, Artstico e Natural do
Municpio. A preservao passou a ser concebida como elemento
integrante do planejamento urbano a partir de 1979, quando o setor,
inicialmente vinculado Secretaria de Educao, foi transferido para
o IPUF Instituto de Planejamento Urbano de Florianpolis. Passou
a incidir sobre o patrimnio tombado a possibilidade de iseno do
IPTU e a transferncia do direito de construir. O conselho municipal,
denominado COTESPHAN Comisso Tcnica do Servio do
Patrimnio Histrico, Artstico e Natural do Municpio formado por
representantes da prefeitura e entidades externas administrao
municipal.
Curitiba no dispe de lei de tombamento municipal e
protege o centro histrico atravs de "lei urbanstica, de zoneamento
e desapropriao de unidades para orientar o uso urbano do
centro"31. A prtica da preservao est incorporada ao
planejamento urbano e atualizada permanentemente. Em 1982
foram concedidos incentivos para a preservao de imveis de valor
cultural histrico e arquitetnico, concedendo ndices construtivos na
rea remanescente do lote. Em vez de conselho h uma Comisso
de Avaliao do Patrimnio Cultural CAPC, formada por tcnicos
de instituies pblicas e sem a participao de entidades civis.
No Recife, a preservao efetivada atravs de um
conjunto de leis Plano Diretor, Lei de Uso do Solo e uma lei
especfica para o bairro do Recife concebidas a partir da
Constituio de 8832. A primeira lei municipal de preservao foi
promulgada em 1979, regulamentando ndices urbansticos
especficos para 31 reas da cidade as Zonas Especiais de
Preservao do Patrimnio Histrico, compreendendo setores de
proteo rigorosa e de proteo ambiental. O Plano Diretor de 1991
assimilou essas zonas e criou programas de revitalizao urbana
para algumas delas.
31
SOUZA FILHO, Carlos Mars de. Bens culturais e proteo jurdica. 2.ed. Porto
Alegre: Secretaria Municipal da Cultura / Unidade Editorial, 1999. p.117.
32
Informaes sobre Recife a partir de ZANCHETTI, Silvio Mendes. O sistema de
conservao de reas urbanas de interesse histrico e cultural no Brasil. Texto
digitado.
No Rio de Janeiro, h um dos mais bem sucedidos
programas de reabilitao urbana no Brasil o Corredor Cultural.
Iniciado no final da dcada de 70, junto Secretaria de
Planejamento Urbano, o programa definiu os limites das reas de
atuao, no centro da cidade, em 83 e, atravs da lei n 506/84, os
parmetros urbansticos. A partir da experincia do Corredor, o
municpio criou posteriormente as reas de Proteo ao Ambiente
Cultural APAC. Estas reproduzem a legislao do programa
aplicada a conjuntos arquitetnicos ou ambientes com
caractersticas diferenciadas situados fora da rea central.
A lei n 166/80 implantou o Conselho Municipal do
Patrimnio Cultural e instituiu o tombamento. Anteriormente, a
preservao era contemplada de maneira parcial no Plano Diretor,
que indicava instrumentos para favorecer a proteo ambiental
como parmetros de uso do solo, iseno de IPTU e outros. Porm,
a grande contribuio do Rio para a preservao no pas foi a
implantao do Corredor, devido seriedade das decises tcnicas
e eficiente articulao com os parceiros privados e com a populao
em geral. O Programa se tornou modelo para diversas cidades,
inclusive Porto Alegre.33
Snia Rabello esclarece que existem formas jurdicas
semelhantes ao tombamento que, direta ou indiretamente, protegem
os bens culturais como os instrumentos legais de planejamento
urbano no mbito do municpio, que podem propor a preservao de
reas de interesse cultural e ambiental. H casos, como Porto
Alegre, Florianpolis e So Paulo onde, atualmente, os dois
mecanismos tombamento e preservao atravs do planejamento
urbano, so empregados. Em Curitiba e Recife, dispositivos
urbansticos dispem sobre a preservao.
A conceituao de polticas pblicas, apresentada aqui,
permite abarcar, no caso de Porto Alegre, tanto as aes do poder
pblico que se efetivaram atravs de legislaes como o
tombamento e as leis urbansticas quanto aquelas que constituram
interfaces com o tema e que no foram regulamentadas em lei,
como o Oramento Participativo.
33
Informaes prestadas pela coordenadora do Programa Corredor Cultural, arq.
Maria Helena Mac Laren Maia, em 5/03/2001.
Você também pode gostar
- A Conveniência Da Cultura - George YúdiceDocumento30 páginasA Conveniência Da Cultura - George YúdiceFernanda DalonsoAinda não há avaliações
- SECULT - Doce de Cajú de IpiocaDocumento4 páginasSECULT - Doce de Cajú de IpiocamazukiekesAinda não há avaliações
- EduPar Patrimonio Contado LIVRO DO PROFESSOR Volume 2Documento64 páginasEduPar Patrimonio Contado LIVRO DO PROFESSOR Volume 2José Fernando MonteiroAinda não há avaliações
- EspecificoDocumento186 páginasEspecificowilsonAinda não há avaliações
- DossieIphan14 Frevo Web PDFDocumento100 páginasDossieIphan14 Frevo Web PDFAnderson RibeiroAinda não há avaliações
- Luiz Coimbra Nunes - Terminologia LíticaDocumento217 páginasLuiz Coimbra Nunes - Terminologia LíticaGuilherme MongelóAinda não há avaliações
- Calves,+gerente+da+revista,+licerev10n03 A5Documento23 páginasCalves,+gerente+da+revista,+licerev10n03 A5beatriz “haru” rlAinda não há avaliações
- Apostila de HistóriaDocumento50 páginasApostila de HistóriaPriscila PaivaAinda não há avaliações
- Direitos Humanos Gerações Aula 1Documento4 páginasDireitos Humanos Gerações Aula 1FELLIPE CRISPIMAinda não há avaliações
- 02 Patrimônio HistóricoDocumento9 páginas02 Patrimônio HistóricoMichelleSantosAinda não há avaliações
- Amortizacao de ImobilizadoDocumento13 páginasAmortizacao de ImobilizadoSergio Alfredo Macore100% (1)
- Avaliacao Bimestral de Historia 5º Ano Maria Ferreira Junho 2017Documento2 páginasAvaliacao Bimestral de Historia 5º Ano Maria Ferreira Junho 2017Helenice Tiago Carneiro100% (1)
- GUAYANAZ, Marcelo Costa. Um Percurso Histórico Da Escola Flor Do Samba em São Luís Do Maranhão. São Luís, UFMA. 2006. 73 P.Documento73 páginasGUAYANAZ, Marcelo Costa. Um Percurso Histórico Da Escola Flor Do Samba em São Luís Do Maranhão. São Luís, UFMA. 2006. 73 P.Pablo KKAinda não há avaliações
- Teste Identidade RegionalDocumento4 páginasTeste Identidade RegionalRodrigo PintoAinda não há avaliações
- Sítios Históricos Da Área Rural de Porto Alegre: História, Arquitetura e ArqueologiaDocumento13 páginasSítios Históricos Da Área Rural de Porto Alegre: História, Arquitetura e ArqueologiaJorge Luís Stocker Jr.Ainda não há avaliações
- ManteigaDocumento28 páginasManteigaAndré Patronilho0% (1)
- Justificação Do Curso Técnico de Museografia e Gestão Do PatrimónioDocumento3 páginasJustificação Do Curso Técnico de Museografia e Gestão Do PatrimónioJorge AmadorAinda não há avaliações
- Patrimônio Cultural PiauienseDocumento10 páginasPatrimônio Cultural PiauienseRoseane SerraAinda não há avaliações
- Aula de Sociologia - o Trabalho Nas Diferentes SociedadesDocumento30 páginasAula de Sociologia - o Trabalho Nas Diferentes SociedadesGiovanna GaspariniAinda não há avaliações
- Conservacao Do Patrimonio Cultural Imove PDFDocumento5 páginasConservacao Do Patrimonio Cultural Imove PDFrichardAinda não há avaliações
- PAISAGENS TRANSCULTURAIS - DIVULGAÇÃO PPGAU - IlDocumento24 páginasPAISAGENS TRANSCULTURAIS - DIVULGAÇÃO PPGAU - IlFelipe Gustavo SilvaAinda não há avaliações
- Aportes Metodológicos - Josebias NetoDocumento28 páginasAportes Metodológicos - Josebias NetoJosebias NetoAinda não há avaliações
- Seminário Interdisciplinar IIIDocumento32 páginasSeminário Interdisciplinar IIIedsoncorrea1990Ainda não há avaliações
- Cadernos de Sociomuseologia 19Documento150 páginasCadernos de Sociomuseologia 19Daniel MouraAinda não há avaliações
- Módulo II - Turismo de Base ComunitáriaDocumento65 páginasMódulo II - Turismo de Base ComunitáriaWillian AraujoAinda não há avaliações
- Lei Orgânica Do Município de Juiz de ForaDocumento75 páginasLei Orgânica Do Município de Juiz de ForaGabrielMatosAinda não há avaliações
- Aula Patrimonio CulturalDocumento11 páginasAula Patrimonio CulturalÂngeloAinda não há avaliações
- Questões - História Do CearáDocumento46 páginasQuestões - História Do CearáwellingtonAinda não há avaliações
- TCC ContandoHistoriaPatrimonioDocumento86 páginasTCC ContandoHistoriaPatrimonioEzeval GráficaAinda não há avaliações
- O Que A História EstudaDocumento20 páginasO Que A História EstudaMaria Fernanda MullerAinda não há avaliações