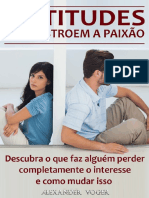Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pass Word Ou Senha para Uma Lingua Eventual
Pass Word Ou Senha para Uma Lingua Eventual
Enviado por
Ailton Benedito de SousaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pass Word Ou Senha para Uma Lingua Eventual
Pass Word Ou Senha para Uma Lingua Eventual
Enviado por
Ailton Benedito de SousaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Password ou senha para uma lngua eventual
107
Password ou senha para uma lngua eventual
Ailton Benedito de Sousa *
Lnguas nacionais em estado de stio Na exigncia de uma poltica para a lngua portuguesa falada no Brasil, poltica que oriente seus usurios principalmente aqueles na condio de formadores de opinio frente enxurrada de termos, expresses e padres sintticos ingleses desencadeados pela atual fase de desenvolvimento tecnolgico (em especial os relativos informtica) no nos movem comportamentos patrulhsticos prprios aos contextos ditatoriais, nem a aderncia a extremado gramatiquismo normativo. Construo aberta s transformaes, pronta e acabada so qualificativos que s cabem s lnguas mortas. No nos move, tambm, o objetivo de querer superpor lgica prpria da lngua a que fora dela se encontra. Move-nos o reconhecimento da necessidade de os falantes do portugus, em especial os brasileiros, voltarem-se para o estudo e cultivo de sua lngua e cultura, frente presso transformadora trazida pelas novas tecnologias. Defendendo suas idiossincrasias, estamos defendendo nosso modo especfico de construir e organizar o espao vital que herdamos. Cultivando seus modos especficos de dizer, reconhecemo-la como cimento de nossa integrao. Caso contrrio, corremos o risco de, por omisso, trocarmos uma lngua suporte de cultura universal a terceira mais falada no Ocidente por um patu que nem ser ingls nem portugus, condio que infelizmente j caracteriza alguns povos nesse mundo dito globalizado, muitos dos quais vivendo hoje em contexto de anomia: Serra Leoa, Libria, citados em funo da visibilidade que os meios de comunicao de massas lhes tm dado. Tambm no nos movem impulsos chauvinistas contra essa ou aquela nacionalidade, etnia ou cultura. Articulamo-nos em funo de tendncias mundiais, inerentes atual configurao do capitalismo em sua terceira revo* Professor, graduado em letras e em engenharia civil, escritor e secretrio de C&p.
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.107-141
108
Ailton Benedito de Sousa
luo industrial. Segundo Omar Gonzalez Gimenez1 , nesse final de sculo 470 milhes de pessoas falam o ingls como lngua materna, ao passo que em razo da fora da cultura a que d suporte, que no exclusivamente inglesa, nem norte-americana ou australiana, um bilho e quatrocentos milhes de pessoas o falem como segunda lngua. Em certos casos, observe-se, esse ingls assume caractersticas dialetais, em funo da mescla de seu vocabulrio e sintaxe com os das lnguas autctones. Lngua e desenvolvimento tecnolgico O rpido e desigual desenvolvimento tecnolgico neste entre-sculos confronta qualquer lngua, enquanto criadora, fixadora, retentora de sentido, com a necessidade de superar-se em termos instrumentais e de criatividade, para a promoo de mudanas - acrscimos, transformaes quer no seu acervo de palavras e nas relaes de significado para significado, quer no mbito das normas para a emisso de mensagens ou cadeias de significados. Criao da cultura, funo da lngua, enquanto entidade viva, expressar essa cultura, simbolicamente decalcando, modelando, categorizando o fluxo de eventos naturais e sociais da assumida/construda realidade. Costuma-se identificar-lhe trs funes principais: a) de decalque, modelagem, categorizao da realidade construda; b) a de persuaso, afetao do outro para que aja de acordo com o interesse especfico de algum; e c) de exteriorizao de contedos psquicos, emocionais. Quando a lngua atende a um desenvolvimento cientfico e industrial autctone, para o batismo de novos entes tecnolgicos (inclusive da tecnologia social), seus falantes podem mergulhar no passado mtico ou histrico comum, em busca do material lingstico das civilizaes de que se assumem descendentes. o caso das palavras fotografia, automvel, televiso, telgrafo, cronmetro etc., hoje universais. Tambm podem servir-se de todos os processos endgenos para a criao de novas palavras derivao, composio e outros de que exemplo no idioma ingls a palavra laser - acrnimo para light amplification by stimulated emission of radiation, termo que, como uma marca registrada, ilustra no s o nvel de poder dos centros irradiadores de tecnologia, como tambm a profundidade das interconexes culturais, tendo em vista a origem greco-latina de todas as palavras da frase referida.
1
Jimnez, Omar Gonzalez: Paradojas de la globalizacin. An estamos vivos, Comunicacin&poltica,v. VI, n. 2-3, p. 26, maio-agosto, setembro-dezembro, 1999.
Password ou senha para uma lngua eventual
109
A unidade essencial da espcie humana impe que toda e qualquer cultura tenha a potencialidade de se universalizar, a depender de sua riqueza intrnseca. Mas impe-se a legitimao a aceitao consensual por parte da cultura anfitri. A partir da revoluo renascentista, a intelectualidade europia, de modo geral, por ter o latim como lngua de cultura, quer produzindo cincia, quer poesia, semeou suas lnguas nativas de termos oriundos da latinidade. Assim, hoje 30% ou mais do vocabulrio ingls derivam do latim, fato de que se orgulham os ingleses. J os povos de lngua alem, no obstante terem participado ativamente da revoluo renascentista, de modo geral preferiram traduzir com termos prprios os novos conceitos trazidos pelas artes e cincias do Renascimento. E indo mais alm no apego ao que lhe prprio, quando falam de si para si, usam o seu alfabeto gtico. Questes de natureza poltica se colocam quando o desenvolvimento tecnolgico no autctone, no se caracteriza como uma revoluo cultural, no traz proposies ticas, no convida o ser humano a renascer. O atual desenvolvimento tecnolgico instaura uma periferia de formaes sociais recipientes de caixas pretas, de contedo, para essas formaes, ininteligvel, trazendo as marcas de uma j efetiva dominao econmica, cultural e militar. A concentrao do poder econmico, cientfico e tecnolgico, no estgio de terceira revoluo industrial, entre trs ou quatro grandes potncias, a terem por suporte principal a lngua inglesa, um dos modos de manifestao dessa excessivamente festejada globalizao. Aqui, a dominao tambm se traduz pela total aquiescncia do dominado, levado condio de aborgine frente cultura hegemnica, aceitando esse status como indicador de civilizao ou modernidade, construindo ele prprio sua completa inaptido para suprir as necessidades bsicas de sua existncia. Em O mito do desenvolvimento2 , Ivan Illich no incio dos anos 60 j nos mostrava o impasse para o qual nos dirigamos, ao acentuar que a exploso demogrfica fornece cada vez mais consumidores para tudo, desde alimentos at anticoncepcionais, enquanto a nossa imaginao se retrai e no capaz de conceber outra forma de satisfazer suas demandas, a no ser atravs de produtos enlatados que j esto venda nas sociedades admiradas. Vivemos numa fase em que por todos admitida a morte mediata ou imediata do Estado-nao, embora para as massas este ainda no tenha
2
Illich, Ivan: O mito do desenvolvimento, in Educao hoje, Ed. Eldorado, 1966, Rio, p.67
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.109-139
110
Ailton Benedito de Sousa
substituto como provedor de necessidades bsicas, no assumidas pelo seu suposto substituto, o mercado. A propsito da persistente ladainha sobre o ocaso do Estado-nao perifrico, cumpre notar que patente a relao entre lngua nacional, mercado nacional e Estado-nao. A transformao do segundo termo em mercado global, descaracteriza o trinmio, antecipando mudanas inditas nas estruturas de organizao social da humanidade, impondo redefinies nos padres de pertinncia e identidade para a maioria dos seres humanos, principalmente para os que descendem de povos ex-coloniais, os quais se aferraram aos seus Estados-naes, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, como meio de se equipararem em poder e valor (e em qualidade de vida) aos ex (e/ou atuais) colonizadores. A meio caminho de objetivos relacionados ao desenvolvimento econmico e social, h Estados-naes (na Amrica Latina, na sia continental e do Sudeste) cujas instituies polticas, econmicas e culturais em consolidao h sculos, oferecem mais condies de se oporem s ondas de desagregao inerentes a essa etapa de concentrao mundial do poder em todas as suas dimenses. Outros, porm, oriundos tanto do plo em torno da ex-URSS quanto da fase que aps a Segunda Guerra Mundial se acreditou ser o fim do colonialismo, esto em franco processo de desfazimento. Observe-se que o contexto de globalizao confortvel s grandes empresas transnacionais, protegidas, de um lado, por um sistema militar popularmente chamado de guerra nas estrelas; e de outro, no nvel da opinio pblica, por um escudo metafrico chamado mercado (agora global), tendo por suporte um cdigo lingstico (o ingls) de assimilao obrigatria por parte das culturas dominadas (consumidores), desse modo essas empresas estando isentas de qualquer responsabilidade social, a no ser a de promover o marketing, entre ns entendido como publicidade a persuaso para consumir. Alis, o contexto dialtico aqui se instaura, porque a proficincia no desempenho da funo persuasria da lngua nacional exige o conhecimento (logo a manuteno) da lngua nacional. Ao justificar a para ele necessria morte do Estado-nao, Kenichi Ohmae3, descrevendo as dificuldades que confrontam o planejamento no nvel do mercado nacional, reconhece a incapacidade, da estrutura estatal
Ohmae, Kenichi: O fim do Estado-nao, trad. Ivo Korytoviski, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1999.
Password ou senha para uma lngua eventual
111
que lhe d suporte, para a gesto dos 4 is inerentes ao fluxo econmico na era global: a) investimentos (capitais), que hoje concentram-se fora da esfera estatal, principalmente da esfera estatal perifrica; b) indstrias, que podem ser instaladas num local e da transferidas em funo exclusiva dos critrios do capital financeiro internacional, sem qualquer considerao ao planejamento estratgico nacional; c) informao, no sentido de tecnologias da informao (ciberntica, robtica, telecomunicao etc.) sob domnio das grandes corporaes privadas; e d) os indivduos, consumidores individuais, a que as tcnicas persuasrias e novos meios de comunicao transformam em seres que ao terem sede preferem o refrigerante industrializado gua. Segundo essa viso, marchamos para um Estado-eunuco, sem capacidade de criar utopias, um somatrio de instituies prestadoras de servio, ou seja, um Estado-eventual, configurvel e desconfigurvel em funo da existncia ou no de demandas sociais imediatas. Mais algumas das funes da lngua Aceita a cultura como espao onde os seres humanos se encontram e confirmam sua pertinncia e identidade4 , aceito ainda que a lngua ao mesmo tempo criao da cultura e instrumento de sua expresso,5 pode-se concluir quanto s complexas funes que cabem a uma lngua na construo do ser, do Eu-consciente, do Outro, dos vnculos de identidade, de pertinncia social e cultural, na construo da memria individual e coletiva, e de uma configurao de futuro ou utopia. Um mnimo de estabilidade no acervo de signos e no repertrio de regras para a produo de mensagens caracterizaria a dimenso sincrnica de uma lngua. O ideal que todas as grandes manifestaes da cultura tenham expresso a partir de um repertrio sinttico e vocabular estvel. Quem o requer o nexo da continuidade social entre as geraes de falantes. Da que julgamos vlido, mais que vlido, necessrio, que uma lngua, atravs de seus falantes, lute por sua sobrevivncia, questionando, opondo resistncia ao termo invasor, at mesmo combatendo o ritmo hiperblico com que uma dinmica
4 5
Duverger, Maurice, Teoria Poltica, passim. Matoso Cmara Jr., J. Princpios de Lingstica Geral, Livraria Acadmica, Rio de Janeiro, 4 ed. 1970, p. 21.
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.111-137
112
Ailton Benedito de Sousa
social infensa crtica como a da ocorrente globalizao, introduz, envelhece e substitui a base tecnolgica das sociedades em escala mundial no curto perodo de uma gerao, desse modo envelhecendo e descartando a cultura e palavras autctones, provisoriamente substituindo-as pelas da lngua tecnologicamente hegemnica. Antes que loas, a ocorrente revoluo tecnolgica deveria despertar preocupao. Nessa linha de argumentao, a exaltao da transincia6 , da provocada obsolescncia precoce dos produtos tecnolgicos, a exaltao do consumismo, do descarte da palavra, da lngua, da cultura, deve merecer nossa crtica, pois implica a exaltao do descarte das pessoas, condenadas no s aos lixes dos rejeitos do mercado, mas tambm da histria, da comunidade dos seres pensantes e atuantes. Como fato aparentemente positivo, na medida que justifica a necessidade de superao do Estado-nao, o economista Kenichi Ohmae (op.cit.) mostra uma sociedade japonesa cujas geraes coetneas de fato j perderam o nexo de continuidade social: os da faixa dos setenta anos de idade no mais se entendem com os da faixa dos de cinqenta que, por sua vez, em termos de viso de mundo nada mais tm a ver com os de trinta para baixo. bvio que essa diferena de viso de mundo reflete-se, tambm, em realizaes lingsticas, que se excluem. de se esperar a ocorrncia de drsticas transformaes no idioma japons, principalmente no domnio de sua escrita ideogrfica. Se a acelerao das transformaes tecnolgicas naturalmente j impe essa quebra no nexo da continuidade social entre as geraes, mais essa tendncia se acentua se h promoo ou indiferena com relao invaso tecnolgico-vocabular estrangeira, no rastro de uma completa rendio e defasagem cultural. Do ponto de vista de uma cultura determinada, um desenvolvimento histrico desigual pode explicar que em certos domnios da cultura o cientfico, o religioso, o filosfico por exemplo, haja a ocorrncia de um maior ou menor percentual de palavras estrangeiras, dessa ou daquela procedncia. Fatos historicamente legitimados podem justificar que na Idade Mdia o conhecimento cientfico tenha sido veiculado em latim, ou que at h pouco entre ns a missa catlica fosse celebrada naquela lngua, ou ainda que os cnticos cerimoniais da religio afro-brasileira candombl sejam aprendidos e executados em iorub. Considerada sua difuso entre as massas, as tecnologias automvel, bicicleta e futebol, por exemplo, tm
6
Cf. Toffler, Alvin: A terceira onda, 4a. ed. trad. Joo Tvora, Ed. Record, Rio s.d.
Password ou senha para uma lngua eventual
113
em nosso meio a maioria de seus elementos constitutivos expressos por palavras de procedncia inglesa ou francesa, hoje quase todas substitudas ou aportuguesadas: guido (g u i d o n), celim (celin), capot, step, piston, carter, etc. Vale destacar que no universo do futebol, a lngua que falamos, por no ter sofrido a presso que hoje a coloca na condio de cidade sitiada, tem derrotado a intrusa de modo exemplar: goal keeper, virou goleiro; center forward virou atacante; center half, meio-campo, o mesmo com corner, offside, referee, c o a c h . inimaginvel um brasileiro hoje numa partida de futebol chamar o juiz de referee. Merece estudo a situao em que patente a ausncia de fenmeno legitimador - a no ser a fora de um complexo cultural e a acomodao a ela - para a explicar a cornucpia de termos de uma nica lngua, no caso o ingls, a se infiltrarem no nessa ou naquela dimenso cultural erudita de uma lngua, no caso o portugus falado no Brasil, mas em todas as dimenses de base dessa lngua e cultura. Aqui, o vetor das transformaes uma tecnologia que tende a ter uso massivo: o computador pessoal e seu ferramental:browse, scroll, mouse, moden, scanner, site, window, provider, network, home page, e-mail, plug, delete... verdadeiras passwords, ou senhas para a formao de uma lngua eventual7. No quadro dos comportamentos econmicos, pacfica a aceitao do princpio de que a moeda m expulsa a boa. O mesmo parece ocorrer no domnio da lngua. A inflao de palavras e padres sintticos estrangeiros numa dada lngua pode significar para muitos dos falantes: a) o reconhecimento de um deficiente grau de desenvolvimento intrnseco dessa cultura a que o falante est vinculado por nascimento, base para que muitos, em considerao noo de auto-estima, no mais queiram por ela se referenciar, estigmatizando como atrasados os que a ela sem escolhas aderem (caso do repdio da lngua-me); b) reconhecimento por parte do falante da insuficincia de carga semntica nas palavras tomadas de emprstimo, frente ao custo, inclusive monetrio, para que esse falante venha a se apropriar, via aprendizagem formal, de uma parcela desses significados ( o caso, para muitos, diante de termos como browse, logon, logoff, e-mail), carncia com reflexos no nvel de interao social do falante.
7
Segundo estudos do Instituto de Francofonia, em todos os correios eletrnicos existentes no mundo a lngua inglesa est presente em cerca de 75% das aes; o francs fica em 2,8%; o espanhol em 2,6% e o portugus em apenas 0,8%, o que d a perfeita dimenso de que a globalizao tem dono. In Niskier, Arnaldo: Internet e lngua portuguesa, O Globo, Rio, ed. 27/3/00, p.7, cad.Opinio.
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.113-135
114
Ailton Benedito de Sousa
Fica, entre aqueles que no compreendem o significado desses termos, o sentimento e a condio efetiva de excluso do mundo moderno. No caso das novas geraes, a presso social faz com que os pais matriculem os filhos em cursinhos que lhes ensinaro os comandos bsicos para serem usurios provisrios de caixas pretas que a dinmica do desenvolvimento tecnolgico oligopolizado tornar obsoletas dentro de alguns meses...Nesse contexto, antes que espao para o encontro, a lngua se torna instrumento para acentuar a separao e estratificao dos falantes. Em lugar de termos um brasileiro mdio bilnge ou trilnge, vontade, sem inibio para com seu povo e cultura, continuamos a t-lo unilnge, com baixa auto-estima, procurando distino pela imitao do que vem de fora, enchendo seu vocabulrio ativo de termos do tipo s h o w r o o m, attach, guard rail, ou construes do tipo eu justo acabei de fazer isso... O smbolo lingstico Diferentemente do signo (ou estmulo) que na experincia de Pavlov desencadeava no co uma resposta especfica, o smbolo lingstico polissmico, ambguo, vago, sua decodificao exigindo participao criativa dos falantes. veculo para a comunicao no apenas no nvel mente a mente, mas principalmente, no nvel conscincia individual para consigo mesma, no que elemento constituinte dessa mesma conscincia.8 Assim, o smbolo lingstico instaura entre os participantes do processo comunicacional (fonte ou emissor/recebedor) um plano de referncia onde esto contidos uma imagem, um conceito/logos e miasmas de emoes, sentimentos, diante dos quais a razo discursiva do recebedor (o q u i d humano metafsico) manifesta-se e se exerce como da mesma essncia da razo discursiva da fonte, instaurando o mistrio da comunicao, criao e troca de sentido entre os humanos. Aqui, apresentao do estmulo, no h a resposta cega, imediata e previsvel. Aqui, diante da palavra (som e/ou grafia) gato, o recebedor reflete, discute:.. Gato, e da? Por qu, como, para qu?... gato... gil, ladro, macio, bonito, seguro de si? A inferncia que o recebedor faa indicador para que a fonte prossiga no processo de comunicao, de atribuio e de troca de sentido. Em adio, no sistema lngua portuguesa, a palavra gato tem como referentes no s a imagem de um animal especfico, mas a de um animal precisamente localizado num
Cf. Gustavo Bernardo, in Redao inquieta, Editora Globo, Rio de Janeiro, 1985.
Password ou senha para uma lngua eventual
115
contnuo categorizador - reino, espcie, classe, indivduo, que inclui o leo, o tigre, a ona. Tem, tambm, o potencial de agregar uma multiplicidade de significados com que a razo discursiva dos falantes possa estabelecer relao. Ao mesmo tempo, gato um termo carregado de sentimentos, juzos de valor, emoes9. A decodificao de um termo (significante) tanto se faz por via de sua de not a o - referncia desse significante ao mundo extensional - realidade construda -, quanto por via de sua c o n o t a o (emocional e lingstica) - compreenso do significado ao mesmo tempo como elemento de um sistema categorizador de explicao do mundo, e como ndice-vetor de uma carga de diferentes sentimentos ou valores. A abstrao frente impossibilidade de atribuio de igualdade no mbito da realidade construda A aceitao da possibilidade da existncia de dois seres absolutamente iguais implicaria a disponibilidade, por parte do sujeito, de conhecimento infinito sobre esses dois seres, na medida em que podem ser infinitos os elementos que constituem estes ou quaisquer outros entes a ferir nossos sentidos. Quando, dos objetos que nos cercam, temos conhecimento limitado, no cabe dizer que dois ou mais seres quaisquer so idnticos, iguais, seno por abstrao, isto , pela definio dos termos dessa igualdade. Diante de uma floresta onde nenhum indivduo igual a outro qualquer, escolhem-se alguns poucos elementos comuns e conspcuos, encontrveis em vrios indivduos vegetais observados por exemplo, tronco, galhos, copa nesse sentido abstraindo, desconsiderando a maioria de elementos singulares, de definio difcil porque multifria: raiz, folha, casca, seiva. Assim, para representar os espcimes que ostentam esses poucos elementos em comum, criamos um ser a que chamamos rvore (Cf. Louis Salomon, op. cit.). Dito de outro modo, diante da impossibilidade de numa floresta se encontrar e se nomear indivduos vegetais absolutamente iguais, ou, ampliando o absurdo, dar a cada indivduo um nome especfico, admite-se que a razo discursiva, abstraindo uma infinidade de elementos especficos a esse e quele indivduo, constri a classe dos providos de tronco, galhos e copa, batizando-a pelo signo rvore invlucro do conceito cuja definio,
9
Cf. B. Salomon, Louis: Semantics and common sense, Brooklin College of the City University of N, York, 1966, pp. 1-36.
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.115-133
116
Ailton Benedito de Sousa
repetimos, categoriza os indivduos do reino vegetal providos de tronco, galhos e copa. O termo rvore frente a seu quadro de referncia pode ao mesmo tempo ser aplicado a um indivduo ou a uma categoria, conjunto de iguais por abstrao, por isso no se confundindo com arbusto, com cip, relva ou capim. Dependendo do contexto, porm, o termo rvore ao mesmo tempo ambguo, vago, aberto polissemia.10 Denotativamente, a palavra rvore refere-se a qualquer indivduo do reino vegetal que satisfaa os termos da definio. Por polissemia, a qualquer mastro, ramificao familiar, a qualquer navio com cuja configurao se possa estabelecer uma metfora. Conotativamente, a palavra rvore remete, por um lado, a um sistema categorizador j referido, expresso de como os falantes do portugus organizaram e organizam o mundo tomado como real; por outro, a palavra remete carga emocional que em funo do seu significado consolidou-se entre os falantes do portugus: rvore, frutos, proviso, fonte de proteo e de afeto. Na construo de mensagens, cadeias de significados, o termo receber determinantes que possibilitaro que transite do contexto geral para o particular: a, aquela, uma rvore grande, solitria, carregada de frutos, que vejo... Vale sempre lembrar que o significado ou significados que um termo lingstico possa ter no lhe inerente enquanto artefato material, mas reside na mente dos falantes. O artefato material, quer em sua expresso grfica, sonora ou ttil, simplesmente desperta aquilo que construdo de modo virtual: a) por interao direta e jogo de inferncias; c) por interao via meios de comunicao, falante a falante, ou, ainda, por reflexo do falante consigo mesmo, a partir do uso de um cdigo lingstico de natureza social. A constituio do agente no ato de nomear Ao dar nome, batizar o objeto, e, numa mensagem, informar, persuadir e emocionalizar o recebedor, o sujeito exerce aquele conjunto de habilidades que o distinguem como espcie, como indivduo e como ser social: abstrai, isola diferenas, define, projeta a si e ao objeto no espao-
10
rvore. S.f. vegetal lenhoso, de tronco elevado, com ramos na parte superior. Pea principal de uma roda ou mquina. Mastro. Ramificaes de uma famlia, descritas em forma de rvore. Nome de diversas cristalizaes. Navio. (Latim arbor) - in Cndido de Figueiredo, Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa, 3 ed. 1899, ed. Portugal-Brasil Ltda., Porto, Portugal
Password ou senha para uma lngua eventual
117
tempo, virtualiza-se11, julga, embebe a si e ao objeto no irracional mar de emoes ou no espao dos padres aceitos como lgicos. A atribuio do termo secretria eletrnica para o ingls phone tape recorder, ou answering system, por um lado, e sua legitimao social pelo uso entre os brasileiros, por outro, indicam a prvia ocorrncia de uma complexa elaborao mente a mente, envolvendo uma definio por parte do falante, cujas bases foram a igualdade de funo observada entre o novo elemento tecnolgico e o conceito ou modelo de secretria na mente do brasileiro comum, modelo cuja funo de maior visibilidade consistia no anotar recados telefnicos para seu chefe. Para evitar excesso de ambigidade, essa secretria virtual adjetivada como eletrnica. Portanto, no se trata de um simples gravador de mensagens telefnicas, ela pode interagir com o falante, alm do que do gnero feminino, assim, num estranho quadro de virtualidades, participando da carga emocional que envolve o universo da mulher. Ao ouvir, pela primeira vez, a expresso secretria eletrnica, o recebedor brasileiro faz as inferncias que ilustram o caminho percorrido por aquele que a batizou. Insista-se que nada disso ocorreria, se autoritariamente nos tivessem imposto o extico answering system. Concluso participada autor/leitor Apliquemos o contedo de nossos argumentos a um imigrante ilegal muito vontade em nosso territrio: o termo defrag, um dos comandos muito usados no programa Windows-DOS, imposto e aceito passivamente por ns. Diante desse hbrido mal-formado, o falante do portugus vse completamente divorciado, mais que isso, confuso quanto a uma tentativa de decodificar o significado em ingls, ou de entender o processo material a que se refere esse defrag, pelo fato de o termo ter sido composto de modo totalmente contrrio lgica ou ao esprito da lngua portuguesa. Em funo de sua freqente ocorrncia no uso cotidiano do idioma, o falante do portugus sabe (tem base para inferir) que os prefixos DE,
11
Trs processos de virtualizao fizeram emergir a espcie humana: o desenvolvimento das linguagens, a multiplicao das tcnicas e a complexificao das instituies. A linguagem, em primeiro lugar, virtualiza um tempo real que mantm aquilo que est vivo prisioneiro do aqui e agora. Com isso, ela inaugura o passado, o futuro e, no geral, o Tempo como um reino em si, uma extenso provida da sua prpria consistncia. A partir da inveno da linguagem, ns, humanos, passamos a habitar um espao virtual (grifo nosso), o fluxo temporal tomado como um todo, que o imediato presente atualiza apenas parcialmente, fugazmente. Ns existimos. In Lvy, Pierre: O que virtual? Trad. Paulo Neves. So Paulo. Editora 34, 1996, 160 p.
C o m u n i c a o&poltica,n.s., v.VIII, n.1, p.117-131
118
Ailton Benedito de Sousa
DES, DE(S) trazem a idia de ao contrria ou movimento de cima para baixo: fazer/desfazer, carregar/descarregar, compor/decompor, induzir/ deduzir. J o radical FRAG/FRAC/FRACT/FRA remete a termos como partio/parte (antnimo: integrao) separao (juno), seccionamento (ligamento), fragmento, frao, fracionar (totalidade/unidade/unificao) etc. Parece-nos estranho ao esprito da lngua portuguesa, aps ter algum fragmentado um prato de loua, lev-lo ao restaurador para desfragmentlo ou defragment-lo. Fragmentar o capital de uma empresa, para depois defragment-lo pela compra de suas aes ou cotas. O contrrio da ao fragmentar est mais prximo de integralizar, inteirar, unificar, que do hipervirtual defragar. Em defesa dos anglfilos procura de passwords (senhas) para o paraso da globalizao, a nica coisa que se pode dizer que foi desse modo que o latim, aps da desagregao do imprio romano, fragmentou-se dando-nos a lngua que, graas a homens como Cames, entre outros, foi, diriam, defragmentada para que esses anglfilos hoje insistam em refragmentar. Referncias bibliogrficas
Salomon, Louis B.: Semantics and common sense, Brooklyn College of the City University of N. York. EUA, 1966. Bernardo, Gustavo: Redao inquieta, Editora Globo, Rio de Janeiro, 1985. Figueiredo, Cndido de: Novo dicionrio da lngua portuguesa, 3a. ed. 1899, Portugal-Brasil Ltda, Porto, Portugal. Illich, Ivan. Garcia, Pedro (org.) Educao hoje, Eldorado, Rio de Janeiro, 1966. Matoso Cmara Jr., J.: Princpios de lingstica geral, Livraria Acadmica, 4a. ed. Rio de Janeiro, 1970 Jimnez, Omar Gonzalez: Paradojas de la globalizacin. An estamos vivos, in Comunicao&poltica, n.2-3, maio-ago, set-dez, 1999, Cebela, Rio de Janeiro. Perini, Mrio: Gramtica Gerativa introduo ao estudo da sintaxe portuguesa, Ed. Viglia, B. Horizonte, 1976. Toffler, Alvin: A terceira onda, 4a . ed. trad. Joo Tvora, Editora Record, Rio de Janeiro, s.d. copyright do autor de 1980. Lvy, Pierre: O que virtual?, trad. de Paulo Neves, So Paulo, Editora 34, 1996, 160 p. Niskier, Arnaldo: Internet e a lngua portuguesa, in O Globo, Rio, 3a.ed.27/3/00 p.8, cad. Opinio.
Você também pode gostar
- Competencias SocioemocionaisDocumento31 páginasCompetencias SocioemocionaisAngelina Rocha100% (6)
- Gramatica de Portugues para Estrangeiros de Ligia ArrudaDocumento236 páginasGramatica de Portugues para Estrangeiros de Ligia ArrudaIva Sousa85% (20)
- 15 Erros Que o Técnico de Segurança Do Trabalho Não Pode CometerDocumento5 páginas15 Erros Que o Técnico de Segurança Do Trabalho Não Pode Cometermaria2luiza2silva100% (1)
- 7 Atitudes Que Destroem A PaixãoDocumento50 páginas7 Atitudes Que Destroem A Paixãosandra reginaAinda não há avaliações
- Kit Digital o Monstro Das Cores 1Documento42 páginasKit Digital o Monstro Das Cores 1Maria Helena Cavalcante BastosAinda não há avaliações
- Mapa Mental Internet PDFDocumento1 páginaMapa Mental Internet PDFMichele MarieAinda não há avaliações
- APOSTILA Sintaxe, Semântica e Pragmática Da LIBRASDocumento46 páginasAPOSTILA Sintaxe, Semântica e Pragmática Da LIBRASFabiane CardosoAinda não há avaliações
- Lete43 A Revolução Tecnológica Da GramatizaçãoDocumento35 páginasLete43 A Revolução Tecnológica Da GramatizaçãoJefferson Voss100% (1)
- Fichamento - O Direito e Sua Linguagem - Luis Alberto WaratDocumento6 páginasFichamento - O Direito e Sua Linguagem - Luis Alberto WaratEwerton Protázio100% (1)
- BALLWEG, Ottmar. Retórica Analítica e Direito (Trad. JMA)Documento9 páginasBALLWEG, Ottmar. Retórica Analítica e Direito (Trad. JMA)Cilene Paredes de SouzaAinda não há avaliações
- Mediunidade - Responsabilidade Dividida - Rev1Documento65 páginasMediunidade - Responsabilidade Dividida - Rev1lzgonzagaAinda não há avaliações
- Trabalho Comercio EletronicoDocumento35 páginasTrabalho Comercio EletronicoEben Alberto100% (2)
- Discurso Das MídiasDocumento17 páginasDiscurso Das MídiasRodrigo NeivaAinda não há avaliações
- HerzbergDocumento13 páginasHerzbergBia MonteiroAinda não há avaliações
- Provas 2° Bimestre Marcos ViniciusDocumento20 páginasProvas 2° Bimestre Marcos ViniciusVinicius FerreiraAinda não há avaliações
- VC Pode Criar Um Texto para Divulgação de Uma Produtora de VideosDocumento1 páginaVC Pode Criar Um Texto para Divulgação de Uma Produtora de VideosDaniel MagneaAinda não há avaliações
- Sorria Um Gordo Está Sendo FilmadoDocumento16 páginasSorria Um Gordo Está Sendo FilmadoDiego MirandaAinda não há avaliações
- Resumo Livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação (Laiane) - FG 2010.2Documento6 páginasResumo Livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação (Laiane) - FG 2010.2lalabizungui100% (1)
- Monografia A Importância Da Tecnologia Da Informação para Formação A Distância de Docentes No BrasilDocumento36 páginasMonografia A Importância Da Tecnologia Da Informação para Formação A Distância de Docentes No BrasilstakesilvaAinda não há avaliações
- Planificacao Geral AECP - 2022 - 2023 TC20 MOD7Documento7 páginasPlanificacao Geral AECP - 2022 - 2023 TC20 MOD7lenaprvieiraAinda não há avaliações
- Luisa Azevedo RP e MKTDocumento16 páginasLuisa Azevedo RP e MKTRogério Maurício MiguelAinda não há avaliações
- Segurança Da Informação - Padrão 802.1xDocumento9 páginasSegurança Da Informação - Padrão 802.1xRodrigo de Oliveira ReisAinda não há avaliações
- Sequência Didática: Reportagem, Notícia e Entrevista.Documento5 páginasSequência Didática: Reportagem, Notícia e Entrevista.Thais75% (4)
- Ensaio Teórico Sobre A Linguística AplicadaDocumento5 páginasEnsaio Teórico Sobre A Linguística AplicadaHeloise LimaAinda não há avaliações
- Dissertação Magda RodriguesDocumento131 páginasDissertação Magda RodriguesSergio MagengeAinda não há avaliações
- PNL (Programação Neurolinguística) No Ambiente de Gerenciamento de ProjetosDocumento14 páginasPNL (Programação Neurolinguística) No Ambiente de Gerenciamento de ProjetosLucas SelbachAinda não há avaliações
- Giovanelli e Souza - Rev Rio de JaneiroDocumento16 páginasGiovanelli e Souza - Rev Rio de JaneiroAlexandre GiovanelliAinda não há avaliações
- Mapa Da Comunicação BrasileiraDocumento66 páginasMapa Da Comunicação BrasileiraDouglas BarbalhoAinda não há avaliações
- PTD MatemáticaDocumento8 páginasPTD MatemáticaEllenAinda não há avaliações
- APOLSDocumento21 páginasAPOLSAntônio MouraAinda não há avaliações