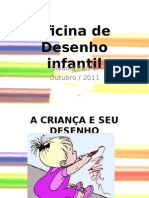Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Imagem
A Imagem
Enviado por
Nilson Oliveira JuniorDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Imagem
A Imagem
Enviado por
Nilson Oliveira JuniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
No primeiro captulo, "A parte do olho", AUMONT (1993) esclarece os processos fsicos, orgnicos e psicolgicos acionados na formao da imagem.
Partindo de uma explicao de carter terico e cientfico, o autor explica o surgimento da teoria da percepo visual, que teve incio na antiguidade e foi aprimorada na era moderna, por artistas, tericos e cientistas como Leonardo da Vinci. Segundo o terico, os desempenhos do olho incluem transformaes pticas, no qual o autor compara o ato de ver com o principio da cmara obscura, em que a luz refletida penetra por um orifcio e, por meio do princpio de captura, forma uma imagem na parede do fundo. Esse processo ocorre de forma semelhante no olho humano, onde a luz percebida na retina. Para o autor, a maneira como um olho v, comparvel maquina fotogrfica no que diz respeito parte tica do processamento da luz. Isso porque, alm das transformaes pticas, ocorrem tambm as qumicas e nervosas, e a os processos da viso humana so singulares. AUMONT esclarece que a luz uma informao codificada, que o sistema visual localiza e interpreta quanto a sua intensidade, seu comprimento de onda, sua distribuio no espao, de modo a produzir a viso. Esta pode ser de dois tipos: fotpica - percepo de um objeto iluminado pela luz diurna - ou escotpica ? viso noturna, de fraca intensidade. Atravs do comprimento de onda d-se a percepo da cor, que definida pela comparao do matiz, da saturao e da luminosidade. A questo do tempo est presente no processo de formao da imagem, ela se aplica no que concerne aos estmulos visuais que variam com a durao, aos movimentos constantes do olho humano e na percepo que no instantnea e passa por vrios estgios de percepo. Para o autor importante entender que na percepo visual de grande valia ter clara a percepo do espao, porque ela explica a relao do corpo e do deslocamento com a viso em si.Alm disso, noes como gradiente de textura, perspectiva linear, entre outros, so informaes de relevncia nas imagens concretas como fotografias, pinturas, etc, pois correspondem viso de um objeto no espao. Depois de passar do visvel ao visual, AUMONT passa a tratar o imaginrio.Assim, o autor expe a ateno visual como um elemento essencial do ato de olhar. Esta ateno pode ser central, focalizao nos aspectos mais importantes do campo visual; ou perifrica, considerao pelos fenmenos deslocados do eixo, os elementos perifricos. Outro ponto importante a busca visual, no qual o autor esclarece que o olhar sobre determinada imagem no feito de maneira global, de uma s vez, mas centrando-se em alguns pontos mais providos de informao, ao definida como fixao sucessiva. A respeito da percepo das imagens, o autor chama a ateno para a dupla realidade destas, pois numa imagem visual plana como uma pintura, uma fotografia, percebe-se um arranjo espacial semelhante ao que seria visto em uma cena real. um processo simultneo de percepo como um fragmento da superfcie plana e como um fragmento do espao real, fenmeno que AUMONT classifica como psicolgico e afirma que a dupla realidade e aprendizagem desenvolvem-se com a idade e a experincia. O princpio da maior probabilidade um ponto interessante no imaginrio das imagens, pois nele o autor esclarece que o crebro, diante de configuraes ambguas, escolhe a mais provvel. Esse procedimento ocorre tambm na viso real. Na concluso da primeira parte, o autor esclarece que no h imagem sem a percepo de uma imagem, ou seja, ela depende do espectador que a compreende, arbitrariamente ou no, inventa e d a ela um sentido cultural quase imediato. Mas o processo em si de percepo de uma
imagem universal e inerente espcie humana. O segundo captulo, "A parte do espectador", aborda uma componente bastante subjetivo do processo visual, o espectador. Parafraseando AUMONT (1993, p. 77) o sujeito no pode ser definido de forma simples, pois sua relao com a imagem definida pela sua capacidade de percepo, pelo conhecimento prvio, pelos valores e gostos e por sua vinculao num contexto. Ao analisar a imagem e seu espectador o terico questiona porque se olha uma imagem e sua resposta imediata que a imagem, por estar vinculada ao domnio do simblico, a mediao entre o espectador e a realidade.Na relao da imagem com o real, o autor adota como referencial as reflexes de RUDOLPH ARNHEIM (1969) que coloca na imagem um valor de representao, pois representa coisas concretas, um valor de smbolo, j que representa coisas abstratas e um valor de signo quando representa um contedo amplo, que no vem expresso por caracteres. Alm do mais, a imagem dotada de funo, que pode ser: simblica, epistmica ? quando a funo de conhecimento atribuda imagem, esttica, funo hoje indissocivel da arte e da imagem que visa obter um efeito esttico. Com base em GOMBRICH (1965), AUMONT norteia sua teoria. Para ele, relao entre espectador e imagem uma atividade recproca: ao mesmo tempo que o espectador a constri, ela tambm o constri. Assim ele entra na esfera do reconhecimento, atividade que no um processo de mo nica, porque a arte representativa, ao imitar a natureza proporciona um prazer no seu espectador, que influenciado na maneira de apreender a realidade. Este reconhecimento est ligado rememorao, esta se torna acessvel atravs dos esquemas ? processos mentais que o espectador realiza e relaciona com a informao que est recebendo ? que possibilita conhecer caractersticas mais gerais de perodos e relacion-los a imagens vistas pela primeira vez. Ainda seguindo GOMBRICH, AUMONT relata o papel do espectador: o observador constri seu conhecimento atravs da percepo visual e de seu conhecimento prvio preenchendo as lacunas da representao. Por isso, AUMONT (1993, p. 88) coloca que a parte do espectador projetiva, e que este tem um papel ativo. A iluso representativa abordada com relao imagem. Desse modo, o autor afirma que s existe iluso se duas condies so satisfeitas: a condio perceptiva, na qual o sistema visual deve ser incapaz de distinguir entre dois ou mais contedos de percepo; e a condio psicolgica, em que o sistema visual entrega-se a uma interpretao do que percebe. Assim, a iluso s se produz quando produz um efeito verossmil, ou seja, quando o espectador cr que a imagem vista pode acontecer de fato na realidade. Dialogando com a condio psicolgica, encontra-se a base sociocultural, em que o objetivo da iluso tornar a imagem mais crvel como reflexo da realidade. Quando teoriza a iluso na representao, AUMONT (1993, p. 103) esclarece trs conceitos importantes na teoria do espectador: representao, iluso e realismo, impresses que podem ser vividas pelo receptor da obra. Ento, coloca que a representao arbitrria, ou seja, no respeita leis ou regras e resultante do arbtrio de algum, mas essa uma tese que no pode ser sustentada totalmente. O terico afirma que na representao o espectador consegue ver uma realidade ausente. J a iluso o fenmeno psicolgico que, em determinadas condies psicolgicas e culturais, provocado pela representao. O realismo, por sua vez, um conjunto de regras sociais que gera a relao entre representao e o real de modo aceitvel.
Na tentativa de despertar a impresso de realidade, o cinema o gnero artstico que o espectador est mais investido de forma psicolgica na imagem, como afirma AUMONT (1993, p. 111). Isso pode contribuir para aumentar o efeito de realidade, mas para isso preciso que as imagens respeitem convenes de natureza plenamente histricas. Assim, entra novamente em questo a verossimilhana, que "induz a um julgamento de existncia (...) j que o espectador acredita no que o que v real, mas que o que v, existiu ou pode existir no real" OUDART apud AUMONT (1993, p. 111).Algo que merece destaque a idia de que o efeito de real pode ser utilizado como regulagem do comprometimento do espectador na imagem, ou seja, at que ponto ele pode acreditar na realidade de tal imagem. Pode-se entender este ato como o sentido crtico do espectador aflorando ao visualizar uma obra. Um outro ramo do saber incorporado teoria da imagem no tpico que desenvolve "O espectador como sujeito desejante". A partir de uma perspectiva psicanaltica, que trabalha com a dicotomia consciente e inconsciente, a arte imagtica passa a ser tratada como sintoma, mas no como reaes de um sujeito neurtico e sim como uma produo organizada segundo regras do inconsciente.Conforme AUMONT (1993, p. 177), a imagem contm o inconsciente, e como este "inacessvel investigao direta, s pode ser conhecido indiretamente atravs das produes sintomticas que o traem". Dentre os conceitos da psicanlise abordados no captulo, encontra-se tambm a questo do afeto, das emoes e da pulso. O afeto como uma manifestao de um sentimento relativo imagem vista: repulsa, amor, etc. As emoes, sugerindo um efeito catrtico do espectador, como o de um filme, por ter feito parte de um mundo ficcional, relacionando-se com personagens e enfrentando situaes diversas. J a pulso, ou necessidade de ver, encontrou no cinema seu melhor exemplo, pois este conjuga a imagem visual e a narrao e, conforme o autor (1993, p. 125), "articula mais manifestamente o desejo e as pulses". No tpico "O gozo da imagem", entra em discusso a teoria de ROLAND BARTHES (1980) em que est centrada a relao do espectador com a imagem fotogrfica. O fotgrafo, para BARTHES, tem uma inteno ao fotografar determinada imagem, mas o espectador da imagem far associaes subjetivas. Assim, o lugar do espectador no pode ser universalizado, pois cada leitura prpria de um sujeito. Na concluso do captulo, AUMONT esclarece o papel do espectador na teoria da imagem. A imagem, segundo ele, sempre modelada por estruturas profundas, mas tambm um meio de comunicao e de representao do mundo. Sendo assim, ela pode refletir o elemento cultural de determinado contexto.Ento, quando o autor afirma que "a imagem universal, mas sempre particularizada", porque o sujeito que olha a imagem levado em considerao. No terceiro captulo, "A parte do dispositivo", entra em considerao as condies em que a imagem foi criada e as determinaes sociais de tal imagem. O primeiro aspecto abordado no captulo o espao plstico e o espao do espectador. Por espao plstico, entende-se os elementos como a superfcieda imagem, a gama de valores ? luminosidade -, a gama de cores e a matria da prpria imagem, com os quais o espectador se defronta.
Muitas tcnicas evidenciadas por AUMONT (1993) esclarecem aspectos do dispositivo: os modos de viso, o tamanho da imagem, o close, a moldura ? que delimita o espao da imagem dentro da realidade. No caso da moldura o autor esclarece diversos aspectos que nem sempre so percebidos pelo espectador comum, como as funes desta que podem ser: visuais (separar a imagem do que est fora dela); econmicas (significar o valor do quadro); simblicas (como deve ser vista a imagem, que convenes ela segue e qual seu valor); representativa e narrativa (a metfora da janela aberta para o mundo); retrica (profere um discurso que convence o espectador de uma idia). Somando-se a isso, o autor descreve outros recursos como o centramento, o enquadramento, a pirmide visual, elementos que fazem parte do nvel tcnico do captulo. Dentro deste captulo, a questo do dispositivo interligado tcnica e ideologia algo bastante interessante. Nele o autor parte da tcnica de qualquer dispositivo para lig-la esfera do simblico. Assim, a fotografia adquire um efeito sociolgico, pois a arte fotogrfica ? arte mdia para BOURDIEU ? pode ser estudada como prtica social situada entre o divertimento e a arte. Alm de BOUDIEU, outros tericos trabalharam a relao entre a arte e a histria, como ARNOLD HAUSER, BAXANDALL, citados por AUMONT (1993, p. 186). Dentro desta perspectiva, o que os tericos constatavam era a repetio de certos motivos como, por exemplo, os textos bblicos, o gestual da corte na Idade Mdia, que leva a concluir que o dispositivo da arte influenciado por fatores sociolgicos. Como AUMONT coloca: "o dispositivo o que regula a relao do espectador com a obra" (1993, p. 188) e define-se por seus efeitos ideolgicos. Ao concluir o captulo, AUMONT coloca que o estudo do dispositivo um estudo histrico e depende de um contexto social determinado. Por isso, para o autor, o estudo do dispositivo pode aproximar diferentes tradies tericas e crticas atravs do cruzamento de informaes e do dilogo estabelecido entre os diferentes perodos. O quarto captulo aborda "A parte da imagem" e trata da relao que a imagem estabelece com o mundo real, ou seja, como ela o representa. Por isso, o autor inicia com a discusso de analogia, que a semelhana entre a imagem e a realidade. AUMONT afirma que no existe olhar inocente e que, ao copiar o real, o artista d um sentido para a sua cpia. Sendo assim, a realidade copiada est carregada de significados e simbolismos que o prprio artista coloca. Como AUMONT (1993, p. 203) afirma, "as imagens analgicas foram sempre construes que misturavam em propores variveis imitao da semelhana natural e produo de signos comunicveis socialmente", ento mesmo que varie o grau de analogia, ela sempre est contida na imagem. Autores como ROLAND BARTHES, HUMBERTO ECO, CHRISTIAN METZ trabalharam na tentativa de desligar a noo de imagem de analogia. Para METZ, a analogia veicula uma mensagem que nada tem de analgica, nem visual, como o exemplo da publicidade e da religio. J BARTHES, ao aprofundar a questo da fotografia, afirma que a imagem no representa uma realidade desinteressada, pois toda imagem veicula muitas conotaes provenientes de cdigos ideolgicos. O autor retoma a questo do realismo na imagem e de incio distingue realismo e analogia, pois "se a analogia diz respeito ao visual, s aparncias, realidade visvel, o realismo diz respeito informao veiculada pela imagem, compreenso, inteleco" AUMONT (1993, p. 207). Para o autor, os diferentes estilos de realismo so
determinados pela demanda social, ou seja, ideolgica. No ltimo captulo da obra, "A parte da arte", AUMONT distribui a imagem em trs modalidades: a imagem abstrata, a imagem expressiva e a imagem aurtica. Ao iniciar, desenvolve a imagem abstrata e esclarece que a arte abstrata dotada de uma definio negativa, pois ela a arte das figuras no-representativas, uma arte na qual o seu autor evidencia sua necessidade de expresso e que, muitas vezes, se deu na contramo da ideologia dominante, permitindo que os artistas a inventassem. Isso trouxe para a arte representativa uma mudana radical, pois a representao perdeu seu valor absoluto adquirido na Academia. Mas, com o surgimento da fotografia e do cinema, a representao da imagem real recuperou seu status de arte. A imagem expressiva, que abordada em seguida, tenta definir o que significa o termo expresso. O termo pode ter uma definio pragmtica que induz o espectador a certo estado emocional. Mas a emoo no gerada somente pela imagem, e sim resultado da combinao da obra de arte com a msica, por exemplo, utilizados conscientemente e de modo a suscitar comoo. Em uma definio mais realista, o termo expresso referese quilo que exprime realidade, que toca o espectador e este aceita transferir emoo para a realidade representada.H tambm a definio subjetiva, na qual a obra exprime informaes sobre o sujeito criador. E, por ltimo, a definio formal na qual os elementos expressivos remetem a componentes histricos, contextuais e tambm situao histrica do espectador. Concomitantemente com as definies, surgem tambm as crticas, pois a noo de expresso problemtica, j que varia de acordo com os valores estticos que vigoram na sociedade, tambm porque est sempre conexa com uma significao, assim, a expresso est dentro da obra e fora da obra, eterna e histrica, como coloca AUMONT (1993, p. 280). Dentre os meios de expresso, o autor desenvolve o material e a forma como a imagem veiculada, o estilo e o efeito produzido. Na abordagem da imagem aurtica, AUMONT comea com a definio de obra de arte. Por se tratar de um termo amplo, ele define de acordo com os padres de determinados perodos, como o Antigo, tendo a Grcia como base (padres de beleza, harmonia, equilbrio eram obedecidos); e tambm no perodo renascentista (virtuosismo tcnico, elo entre arte, conhecimento e filosofia) e, assim, deixa implcito que dependendo dos padres de cada perodo, as regras mudam e o conceito de arte tambm, evidenciando seu dinamismo. Dentro da concepo de arte, dois termos so importantes: o arbitrrio, sobre o qual o autor esclarece que a definio de arte de carter relativo. O autor afirma tambm que se existe uma concepo dominante ou institucional de arte que obra de arte o socialmente reconhecido, ou seja, que faz parte do cnone.O outro termo que o autor desenvolve a aura, que pode ser entendido como a atmosfera que a obra de arte pode mostrar para o seu espectador, que lhe d um valor especial. Para o autor, a arte responde a uma necessidade da sociedade, primeiramente foi religiosa, desejando aproximar-se do sagrado, transcendendo as limitaes humanas. No entanto, esta aura foi perdendo o seu valor e hoje a aura artstica associada instituio e importncia histrica das obras do passado.
A esttica est intimamente ligada arte, por isso o autor desenvolve algumas posies sobre este conceito, relata a questo do Belo, passando por filsofos como KANT, HEGEL e BENEDETTO CROCE.
Ao concluir a resenha deste livro interessante destacar a opinio do autor ao relatar o prazer que a arte proporciona, a imagem mais precisamente. Segundo ele, esta imagem vai suscitar sensaes diversas em seu espectador, mas esse prazer ou desprazer vai estar atrelado a questes ideolgicas e sociais e vai depender do que o espectador considera artstico. Para JACQUES AUMONT (1993, p. 313), o "prazer da imagem inseparvel de um suposto prazer do criador da imagem", sendo assim, autor e receptor dialogam a respeito do contedo da obra e uma obra realmente bela a que proporcionou prazer ao seu autor. Por fim, importante ressaltar a relevncia da obra A IMAGEM como material de estudo no que se refere comunicao visual, j que trata cientificamente e esteticamente muitos conceitos relacionados a esta cincia. Leia mais em: http://www.webartigos.com/artigos/resenha-sobre-aimagem/9687/#ixzz2HTxuEmVK
Você também pode gostar
- Avaliação I Bim GabaritoDocumento7 páginasAvaliação I Bim GabaritoMaria Elania Monteiro de ArrudaAinda não há avaliações
- As Necessidades Essenciais Das Crianças - Greenspan Cap 1 e 4 PDFDocumento18 páginasAs Necessidades Essenciais Das Crianças - Greenspan Cap 1 e 4 PDFPaula LinsAinda não há avaliações
- 26 Otimos Exercicios de Analise Sintatica para ConcursosDocumento6 páginas26 Otimos Exercicios de Analise Sintatica para Concursosleandromrbs100% (2)
- Watt Ian - O Realismo e A Forma Do RomanceDocumento6 páginasWatt Ian - O Realismo e A Forma Do RomanceCintia Follmann100% (2)
- Projeto de Sinalização - Parque Dos BilharesDocumento19 páginasProjeto de Sinalização - Parque Dos BilharesBrock Marques100% (1)
- Relatorio Resumo Atividade ComplementarDocumento2 páginasRelatorio Resumo Atividade ComplementarElizabeth Gomes100% (1)
- Aula 1 - A Interpretação Dos SonhosDocumento34 páginasAula 1 - A Interpretação Dos SonhosCanal Carpe DiemAinda não há avaliações
- Deficiência IntelectualDocumento8 páginasDeficiência IntelectualWagner WittAinda não há avaliações
- Atuação Do Pedagogo Na EmpresaDocumento8 páginasAtuação Do Pedagogo Na EmpresaRudson OlbAinda não há avaliações
- Mestrado Psicomotricidade TatianaDocumento150 páginasMestrado Psicomotricidade Tatianacid ribeiroAinda não há avaliações
- Comunicação Alternativa PalestraDocumento49 páginasComunicação Alternativa PalestraMariluce Caetano Barbosa90% (10)
- Do Curso-128232-Aula-01-V1 - TESTE ANPAD INGLES AULA 1Documento127 páginasDo Curso-128232-Aula-01-V1 - TESTE ANPAD INGLES AULA 1pedrohcamargodiasAinda não há avaliações
- Estrategias e Orientacoes em Linguagem Web PDFDocumento128 páginasEstrategias e Orientacoes em Linguagem Web PDFchelly.s100% (4)
- Análise Gramatical Versus Análise LinguísticaDocumento11 páginasAnálise Gramatical Versus Análise LinguísticaCarmelita MinelioAinda não há avaliações
- Dicas para Aparender InglêsDocumento87 páginasDicas para Aparender InglêsFilipe Araujo100% (1)
- Newsgames: Que Relação Pode Haver Entre Jogos e Notícias?Documento62 páginasNewsgames: Que Relação Pode Haver Entre Jogos e Notícias?Nicolly VimercateAinda não há avaliações
- Teorias e Sistematização Da Assistência de Enfermagem 2017Documento52 páginasTeorias e Sistematização Da Assistência de Enfermagem 2017priscilahandemAinda não há avaliações
- Resumo Estrutura PersonalidadeDocumento2 páginasResumo Estrutura PersonalidadeJose Luiz RibeiroAinda não há avaliações
- Ad 2 Teoria Da Historia 2Documento6 páginasAd 2 Teoria Da Historia 2LucilaineMariaJesusAinda não há avaliações
- Escola - Ativa - Alfabetizacao3 - Educador - GRUPO MATERIAIS PEDAGÓGICOSDocumento76 páginasEscola - Ativa - Alfabetizacao3 - Educador - GRUPO MATERIAIS PEDAGÓGICOSAilzaAinda não há avaliações
- Auto Avaliação - Alunos - FrancêsDocumento11 páginasAuto Avaliação - Alunos - FrancêscandidaAinda não há avaliações
- Prova Psicologia5Documento3 páginasProva Psicologia5Simone FirminoAinda não há avaliações
- Cap1 - Automatos de PilhaDocumento25 páginasCap1 - Automatos de PilhaDavi A. Q. SantosAinda não há avaliações
- PACIENCIOODocumento15 páginasPACIENCIOOhermenegildoAinda não há avaliações
- Aquí Les Presento Un Resumen de La Utilización de Los DiferentesDocumento12 páginasAquí Les Presento Un Resumen de La Utilización de Los DiferentescarranzabustinzaAinda não há avaliações
- 73.marialda de Almeida SantiagoDocumento17 páginas73.marialda de Almeida SantiagoNilmara AndradeAinda não há avaliações
- A Criança e Seu Desenho - Oficina UnebDocumento37 páginasA Criança e Seu Desenho - Oficina UnebDaniel SilvaAinda não há avaliações
- II Encontro Internacional Sobre Educação Artística 2012 - Ebook PDFDocumento140 páginasII Encontro Internacional Sobre Educação Artística 2012 - Ebook PDFluiz carvalho100% (1)
- Inteligência Cinestésica CorporalDocumento2 páginasInteligência Cinestésica CorporalThereza CristinaAinda não há avaliações
- ONG - Oralidade e Cultura EscritaDocumento3 páginasONG - Oralidade e Cultura Escritabrunouchoa88Ainda não há avaliações