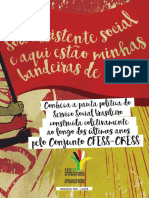Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gramática e Texto Publicitário
Enviado por
Hélen Cristina Pereira RochaDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gramática e Texto Publicitário
Enviado por
Hélen Cristina Pereira RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alexandra Guedes Pinto
Faculdade de Letras da Universidade do Porto; alexandrapinto@net.sapo.pt
Gramtica e texto publicitrio
Todo o ser humano que fala uma lngua sabe gramtica. Robert Rodman e Victoria Fromkin Introduo Linguagem Duas das grandes razes que levam os alunos, desde cedo, a distanciar-se da Gramtica so, por um lado, o discurso persistente por parte dos professores de que os alunos so ignorantes e incompetentes nesta matria e, por outro lado, o facto de a Gramtica com que contactam na sala de aula se encontrar desgarrada do exerccio quotidiano da linguagem e da lngua.1 Com efeito, um comentrio recorrente por parte dos professores de lngua materna o de que os alunos no sabem nada de gramtica, sendo este tipo de desabafo frequente entre colegas, mas tambm um lugar comum na prpria sala de aula, como uma espcie de reprimenda dirigida aos estudantes. Assim, confrontados com este tipo de discurso recursivo, as crianas desenvolvem, desde cedo, a concepo de que a Gramtica um saber difcil, inacessvel, um edifcio terico elitista, que em nada se relaciona com o seu quotidiano de falantes da lngua. A reforar esta concepo est, muitas vezes, uma abordagem gramatical que no favorece a ligao entre conhecimento lingustico e prtica discursiva. Para os alunos que contactam com a Gramtica como um conjunto de conceitos, definies e operaes formais sobre frases geradas artificialmente em laboratrio (e asspticas a todas as manipulaes, que eles como criadores do discurso, na prtica, exercem sobre elas), este edifcio terico e distanciado no parece, de facto, capaz de explicar a realidade discursiva. Alis, para aqueles que interiorizam esta noo de Gramtica, a ligao entre Gramtica e o exerccio quotidiano da linguagem pode nunca chegar a ser evidente. Demasiado opaco e complicado para reflectir o automatismo e a naturalidade com que falamos, este saber parece ser intil. Se a isto somarmos o discurso da
1 O texto aqui apresentado constitui uma parcela de um trabalho mais extenso, organizado sob a forma de Aco de Formao sobre Gramtica, para professores de lngua, em coordenao com o ncleo de estgio de Portugus no Agrupamento de Escolas da Cova do Lobo. Esta ligao da reflexo sobre a lngua ao ensino da Gramtica no despropositada num conjunto de reflexes compiladas em homenagem ao Professor Doutor Mrio Vilela, cujo percurso cientfico sempre se pautou pela tentativa de desenvolver investigao na rea da Lingustica em estreito contacto com os vrios pblicos que dela necessitam.
39
ALEXANDRA GUEDES PINTO
ignorncia gramatical generalizada, a que aludimos, obtemos os ingredientes suficientes para a criao de uma barreira entre alunos e Gramtica, que pode perdurar toda uma vida. A citao inserida em epgrafe a esta reflexo aponta para uma das mudanas de atitude que pode revelar-se determinante na eliminao desta indesejvel barreira. que o simples desenvolvimento da atitude mental certa para com este objecto de reflexo fundamental para motivar a aproximao entre aluno e Gramtica. Afinal, Gramtica lngua e lngua e ser humano so duas realidades indissociveis. Assim, ao contrrio do que comum fazer-se, os professores (de qualquer nvel de ensino) deveriam comear por empenhar-se em mostrar aos alunos que a Gramtica uma construo mental interiorizada que todos os falantes de uma lngua possuem e que lhes permite falar e perceber os outros; que a exposio prtica da lngua conduz todos os falantes a, desce cedo, adquirir lentamente os padres de funcionamento da sua lngua aos nveis fontico, fonolgico, morfolgico, sintctico, semntico, pragmtico; e que as regras gramaticais mais no so do que estes princpios de funcionamento ou regularidades que pautam o nosso comportamento lingustico. Decorrente disto, deveriam empenhar-se em mostrar que qualquer falante de uma lngua, no incio do seu processo de escolarizao, conhece j profundamente a Gramtica da sua lngua, simplesmente porque a evidncia inegvel sabe falar (ainda que com deficincias localizadas) e entender os outros. Perspectivar a Gramtica desta forma permite aos alunos perceberem que os modelos gramaticais que o professor tenta ensinar na aula mais no so do que tentativas de formalizar esse saber interiorizado extraordinariamente complexo que os falantes interiorizaram, mas do qual no tm perfeita conscincia. So construes tericas que, por mais complexas e completas que ambicionem ser, nunca podero reflectir toda a complexidade do saber gramatical mental do falante. Desta forma, os alunos percebem que estudar Gramtica estudarmo-nos a ns mesmos, fazer uma espcie de corte no nosso crebro e examinar o tipo de conhecimento que interiorizmos e que nos permite exercer o discurso. Desta forma, tambm, as regras passam a ser entendidas no como realidades distanciadas e impostas de fora para dentro, mas como realidades que existem dentro de ns, que usamos sem termos conscincia disso, de cada vez que construmos uma frase, por mais simples que seja. Esta perspectivao implica uma mudana na atitude e no discurso dos professores: uma mudana que passa pela valorizao do conhecimento interiorizado sobre a lngua, que o aluno j transporta quando chega escola. Esta perspectivao implica que o discurso da ignorncia gramatical generalizada seja repensado, j que a Gramtica mental do falante sempre inexcedivelmente mais complexa do que qualquer compndio gramatical e que, portanto, o comentrio-prottipo No sabes nada de Gramtica revela, at, uma certa ignorncia sobre a verdadeira natureza da Gramtica. Provavelmente, os alunos sabero pouco de Gramtica formal2, e tero pouca apetncia por ela, mas conhecem, quase na sua inteireza, a gramtica implcita, isto , os
2 Gramtica formal, neste contexto, no uma referncia a uma corrente gramatical, mas, simplesmente, a referncia a uma Gramtica explcita, por contraponto com uma Gramtica intuitiva e pr-reflexiva.
40
GRAMTICA E TEXTO PUBLICITRIO
padres de funcionamento da sua lngua.3 Assim, em vez de No sabes nada de Gramtica pode dizer-se antes J sabes tudo aquilo de que te vou falar, mas de maneira diferente.4 Investir um pouco de tempo com os alunos a desenvolver a atitude mental certa para a descoberta desse saber mental interiorizado no perda de tempo, porque ajuda a vencer resistncias e preconceitos que o percurso escolar vai sedimentando, abrindo caminho a que os alunos olhem a Gramtica com outros olhos. Para isto basta p-los a falar e for-los, consequentemente, a reflectir sobre a sua prpria produo discursiva: os nveis de processamento envolvidos, desde a articulao de sons, seleco lexical, a combinatria das palavras e as compatibilidades do sentido, as escolhas enunciativas e pragmticas. Todo esse processo explcito esconde uma estrutura cognitiva profundamente pesada, que qualquer falante-standard domina e que no pode ser desmerecida nem desaproveitada.5 Alis, decorrente desta perspectiva, uma outra deve ser fomentada: a de que, sendo as lnguas, basicamente formas de significar, conjuntos de sentidos que tentam reflectir a experincia, o mundo, o complexo feixe de relaes que se estabelece na vida, a complexidade das lnguas mais no do que um reflexo da complexidade da vida. As necessidades de exprimir sentidos cristalizaram-se nas lnguas fazendo delas objectos to vastos e variados. Para servir e satisfazer todas as necessidades significativas dos falantes, as lnguas tornaram-se estruturas complexas, mas esta complexidade no deve ser vista como um obstculo, antes como uma marca da riqueza de sentidos que podemos exprimir; no um obstculo, mas uma poderosa ferramenta e mais-valia6. Uma outra forma de tornar explcita a ligao entre Gramtica, conhecimento lingustico e prtica discursiva quotidiana7 trazer para a sala de aula discursos reais. A escola deve integrar a realidade que a circunda e integrar os discursos reais uma forma de o fazer. Isto contribui para que os alunos no sintam que os conhecimentos abordados nas aulas nada tm a ver com a sua realidade, no sendo capazes de a explicar.
3 Tal como diz Amorey Gethin, no seu curioso livro Antilinguistics (1990: 10): So I believe it is roughly in the simple and nave way I have described that children, for example, experience language. They do not, of course, articulate that experience, and they do not need to. Neither they nor we need a theory of language, yet another grand system of carefully defined and related concepts. It is only later, when the corruption of education sets in, that they become confused by the abstruse, complicated and tortuous views of their elders. 4 Temos conscincia de que, na maior parte das vezes em que os professores usam aquele comentrio, esto a entender a Gramtica como mais usual fazer-se: Gramtica como o saber construir frases correctas; ao passo que a concepo de Gramtica que aqui propomos uma concepo integrada, que inclui no s o saber sintctico, como tambm todos os outros saberes envolvidos na capacidade discursiva: fontico/fonolgico, morfolgico, lexical, semntico, pragmtico. 5 Como claro, assumir esta atitude de valorizao e verbaliz-la junto dos alunos no implica desistir de ensinar Gramtica explcita, apenas implica lembrar insistentemente aos alunos que as regras e os conceitos que tentamos transmitir na aula so tentativas de formalizar conhecimentos intuitivos que eles j dominam, mas dos quais no tm conscincia. 6 De qualquer forma, esta complexidade s passa a ser sensvel e incomodativa para os falantes quando estes so obrigados a consciencializar a gramtica que interiorizaram e a decorar noes e frmulas que pretendem explicitar os seus padres de comportamento lingustico. 7 Esta ligao advogada h dcadas pelas correntes de Lingustica Aplicada. Confrontar F.I. Fonseca e J. Fonseca, 1977.
41
ALEXANDRA GUEDES PINTO
De entre estes discursos reais, vamos defender, nesta breve reflexo, por que que o discurso publicitrio pode ser um bom veculo para fazer a ponte entre a escola e a realidade e, particularmente, para ajudar a explicitar a relao entre Gramtica, conhecimento lingustico e prtica discursiva. Uma das razes desta vocao a de o texto publicitrio ser um texto meditico, ao qual todos os falantes esto, pois, fortemente expostos. Uma outra das razes a de o texto publicitrio ser um texto persuasivo, por vezes assumindo abertamente essa funo, por vezes, camuflando-a, mas sendo sempre um texto que, semelhana do discurso poltico, merece uma descodificao mais avisada. Uma terceira razo a de o texto publicitrio ser um texto socialmente bem conotado, um discurso da moda, sempre sintonizado com as principais tendncias scio-culturais, recolhe muita receptividade, particularmente junto dos jovens. Uma quarta razo a de que o texto publicitrio um texto ldico, muitas vezes humorstico, d prazer, cativa, conquista-nos pela afectividade, porque nos inevitvel gostarmos do que nos d prazer e nos faz rir. Uma quinta razo, e de grande peso, porque ajuda, mais do que todas as outras, a desmistificar uma concepo elitista de Gramtica, reside no facto de o texto publicitrio no ser um texto dirigido a uma elite, especialmente capaz de descodificar jogos de linguagem complexos, mas sim ser um texto construdo para ser descodificado pelo maior nmero de pessoas possvel. O facto de o texto publicitrio depositar parte do seu investimento persuasivo em jogos de linguagem que, tipicamente, so descodificados pelo receptor comum a prova de que os falantes comuns possuem competncia lingustica suficiente para identificar determinados mecanismos lingusticos. Sabendo que o texto publicitrio seria um bom veculo para a explorao didctica de todos os nveis do conhecimento lingustico, j que, semelhana do texto potico, trabalha cuidadosamente todas as componentes textuais, nesta reflexo, limitar-nos-emos a mostrar algumas possibilidades de, partindo de ttulos publicitrios, falar das componentes morfolgica e semntica da Gramtica. Salientamos, ainda, que, de forma a isolar os fenmenos que em cada conjunto de slogans pretendemos analisar, no procederemos a um tratamento completo de todos os aspectos lingusticos que em cada um deles interagem.
1. Jogos morfolgicos:
Muitos ttulos publicitrios brincam com a morfologia das palavras: constroem e desconstroem palavras, usando os processos de formao como meio de chamada de ateno. As tcnicas usadas pelos criativos publicitrios so as mesmas que a lngua adopta, pela mo dos seus usurios, na criao de palavras novas a partir de bases j existentes, pelos processos da derivao e composio, ou na criao de formas diferentes da mesma palavra por processos flexionais. Em ttulos como: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aluno sem Internet no tem futurix. (Clix) Fazer clix custa nix. Polpe-se a esforos. (Sumol Nctar) Hummburguer. (Goodys) Frangamente bom. (Kentucky Fried Chicken) Ponto de encontro de Espizzalistas. (Pizza Hut)
42
GRAMTICA E TEXTO PUBLICITRIO
(7) DesCONTROLa-te. (Preservativos Control) (8) Jumbe-se a ns. (Hipermercados Jumbo) (9) Sidadania. (CNL contra a SIDA) est presente o mesmo processo de aglutinao de palavras que recebe o nome de amlgama ou entrecruzamento que encontramos em situaes como diciopdia (dicionrio + enciclopdia), espanhols (portugus + espanhol) ou nim (no + sim). Por sua vez, este processo de aglutinao difere da aglutinao propriamente dita, devido ao facto de esta ser um processo diacrnico, ao passo que a amlgama um processo sincrnico, executado intencionalmente num momento localizado no tempo para exprimir um dado efeito de sentido. isto precisamente que acontece no texto publicitrio, como refere Dyer (1995:149). You might also have noticed unfamiliar adverbs and adjectives in advertising copy. These have usually been coined for the occasion (). For instance, advertisements often contain words like: tomatoful, teenfresh, temptational,flavoursome, cookability, peelability, out-door biteables, the orangemostest drink in the world, ricicles are twicicles as nicicles, scweppervescence, lux-soft() Trata-se de fazer funcionar, ao servio da publicidade, e da chamada de ateno dos receptores, os mesmos mecanismos que se responsabilizam pela procriao da lngua, mecanismos que os prprios falantes usam e de que conservam conscincia metalingustica suficiente para serem capazes de descodificar slogans como estes. No discurso publicitrio, encontramos, ainda, muitos exemplos da chamada derivao imprpria ou converso, que os falantes tanto usam quando fazem funcionar as palavras numa determinada categoria sintctica que no a sua de origem (O comunicar; Os prs e os contras). Em publicidade so normalmente os nomes das marcas nomes prprios que se convertem numa outra categoria gramatical, que pode ser a de verbo, a de pronome, a de nome comum, entre outras: (10) (11) (12) (13) (14) (15) Passa das palavras ao Atos. (Hyundai Atos) Quru mais (Queijo Quru) O meu primeiro Ol. Galp de mestre. Dim o que vestes. Inesperado e Alfa Romeo.
Mesmo o processo da sufixao se encontra representado em slogans como: (16) Diorssimo. (Christian Dior) (17) Alfistas. (Alfa Romeo) A competncia morfolgica do falante comum inclui, pois, o reconhecimento das variaes formais que uma mesma palavra pode sofrer, sendo que este reconhecimento implica, por sua vez, o reconhecimento de que a palavra uma unidade muitas vezes internamente divisvel e de que as unidades menores em que a palavra pode fragmentar-se transportam uma dada identidade formal e de sentido/funcional identificvel. Muitos dos ttulos publicitrios jogam com estas variaes formais que as palavras permitem, cruzando processos de flexo com processos de derivao para construir jogos de palavras chamativos. No a um receptor especialista em processos morfolgicos
43
ALEXANDRA GUEDES PINTO
que estes slogans se dirigem, o falante comum reconhece intuitivamente os jogos gramaticais praticados, embora possa no saber dar-lhes nomes tcnicos: (18) Crescemos fazendo outros crescer. (Caixa de Madrid) (19) Em dias de prova e nas provas dirias. (Pneus Goodyear) (20) No se esquea. Consulte os cadernos eleitorais para no ficar esquecido. (Comisso Nacional de Eleies) (21) Em tudo o que voc faz est a energia que ns fazemos. (EDP) (22) Telecel. Onde voc estiver. Est l. (23) A forma mais natural de voltar a ter formas. (Citropal) (24) Fazer bem feito faz bem. (Programa Infante) (25) Faz contas tua conta e conta connosco. (Conta BES Universitrio) (26) Contacto. Intacto. (Baton Helena Rubinstein) (27) Espere o inesperado. Aores, a natureza intacta.
2. Jogos semnticos
Os slogans oferecem um potencial excelente para explorar as propriedades semnticas e as relaes semnticas entre as palavras. Permitem, por exemplo, compreender o tipo de compatibilidades e incompatibilidades semnticas (e pragmticas) que os falantes interiorizam j que brincam muitas vezes com estas propriedades, produzindo frases anmalas, que chamam a ateno do receptor. Assentam frequentemente a sua construo num jogo de antnimos; exploram a polissemia das palavras, gerando frases ambguas, entre outros jogos de natureza semntica que utilizam.
2.1. Jogos de antnimos
Conhecer uma lngua implica, entre muitas outras coisas, possuir um lxico mental composto por dezenas, centenas ou milhares de palavras (consoante a idade e outros factores scio-culturais do indivduo) e ser capaz de estabelecer relaes de vria ordem entre essas palavras. Um dos parmetros pelo qual as palavras se encontram armazenadas na nossa competncia lexical o parmetro das relaes de sentido: estabelecemos redes de relaes de palavras sinnimas, redes de relaes de palavras antnimas, de palavras hipernimas e hipnimas, entre outras redes de organizao do lxico mental. Estas redes so redes conceptuais estruturantes e perpassam de forma relativamente estvel de falante para falante. Quando um slogan publicitrio aposta, assim, a sua investida num jogo de contrrios est suportado por um potencial conceptual garantido, partilhado por qualquer falante da lngua: (28) (29) (30) (31) (32) (33) Mltipla Fiat. Singular. Plural. Igual a si. Diferente dos outros. (Hyundai Atos) Introvertido. E extrovertido. (Smart) Fnac. De longe, mais perto de si. A Baixa em alta. (Via Catarina Shopping) Fique por dentroPara ficar de fora. (CNL contra a SIDA)
44
GRAMTICA E TEXTO PUBLICITRIO
2.2. Jogos de ambiguidade lexical
Os textos publicitrios constituem um manancial muito frtil para estudar as propriedades semnticas das palavras, em particular para compreender como o significado (o campo semntico) de uma palavra tipicamente extensvel e como a extenso desse campo semntico gera o fenmeno da polissemia e da ambiguidade. Esta forma de extenso do significado das palavras simultaneamente uma prova da economia e produtividade das lnguas, j que, mantendo o mesmo significante, as palavras renovam o seu significado. Por outro lado, a forma como o fenmeno da polissemia explorado no texto publicitrio torna claro como a extenso semntica um processo sociolinguisticamente marcado, fortemente explorado pelas linguagens parasitas e por registos de lngua informais em parasitagem da lngua-padro, sendo, por esse processo de criao de neologias semnticas que a grande quota parte de individualidade de variedades scioculturais como as grias, o calo e as linguagens tcnico-cientficas se constri.8
2.2.1. Polissemia e ambiguidade
Tal como diz Grunig (1991: 14), () le bombardement par des mots sens multiples, ambigus, constitue lun des actes majeurs du slogan publicitaire () justamente porque, ao faz-lo, os slogans apelam conscincia metalingustica que todo o falante de uma lngua possui da polissemia e, logo, potencial ambiguidade, das palavras. Vrios processos so usados para fazer emergir simultaneamente na percepo do receptor dois sentidos concorrentes relativamente ao mesmo significante. Um deles pode acontecer graas ao trabalho conjugado entre o texto e a imagem, sendo que, dada uma palavra com vrios sentidos potencialmente disponveis, o contexto verbal favorece a activao de um sentido, enquanto o contexto icnico favorece a emergncia do outro: (34) (35) (36) (37) (38) Fidelidade. Uma companhia para toda a vida. As grandes paixes exigem alta fidelidade. (Grundig) Depois de si, este o melhor leitor desta revista (Leitor de CDs Sony) Nova Sony MHC. Todos se vo curvar diante dela. (MiniHi-Fi Sony) O melhor resultado lquido. (Cerveja Superbock)
2.2.2. Polissemia, ambiguidade e repetio lexical
O trabalho sobre a ambiguidade das palavras pode ser ainda mais explcito nos casos em que um mesmo significante repetido no mesmo slogan, sendo que, em cada uma das ocorrncias activado um significado ligeiramente diferente. Slogans que se dirigem ao falante comum obrigam o mesmo a decompor o significado de uma palavra em traos de sentido de forma a perceber as nuances significativas que a palavra ganha na suas diversas aparies:
8 Veja-se, por exemplo, a gria estudantil com palavras como furo, tiro, chumbo, que gera a sua especificidade a nvel lexical (as outras componentes da Gramtica no so normalmente afectadas) e sobretudo por um processo de parasitagem do lxico da lngua comum, sobre o qual opera recuperando alguns significantes e injectando-lhes novos significados, que mantm, normalmente, alguns traos semnticos em comum com o significado nuclear da palavra original. Por isso, este processo se mantm dentro das fronteiras da polissemia. Confrontar abaixo ponto 2.2.4.
45
ALEXANDRA GUEDES PINTO
(39) H mais do que uma vida na vida de uma mulher. (Perfume Quartz da Molineux) (40) Une touche de Naf-Naf e a vida ganha vida. (41) Tudo o que se passa passa na TSF. (42) Uma srie fora de srie. (Caterpillars CAT) (43) Um novo servio ao seu servio. A ttulo de exemplo, no slogan (39), os semantismos de vida1 e vida2 no podem recobrir-se inteiramente, sob pena de a proposio perder o sentido. Vida1 activa os semas mais perifricos [espao de actividade e de envolvimento] [personalidade] e vida2 o sema mais nuclear [existncia]. J no caso do slogan (42), a dissociao entre as duas ocorrncias de srie facilitada pelo facto de a segunda ocorrncia acontecer no interior de uma lexia complexa, fenmeno que retira parte da autonomia significativa a srie 2.
2.2.3. Polissemia categorial e ambiguidade
Ainda dentro dos fenmenos da ambiguidade lexical por explorao da polissemia, encontramos uma sub-espcie da polissemia, a que chamaremos provisoriamente polissemia categorial, detectvel quando a mesma palavra activa traos semnticos diferentes em virtude da sua inscrio em categorias gramaticais diferentes: umas vezes ocorre como verbo, outras como nome, umas vezes como nome prprio, outras como nome comum, como os exemplos abaixo demonstram: (44) Foi neste banco que tudo comeou. Gostaramos que fosse no nosso Banco que tudo pudesse continuar (BCP) (45) A sua pequena ajuda ajuda muita gente. (APL) (46) O que Nacional bom. (47) Mais seguros com mais seguros complementares. (Seguros Eaglestars) (48) O meu primeiro Ol. (49) Um Natal cheio de Mimos. (telemveis MIMO TMN) De notar que esta polissemia categorial tanto trabalhvel com base na repetio lexical, com acontece nos slogans (45) e (47), como sem essa repetio, como acontece nos slogans (48) ou (49).
2.2.4. Polissemia, ambiguidade e registos de lngua
Tal como referimos acima, o fenmeno da extenso semntica um fenmeno sociolinguisticamente marcado uma vez que particularmente produtivo na produo de vocabulrio nas variedades parasitas. Os slogans listados abaixo demonstram isso mesmo, fazendo parte de um conjunto bastante vasto de exemplos. Normalmente, o efeito alcanado pela explorao desta subespcie de polissemia, cuja particularidade a de um dos sentidos concorrentes da palavra ser sociolinguisticamente marcado como pertencente a uma variedade que no a variedade padro, de carcter humorstico: (50) Passe para c o seu dinheiro. (BANIF) (51) Se s jovem e no conheces a Europa, tudo bem. Ns damos um desconto. (De 25%) (Lufthansa)
46
GRAMTICA E TEXTO PUBLICITRIO
(52) Motive os seus colaboradores. Mande-os passear. (TAP) (53) Passe o fim-de-semana com duas de 24. (Filmes Kodak) (54) V para a cama com Adamo (Rdio Nostalgia) (55) Nada como passar um bom fim-de-semana a olhar para as paredes. (Turismo em Portugal Museus de Portugal) Note-se, por exemplo, como em todos os slogans listados, um registo familiar/ ntimo (Joos, 1968: 188) permite uma interpretao que cancelada num registo neutro ou no-marcado.
2.2.5. Polissemia, ambiguidade e isotopia
Qualquer falante do Portugus se orienta na descodificao textual por determinados princpios de coerncia baseados em pressupostos e expectativas geradas pelo prprio texto. Se uma sequncia textual impe como sema condutor o sema [habitao de luxo], as expresses grande rea descoberta e segurana 24 horas por dia confirmam as expectativas do leitor configurando aquilo que se pode chamar de uma isotopia, dada a repetio em todas as palavras/expresses de um mesmo elemento semntico, que confere coeso sequncia. Isto mesmo parece acontecer na sequncia textual que se segue: (56) Casa no campo, condomnio fechado, grande rea descoberta, segurana 24 horas por dia. Se, todavia, inserirmos esta sequncia no seu contexto real que de um anncio da Amnistia Internacional contra campos de refugiados no Ruanda, cuja imagem mostra justamente um destes campos, com condies miserveis, uma nova isotopia imediatamente activada. Este processo, onde a explorao da ambiguidade atravs da polissemia lexical recai em mais do que uma palavra, estendendo-se a toda uma sequncia textual, gera o efeito de activar no uma mas duas isotopias textuais, tornando-se um efeito muito interessante. O mesmo processo est presente nestes dois slogans: (57) Para a sua barriguinha no crescer, tome a plula todos os dias. (Hermesetas) (58) Esta revista d-lhe a melhor cobertura em assuntos ntimos. (Pensos Modess Ultrafinos amostra gratuita). No caso do slogan (57) de uma isotopia ligada a [gravidez] e [contraceptivos], passamos, com o conhecimento do produto, para uma isotopia relacionada com [gordura] e [comprimidos de emagrecimento]. No slogan (58), em que a pgina de revista traz uma amostra gratuita do produto, uma isotopia ligada a [notciar] e [matria jornalstica] contrape-se a uma outra, relacionada com [penso higinico] e [perodo menstrual].
2.2.6. Polissemia, ambiguidade e lexias complexas
Uma outra forma de explorar a polissemia das palavras jogar com o seu duplo sentido enquanto unidades autnomas e unidades pertencentes a uma lexia complexa. As palavras integradas numa lexia complexa perdem a autonomia significativa, passando a significar como um todo no conjunto da lexia. Assim, os slogans listados abaixo tiram
47
ALEXANDRA GUEDES PINTO
partido do funcionamento das lexias complexas justamente forando um efeito de desfixao da frmula e de literalizao da mesma: (59) Os portugueses esto sempre a passar por cima do nosso trabalho. (auto-estradas Brisa) (60) No h como o apoio de um grande amigo do peito. (Soutiens Triumph) (61) Veja como este grfico no fala s por si. Fala por muita gente. (TSF) (62) No precisa de andar na brasa para se pr ao fresco. (Ford Escord GT com ar condicionado) (63) Acima de tudo. (Range Rover) (64) Montes de luxo. (Range Rover) (65) O Correio da Manh vai pr tudo em pratos limpos. (Oferta de um servio de loua) (66) Best-seller. (Pginas Amarelas) (67) A caixa que mudou o mundo. (Pizza Hut Delivery)
2.2.7. Homonmia, paronmia, homofonia e ambiguidade
Como vimos, os slogans publicitrios constituem um bom material para a explorao da competncia semntica dos falantes. Eles trabalham profusamente com jogos desta natureza porque sabem que os falantes comuns activam estes mecanismos no seu exerccio discursivo quotidiano. Algumas outras possibilidades de jogar com a ambiguidade de sentido resultam dos fenmenos da homonmia, da paronmia e da homofonia como retratam os slogans listados abaixo: (68) Leve. (Sony Car Systems) (69) Saia, Curta. (Sony. Auto-rdio) No slogan (68), a ocorrncia de leve corresponde a duas palavras distintas: leve1, adjectivo do campo lexical relativo a peso e leve2, forma flexionada no presente do conjuntivo do verbo levar. O mesmo se passa no slogan (69), em que saia e curta so ocorrncias que podem corresponder a nome (saia1) e adjectivo (curta1) ou a formas verbais dos verbos sair e curtir (saia2), (curta2). J nos casos seguintes, um fenmeno de paronmia que potencia a ambiguidade: (70) Na 2, as sries so levadas a srio. (71) Sobre cor sabemos de cor e salteado. (Jumbo Coleco Primavera-Vero) Ou ainda um fenmeno de homofonia, como os exemplos seguintes atestam: (72) (73) (74) (75) Bom bom Baci na boca. (Bombons Baci) Puro. Deleite. (Jubileu) Em flagrante. De leite. (Mars) Qualidade DeVida. (Empreendimento imobilirio Torres Reais)
Esta breve anlise de um corpus de slogans publicitrios demonstrou-nos como possvel reflectir sobre Gramtica a partir de discursos to correntes como este. Neste trabalho, focalizmos aspectos da componente semntica e morfolgica da Gramtica,
48
GRAMTICA E TEXTO PUBLICITRIO
o que no significa que os outros nveis do conhecimento lingustico no sejam explorados e explorveis por este discurso. Note-se a salincia da componente sintctica em todos os jogos que envolvem paralelismo estrutural recursividade ((76) Para os homens que amam as mulheres que amam os homens. Azzaro); anfora ((77) Todo um mundo que se vende. Toda uma cidade que se d. Comrcio Tradicional); permuta ((78) Eu gosto do meu carro, o meu carro gosta de mim. Opel Corsa); ou ainda a salincia da componente semntico-pragmtica na explorao das anomalias ((79) Green Pen. A esferogrfica azul mais verde do mundo; (80) Fale de fora para dentro. Marconi; (81) Alguns dos nossos melhores produtos so pisados antes de serem expostos. Feira de Vinhos do Jumbo; (82) Baixem o IVA. Queremos ouvir msica. Fnac). A focalizao nas componentes semntica e morfolgica num trabalho que se assume como uma reflexo sobre a Gramtica permite, ainda, salientar a concepo integrada de Gramtica que propomos: Gramtica , antes de mais, o conhecimento lingustico que o falante interiorizou sobre a sua lngua e que lhe permite falar e compreender os outros, incorporando, assim, todas as componentes dessa vasta estrutura cognitiva: fontica, fonologia, lxico, morfologia, sintaxe, semntica, pragmtica; Gramtica so, depois, as construes tericas que se fazem sobre esse conhecimento lingustico, procurando descrev-lo. Uma Gramtica, neste segundo sentido, ser, assim, um modelo descritivo que integra todas estas componentes do saber dos falantes e no apenas o sintctico, como comum pensar-se. Assim, saber gramtica numa concepo pr-reflexiva um apangio de qualquer falante de uma lngua, que se apoia no seu conhecimento lingustico subjacente para construir o discurso. A valorizao deste saber gramatical implcito que todo o falante transporta importante para promover uma relao de proximidade entre o aluno e a Gramtica enquanto construo reflexiva e metalingustica. Com mais ou menos deficincias localizadas na sua competncia gramatical9, o aluno, aquando do seu ingresso na escola, possui j quase toda a gramtica da sua lngua interiorizada, sendo esta gramtica usada quotidianamente nas mais simples operaes de enunciao que executa. A destreza com que os falantes interagem com os jogos de linguagem praticados pelo discurso publicitrio um claro sintoma desta competncia gramatical subjacente. Estes jogos so concebidos para um pblico indiferenciado, apostando na capacidade do mesmo de descodificar mecanismos morfolgicos, semnticos, sintcticos, pragmticos. O corpus reunido neste trabalho10 pretendeu demonstrar isto mesmo, salientando, ao mesmo tempo, que usar os discursos reais para abordar aspectos da Gramtica uma forma de integrar a escola no contexto envolvente, mostrando aos alunos que ali se desenvolvem saberes em tudo relacionados com a sua vida do dia-a-dia.
9 Estas deficincias so sensveis sobretudo ao nvel da construo textual escrita e explicam-se, pelo menos parcialmente, na medida em que, ao contrrio do que acontece com a competncia oral, em que a exposio acontece de forma natural e a interiorizao dos padres de funcionamento se faz de forma inevitvel e gradual; no caso do texto escrito, todos sabemos que os alunos esto cada vez menos expostos ao mesmo, no podendo, assim, interiorizar os seus padres de funcionamento. De pouco vale a exposio artificial que se recria cinco vezes por semana, durante uma hora, na aula de Portugus, sem o apoio da retaguarda que uma vida normal deveria proporcionar. 10 A reflexo aqui apresentada apoia-se num trabalho anterior, onde as principais recursividades retrico-pragmticas do discurso publicitrio so passadas em revista. Cf. Pinto, 1997.
49
ALEXANDRA GUEDES PINTO
BIBLIOGRAFIA
DYER, Gillian (1995), Advertising as communication, London, Routledge. FONSECA, F. I. e FONSECA, J. (1977), Pragmtica Lingustica e ensino do Portugus, Coimbra, Almedina. FROMKIN, Victoria e RODMAN, Robert (1993), Introduo Linguagem, Coimbra, Almedina. GETHIN, Amorey (1990), Antilinguistics: a critical assessment of modern linguistic theory and practice, London, Intellect Ltd. GRUNIG, Blanche-Nolle (1990), Les Mots de la Publicit: larchitecture du slogan, Paris, Presses du CNRS. JOOS, Martin (1968), The isolation of styles in Fishman, Joshua (ed), Readings in the Sociology of language, The Hague, Mouton, pp. 185-191. PINTO, Alexandra Guedes (1997), Publicidade: um discurso de seduo, Porto, Porto Editora, Coleco Lingustica.
50
Você também pode gostar
- KOTHE Flavio O Heroi PDFDocumento48 páginasKOTHE Flavio O Heroi PDFHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- BARROS Diana Luz Pessoa de Teoria Semiótica Do TextoDocumento21 páginasBARROS Diana Luz Pessoa de Teoria Semiótica Do TextoHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- Amor de PerdiçãoDocumento124 páginasAmor de PerdiçãoHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- SANTAELA - Semiótica - BASES TEORICAS PARA APLICAÇÃO PDFDocumento17 páginasSANTAELA - Semiótica - BASES TEORICAS PARA APLICAÇÃO PDFHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- Análise Semantica de Operadores Argumentativ Os em Textos Publicitários - Lucimar de AlmeidaDocumento176 páginasAnálise Semantica de Operadores Argumentativ Os em Textos Publicitários - Lucimar de AlmeidaHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- CAP 5 Os Limites Do Politicamente Correto PDFDocumento15 páginasCAP 5 Os Limites Do Politicamente Correto PDFHélen Cristina Pereira RochaAinda não há avaliações
- Introducao Teoria LiteraturaDocumento58 páginasIntroducao Teoria LiteraturaHélen Cristina Pereira Rocha0% (2)
- Cinco Ritos TibetanosDocumento5 páginasCinco Ritos Tibetanoscarros-120Ainda não há avaliações
- Tabela EL30 Techaccus1Documento3 páginasTabela EL30 Techaccus1Lisiane da silvaAinda não há avaliações
- Inside Fintech Brasil SetembroDocumento56 páginasInside Fintech Brasil SetembroMarcelo Araujo100% (1)
- Sede PerfeitosDocumento31 páginasSede PerfeitosRoberta Montellato100% (1)
- UA 04 - Introdução Às Capacidades (Skills)Documento11 páginasUA 04 - Introdução Às Capacidades (Skills)Susana CastroAinda não há avaliações
- Vocabulário Bilíngue - Terena Português PDFDocumento110 páginasVocabulário Bilíngue - Terena Português PDFJulieth13AquinoAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade IIDocumento64 páginasSlides de Aula - Unidade IIIgor PostigoAinda não há avaliações
- Conheça Os Principais Tipos de Hidratação e Reconstrução Dos CabelosDocumento3 páginasConheça Os Principais Tipos de Hidratação e Reconstrução Dos CabelosCassia MacielAinda não há avaliações
- Terra e MemóriasDocumento248 páginasTerra e MemóriasRicardo CallegariAinda não há avaliações
- Educação Infantil - BNCC de BolsoDocumento24 páginasEducação Infantil - BNCC de BolsoTalita BatistaAinda não há avaliações
- 4a Aula Síncrona Leis de NewtonDocumento64 páginas4a Aula Síncrona Leis de NewtonJorge twttAinda não há avaliações
- Educar É LibertarDocumento228 páginasEducar É LibertarDaniel KelcheskiAinda não há avaliações
- Anatomia Aplicada A AnestesioDocumento2 páginasAnatomia Aplicada A AnestesioBRUNA LARYSSA JUSTINIANO DE ALMEIDAAinda não há avaliações
- Campo Harmonico e Transposição - EmanuelDocumento7 páginasCampo Harmonico e Transposição - EmanuelDarci Pinheiro MdfAinda não há avaliações
- Língua PortuguesaDocumento4 páginasLíngua PortuguesaJuliana NevesAinda não há avaliações
- Investigação Digital - Top 7 Ferramentas para OSINTDocumento4 páginasInvestigação Digital - Top 7 Ferramentas para OSINTAuster PhisherAinda não há avaliações
- Waking LifeDocumento3 páginasWaking Lifechato88dimarte100% (1)
- Fonte Chaveaada Projeto PDFDocumento33 páginasFonte Chaveaada Projeto PDFSOSIGENES TAVARESAinda não há avaliações
- 【ASSISTIR HD】▷ Boku no Hero Academia: World Heroes' Mission 【2021】 Dublado Filme Online Grátis em PortuguêseDocumento7 páginas【ASSISTIR HD】▷ Boku no Hero Academia: World Heroes' Mission 【2021】 Dublado Filme Online Grátis em Portuguêsetakbisa0% (1)
- Rio Grande (Do Norte) : História e HistoriografiaaDocumento33 páginasRio Grande (Do Norte) : História e HistoriografiaaLívia BarbosaAinda não há avaliações
- A Fina Lâmina Da Palavra PDFDocumento30 páginasA Fina Lâmina Da Palavra PDFJoão NetoAinda não há avaliações
- Manual BR Ip00285a KL1312 3.0Documento22 páginasManual BR Ip00285a KL1312 3.0CENTRO OESTEAinda não há avaliações
- Resumo Beatriz SarloDocumento8 páginasResumo Beatriz SarloPatrícia Argôlo RosaAinda não há avaliações
- Paper 2Documento7 páginasPaper 2Aline SalcidesAinda não há avaliações
- A Chufa Pode e Deve Ser Consumida No Contexto de Uma Alimentação EquilibradaDocumento2 páginasA Chufa Pode e Deve Ser Consumida No Contexto de Uma Alimentação EquilibradaAna d'AlmeidaAinda não há avaliações
- TCC 1.1Documento36 páginasTCC 1.1Silas SambaAinda não há avaliações
- Cópia de Receituário Especial para ImpressãoDocumento1 páginaCópia de Receituário Especial para ImpressãoLetícia MeloAinda não há avaliações
- Ficha BladesingerDocumento3 páginasFicha BladesingerLuis PalosoAinda não há avaliações
- Cartilha BandeiradeLutas 2019versaofinalDocumento18 páginasCartilha BandeiradeLutas 2019versaofinalbrenda cruzAinda não há avaliações
- Doe 5813 23032021Documento33 páginasDoe 5813 23032021John BlessedAinda não há avaliações