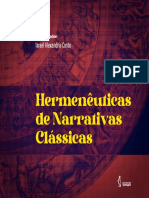Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
304356
Enviado por
Adriano PedrosoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
304356
Enviado por
Adriano PedrosoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alexandre Nodari
CENSURA: ENSAIO SOBRE A SERVIDO IMAGINRIA
Tese submetida ao Programa de PsGraduao em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina para a obteno do Grau de Doutor em Literatura Orientador: Prof. Dr. Ral Antelo
Florianpolis 2012
Catalogao na fonte pela Biblioteca Universitria da Universidade Federal de Santa Catarina
N761c
Nodari, Alexandre Censura [tese] : ensaio sobre a "servido imaginria" / Alexandre Nodari ; orientador, Ral Antelo. - Florianpolis, SC, 2012. 252 p. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicao e Expresso. Programa de Ps-Graduao em Literatura. Inclui referncias 1. Literatura. 2. Censura. 3. Autoria. I. Antelo, Ral. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Ps. Graduao em Literatura. III. Ttulo. CDU 82
AGRADECIMENTOS Devo agradecer, em primeiro lugar, a Ral Antelo, por orientar sem ser um guia, sem fornecer um mapa ou apontar um caminho, incentivando a constituio de um roteiro singular. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Flvia Cera foi minha companheira inseparvel de vida e trabalho, e sem a qual o percurso teria sido, para dizer o menos, triste e nebuloso. O CNPq me forneceu o auxlio financeiro indispensvel, possibilitando minha dedicao exclusiva a essa pesquisa. Os cursos que freqentei no PPGL (ministrados por Carlos Capela, Srgio Medeiros e Ana Luiza Andrade, alm de meu orientador) ajudaram de variados modos nesses anos de ps-graduao. Sou muito grato tambm ao grande amigo de longa data, Leonardo Dvila, pelo dilogo e auxlio (devo a ele a maioria das tradues do latim presentes nessa tese) constantes. Fabin Luduea e Emanuele Coccia (a leitura de seu A vida sensvel revelou-se essencial no incio da pesquisa) foram importantssimos na reta final da tese, ao me convidarem a expor uma primeira verso sumarizada em um seminrio que ministraram na UBA. A forma definitiva do texto aqui apresentada tributria dos comentrios de ambos, e, especialmente, do desafio que Fabin me lanou. As contribuies crticas de Alessandro Pinzani e Susana Scramim na banca de qualificao igualmente se mostraram imprescindveis. Agradeo tambm a todos que leram verses preliminares desse trabalho (ou textos relacionados a ele), em especial Eduardo Sterzi (verdadeira cobaia ao ler uma verso mais-quepreliminar) e Eduardo Viveiros de Castro (a quem tambm devo agradecer pela confiana depositada). O suporte espiritual e material de minha famlia tornaram esses quatro anos mais simples. Muitas outras pessoas foram importantes, seja pela amizade, seja pela discusso de aspectos da tese, ou mesmo pelo debate sobre temas diversos: Victor da Rosa, Pdua Fernandes, Joca Wolff, Antnio Carlos dos Santos, Dborah Danowski, Idelber Avelar, Moyss Pinto Neto, Rodrigo Lopes de Barros Oliveira, Ana Carolina Cernichiaro, Fernando Bastos Neto, Marcos Matos, Veronica Stigger e Daniel Link so apenas algumas das inmeras que eu poderia nomear aqui. Por fim, no posso deixar de expor minha dvida infinita com todos aqueles que trabalham na disponibilizao online de livros, textos e documentos: sem eles, uma pesquisa como essa jamais teria sido possvel, ainda mais nos confins da provncia e com o reduzidssimo aporte financeiro; portanto, os agradeo na pessoa do amigo Thiago Cndido da Silva, esprito altrusta e militante incansvel da superioridade do direito ao acesso sobre os
direitos autorais. Como partilho daquela concepo do pensamento que nomeio, no decorrer da tese, de demonaca, segundo a qual as idias esto no ar, circulam e se apossam de ns por meio de encontros (coincidncias) difceis de determinar objetivamente, possvel que aqueles a quem eu deveria realmente agradecer tenham ficado de fora dessa curta lista de dbitos que me orgulho de ter.
Os riscos do censor representam para a imprensa o mesmo que os Kuas representam para o pensamento chins. Os Kuas dos censores so as categorias da literatura e, como se sabe, as categorias so a base de um contedo mais extenso. (Karl Marx)
RESUMO A presente tese se insere no esforo terico recente de reconceituar a censura, para alm dos modernos estreitamento semntico e conotao negativa associados palavra. Para tanto, partindo da premissa metodolgica benjaminiana de que o saber exige uma integrao de reas, a pesquisa aqui apresentada se deu em mltiplos fronts: os casos de censura durante a ditadura militar brasileira e o discurso oficial que a fundamentava; a formulao da censura pela teoria poltica moderna; o caso clssico do banimento dos poetas da Repblica de Plato; a reivindicao da funo censora por artistas e jornalistas; a magistratura do Censor da Roma antiga; o conceito psicanaltico de censura; a relao entre censura e direitos autorais, etc. A investigao produziu como resultados tanto uma viso sincrnica da censura, em que esta aparece como suplemento constitutivo da lei que age sobre os costumes, com-formando os sujeitos (no duplo sentido) a uma hierarquia do sensvel, quanto um olhar diacrnico a respeito dela, em que o atual processo de eufemizao da linguagem apresentou-se como a estratgia censria de um tempo que prescinde de rgos censores propriamente ditos. Palavras-chave: Censura. Autoria. Conformao.
ABSTRACT In the past decades, a theoretical effort has been made in order to reconceptualize censorship, avoiding the semantic narrowing and negative connotation that modern views have associated to the word. This thesis takes part of that initiative, subscribing Walter Benjamins methodological project, according to which knowledge demands an integration of research fields. Therefore, multiple fronts are taken into account: censorship in recent Brazilian dictatorship and the official discourse that supported it; conceptualization of censorship in modern political theory; the classic topos of Platos banishment of poets in his ideal Republic; demands of censorship made by artists and journalists; the functions and roles of antique Romans Censor magistrate; psychoanalytic conception of censorship; the relationship between censorship and copyright; etc. According to the results of our research, censorship can be conceived synchronically, as a constitutive supplement of law, which acts upon customs, con-forming subjects to a hierarchy of the sensible, as well as diachronically, consisting nowadays in a broad process that euphemizes language, a censorial strategy of a time that pretends to prescind from formal censorship institutions. Keywords: Censorship. Authorsip. Conformation.
SUMRIO
1. Pr-texto (Introduo) 2. Constituere et praecipere 3. Mercado das idias. Quando o pensamento privatizado 4. Mala carmina: a literatura diante da lei 5. Guerras espirituais: eufemizao, o paradigma da censura 6. Alma exterior 7. linha de fuga (ps-texto) Bibliografia
17 27 71 101 161 195 225 231
17
1. Pr-texto (Introduo)
A censura suprimiu nove poemas: sinal de que os outros no valem nada. (Joan Brossa)
1.1. Naquele que talvez seja o libelo mais libertrio j escrito no Ocidente, tienne de La Botie, o jovem amigo de Montaigne, afirma que a primeira razo da servido voluntria o costume. Os homens, aps uma coero que impe a servido, se acostumam, se habituam a ela: como os mais bravos courtaus [cavalos de orelhas e crinas cortadas] que no incio mordem o freio e depois descuram; e onde outrora escoiceavam contra a sela, agora se ostentam nos arreios e soberbos pavoneiam-se sob a barda. 1 O costume de obedecer ao Um seria, desse modo, o resultado de um processo de domesticao 2,
BOTIE, tienne de La. Discurso da servido voluntria. Edio bilnge, com comentrios de Claude Lefort, Pierre Clastres e Marilena Chau. Traduo de Laymert Garcia dos Santos. So Paulo: Brasiliense, 1982. p. 24. 2 Cf., sobre a domesticao do homem pelo homem, SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta carta de Heidegger sobre o humanismo. Traduo de Jos Oscar de Almeida Marques. So Paulo: Estao Liberdade, 2000 (que sustenta uma posio da qual no partilhamos); e LUDUEA ROMANDINI, Fabin. A comunidade dos espectros. I. Antropotecnia. Traduo de Alexandre Nodari e Leonardo Dvila. Desterro: Cultura e Barbrie, 2012, que, por sua vez, adota uma viso mais prxima da nossa, ainda que no se confunda com ela (sobre as diferenas, cf. minha resenha ao livro: NODARI, Alexandre. A fabricao do humano. Sopro. n. 50. Mai/2011. pp. 2-10; e a resposta de Luduea, no mesmo nmero do peridico). preciso destacar que La Botie, apesar de dar o exemplo da domesticao do cavalo, insiste que os animais mantm, mesmo adestrados, o desejo de liberdade e rejeitam a servido: se todas as coisas que tm sentimento, assim que os tm, sentem o mal da sujeio e procuram a liberdade; se os bichos sempre feitos para o servio do homem s conseguem acostumar-se a servir com o protesto de um desejo contrrio que mau encontro foi esse que pde desnaturar tanto o homem, o nico nascido de verdade para viver francamente, e faz-lo perder a lembrana de seu primeiro ser e o desejo de retom-lo? (BOTIE, Etienne de la. Discurso da servido voluntria. p. 19; sobre o mau encontro, cf. CLASTRES, Pierre. Liberdade, Mau Encontro, Inominvel. Em: BOTIE, Etienne de la. Discurso da servido voluntria. pp. 109-123). Ou seja, a liberdade seria o estado natural (o estado de natureza) comum aos animais, entre os quais est o homem. Cabe ressaltar aqui a proximidade e, ao mesmo tempo, a distncia com o discurso da soberania moderna, que estava sendo gestado poca: como se sabe, segundo Thomas
1
18
imposto coercitivamente na forma de uma limitao, como se fosse uma roupa por demais apertada que impedisse os movimentos dos sujeitos (no duplo sentido), e faria com que os prprios sditos fundassem, em um segundo momento, a posse dos que o tiranizam. 3 A essencialidade dos costumes para a estrutura dos chamados corpos polticos uma espcie de lugar-comum da filosofia poltica e
Hobbes, que retoma uma clebre formulao de Plauto (da quarta cena do segundo ato (495) de Asinaria: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit Lobo o homem para o homem, e no homem, quando no conhece o outro), no estado de natureza, o homem o lobo do homem, o que significa que vive em uma eterna guerra, que s pode ser aplacada pelo Leviat (a bem da verdade, o contexto em que Hobbes evoca a frmula no De Cive o da relao entre Estados ou cidades, que, como sabemos, relacionam-se entre si como os homens no estado de natureza, i.e., sem a presena de um Estado). Do mesmo modo, Grotius traz baila um provrbio hebraico: Se no houvesse poder pblico, todos se devorariam uns aos outros, citando, a seguir, uma opinio semelhante de Joo Crisstomo (De Statuis, homlia VI, 1): Se no houvesse magistrados nas cidades, viveramos uma vida mais selvagem que aquela dos animais silvestres, no s nos mordendo mutuamente, mas ainda nos devorando reciprocamente (GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. Traduo de Ciro Moranza. Iju: Editora da Uniju, 2004. v. I, Livro I, IV; p. 238). Tanto para La Botie, quanto para Hobbes e Grotius, a liberdade animal (ou a Antropofagia, essa espcie de fora da poltica, tica, ontologia e epistemologia ocidentais, que sempre ameaa faz-las naufragarem) o outro da soberania. Todavia, as valoraes desta condio animal do homem se opem diametralmente: para estes, ela deve ser submetida ao Estado; para aquele, deve ser cultivada, especialmente contra o Um. Como lembra Carl Schmitt, toda idia poltica deriva de uma correspondente antropologia (SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. Traduo de lvaro L. M. Valls. Petrpolis: Vozes, 1992. p. 85; podemos acrescentar que, do mesmo modo, toda antropologia implica uma teoria poltica), ainda que aqui no se trate de um julgamento moral sobre a natureza do homem, como acreditava o jurista alemo (e, com ele, grande parte da crtica atual a posies como a de Clastres maior herdeiro de La Botie que estaria imbudo de um liberalismo romntico em que ambos os termos liberalismo e romntico so, a priori, tomados pejorativamente): o que est em jogo no definir se o homem mau por natureza ou bom por natureza (pois s um leitor apressado de La Botie ou Clastres poderia equacionar a liberdade animal a um paraso idlico como o den), mas o modo poltico de lidar com a nossa animalidade constitutiva (que a soberania intenta domar ou, no limite, negar e superar). Cf. tambm DERRIDA, Jacques. Sminaire. La bte et le souverain. 2 vols. Paris: Galile, 2008. 3 BOTIE, tienne de La. Discurso da servido voluntria. p. 24.
19
moral. Todavia, como e porqu os hbitos mantm, ou mesmo fundam, o ordenamento poltico-jurdico algo que nunca foi completamente esclarecido. Por essa razo, John Locke decidiu chamar a lei que regeria os costumes de Lei filosfica:
no porque os filsofos a fazem, mas porque eles so os que mais se ocupam de inquirir sobre ela, e falar sobre ela (...) [;] a Lei da Virtude, e do Vcio; a qual embora seja possivelmente mais comentada que qualquer uma das outras, ainda assim no se deu conta de como ela estabelecida com tamanha Autoridade que possui, capaz de distinguir e denominar as Aes dos homens; e de quais so as verdadeiras medidas dela. 4
Mesmo quatro sculos depois desse diagnstico, o modo como tal lei se forma e subsiste permanece obscuro, devido, por um lado, quase exclusividade com que a filosofia poltica se voltou s instituies e ao Direito, e, por outro, pela filosofia moral ter praticamente abandonado a tradio aberta por Montaigne, tomando, nas palavras de Nietzsche, a moral mesma (...) como dada 5, isto , furtando-se de praticar a sua genealogia, a genealogia da moral, nico instrumento capaz de investigar as prprias condies pelas quais a moral se d como dada. Nossa pesquisa pretende ser uma pequena contribuio ao projeto nietzschiano, isto , pretende ser uma paleontologia social 6 da
LOCKE, John. An essay concerning human understanding. Edio e introduo de Peter H. Nidditch. Nova Iorque: Oxford University Press, 1979. p. 357. A passagem consta na primeira edio do Ensaio sobre o entendimento humano, tendo sido omitida posteriormente. 5 NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal. Preldio a uma filosofia do futuro. 2. ed. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1992. Cap. 5: Contribuio histria natural da moral, 186. p. 85. 6 Expresso tomada de ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofgica. 2. ed. So Paulo: Globo, Secretaria da Cultura do Estado de So Paulo, 1995. p. 111. Ou, para usar a formulao de outro antropfago, Flvio de Carvalho, busca-se praticar o ofcio do arquelogo mal-comportado, aquele que tenta restabelecer o tumulto anmico colocado pelo homem na poca examinada e que, alm de humano, e de sentir todas as emoes do artista e da civilizao que construiu e fez, (...) tem tambm de ser psiclogo, isto , compreender os motivos dessa construo e dessas formas (CARVALHO, Flvio de. Os ossos do mundo. So Paulo: Antiqua, 2005. p. 47; grifos nossos).
4
20
origem (em sentido benjaminiano 7) da relao entre os costumes e o poder poltico. A hiptese a qual a presente pesquisa nos conduziu que a censura constitui a origem deste enlaamento entre os hbitos e o poder: a censura seria o modo pelo qual se d a passagem entre ter um costume e acostumar-se servido. Dito de outro modo: seria a censura que funda e rege a lei filosfica mencionada por Locke, ainda que ela no seja exatamente uma lei, pois, como assevera Jean-Paul Valabrega em um dos textos mais lcidos sobre o assunto, impossvel conceber [a censura] em termos de legalidade. Na censura, proibio e sano se confundem, ou, melhor dito, A punio (...) consiste na prpria proibio, se confunde com ela e nela se esgota:
A censura, na verdade, no tem lugar algum na legalidade, entretanto ela legisla. Assim, ela se relaciona necessariamente a uma arbitrariedade. A censura ilegal, ou, ao menos, alegal; impossvel enquadr-la na lei. por isso que cada novo ato de censura, j que injustificvel, exige sempre a promulgao de um decreto ad hoc; e por isso tambm que a censura, portadora de um Apesar de ser uma categoria plenamente histrica, a origem (Ursprung) no tem nada em comum com a gnese (Enstehung). Origem no designa o processo de devir de algo que nasceu, mas antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer. A origem insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta no seu movimento o material produzido no processo de gnese. O que prprio da origem nunca se d a ver no plano do fatual, cru e manifesto. O seu ritmo s se revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece, por um lado como restaurao e reconstituio, e por outro como algo de incompleto e inacabado. Em todo o fenmeno originrio tem lugar a determinao da figura atravs da qual uma idia permanentemente se confronta com o mundo histrico, at atingir a completude na totalidade da sua histria. A origem, portanto, no se destaca dos dados fatuais, mas tem a ver com a sua pr e ps-histria (BENJAMIN, Walter. Origem do drama trgico alemo. Traduo de Joo Barrento. Belo Horizonte: Autntica, 2011. p. 34). O modelo epistemolgico, que o objeto da tese o conceito de censura demanda tambm benjaminiano: a integrao de reas (...) que desmonta as barreiras do conhecimento especializado e do pensar especializado e que pressiona a unidade e a continuidade da opinio, permanece[ndo] em contraste distinto com a forma tradicional de tal unidade: o sistema (BENJAMIN, Walter. Krisis des darwinismus? Zu einem Vortrag von Prof. Edgar Dacque in der LessingHochschule. Gesammelte Schriften. vol IV. Editado por Rolf Tiedemann. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1972. pp.534-536; citao extrada da pgina 536).
7
21
escndalo intrnseco aos olhos da prpria lei, desencadeia, sempre que aplicada, um escndalo 8 maior do que aquele que ela pretendia evitar.
A censura seria e isso que tentaremos argumentar ao longo da tese este poder excepcional (no sentido de estar, ao mesmo tempo, dentro e fora da lei, antes e depois dela) com-formador, que conforma um costume, ou seja, que forma um costume comum, ligando o costume ao corpo poltico por meio da obedincia: a censura criaria uma servido no s voluntria, mas tambm imaginria, a servido a uma forma, a uma roupa, a uma imagem.
1.2. O campo semntico da palavra censura apresenta hoje em dia
uma tendncia ao estreitamento, e suas implicaes emocionais so negativas. 9 Foi com esta formulao certeira que Moses Finley definiu o estatuto de um termo que, ao ser constantemente evocado, torna-se cada vez mais estreito e pejorativo. Tal pr-concepo (e preconceito) fruto de um processo de longa durao, em que camadas descontnuas de desgaste do termo foram se sedimentando at formar, s muito recentemente, uma quase homogeneidade do rechao da instituio censria, a tal ponto que, afirma Raul Mordenti, nos habituamos a conceber a histria da censura como a eterna luta entre a liberdade (...) e o autoritarismo, em vez de investigar as tecnologias pelas quais quem autoriza quem a pensar, escrever, publicar, ler e atravs de quais dispositivos. 10 Se hoje, devido prevalncia desta viso ideolgica,
VALABREGA, Jean-Paul. Fundamento psico-poltico da censura (1967). Traduo de Luiza Ribas. Sopro. n. 65. Fev/2012. pp. 2-13; citao: p. 3. O texto de Valabrega constitui, de certo modo, uma resposta a Lacan, o qual refutava a associao feita por aquele entre resistncia e censura, argumentando que a censura tem sempre relao com o que, no discurso, se relaciona lei como incompreendida. Cf. a sesso A censura no a resistncia, do segundo seminrio de Lacan (LACAN, Jacques. Seminrio, livro 2: o eu na teoria de Freud e na tcnica da psicanlise. Texto estabelecido por Jacques Alain-Miller (verso brasileira de Marie Christine Laznik Pento com a colaborao de Antonio Luiz Quinet de Andrade). 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 176; grifo nosso). 9 FINLEY, Moses I. A censura na antiguidade clssica. Em: Democracia antiga e moderna. Ed. revista. Traduo de Walda Barcellos e Sandra Bedran. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 159. 10 MORDENTI, Raul. Riflessioni sul concetto di censura (a partire dalla controriforma). Em: GOLDONI, Annalisa; MARTINEZ, Carlo (orgs.). Le
8
22
costuma-se conceb-la como arma do obscurantismo, que fora ou limita seus potenciais alvos a escreverem alegoricamente (A censura a me da metfora, segundo Borges), ou between the lines, como dir Leo Strauss (argumentando que, devido perseguio, muito de nossa filosofia poltica exotrica 11), e que aplicada por brutamontes ignorantes, no podemos esquecer que muitos artistas e pensadores foram eles mesmos censores, a comear por John Milton, tido como figura mitolgica da liberdade em tal viso simplista, e, tambm, para dar apenas outro exemplo de um autor que invocaremos nessa tese, Machado de Assis 12, de modo que igualmente o discurso censrio, por vezes, se apresenta nas entrelinhas no texto literrio. Alm disso, a censura, em um sentido amplo, foi no s teorizada e estudada, mas
lettere rubate: forme, funzioni e ragioni della censura. Npoles: Liguori Editore, 2001. pp. 21-34; citao: p. 33. 11 STRAUSS, Leo. Persecution and the art of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1988. p. 24. Um caso interessante deste mtodo de escrever nas entrelinhas o do livro (ainda hoje uma referncia no assunto) Censura en el mundo antiguo, do espanhol Lus Gil, publicado em pleno franquismo (1960). No prlogo segunda edio, de 1984, Gil relata que escreveu a obra como rito catrtico de impotncias e frustraes pessoais, por um lado, e, por outro, com a secreta esperana de que a sua leitura servisse pra revolver as conscincias adormecidas de alguns compatriotas. Para tanto, continua o autor, era preciso mascarar o prprio pensamento e deixar os fatos falar por si mesmos, evitando, o quanto possvel, o comentrio pessoal. (...) Lancei mo de certos procedimentos de estilo, e at mesmo de alguns recursos tipogrficos, para encobrir o fundo e adequar a superfcie aos modos e modas de ento (GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo. 3. ed. Madri: Alianza, 2007. p. 17). No prefcio terceira edio de 2007, Gil, que se declara liberal como Strauss, refora o carter exotrico do livro: o costume de reprimir a expresso do prprio pensamento sabe tambm criar formas indiretas de manifest-lo, ainda que com diferentes graus de ocultamento. Aqueles que vivemos aquela poca em seus momentos mais duros sabemos quais cdigos secretos verbais ou gestuais se empregavam (...) Assim, pode-se perfeitamente compreender porque aconteceu de eu me ocupar de um tema que at ento no havia sido tratado in extenso por nenhum fillogo clssico (Ibidem, 11-12). 12 Para uma anlise dos pareceres de Machado de Assis (em confronto com as dos outros pareceristas) no Conservatrio Dramtico Brasileiro, cf. SILVA, Alexandre. O escravo que Machado de Assis censurou & outros pareceres do Conservatrio Dramtico Brasileiro. Verso enviada pelo autor; no prelo para publicao pela Afro-Hispanic Review, publicao da Vanderbilt University, de Nashville.
23
tambm reivindicada por filsofos da magnitude de Bodin, Locke, Montesquieu, Rousseau e De Lolme. Para tentar suplantar esta viso acrtica, Robert Darnton postulou a necessidade de se pensar a zona cinza em que autor e censor ameaam se indistiguir:
A censura no sempre, e nem em todos os lugares, um esforo constante para suprimir a liberdade de expresso. Para melhor ou para pior (em geral para pior), est ligada a sistemas de cultura e de comunicao. Sua histria um registro de conflito e acomodao num terreno sempre em mutao. Tem seus momentos de tragdia e de herosmo, claro, mas geralmente acontece em reas nebulosas e obscuras, onde a ortodoxia se esbate em heresia e rascunhos fixamse como textos impressos. Parte da histria da censura leva Bastilha ou ao Goulag, mas a maior parte pertence zona crtica do controle cultural, onde o censor se torna um colaborador do autor e o autor um cmplice do censor. Precisamos explorar essa zona para entend-la, e quando tivermos encontrado um caminho por entre essas brenhas, conseguiremos ter uma nova viso de eminentes monumentos como a Areopagitica e o Artigo Primeiro do Bill of Rights. 13
As contribuies da psicanlise e as investigaes de Michel Foucault 14 foram essenciais na empreitada que abriu o terreno para a explorao desta zona cinzenta. Assim, por exemplo, Pierre Legendre
DARNTON, Robert. O significado cultural da censura: a Frana de 1789 e a Alemanha Oriental de 1989. Traduo de Beatriz Rezende. Revista Brasileira de Cincias Sociais. Ano 7, n. 18. So Paulo: fevereiro de 1992. 14 Lembremos da clssica enunciao do projeto foucaultiano de investigao do poder: Temos que deixar de descrever sempre os efeitos do poder em termos negativos: ele exclui, reprime, recalca, censura, abstrai, mascara, esconde. Na verdade, o poder produz, ele produz realidade, produz campos de objetos e rituais da verdade (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da priso. 25. ed. Traduo de Raquel Ramalhete. Petrpolis: Vozes, 2002. p. 161). interessante perceber como o prprio Foucault elenca a censura (censure, no original) como uma expresso eminentemente negativa do poder.
13
24
dedicou um livro a investigar O amor do censor (e ao censor) 15, e Alessandro Fontana sugeriu ver na censura um modo de produo do saber do poder, o qual implicaria a necessidade de desenvolvimento e alimentao de um corpo de conhecimentos, ou seja, de uma filosofia da linguagem e de uma teoria da verdade por trs da prtica censria. 16 A presente pesquisa pretende se inserir neste esforo de reconceituar a censura. Todavia, no queremos contestar apenas a acepo maniqueisticamente negativa, mas tambm a reduo do campo semntico que a palavra abrange, atualmente limitado proibio de textos, obras ou idias 17, no restando vestgios de sua co-originareidade com o censo. Em seu sentido profundo, o censo no a mera contagem da populao por meio de mtodos estatsticos e classificatrios neutros, mas a constituio sensvel dessa populao por meio de um parmetro que a divide em classes e estipula o modo como estas se vem e so vistas. Ou seja, a contemporaneidade perdeu de vista que a censura envolve a criao de um regime de controle e medio do sensvel. Em um diagnstico forte da arte contempornea, Alain Badiou afirmou que Convencido de controlar a superfcie inteira do visvel e do audvel pelas leis comerciais da circulao e pelas leis democrticas da comunicao, o Imprio no censura mais nada. 18 Tentaremos
LEGENDRE, Pierre. O amor do censor: ensaio sobre a ordem dogmtica. Traduo de Alusio Pereira de Menezes, M. D. Magno e Potiguara Mendes da Silveira Jr. Rio de Janeiro: Forense Universitria; Colgio Freudiano, 1983. 16 FONTANA, Alessandro. Censura. Traduo de Antnio Barbosa. Enciclopdia Einaudi. v. 23: Inconsciente Normal/anormal. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1994. pp. 95-122; citao: 100-101. 17 Em um artigo de 1917, a respeito do fechamento de duas casas de espetculos pelo governo italiano, Gramsci notava como o sentido da censura estatal havia se estreitado: Falta a outra censura, a verdadeira censura tradicional, que ataca o patrimnio, o luxo, o prazer. Nenhuma lei que proibisse a ostentao da riqueza intil porque transformada em jias [...] e arrancada do trabalho, da produo. O censor dos costumes no foi criado como o foi aquele das idias. nico patrimnio a ser limitado, as idias; nica riqueza a ser apreendida, as idias (GRAMSCI, Antonio. Si domanda la censura. Avanti!, ano XXI, n. 318. 16 de novembro de 1917). 18 BADIOU, Alain. Teses sobre a arte contempornea. Traduo de Leonardo Dvila de Oliveira. Sopro. n. 14. Jul/2009. p. 1. Devemos tomar muito cuidado em admitir, sem mais, a tese de Badiou. Por um lado, devido ao fato de que ela no se aplica toda a contemporaneidade, bastando lembrar do gigantesco aparato de censura da China (o mais populoso e importante pas atualmente), facilitado pela colaborao das corporaes de internet. E, por outro, porque, apesar da ratio que guia a censura ocidental contempornea abdicar,
15
25
argumentar que a censura no s no se reduz proibio, mas, muito mais do que isso, constitui e suplementa as leis scio-polticas de circulao e comunicao do sensvel, que, certa vez, foram chamadas de leis sunturias e das quais as mencionadas por Badiou so apenas uma (a democrtica-mercantil) de possveis outras declinaes histricas, qual nos deteremos mais a fundo pelo fato de reger o nosso presente ocidental. 1.3. Se Fernando Scheibe est correto ao dizer que h uma questo que nenhuma tese em teoria literria pode eludir, a saber, o que literatura? 19, ento essa tese tentar cumprir o desafio indiretamente, ao buscar responder outra: o que censura? A censura arte sempre um tributo ao poder desta. Como afirma Marc Shell, o grande perigo para a literatura no o argumento de que a literatura subverte os cidados ao ensinar-lhes inverdades; o argumento, implcito ou explcito, de que a literatura no tem nenhum valor real ou potencial para afetar o bem ou o mal, que ela no possui nenhum papel real nos negcios humanos e no deve ser tomada seriamente. 20 A ausncia de censura pode significar que a arte no apresenta perigo, que ela no ter efeitos fora do crculo em que se insere. Em Liberdade e aceitabilidade da obra de arte literria, Alberto Pimenta lembra que escritores como Ea de Queirs e Alfred Dblin defendiam justamente que a arte se submetesse mesma censura que os demais escritos, vendo nessa igualdade perante a lei a justificao da sua importncia social e a manifestao da sua liberdade. 21 Mas no
aparentemente e por motivos utilitrios, da proibio, esta no desaparece por completo: de fato, h um ocaso de rgos de censura estatais nas democracias do ocidente, mas h tambm cada vez mais casos de censura judiciria ou de mercado, o que demonstra que o poder censrio sobrevive existncia de uma magistratura incumbida de exerc-lo. 19 SCHEIBE, Fernando. Coisa nenhuma: ensaio sobre literatura e soberania (na obra de Georges Bataille. Tese (Doutorado em Literatura). Florianpolis: PPGL/UFSC, 2004. p. 13. 20 SHELL, Marc. The economy of literature. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993. p. 150. 21 PIMENTA, Alberto. Liberdade e aceitabilidade da obra de arte literria. Colquio Letras. n. 32. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, julho de 1976. pp. 5-14; citao na p. 9. Vale mencionar duas frases de Dblin citadas por Pimenta (p. 10): A arte sagrada praticamente no significa outra coisa do que: o artista um idiota, deixem-no falar vontade; A arte livre, quer
26
s isso. Para censurar, preciso conhecer o objeto da proibio e formular os perigos que este apresenta. Toda censura, argumentam Antelo, Gilman e Link, declina um dos modos do Poder como Leitor e Co-autor. Ou seja, a censura no s atesta o poder da arte; ela tambm revela, em sua prtica e justificao, uma teoria do poder poltico da arte, adiantando-se, por vezes, aos prprios artistas e crticos. 22 O ltimo dos objetivos desta tese (ainda que tenha sido o motivo originrio da pesquisa), portanto, ser ensaiar, a partir do discurso, prtica e teoria censrias, uma resposta questo, ainda no completamente resolvida, de onde deriva o poder poltico da arte.
dizer, totalmente inofensiva, os senhores e as senhoras artistas podem escrever e pintar o que lhes apetecer.... 22 Ral Antelo resgata o parecer negativo de Hlio Plvora, poca integrante do Instituto Nacional do Livro durante a ditadura militar brasileira, sobre um possvel subsdio a gua viva, de Clarice Lispector, em que o censor, mesmo que inconscientemente, parece prenunciar a crtica literria contempornea a respeito da obra: Romance certamente no . Clarice Lispector resolveu abolir o que chama de tcnica de romance e escrever segundo um processo de livre associao de idias, ou de palavras. Tem-se a impresso, lendo este seu novo livro, que ela colocou o papel na mquina e foi registrando o que lhe vinha cabea, sem preocupao de unidade, coerncia e fbula. Objeto gritante o ttulo primevo de gua viva mais uma de suas coisas, das muitas coisas que Clarice Lispector tem perpetrado sob o rtulo de romance (apud ANTELO, Raul. Prefcio. Em: ANTELO, Raul (ed.). Crtica e fico, ainda. Florianpolis: Pallotti, 2006. pp. 5-6; citao na pgina 5; grifos nossos).
27
2. Constituere et praecipere
No government ought to be without censors. (Thomas Jefferson)
2.1 Jacques Rancire tem dedicado grande parte de sua obra a postular, sob o nome de partilha do sensvel, ou de constituio esttica da comunidade, a co-relao essencial entre poltica e esttica:
Uma partilha do sensvel (...) o modo como se determina no sensvel a relao entre um conjunto comum partilhado e a diviso de partes exclusivas. Antes de ser um sistema de formas constitucionais ou de relaes de poder, uma ordem poltica uma certa diviso das ocupaes, a qual se inscreve, por sua vez, em uma configurao do sensvel: em uma relao entre os modos do fazer, os modos do ser e os do dizer; entre a distribuio dos corpos de acordo com suas atribuies e finalidades e a circulao do sentido; entre a ordem do visvel e a do dizvel. (...) a poltica (...) esttica desde o incio, na medida em que um modo de determinao do sensvel, uma diviso dos espaos reais e simblicos destinados a essa ou quela ocupao, uma forma de visibilidade e de dizibilidade do que prprio e do que comum. Esta mesma forma supe uma diviso entre o que e o que no visvel, entre o que pertence ordem do discurso e o que depende do simples rudo dos corpos. 23
A proposta possui um valor contextual inegvel, na medida em que certo horizonte do debate intelectual ainda continua atrelado idia de que o fenmeno da estetizao e/ou espetacularizao da poltica tipicamente moderno, quando, na verdade, a sociedade do esptaculo no passa (o que no , todavia, pouco) de uma mudana radical no regime dessa relao. Outro mrito indisputvel de Rancire o de
RANCIRE, Jacques. Polticas da escrita. Traduo de Raquel Ramalhete (et. al.) Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. p. 7-8. Cf. tambm, do mesmo autor, A partilha do sensvel: esttica e poltica. Traduo de Mnica Costa Netto. So Paulo: EXO experimental.org; Ed. 34, 2005.
23
28
sublinhar uma correspondncia profunda entre a mudana do regime artstico e a do poltico, como, por exemplo, na sua leitura do realismo literrio, visto enquanto co-constitutivo aos movimentos modernos de democratizao da poltica mudana na hierarquia dos gneros, dos assuntos que podem ser narrados, de quem pode falar, e de como se fala, que se d na forma romanesca corresponde uma alterao das hierarquias polticas, da agenda de debate, dos sujeitos polticos e seus discursos (como veremos, tal correspondncia assinalada j, ao menos, por Plato, e, para no ir to longe, foi sobre ela que se erigiram as diversas vanguardas do sculo XX). Contudo, por outro lado, a idia da partilha do sensvel apresenta uma certa vagueza que impede de compreender a fundo a constituio esttica da comunidade. O que exatamente seria uma configurao ou determinao do sensvel? A pergunta, inevitavelmente, leva a outra: possvel configurar ou determinar o sensvel, ou ele , no limite, incontrolvel? Mesmo que assumamos que determinao e configurao possuam aqui apenas um valor de horizonte ou meta, ou seja, que digamos que a constituio esttica da comunidade uma tentativa de determinar o sensvel, a impreciso ou deficincia conceitual permanece. Isso porque aquilo que Rancire descreve como a partilha do sensvel possui, na teoria poltica e jurdica do Ocidente, uma longa, larga e vasta fortuna de formulaes, e, inclusive, uma designao precisa, um nome que hoje se tornou maldito, motivo pelo qual, talvez, o filsofo francs eluda tal histria conceitual, o que impossibilita tambm a correta apreenso do fenmeno em questo. Esse nome, a designao que a partilha do sensvel recebeu na histria poltico-institucional do Ocidente, censo. 2.2. O censo era concebido pelos antigos romanos, que inventaram e cunharam a instituio, como um ato fundador, constantemente renovado, do corpo poltico. Desse modo, no se pode menosprezar a sua importncia para o desenho jurdico-institucional romano, nem tampouco para a vida poltica da cidade. Em um trecho de sua histria de Roma que se tornou, durante a redescoberta moderna do instituto antigo, uma espcie de manifesto oficial no dizer de Lucia Bianchin 24, Tito Lvio louva o sexto rei romano por ter levado a cabo uma
BIANCHIN, Lucia. Dove non arriva la legge: dottrine della censura nella prima et moderna. Bolonha: Il Mulino, 2005. p. 139.
24
29
obra de paz da maior importncia e, assim como Numa era considerado o autor das instituies de culto divinas (ut quemadmodum Numa divini auctor iuris fuisset), a posteridade podia celebrar a fama que Srvio Tlio adquiriu ao fundar todas as distines na cidade, e todas as classes, de acordo com os diferentes graus de dignidade e fortuna. Ele instituiu o censo (Censum enim instituit) uma medida muito salutar para o futuro do imprio, pela qual os ofcios da paz e da guerra no seriam exercidos indiscriminadamente por todos, como antes, mas de acordo com a propriedade de cada um; ele tambm dividiu as classes e as centrias de acordo com o censo. 25
Por um lado, pelo relato de Tito Lvio, fica claro que Srvio Tlio promove, pela classificao de patrimnios e ttulos, pela disposio taxonmica da cidade em ordens (militares e civis), uma otimizao gerencial dos ofcios (munia) de paz e de guerra, que seriam cumpridos, a partir de ento, de modo censitrio, isto , proporcionalmente dignidade e fortuna. O registro dos cidados e de seus bens no censo vinha acompanhado de sua alocao em tribos e centrias, cada qual com diferentes obrigaes militares e fiscais, bem como polticos (atribuio dos votos no comcio). Mas, por outro lado, no se pode reduzir a instituio do censo a uma medida puramente tcnica de repartio de funes. Em outro relato sobre o reinado de Srvio Tlio, tambm muito citado no debate moderno sobre a censura, Plutarco caracteriza-o como nada menos que o instituidor de toda a organizao poltica, da ordem eleitoral e da ordem militar, primeiro censor (timets) e vigia dos modos de vida (ou costumes: Bn pskopos). 26 Desse modo, preciso sublinhar como a classificao do povo em uma ordem dividida pelo patrimnio e pelo status revelava-se, para os antigos romanos, um gesto essencial para a poltica. Sem a diviso censria ou censitria, a poltica e o povo no possuam uma forma. Alm disso, no relato de Plutarco, fica evidente que Srvio Tlio era tido como primeiro censor nos dois sentidos do termo, tanto o de realizador do censo, quanto o de exercer a censura sobre a moral, os costumes, os modos de vida.
Ab urbe condita, livro 1, 42, 4-6. De fortuna Romanorum, 10; grifo nosso. Timets, construdo a partir de tim, honra, era o termo grego para censor.
26 25
30
Alis, esse duplo sentido de censor uma iluso retrospectiva: no existia uma diviso, enquanto tal, entre o agente responsvel pelo censo e aquele que deveria levar a cabo a vigilncia moral. No s o mesmo censor era responsvel por ambas, como estas tambm se confundiam em uma mesma atividade. Tal indissociabilidade se revela at mesmo na lngua. Os romanos no tinham uma palavra especfica construda sobre o radical cens- para designar somente a censura moral chamavam-na de regimen (ou cura) morum, controle ou vigilncia dos costumes. O verbo latino censere, ao qual esto aparentados censor e census, abarca um vasto campo semntico, em que o moderno sentido de censurar apenas uma possvel acepo. Tanto o De verborum significatione de Festo (Censere nunc significat putare, nunc suadere, nunc decernere27) quanto o Digesto (Censere est constituere et praecipere. unde etiam dicere solemus censeo hoc facias (...) inde censoris nomen videtur esse tractum 28) registram uma ampla gama de significados para o verbo, entre os quais: avaliar, julgar, aconselhar, discernir, determinar, constituir, prescrever, recomendar, exortar, decretar. Ou seja, estaramos diante de um campo semntico em que um conselho parece se confundir com uma ordem, uma avaliao com uma prescrio, em que medir (contar) e tomar uma medida (agir) so quase indiscernveis. Ao tentar retraar etimologicamente o cens- romano a uma raiz indoeuropia, tanto mile Benveniste quanto Georges Dumzil sublinharam o poder politicamente criador da censura romana. Assim, o primeiro derivou o radical latino do *kens- indo-europeu, que no significaria s proclamar solenemente (como a maioria dos dicionrios etimolgicos atestam), mas afirmar com autoridade uma verdade (que faz lei): Quem fala assim est em posio soberana; ao declarar o que , ele o fixa; ele enuncia solenemente o que se impe, a verdade do fato ou do dever. Portanto, o dizer do censor estaria relacionado auctoritas, palavra com fora de lei: a autoridade no o poder de fazer crescer (augere), e sim a fora, divina em seu
Censere significa ou avaliar [putare, que tem tambm o sentido de julgar, limpar e mesmo podar], ou aconselhar [suadere: exortar], ou decretar [decernere: decidir; o particpio de decernere decretum, decreto]. Agradeo a Leonardo Dvila pelo auxlio nesta e em quase todas as outras tradues do latim; eventuais erros devem-se a modificaes que realizei para adapt-las ao contexto. 28 Censere constituir [constituere; tambm: estabelecer, determinar, criar, ordenar] e prescrever [praecipere]. Da o costume que temos de dizer censeo [opino, aconselho] que o faas (...).
27
31
princpio (augur), de fazer existir. 29 Por sua vez, Dumzil ver, nos j mencionados relatos que Tito Lvio e Plutarco fazem da coroao de Srvio Tlio como rei romano, um paradigma da indissociabilidade entre censura e propaganda: primeiro, Srvio Tlio elenca seus feitos polticos e militares, se auto-elogiando, para, a seguir, ser aclamado pela platia e, em um terceiro momento, instituir o censo (census). 30 Nesse sentido, em um ensaio anterior dedicado ao sentido do cens romano, Dumzil ver na origem de censor e census uma concepo ticoreligiosa tal como: situar (um homem, um ato, uma opinio etc.) em seu justo lugar hierrquico, com todas as conseqncias prticas dessa situao, e isso por meio de uma justa avaliao pblica, um elogio ou uma censura solene. 31 como se a hierarquizao poltico-moral precisasse ser encenada, ritualizada para ter efeitos, ou mesmo como se ela fosse algo da ordem da aparncia. Assim, a forma que o censo d ao povo no objetiva e tcnica, mas moral e poltica. O census no era uma simples contagem e classificao sobre fatos dados; antes, era uma contagem que institua esta classificao. preciso ter presente que, para os antigos romanos, as instituies jurdico-polticas no se embasavam na natureza, de modo que as distines entre os cidados no eram concebidas como naturais, mas sim como institudas. 32 Ou seja, o censo no partia de uma taxonomia j dada por uma esfera pr-poltica e pr-jurdica. Da a importncia atribuda a Srvio Tlio por ter institucionalizado uma
BENVENISTE, mile. O vocabulrio das instituies indo-europeias. v. II: Poder, Direito, Religio. Traduo de Denise Bottmann e Eleonora Botmann. Campinas: UNICAMP, 1995. p. 149, 145. 30 Cf. DUMZIL, Georges. Ides romains. Remarques prliminaires sur la diginit et lantiquit de la pense romaine. Paris: Gallimard, 1969. p. 103-124. 31 Cf. DUMZIL, Georges. Servius et la fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blme et sur les lments indo-europens du cens romain. Paris: Gallimard, 1943. Fiz uso da traduo da passagem contida em BENVENISTE, mile. O vocabulrio das instituies indo-europeias. v. II. p. 147. 32 Cf., THOMAS, Yan. Imago Naturae. Nota sobre la institucionalidad de la naturaleza en Roma. Em: Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano. Traduo ao castelhano de Silvia de Billerbeck. Buenos Aires: Eudeba, 1999. pp 15-36. Yan Thomas chega a afirmar que para os juristas no h outra natureza que aquela criada por eles. A coerncia do discurso institucional outorga natureza seu estatuto muito original de instituio (p. 30). A naturalizao das distines jurdico-polticas uma produo institucional, i.e., artificial.
29
32
prtica que deve t-lo precedido, sendo possivelmente co-originria poltica: a contagem e diviso dos membros do corpo poltico de acordo com critrios tanto financeiros quanto morais. Aquilo que podemos chamar de poder censrio rene duas operaes que, na Modernidade, lentamente se apartaram, mas que no podem ser compreendidas isoladamente sem levar em considerao este lao que as une primordialmente, a saber, o censo, a contagem e classificao dos cidados, por um lado, e a censura, o controle dos costumes, dos modos em que os cidados aparecem, e se relacionam entre si. Hodiernamente, a censura, enquanto controle poltico, moral, textual, etc., parece no possuir ligao com o censo, enquanto medio e distribuio da populao: de um lado, uma prtica negativa, de outro, uma positiva, um saber-poder que possibilita as aes governamentais. Contudo, na arquitetura poltico-jurdica da Roma antiga, censura e censo eram indissociveis. Se hoje consideramos os censos como meras tomadas de informaes, registros da realidade, os romanos, ao contrrio, consideravam-no, nas palavras de Theodor Mommsen, aquilo que d vida constituio do Estado, e, por isso, cada censo, para ter eficcia jurdica, se encerrava com o lustrum, a cerimnia religiosa de purificao, que, no caso do censo, aparecia como uma fundao (condere) periodicamente renovada da constituio do povo:
Lustrum, que significa lavagem, expiao, pode se aplicar a toda purificao religiosa. Designa o sacrifcio expiatrio que, uma vez reconstituda a cidade pelo ato que os Romanos designam com o nome de census, oferecida pelos magistrados que executaram o ato, ao povo inteiro reunido no Campo de Marte e disposto segundo a nova classificao. 33
Para ser, para se constituir como entidade poltica, o povo deve aparecer tal como foi dividido, purificando-se, lavando-se da antiga formao. Nesse sentido, sculos depois, Montesquieu poder dizer com acuidade que Os censores, e antes deles os cnsules [e os reis], modelavam e criavam, como se fosse, a cada cinco anos o corpo do povo. A censura um poder constituinte, um poder formador, que d forma ao corpo poltico.
33
MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. Leipzig: von S. Hirzel, 1877. p. 321.
33
2.3. Inicialmente, como vimos, o poder censrio era exercido pelo rei romano. No perodo republicano, ele passou s mos dos cnsules, at que se instituiu uma magistratura prpria para exerc-la, a dos censores. Os motivos para esta separao ainda no esto claros: alguns acreditam naquela opinio sintetizada por Voltaire, a de que a censura foi estabelecida em Roma pelo Senado, para contrabalanar o poder dos tribunos da plebe, constituindo um instrumento de tirania 34; j outros, como Mommsen, contestam essa tese que situa a disputa de classes entre patrcios e plebeus na origem da magistratura, atribuindo a criao da magistratura do censor a questes prticas, como a presena constante dos cnsules nas guerras, o que impediria a sua presena em Roma o tempo necessrio para medir e avaliar os cidados. 35 Seja como for, a criao da magistratura prpria do censor nos permite compreender melhor o que constitua o poder censrio (e como o censo e a censura operavam de modo inseparvel), na medida em que o separa dos poderes dos demais magistrados, isolando suas caractersticas. A primeira coisa a ser sublinhada que os censores, sempre em nmero de dois, e que dependiam um da anuncia do outro para cada deciso tomada, eram considerados, como os cnsules e os pretores, majores magistratus, magistrados da mais alta classe, o que demonstra o seu prestgio e essencialidade na vida poltica romana. As fontes atribuem uma diversidade de funes a eles. Segundo Tito Lvio, a censura [enquanto magistratura], [foi] algo que teve um comeo simples, a qual depois ganhou tamanha importncia, que passou a reger a moral [os costumes] e a disciplina romanas; recaam sob seu arbtrio, continua, tambm o Senado e as centrias eqestres, a distino entre honra e desonra, bem como o direito aos locais pblicos e privados, a diferenciao entre estes e aqueles, e os impostos da populao romana. 36 Ccero, por sua vez, forneceu a seguinte lista de funes dos censores:
Em: MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do esprito das leis. Com as anotaes de Voltaire, de Crvier, de Mably, de la Harpe, etc. Primeiro volume. Traduo de Gabriela de A.D. Barbosa. So Paulo: Edies Brasil Editora, 1960. p. 89. 35 A fonte mais invocada para esta posio uma passagem de Tito Lvio: Ortum autem initium est rei, quod in populo per multos annos incenso neque differri census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere (Ab urbe condita, livro 4, 8, 3). 36 Ab urbe condita, livro 4, 8, 2 e 7.
34
34
Os censores devem recensear/determinar [censento] as geraes, origens, famlias e propriedades da populao, vigiar os templos, as estradas, guas, propriedades, e impostos da cidade; devem dividir o povo em tribos [trs partes]; devem aprovar as propriedades, geraes e classes; distribuir o soldo dos cavaleiros e dos soldados; proibir o celibato; reger a moral da populao [morus populi regunto]; no fechar o olho para o abuso no Senado. 37
S por esses dois relatos, pode-se perceber o amplo leque de funes exercidas pelos censores, o quo abrangente era o poder censrio romano. Porm, mesmo estas listas no so exaustivas. H fontes que indicam que testamentos e outros documentos pblicos deveriam ser depositados junto a quem exercesse a funo censria, s devendo ser lidos em sua presena. 38 Ao final do recenseamento da populao, os encarregados pelo censo, como vimos, ministravam uma cerimnia de purificao do povo. Alm disso, cabia aos censores (ou a quem exercesse o equivalente sua funo) controlar os gastos pblicos, se encarregar das obras, templos e vias pblicas, alm de poderem vetar nomes da lista do Senado que achassem indignos. Como entender este amplo rol de atribuies? Comecemos por aquela que d nome magistratura, o census populi, o recenseamento. Periodicamente, os cidados tinham que se apresentar aos censores e declarar, sob juramento, nome, idade, tribo, e origem (origo), bem como sua fortuna, e justificar a posse de armas. Aos censores no competia to somente confirmar a veracidade desses dados, mas o seu mrito, por assim dizer, atravs do regimen (ou cura morum), a avaliao e julgamento dos costumes e modos de vida. Assim, o pertencimento declarado de um cidado a uma tribo era avaliada atravs de um escrutnio de seu modo de vida, de seus costumes (mores), que poderia acarretar, havendo alguma falta moral, em uma admoestao, em uma multa, ou, no caso do censor consider-lo indigno classe, funo ou tribo, em uma notatio censoria, uma marca junto a seu nome na lista de cidados, que retirava seu pertencimento a qualquer tribo (tribu movere et aerarium facere), ou que, quando da diferenciao hierrquica entre tribos rurais (mais prestigiosas) e
De legibus, 3, 7. Cod.6, 23,18; Cod. 6, 23, 23. Doaes a Roma tambm deveriam passar por ele (Cod. 8,53,32).
38 37
35
urbanas (menos), o demovia de uma daquelas a uma destas (tambm podia se dar o caso oposto: o censor reinscrever, por merecimento, na lista um cidado que havia sido removido das tribos: ex aerariis eximere). Os motivos pelos quais algum podia ser gravado pela infmia ou ignomnia censria (os romanistas ainda no chegaram a um acordo sobre o efeito jurdico gerado pela nota) eram muitos e os mais variados, mas, seguindo a lista oferecida por Mommsen, podemos enumerar alguns exemplos: a m conduta do soldado diante do inimigo ou de seus oficiais; a negligncia de agentes pblicos no cumprimento de seu dever; o abuso do imperium por parte de magistrados; abuso nas funes de jurado, em especial, a corrupo; abuso no direito de voto, tambm geralmente relacionado corrupo; usurpao das insgnias de classe; conduta desrespeitosa perante magistrados (em particular, diante dos prprios censores); condenao criminal por uma ao desonrosa, como o roubo; perjrio ou qualquer outro falso juramento, mesmo os promissrios; apario em pblico como ator ou gladiador assalariado; improbidade e m f nas relaes privadas; tentativa de suicdio; negligncia dos santurios e tumbas familiares; falta de piedade com o prximo; abuso do poder domstico, seja por excesso de rigor ou de indulgncia; casamento inapropriado; abuso do direito de divrcio; luxria ou ostentao de fortuna; etc. Como se v, aos censores cabia dar expresso poltico-jurdica, atravs da nota censoria e da atualizao da lista de cidados, a fatos extra-jurdicos e mesmo a fatos aparentemente extra-polticos, concernentes vida privada: um censor, diz Plutarco,
tem o direito de inquirir sobre a vida e reformar os costumes de cada um, porque os romanos consideravam que no devia ser lcito ao cidado casar-se por si, gerar filhos, viver em sua casa em particular nem dar banquetes e festins sua vontade, sem receio de ser repreendido ou representado [em juzo], no sendo bom largar a rdea a todo o mundo, a fim de cada um agir a seu gosto, como seu apetite incitasse ou seu julgamento guiasse; mas consideravam que a natureza e os costumes dos homens descobrem-se mais em tais coisas, e no naquelas que fazem
36
publicamente, em pleno dia e diante de todo o mundo. 39
Por meio do regimen morum, controle ou cuidado dos costumes, os censores politizam os modos de vida dos cidados, (des-) classificando-os de acordo com isso. Alm disso, como vimos, havia um controle desse tipo especialmente voltado ao Senado e s centrias eqestres. A mesma avaliao dos costumes era feita com os senadores, que poderiam ser removidos da lista senatorial (lectio senatus) por meio da notatio (que acarretava o senatu movere ou praeterire), o que comprova o imenso poder que os censores detinham, e tambm com os cavaleiros, que poderiam perder o direito de manter o cavalo (que, na Roma antiga, era pblico), se na equitum census os censores considerassem que este estava mal cuidado ou que seu portador havia cometido alguma falta moral. O exame moral ia to longe a ponto do censor, aps a declarao juramentada do cidado sobre seus bens, estimar o valor destes em prata (aestimatio censoria), podendo moderar, diminuir ou aumentar o valor da propriedade taxvel, tendo em vista no s questes econmicas, mas tambm aspectos morais (por exemplo: como a fortuna havia sido adquirida, como era gerida, etc.). Desse modo, a importncia que os antigos atribuam censura no deve ser reduzida, como poderia ser por um olhar contemporneo, racionalidade instrumental que ela possibilita na administrao pblica, ao permitir a cobrana de impostos e outros deveres dos cidados ao Estado (como as prestaes financeiras e de servios relacionados guerra) de acordo com a condio scioeconmica dos cidados. A medida (no duplo sentido do termo) censria tanto administrativa quanto moral, e assinala a inseparabilidade das duas esferas. Uma sociedade totalmente administrada nem por isso (ou talvez justamente por isso no) deixa de ser uma sociedade moralista. As demais funes dos censores, que, em aparncia, se referem a questes meramente administrativas, devem ser lidas pela mesma chave. Assim, por exemplo, o controle sobre os impostos exercido pelos censores permitia combater moralmente a luxria por meio de uma medida econmica: a taxao excessiva de determinado produto
39 Cat. Ma. 32. Nas citaes da biografia de Cato, o Velho, escrita por Plutarco, fao uso da traduo de Carlos Chavez, com modificaes quando o texto original exige.
37
considerado suprfluo. Competia tambm aos censores (mas no s), a regulao das receitas e despesas estatais, a manuteno de prdios pblicos, estradas, templos pblicos, etc., bem como a construo de novos ou a destruio daqueles considerados inadequados (por exemplo: teatros erguidos para festas pblicas, algo que ser, mais tarde, louvado por Tertuliano: Saepe censores nascentia cum maxime theatra destruebant moribus consulentes 40). evidente que motivos administrativo-econmicos entravam em considerao, na medida em que cabia ao censor tirar o mximo proveito de bens no utilizados pelo Estado, concedendo seu uso a particulares em troca de um valor em prata ou alienando-os, e abrindo licitaes (leges censoriae) para a construo de novos prdios pblicos. Todavia, o sarta tectaque aedium sacrarum locorumque publicorum tueri (Zelar pela boa conservao tanto dos templos quanto dos lugares pblicos) com que se nomeava o cuidado pelos edifcios religiosos e lugares pblicos mostra o componente moral-religioso envolvido nessas funes. Por que aos censores competia o zelo justamente das construes e vias pblicas e/ou religiosas? Como concatenar atribuies primeira vista de ordem gerencial ao regimen morum (regulao ou vigilncia dos costumes), que tanto as fontes antigas quanto as descries modernas sobre a censura enfatizam (e mesmo o estreito sentido contemporneo do termo se reduz a esta acepo) e que vimos como essencial ao censo? Aqui, a questo da aparncia , novamente, reveladora. As declaraes pblicas de vontade, o modo de lidar com as coisas pblicas, com as dignidades, e as prprias dignidades, so todas expresses de costumes, de modos de vida, assim como o modo de lidar com a propriedade. O censor vigia todas essas formas sensveis de nossos costumes, e da tambm ser de sua responsabilidade as vias pblicas, onde os costumes se do a ver. Alm disso, os templos e prdios pblicos expressam a constituio poltica, e revelam o modo de vida dos magistrados, assim como sua falta de manuteno revela a corrupo da ordem constituda, e os aquedutos sujos demonstram a sujeira moral, bem como o descaso com as vias pblicas revela a falta de integrao scio-poltica (do mesmo modo que a escolha dos locais que as vias ligam revela uma distino hierrquica de importncia poltica). A constituio poltica necessita se dar a ver, se expressar, e essa expresso, bem como seu controle, tarefa dos censores, que, para tanto, precisam verificar tambm se os modos de vida dos cidados e
40
De spect. 10 (Frequentemente os censores, zelosos pela moral, destruam os teatros to logo estes nasciam).
38
dos magistrados esto de acordo com o padro poltico-esttico, avaliando se estes aparecem, se manifestam, tal como esto classificados, nem que, para isso, precisem devassar os detalhes mais ntimos da vida, pois o bem pblico se beneficia da boa administrao da casa. 41 2.4. Os censores romanos tinham por arqutipo a figura do pater familias, que no era apenas o senhor absoluto da esfera privada, mas o modelo mesmo das magistraturas romanas 42, pois se caracterizava no por um domnio natural, e sim por um poder juridificado (a paternidade no apenas uma instituio, conforme veremos, como tambm pode ser trocada: pela adoo, no caso dos homens, e pelo casamento, no caso das mulheres). O nascimento em si de uma criana no produzia conseqncias jurdicas, que s se davam depois de uma espcie de segundo nascimento ritual, a aceitao do filho pelo pai, que poderia exercer o direito arbitrrio de exposio e abandon-lo (no limite, morte), seja por razes scio-econmicas, seja devido a avisos divinos, seja ainda por consideraes morais: s A partir do rito (...) do qual s ele [o pai] autor, (...) a criana entra num mundo regido pelas normas polticas 43, e no s no mundo privado e familiar da casa. Ou seja, o pater familias romano tinha o direito de decidir sobre o ingresso ou no do filho na esfera poltica-jurdica. De certo modo, podemos dizer que, por meio da confeco da lista de cidados, os censores continuamente suplementavam um poder desse tipo, decidindo, arbitrariamente, sobre o pertencimento ou no dos cidados ao corpo poltico e jurdico, j que a nota censoria acarretava a perda de direitos polticos (de voto, no caso de remoo das tribos, e do posto no senado, no caso de uma nota lectio senatus) e militares (o de servir s legies, ou, no caso da censura eqestre, o direito ao cavalo pblico), e deveria guiar as decises dos demais magistrados, especialmente a eleio de seus sucessores. Desse
41 42
MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. p. 363. O poder o que h de irredutvel e de essencial na raiz dessa noo [de paternidade]. justo por isso que se chamam patres os senadores, patricii os patrcios (segundo um processo de derivao que E. Benveniste mostrou ser prprio aos adjetivos formados a partir de nomes de funes oficiais, como edilcio, tribuncio, pretorcio), pater patriae o imperador, e Jupiter o deus que representa a funo soberana (THOMAS, Yan. Cato e seus filhos. Traduo de Felipe Vicari de Carli. Sopro. n. 66. Mar/2012). 43 Ibidem. Sobre o ius exponendi, cf. o essencial LUDUEA ROMANDINI, Fabin. A comunidade dos espectros. I. Antropotecnia.
39
modo, a censura poderia implicar uma excluso temporria de grande parte do mundo poltico-jurdico romano. Mas na importncia do exemplo que a relao entre censura e paternidade (e o carter paternalista de toda censura) se revela mais nitidamente. Como se sabe, na Roma antiga, a educao das crianas era, at o avano da cultura helenstica, um assunto privado que incumbia ao pai, e cujo modus operandi baseava-se justamente na exemplaridade: o pai era encarregado de encarnar um exemplo e de reproduzir um duplo sua imagem. Seria um erro crer que a exemplaridade no passa de um motivo ideolgico. Ela um modo de transmisso dos valores de pai para filho, numa sociedade onde a famlia , muito mais que uma clula de reproduo, o arqutipo mesmo da ordem social, e o pai a via de passagem obrigatria em direo Cidade. 44 Por um lado, a censura, aqui tambm, suplementa esta funo paterna, fornecendo um exemplo adicional e verificando se o duplo est, de fato, conforme a imagem. Por outro lado, o exemplo censrio tambm permite a passagem de volta da Cidade famlia. A boa gesto dos prdios e vias pblicas no beneficia apenas monetariamente o errio, mas a constituio poltica como um todo, tornando-se modelo a ser imitado pelos cidados na gesto de sua fortuna privada (fechando, assim, o crculo). Mas, mais importante do que isso, na medida em que o direcionamento dos gastos pblicos revela tambm prioridades morais, bem como a forma com que so feitos apresentam condutas morais, o bem privado muito se beneficia da administrao da cidade: a moderao no trato com a fortuna pblica converte-se em imagem ideal a ser transplantada para todas as esferas da vida (no trato com os filhos, com as festas), e a severidade e austeridade fiscais devem se converter na implacabilidade com as faltas morais de esposa e escravos, etc. por isso que os censores deveriam ser pessoas moralmente exemplares. Por meio do exemplo, a censura torna possvel a circularidade entre o privado e o pblico. O exemplo moral o instrumento censrio que produz a passagem entre o extra-jurdico e o politicamente relevante. O mais conhecido dos censores romanos, Marcus Cato Porcius era tido como exemplo de retido de costumes e defesa implacvel do modus vivendi romano. Cato, o Velho, adquiriu muitos inimigos na sua cruzada moral, tendo sofrido 44 processos em vida, e sido absolvido em todos. Grande louvador do mos maiorum, os costumes dos antepassados, pretendeu escrever um Carmen de moribus, um cantar sobre os costumes, que reuniria as sentenas morais pelas quais se guiava o povo
44
THOMAS, Yan. Cato e seus filhos.
40
romano. Alm disso, em sua histria de Roma, Origines, no nomeava os oficiais militares, pois estes podiam ser substitudos sem alterar o curso da guerra, pois os responsveis pelas vitrias romanas eram os bravos soldados uma estratgia textual semelhante de Herdoto, que optava por no registrar nomes de autores de feitos indignos, por no merecerem a fama, por no merecerem tornar-se imagens exemplares. A Cato se atribui a famosa frase Carthago delenda est. Como se sabe, ele defendia veementemente a destruio de Cartago, insistindo nela ao final de cada discurso sobre qualquer tpico: no senado, conta Plutarco, jamais deu aviso a qualquer assunto que fosse deliberado, que no juntasse sempre esse refro com vantagem. Por isso, acostumou-se a associar a frmula a Cato e sua rigidez e obstinao. Todavia, como mostrou Charles Little, se, no sentimento, a frmula uma descrio acurada de Cato; na forma ela foi modelada pela vida e gosto literrio dos tempos imperiais 45, no tendo sido registrada textualmente nestes termos seno muito tempo depois da morte do censor. Na biografia que Plutarco dedica ao famoso censor, Cato descrito como um hipcrita, no s por ter casado, quando ancio, com uma mulher dcadas mais nova, mas principalmente porque a exemplaridade que ele mesmo ressaltava na sua prpria figura contradizia a modstia qual apelava: no admitia que um homem de bem suportasse o louvor se isto no fosse em proveito do Estado e no entanto foi um dos homens que mais se louvou a si prprio, de tal forma, que se acontecesse a alguns, por esquecimento, em alguma coisa, esquecer seu dever, quando os repreendia, dizia: Devia desculp-los porque no eram Cates, para no falhar: queles que procuravam imitar alguns de seus atos, e no se saam bem, chamava-os Cates esquerda. 46 No relato de Plutarco, o prprio Cato aparece como um
LITTLE, Charles. The authenticity and form of Catos saying Carthago delenda est. Classical Journal, v. 29, n.6. mar/1934. pp. 429-435. 46 Cat. Ma. 19. Na comparao entre Cato e Aristides que faz parte de suas Vidas Paralelas, Plutarco retoma essa crtica: No repreendo Cato por suas reiteradas ostentaes e por ele se dizer o primeiro de todos, ainda que ele mesmo diga em um de seus livros ser demasiado imprprio que o homem se louve ou se culpe; contudo, para a virtude me parece mais perfeito que aquele que freqentemente se louve o que sabe viver sem louvao prpria ou vinda de outros (V). O episdio do segundo casamento de Cato com uma moa jovem no pde seno descreditar-lhe, porque sendo ele j to ancio, e tendo um filho na flor da idade e recm-casado, contrair npcias novamente com uma mocinha, filha de um servidor pblico, no foi algo que pudesse parecer bom (VI).
45
41
exemplo de um Cato esquerda, incapaz de imitar completamente a sua prpria imagem, o seu prprio exemplo, sinal de que a moral, os mos maiorum ligam-se muito mais a um culto imagem, a uma idolatria, que conscincia. Na formulao mordaz de Montaigne: O exemplo um espelho em que tudo se reflete vagamente e sob todos os seus aspectos. 47 2.5. Para o exerccio de suas funes, os censores romanos estavam imbudos de uma grande dose de arbitrariedade. Os exemplos que demos dos motivos para a notatio censoria so apenas um mero elenco no taxativo, e no formavam uma lista de tipos legais que deveriam ser aplicados. Se o censor, em tese, deveria avaliar aes, condutas ou costumes indignos de relevncia ao interesse pblico, cabia inteiramente a ele decidir o que exatamente constitua o interesse pblico ou a relevncia: depende, discorre Mommsen, exclusivamente do critrio do censor que perguntas ele far [aos cidados no recenseamento]; no h restries nem limites a esse critrio. por meio do regimen morum, da censura, que o censo, a contagem, se torna poltico e arbitrrio, se converte em classificao moral: Quem diz censo, diz arbitrrio; mais eminentemente ainda nesta avaliao dos costumes (...) que confere, verdadeiramente, a esta magistratura o seu carter e significao polticos. 48 Em uma distino que se tornou paradigmtica, Varro diferenciou o praetorium ius ad legem, a dependncia do juzo dos pretores em relao lei, s prescries legais e ao procedimento civil, do censorium iudicium ad aequum, o juzo censrio baseado na eqidade, desprendido de normativas. 49 Alm disso, o mesmo Varro definiu a censura como sinnima do arbtrio: Censor ad cuius censionem, id est arbitrium 50 o censor quem (re)censeia, isto , quem arbitra, como se a medio do censo, o seu carter arbitral, fosse inseparvel da arbitrariedade: um arbitrrio consciente e necessrio, equitativo na medida do possvel, mas eficaz, mesmo quando contrrio equidade, esta a censura. 51 Como vimos, o poder censrio tanto um poder constituinte quanto um poder que
47
MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro III. Traduo, prefcio e notas lingsticas e interpretativas de Srgio Milliet. Porto Alegre: Editora Globo, 1961. Cap XIII: Da experincia. p. 339; grifo nosso. 48 MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. p. 363. 49 Varro. De lingua latina VI, 7. 50 Varro. De lingua latina V, 14. 51 MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. p. 320.
42
suplementa o direito e a lei, expressando juridicamente fatos que, apesar de no serem jurdicos, podem possuir relevncia jurdica: sendo algum que funda a lei quando a enuncia, o censor se transforma em algum que est sempre antes quando o outro mesmo a lei chega. 52 Ou seja, o censor transita naquela topologia da exceo descrita por Giorgio Agamben, e da que Benveniste associe a censura auctoritas, e no potestas, ou seja, fora de lei e no lei: como na polcia, tal como descrita por Walter Benjamin, tambm na censura h uma mistura por assim dizer espectral entre a Gewalt (poder/violncia, fora de lei) usada para fins jurdicos (com direito de executar medidas) e a autorizao de ela prpria, dentro de amplos limites, instituir tais fins jurdicos. 53 Desse modo, a distino que Rancire traa entre poltica, enquanto constituinte de uma partilha do sensvel, e polcia, enquanto mantenedora de uma constituio esttica da comunidade j existente 54, invalidada pela censura, que , nesse sentido, tanto poltica quanto policial. A definio dos costumes que ferem a existimatio, a honra civil, no estava prevista em lei; cabia ao censor realiz-la, de modo que a cura morum no era apenas a manuteno de uma ordem, mas a sua constituio por isso, cada censo era encerrado com a cerimnia de purificao, a lustratio, com a apario pblica do povo dividido em tribos e centrias, um ato que o constitua politicamente. Alm disso, no manejo dos prdios e vias pblicas, uma funo aparentemente administrativa, o Estado se constitua sensivelmente. Esta posio poltico-jurdica excepcional da censura pode ser melhor compreendida se atentarmos s peculiaridades que caracterizavam a magistratura do censor. A primeira delas que ela no possua imperium, nem militar, nem judicirio, no podendo, ademais, reunir o povo ou presidir a eleio de seu sucessor, como os demais
Para comprender la censura. Literal. n. 2/3. Buenos Aires, mai/1975. pp. 15-22; citao na pgina 21 (usamos a verso recentemente compilada em: Literal (edio fac-similar). Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2011). 53 BENJAMIN, Walter. Crtica da violncia/Crtica do Poder. Traduo de Willi Bolle. Em: Documentos de cultura/Documentos de Barbrie: escritos escolhidos. So Paulo: Cultrix/Edusp, 1986. pp. 160-175; a citao da p. 166. Cf., tambm AGAMBEN, Giorgio. Stato di eccezione. Turim: Bollati Boringhieri, 2003; e DERRIDA, Jacques. Fora de lei: o fundamento mstico da autoridade. Traduo de Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Martins Fontes, 2007. 54 RANCIRE, Jacques. O desentendimento. Poltica e filosofia. Traduo de ngela Leite Lopes. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. p. 42-43.
52
43
magistrados maiores faziam. Entretanto, por outro lado, o censor era, juridicamente falando, irresponsvel pelos seus atos, na medida em que no podia ser levado a juzo por eles. Os pretores e cnsules no possuam major potestas face ao censor, pois este tambm era eleito, como eles, sob maximi auspiciis, nem mesmo par potestas, igualdade de poder, na medida em que ele era eleito sob outros auspcios. Assim, aqueles no poderiam interceder juridicamente em seus atos, e, se os tribunos podiam, era apenas nos casos das decises judicirias do censor: a confeco das listas de cidados, senadores e cavaleiros estavam isentas de qualquer ao judicial. Nas palavras de Mommsen, os romanos sentiram perfeitamente que uma tal jurisdio suprema sobre os costumes no podia existir sem a condio de no ter de responder sobre seus juzos a qualquer outro tribunal. 55 Tal arbitrariedade e irresponsabilidade eram mitigadas pelo fato, j mencionado, de que as decises de cada censor tinham que ser aprovadas pelo outro. Assim, se a ausncia de imperium e a durao limitada das decises dos censores (valiam s durante o exerccio da magistratura; os censores subseqentes podiam desfaz-las sem mais, e elas s se mantinham caso estes as renovassem) pareciam fazer da censura uma magistratura menor, poucos no perceberam que o cargo de censor assinalava o cume da dignidade e da honra que podia atingir um cidado romano, e que era, por assim dizer, o coroamento de todos os cargos e autoridades que podiam ter no governo da cidade. 56 O censor, ao registrar e criar, punir e instituir, postular uma medida e tomar uma medida, est carregado daquela anomia primordial que institui a lei e sobrevive a ela. 2.6. Ao incio de sua magistratura, os censores emitiam uma formula census ou lex censui censendo, uma declarao pblica contendo o programa de ao que levariam a cabo no exerccio de sua funo, a forma do juramento que os cidados deveriam prestar no censo, etc. Segundo Abel Greenidge, tais declaraes eram a viva Vox no do ius, mas do mores, e o cdigo moral, mesmo quando apenas parcialmente escrito, era um meio-termo feliz entre a moralidade garantida coercitivamente pelo Estado do legislador grego e as flutuantes e mal-
55 56
MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. p. 344. Plutarco. Cat. Ma. 32. Ccero chegou a chamar a censura de sanctissimus magistratus, a mais santa magistratura. Para Mommsen, ela era a primeira das magistraturas da Repblica.
44
definidas concepes das modernas opinies pblicas. 57 Segundo Greenidge, esses editos do censor, como tambm se chamavam de modo no-tcnico, eram divididos em trs partes: 1) conselho ou exortao (para que os cidados se casassem, por exemplo); 2) manifestao de desgosto com relao a certas condutas novas, precedidas pela expresso nobis non placere; 3) elenco de costumes infames. Desse modo, medida em que certos comportamentos passveis de ignomnias foram se normalizando nestas declaraes, ou seja, que foram se repetindo, o exemplo negativo de conduta deu lugar a uma tipologia, e grande parte da formula census foi substituda pelos editos dos pretores, o arbtrio se converteu em lei, e a liberdade do censor deu lugar ao cdigo:
Isto havia sido desde muito a tendncia da magistratura [censria]: pois vemos que, no caso de certas ofensas envolvendo ignomnia, um carter permanente foi dado para as decises dos censores. Este foi o caso do perjrio () e especialmente das profisses consideradas desgraadas, como a do ator. Tendo se estabelecido que isto desqualificava para todas as honras civis, era natural que deveria continuar a ser respeitado, e, assim, vemos como a infmia censria veio a assumir, com o tempo, (...) as categorias permanentes na Lex Julia Municipalis e no Digesto. Algumas ofensas repetidamente assim consideradas passaram a ser concebidas como envolvendo necessariamente a notao, e foi atravs da notatio que os censores pensaram fazla permanente. 58
Ou seja, h uma certa dialtica envolvida na fora de lei do poder censrio, que, sendo um meio termo entre codificao jurdica da moral e regulao moral difusa da opinio pblica, pode tender tanto para um lado (a positivao jurdica), quanto para o outro (a ausncia at mesmo da fora de lei). Abaixo da lei, acima da lei, constituinte da lei, o poder censrio foi concebido pelos romanistas como a mais
GREENIDGE, Abel H. J. Infamia: its place in Roman public and private Law. [1894]. Edio facsimilar digitalizada e reproduzida pela Cornell University Library Digital Collections. taca: Cornell University Press, 2009. p. 60. 58 Ibidem, p. 56-57.
57
45
republicana, porque a mais aristocrtica das instituies 59: por seus poderes grandiosos, como por sua arbitrariedade sem limites, pela sua alta nobreza moral e pelo egosmo de seu patriotismo local, a censura a expresso perfeita da Repblica Romana e ela por essncia incompatvel com o Principado. 60 como se a Repblica, para funcionar, necessitasse incorporar dentro de si a excepcionalidade arbitrria do poder censrio antes exercida pelo Rei, institucionalizandoa e fixando-a dentro de certos limites. Desse modo, se a magistratura do Censor decai com a Repblica, o mesmo no acontece com o poder censrio, diversas vezes reivindicado no Imprio, a comear por Domiciano, que, aps ter exercido a magistratura, nomeou-se censor perpetuus, com a auto-outorgao da censoria potestate, tendo sido chamado por Quintiliano de sanctissimus censor. 61 Aps a sua queda, nenhum outro imperador utilizou o ttulo, pois a dureza excessiva de Domiciano foi responsvel pelo primeiro de muitos descrditos que recaram sobre a censura. Todavia, isto no quer dizer que outros no se arrogassem a funo de cura morum, como, para dar o exemplo mais conhecido, foi o caso de Csar, ditador constituinte, que se disse praefectus moribus, dotando-se da cura legem et morum maxima potestate. Os imperadores renem em si aquilo que a Repblica havia isolado em diversas magistraturas, em especial aquele poder arbitrrio constituinte e classificador dos costumes. E mais: eles colocam-se, como havia feito Srvio Tlio no gesto inaugural, como exemplos. No por acaso, em uma carta dirigida justamente a um imperador (Trajano), Plnio, o Jovem, formular uma teoria da censura que far uma longa fortuna na histria do Ocidente:
Continue assim, Csar, e os princpios de seus atos tero o mesmo poder efetivo da censura. De fato, a vida de um imperador uma censura, verdadeiramente perptua; isso que nos dirige e nos guia, pois precisamos mais de exemplum que de imperium. O medo um professor dos costumes no-confivel. Os homens aprendem melhor pelos exemplos, pois estes possuem o grande mrito de provar que seu conselho praticvel. 62
59 60
Ibidem, p. 56. MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. p. 327. 61 Inst. 4 62 Plnio, o Jovem. Panegyricus Trajano, 45, 6.
46
Durante a medievalidade, o adgio vita principis censura est, e suas diversas variantes, ser constantemente invocado: o regente precisa ter uma vida exemplar, construir uma imagem virtuosa de si para que esta se propague o exemplo do prncipe a melhor censura. Entretanto, soa intrigante que, aps a dupla destituio do pater potestas a execuo na guilhotina de Lus XVI, e a afirmao de Berlier, poucos dias depois, de que O ptrio poder est abolido 63 , os seus prprios destituidores a invoquem, transferindo ao magistrado republicano a exemplaridade principesca-paternal, sem, contudo, conseguir disfarar completamente a paternidade romana da frmula. 2.7. Desse modo, o lao que une, atravs da censura, a exceo exemplaridade, a constituio poltica ao modelo moral, pode ser vislumbrado em um marco mesmo da poltica moderna. Com um gesto hegeliano, Karl Marx atribuiu o fracasso da Revoluo Francesa contradio entre o modelo poltico antigo adotado como referencial pelos jacobinos e as novas condies econmico-sociais tipicamente modernas: No (...) informe de Saint-Just sobre a polcia geral, o republicano caracterizado, bem conforme o sentido antigo, como um homem inflexvel, frugal, simples e assim por diante. A polcia deve ser, na essncia, uma instituio anloga censura dos romanos. No falta sequer meno a Codro, Licurgo, Csar, Cato, etc. 64 O problema que Marx identifica a reduo da poltica e do governo a questes morais, passveis de resoluo por intermdio de uma cura morum. De fato, no s a polcia geral caracterizada conforme a censura romana 65, como
Cf. as linhas finais de THOMAS, Yan. Cato e seus filhos, de onde tomo esta conexo. 64 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada famlia ou A crtica da Crtica crtica contra Bruno Bauer e consortes. Traduo e notas de Marcelo Backes. So Paulo: Boitempo, 2003. p. 140. Como adiantamos, a explicao de matriz hegeliana: a nova liberdade do Esprito no havia encontrado um objeto, tornando-se nada explicao que continuou tendo grande influncia, dominando grande parte da teoria poltica do sculo XX, de Kojve at mesmo Hannah Arendt, para a qual os jacobinos foram incapazes de criar instituies polticas que fizessem durar a Repblica. 65 Um homem revolucionrio inflexvel, mas ele sensvel, ele frugal, ele simples sem se dar o luxo da falsa modstia; ele o inimigo irreconcilivel de toda mentira, de toda indulgncia, de toda afetao. Como seu objetivo ver triunfar a revoluo, ele no a censura jamais, mas condena seus inimigos sem se envolver com eles; ele no afronta, mas esclarece (...) O homem
63
47
tambm uma reabilitao desta preconizada por Saint-Just: Deve haver em toda revoluo um ditador para salvar o Estado pela fora, ou censores para salv-lo pela virtude, enuncia na parte dos Fragments dInstitutions Rpublicaines dedicada censura. Alm de sugerir a indissociabilidade revolucionria entre virtude e Terror, a qual voltaremos mais tarde, Saint-Just sublinha que a correta constituio poltica implica a necessidade de criar magistrados para dar o exemplo nos costumes: a garantia dos deveres e da inflexibilidade dos funcionrios assim a garantia dos direitos da liberdade dos cidados. 66 por isso que A censura mais severa exercida sobre aqueles que so empregados do governo. O censor preconizado por Saint-Just vigia de perto as condutas dos magistrados e funcionrios, garantindo que estes se apresentem como exemplos para os cidados: Os censores acusam, nos tribunais, os funcionrios conspiratrios ou dilapidadores; aqueles que oprimem os cidados; aqueles que no executam, no prazo, as medidas de governo e de sade pblica; todos os agentes, em suma, que prevariquem, da maneira que seja. Para salvar o Estado pela virtude, seus agentes devem ser controlados de perto pelos censores, que moldam aqueles em padres a serem imitados. Por isso, eles mesmos precisam ser exemplares: proibido aos censores falar em pblico. A modstia e a autoridade so suas virtudes. Eles so inflexveis. Eles questionam os funcionrios para que estes prestem contas de sua conduta; eles denunciam todo abuso e toda injustia no governo; eles no podem nem relevar nem perdoar. O objetivo da censura, bem como da polcia geral, seria, desse modo, formar uma conscincia pblica, que se distinguiria do Esprito pblico, pois este se encontra nas cabeas, e nem todos no podem ter uma igual influncia de entendimento e de iluminao, enquanto aquela se encontra nos coraes, que so iguais pelo sentimento do bem e do mal, e consiste na inclinao do povo para o bem geral. 67 Como veremos, no s a postulao moderna da censura, mas tambm o vocabulrio envolvido (sade, salvao, exemplo, virtude,
revolucionrio pleno de honra; ele polcia sem farda, mas por lealdade [franchise], e porque ele est em paz com seu prprio corao. (...) O homem revolucionrio intransigente com os mpios, mas ele sensvel; ele zeloso da glria de sua ptria e da liberdade (...); ele corre para os combates, ele persegue os culpados, e defende a inocncia diante dos tribunais; ele diz a verdade a fim de que ela instrua, e no para que ela ultraje (SAINT-JUST, Louis Antoine de. Oeuvres. Paris: Prvot, 1834. p. 304-5). 66 SAINT-JUST, Louis Antoine de. Oeuvres. p. 414; grifo nosso. 67 Ibidem, p. 415.
48
sentimento, etc.) no so uma inveno dos jacobinos, que apenas ressignificam uma tradio poltica presente j na primeira teorizao do Estado soberano. Walter Benjamin, na dcima-quarta de suas Teses sobre o conceito de histria, equiparou a invocao jacobina de Roma moda:
A histria objeto de uma construo, cujo lugar no formado pelo tempo homogneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora (Jetztzeit). Assim, a antiga Roma era, para Robespierre, um passado carregado de tempo-deagora, passado que ele fazia explodir do contnuo da histria. A Revoluo Francesa compreendiase como uma Roma retornada. Ela citava a antiga Roma exatamente como a moda cita um traje do passado. A moda tem faro para o atual, onde quer que este se mova no emaranhado de outrora. Ela o salto do tigre em direo ao passado. S que ele ocorre numa arena em que a classe dominante comanda. O mesmo salto sob o cu livre da histria o salto dialtico, que Marx compreendeu como sendo a revoluo. 68
No caso da censura, a arena j havia sido montada h tempos, e abarcava at mesmo a prpria moda. esta arena em que se d o retorno da censura romana que devemos analisar agora. 2.8. Jean Bodin, responsvel pelo moderno conceito de soberania, inicia o ltimo dOs seis livros da Repblica com um captulo dedicado magistratura do censor (e suas duas funes primordiais: a de promover o censo e a de praticar a censura dos costumes). Ali, ele afirma sem pestanejar que a reforma peridica dos abusos foi uma das melhores e mais excelentes medidas que j se introduziu em qualquer Estado, e que muito contribuiu para a preservao do Imprio romano: as melhores e mais prsperas cidades no podem subsistir por muito sem Censores.
Fao uso da traduo realizada por Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutz Mller, contida em LWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incndio. Uma leitura das teses Sobre o conceito de histria. So Paulo: Boitempo, 2005. p. 119
68
49
O motivo para tal louvao do poder censrio a capacidade que ele teria de atingir uma regio que a lei no alcana: suficientemente bvio que os mais detestveis vcios que envenenam o corpo poltico no podem ser punidos pela lei. Os censores, como seus modelos romanos que se ocupavam sempre daqueles abusos que no eram apresentados aos tribunais, deveriam agir neste espao: Pode-se ver como a maioria dos Estados so atormentados por vagabundos, andarilhos, e rufies que corrompem os bons cidados pelos seus feitos e seu exemplo. No h meios para se livrar de tais vermes salvo pelo censor. Justo Lpsio, contemporneo de Bodin, sumarizar tal campo de atuao com uma definio sinttica e eficaz, que constituir um ponto firme nas sucessivas teorias sobre o Estado da primeira idade moderna: Et appello Censuram, animadversionem in mores aut luxus eos, qui legibus non arcentur 70: a censura chega l aonde a lei no chega. Que homem, pergunta Bodin, est to enganado a ponto de medir a honra e a virtude apenas pelas regras da lei?: a honra e a virtude possuem outro metro e outra forma de controle. O Estado no ameaado apenas pelos crimes punveis pelos tribunais: os pequenos vcios podem se espalhar pelo exemplo, minando a autoridade pblica. A virtude e a honra so envenenadas por pequenos gestos de corrupo e caberia ao censor vigi-los e puni-los. Essa punio no deveria se dar pela via processual, mas pela reprimenda pblica uma palavra, um olhar, um risco da caneta do censor romano inspirava um pavor muito mais vivo que todas as sentenas e punies dos magistrados. Da a necessidade do censor ser uma figura exemplar e no poder ser responsabilizado pelos seus atos. Apesar dessa esfera pra-legal de atuao, a importncia da censura, para Bodin, no pode ser menosprezada. como se os crimes e as sedies nascessem dos pequenos vcios, como se estes contagiassem e fizessem ruir a esfera poltica: Uma vez que a censura negligenciada, as leis, a virtude e a religio so desprezadas, como aconteceu em Roma pouco tempo antes do Imprio cair em runas.
Neste captulo, todas as citaes dOs seis libros da repblica so referentes ao primeiro captulo do sexto livro, e a edio utilizada : BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Lyon: Jean de Tournes, 1579. 70 BIANCHIN, Lucia. Dove non arriva la legge. p. 235. Bianchin responsvel por uma genealogia da censura na primeira modernidade, Dove non arriva la legge, que aborda, alm de Bodin e Lpsio, Grgoire, Althusius e Werdenhagen. Como se pode notar, apesar do diferente recorte temporal, a breve genealogia aqui proposta deve muito a de Bianchin.
69
69
50
importante ressaltar que, fiel aos romanos, Bodin mantm unidos, com o nome de censure, tanto a censura aos costumes, quanto o censo, que seriam indissociveis. A modernidade ir separar estas duas funes do poder censrio, ignorando o lao que as une: no h censura que no dependa de uma contagem, de um escrutnio baseado em informaes tomadas (algo que fica mais claro nos momentos de exceo, nos quais o aparato de censura dos costumes se ampara em uma rede policial de espionagem, os chamados servios de informao), assim como no h censo que no implique certa escala valorativa poltico-moral da conduta dos cidados (o voto censitrio, que vigorou em muitos pases at recentemente, uma expresso literal disso: a contagem dos bens enlaa-se com um posicionamento na ordem representativa, de cunho poltico-moral). Desse modo, ainda que o resgate do censor romano por Bodin tenha fins poltico-administrativos, visando um incremento gerencial na captao de impostos, nos ofcios de guerra, na ordenao energtica da populao (com um controle da produtividade dos seus integrantes), e, por meio do registro dos domiclios de cada cidado, no controle dos movimentos dos subordinados ao soberano (integrando os primrdios daquele processo chamado por John Torpey de monoplio dos meios legtimos de movimento 71), constituindo, desse modo, uma das razes do Estado de populao, ou biopoltico, no sentido mais amplo dado ao termo por Michel Foucault 72, estas funes todas so indissociveis da inteno de regular e controlar o modo como os sditos aparecem e se do a ver. Assim, o censo, para Bodin, no serve apenas para ordenar melhor os impostos e os servios de guerra, ou seja, no tem apenas finalidade administrativo-gerencial. O recenseamento da populao e de sua fortuna permite, por exemplo, identificar os falsos nobres, aqueles que forjam ttulos senhoriais ou de linhagem; alm disso,
71
TORPEY, John. The invention of the passport: Surveillance, Citizenship and the State. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. p. 7. O livro de Torpey essencial para compreender a relao entre os dispositivos de controle do movimento e os regimes polticos de exceo, em especial o uso que o nazismo fez de registros, contagens, censos, etc., tanto para otimizar as aes de guerra e de ocupao, quanto para possibilitar a infame soluo final. 72 A biopoltica lida com a populao, e a populao como problema poltico, como problema a um s tempo cientfico e poltico, como problema biolgico e como problema de poder (FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collge de France (1975-1976). Traduo de Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 293).
51
um dos maiores e mais necessrios frutos que se pode colher nesse recenseamento e contagem dos sujeitos a descoberta da fortuna e faculdade de cada homem, e como ele se sustenta, e, portanto, de expelir para fora da Repblica todos os zanges, que sugam o mel das abelhas, e de banir vagabundos, pessoas ociosas, ladres e rufies, que vivem e convivem entre os homens bons, como lobos entre ovelhas, gastando suas vidas no roubo, jogo, gatunagem, bebida e prostituio; os quais, embora caminhem na escurido, devem mesmo assim de agora em diante serem vistos, notados e conhecidos [grifos nossos].
Como Antonio Serrano Gonzlez demonstrou, o que est em jogo na reivindicao da censura por Bodin um problema teatral de encenao: tudo pode ir bem em princpio se so dadas umas condies tais que permitam que tudo aquilo que aparece por exemplo: reis, ricos, vagabundos resulte o suficientemente representativo para que reste identificado e situado no cenrio da Repblica. 73 Os homens de bem, diz Bodin no temem a luz, [e] ficaro contentes em ter suas fortunas conhecidas, bem como suas qualidades, riqueza e modo de vida. O censor deve trazer luz aqueles que se escondem dela e atribuir um status negativo, por meio da censura, queles que forjam seu status imiscuindo-se entre as pessoas de bem. Desse modo, como bem definiu Serrano Gonzlez, a censura para Bodin
Constitui um princpio tcnico de repartio da ordem. Contudo, no pode consistir exclusivamente em uma serie de operaes quantitativas de grande escala, pois no se pode esquecer que o lobo j se encontra camuflado entre as ovelhas. A desordem convive diariamente com a ordem, viciando o jogo da representao. (...) A confuso insere algo assim como um veneno no corpo da Repblica, razo pela qual a censura destes componentes instveis e falsrios tambm deve consistir em um fornecimento constante e cotidiano de antdotos. (...) Esta instituio no deve apenas iluminar o corpo
73 SERRANO GONZLEZ, Antonio. Como lobo entre ovejas: soberanos y marginados en Bodin, Shakespeare, Vives. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 103.
52
social de modo estruturante, mas tambm lanar luz, aqui e ali, em grandes doses, sobre as tristes tabernas. Os censores possuem assim uma funo especfica, que os distingue do resto dos magistrados e os assemelha at certo ponto aos eclesisticos: dotados de uma maior sensibilidade na hora de detectar o artifcio, so os mais encarregados de que a representao da ordem se leve a cabo nos substratos mais baixos, mais capilares da Repblica. 74
No esquema da representao da soberania, figuras como o vagabundo, o andarilho e o mendigo aparecem como censurveis no apenas por serem zanges ociosos que sugam o mel das abelhas trabalhadoras, mas por se imiscurem como lobos entre ovelhas, por se camuflarem, andarem na escurido, no possurem um lugar (fsico e representativo) na ordem soberana. Esta liberdade em relao partilha poltica do sensvel, uma liberdade de criar e mudar o seu lugar nela, faz com que eles apaream, em ltima instncia, como figuras invertidas do soberano. Erasmo de Roterd captou isto perfeitamente no seu Dilogo de Mendigos. Ali lemos que No h nada mais parecido a um Rei que a vida de um mendigo, pois a felicidade dos Reis a de fazer o que lhes apraz:
Sobre esta liberdade, em relao a qual nada mais doce, ns temos mais dela que qualquer Rei na Terra; e no duvido que h muitos Reis que invejam ns mendigos. Haja guerra ou paz, vivemos seguros, no somos convocados (...) nem taxados. Enquanto as pessoas so sobrecarregadas por impostos, no h nenhum escrutnio sobre nosso modo de vida. Se cometemos qualquer ato ilegal, quem processar um mendigo? Se batemos num homem, no ter ele vergonha de brigar com um mendigo? Reis no podem viver com tranqilidade nem na guerra nem na paz, e quanto mais grandiosos so, maiores so seus medos. (...) Ns devemos nossa felicidade a esses farrapos. 75
74 75
Ibidem, p. 95-96. O Dilogo de Erasmo participa da elaborao literria da figura do mendigo, que, como mostrou Chartier, teria grandes conseqncias na percepo moderna sobre os vagabundos. Cf., para uma leitura recente do tema, CHARTIER,
53
Percebe-se claramente, por trs do tom satrico e zombeteiro de Erasmo, como os mendigos e vagabundos podem ser vistos como exemplos negativos capazes de levar a sedies: eles coabitam, corajosamente, o espao da anomia em que transita e opera o soberano. A censura, atuando nesta zona alegal, deve evitar que o exemplo se propague e os vagabundos, rufies, falsificadores, etc., convertam-se, de fato, no anverso da soberania, ou seja, em piratas. 76 A censura deve retirar os farrapos do mendigo para dar a ver seus vcios morais, e, assim, classific-lo na ordem vigente. 2.9. Em Bodin, aparecem sumarizados a maioria dos tpicos que estaro presentes no debate sobre a censura nos sculos seguintes. Contudo, a ligao com o censo aos poucos se perder, algo que, a longo prazo, ter conseqncias sobre a definio do rgo responsvel por exercer o poder censrio, e permitir, especialmente no mbito francs, que se postule uma relao entre censura e sentimento, abrindo terreno, desse modo, para as postulaes jacobinas. Ao final do quinto livro dO esprito das leis, Montesquieu responde a cinco questes relativas aos princpios das formas de governo. A ltima delas a pergunta sobre em qual tipo de governo so necessrios censores. Montesquieu responde sem hesitar, em uma passagem que ser mencionada no verbete dedicado ao Censeur da Encyclopdie de Diderot e DAlembert: Eles so necessrios numa repblica em que o princpio do governo a virtude. 77 Se a necessidade
Roger. La construccin esttica de la realidad. Vagabundos y pcaros en la Edad Moderna. Tiempos modernos. v. 3, n. 7 (2002). pp. 1-15. 76 Sobre o peculiar estatuto jurdico excepcional dos piratas, cf. o recente livro de HELLER-ROAZEN, Daniel. The Enemy of All. Piracy and the Law of Nations. Nova Iorque: Zone Books, 2009. 77 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do esprito das leis. Traduo de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1973. p. 86; grifo nosso. A funo dada ao censor, seu raio de ao e a importncia atribuda a ela se assemelham ao que Bodin j dissera, a comear pelo campo em que ela atua: Em Roma, dois magistrados particulares ocupavam-se da censura. Considerando-se que o senado vela pelo povo, cumpre que os censores vigiem o povo e o senado. necessrio que eles restabeleam na repblica tudo o que foi corrompido, que apontem a indolncia, julguem as negligncias e corrijam os erros, do mesmo modo como as leis punem os crimes (p. 74). Alm disso, o magistrado responsvel pela censura no deve se submeter a limitaes legais: Com efeito,
54
da censura se atrela virtude, ento, conclui o filsofo, Percebe-se facilmente que no so necessrios censores nos governos despticos, que se fundam no Medo (ou no brao do prncipe). Alm disso, os censores so igualmente desnecessrios nas monarquias, pois estas so baseadas na honra e a natureza da honra ter por censor todo o universo:
Todo homem que falta com a honra alvo das reprovaes at mesmo dos que no a tm. Nas monarquias, os censores seriam corrompidos por aqueles mesmos que deveriam corrigir. No seriam teis contra a corrupo numa monarquia, pois a corrupo de uma monarquia seria muito forte contra eles. 78
A honra no a virtude, e esta, por sua vez, no o princpio do governo monrquico: Nas monarquias, a poltica manda fazer as grandes coisas com o mnimo de virtude possvel. 79 Aqui, cabe nos determos nos termos com que Montesquieu distingue a honra da virtude, pois a partir do peculiar estatuto que confere ltima que se deixa ver o campo de atuao atribudo censura. O que est em jogo , antes de tudo, o modo de relao do sujeito com as leis (com a constituio poltica, em sentido amplo) e com os demais sujeitos, a posio de cada um diante da lei e dos outros: claro que numa monarquia, onde quem manda executar as leis se julga acima das leis, tem-se necessidade de menos virtude do que num governo popular, onde quem manda executar as leis sente que ele prprio a elas est submetido e que delas sofrer o peso. 80 interessante como, no interior da argumentao de Montesquieu, a virtude precede ontologicamente a honra (e, conseqentemente, a repblica precede a monarquia). S assim se torna possvel discorrer, como o filsofo faz, sobre o modo Como se supre a
os censores no devem ser perseguidos pelas coisas que fizeram durante sua censura. necessrio infundir-lhes confiana e nunca desnimo. Os romanos eram admirveis; podia-se reclamar de todos os magistrados, as razes de seu procedimento, exceto aos censores (p. 76). E, por fim, a censura seria uma tarefa essencial manuteno do Estado, como prova o exemplo do Imprio romano: A corrupo dos costumes destruiu a censura, ela prpria estabelecida para destruir a corrupo dos costumes; mas, quando esta corrupo se tornou geral, a censura no teve mais fora (p. 361). 78 Ibidem, p. 86. 79 Ibidem, p. 49. 80 Idem.
55
virtude no governo monrquico. Ao governo monrquico, diz no segundo livro, falta uma mola, mas ele possui outra: a Honra, isto , o preconceito de cada pessoa e de cada condio, ocupa o lugar da virtude poltica (...) e a representa em toda parte. 81 A honra, portanto, funciona como uma espcie de suplemento da virtude, ou melhor, como uma representao da virtude. A funo de ambas, como vimos, estabelecer uma relao com a lei e com quem a executa, e um modo de se portar, de se colocar diante da constituio poltica e dos demais. Na monarquia, vige uma srie de poderes intermedirios (com destaque nobreza, sem a qual a monarquia se torna despotismo), que fixam esta relao. Por isto, em uma monarquia, as leis devem tornar a honra hereditria, no por ser o limite entre o poder do prncipe e a fraqueza do povo, mas por ser o liame de ambos. 82 A honra, portanto, um critrio objetivo (um preconceito) que determina a forma com que os sujeitos agem, aparecem e se portam diante da lei e dos demais: uma condio pessoal que equivale a um lugar pblico por essa razo, nas monarquias, os crimes pblicos so mais particulares. 83 Mas o que a honra supre? O que a virtude no Estado poltico para Montesquieu? A virtude numa repblica, responde o filsofo, algo muito simples; o amor pela repblica; um sentimento e no uma srie de conhecimentos. 84 Na repblica, regida pela igualdade dos cidados, em que os governados tambm governam, falta um critrio objetivo para determinar o lugar de cada um, as maneiras pelas quais cada um se relaciona com a constituio poltica. Por esta ausncia de uma regra (pblica) que se torna necessrio um sentimento (privado). Nesse sentido, talvez seja mais correto dizer que a virtude que representa ou suplementa a honra, e no o contrrio: se, na monarquia, a honra objetivada estabelecia uma relao direta entre o lugar privado de cada um (a sua pessoa) e o seu lugar pblico (a sua condio), na
Ibidem, p. 52. Ibidem, p. 77. 83 Ibidem, p. 51. A relao de exclusividade, traada por Montesquieu, entre censura e virtude, em detrimento da honra uma falsificao caso a relacionemos com a magistratura romana: como vimos, o termo grego usado para traduzi-la era timets, derivado de tim, honra o censor o guardio da honra. Talvez, porm, este erro derive do afastamento semntico moderno, j presente aos tempos de Montesquieu, entre censura e censo, entre policiamento dos costumes e sua determinao objetiva, de modo que tambm virtude (subjetiva) e honra (objetiva) se afastam (o que no era ainda o caso na argumentao de Bodin). 84 Ibidem, p. 69.
82 81
56
repblica, tal correlao se d por intermdio da virtude, um sentimento subjetivo. Sem uma norma pblica que guie os cidados no seu modo de se portar diante da lei e entre si, Montesquieu coloca como fundamento da repblica um sentimento, ou seja, algo da ordem privada, que, todavia, consiste justamente na renncia ao interesse privado: Esse amor, exigindo sempre a supremacia do interesse pblico sobre o interesse particular, produz todas as virtudes individuais; elas no so mais do que esta supremacia. 85 patente aqui a circularidade da virtude, um verdadeiro crculo virtuoso: a virtude, essa renncia a si prprio, produz a virtude, o amor pela repblica; ou, em outra formulao do mesmo Montesquieu, O amor pela ptria acarreta a pureza dos costumes, e a pureza dos costumes acarreta o amor pela ptria. Ao postular a virtude como modo de relao dos cidados entre si e com a lei, Montesquieu parece questionar a prpria distino que construir em um captulo posterior: a diferena entre leis, que regem as aes do cidado (pblico) e os costumes, que regem mais as aes do homem (privado) e mesmo a diferena entre os costumes, que concernem mais conduta interior, e as maneiras, que dizem respeito conduta exterior. 86 A repblica de Montesquieu torna publicamente relevante aquilo que da ordem privada, criando uma zona de indistino entre ambas as esferas. Como conseqncia, toda ao privada ganha relevncia pblica; na repblica, ao contrrio da monarquia, os crimes particulares so os mais pblicos, isto , atentam mais contra a constituio do Estado do que os indivduos. 87 Se a virtude produz a virtude, evidente o efeito nefasto dos crimes, e a necessidade de sua punio exemplar. Mas a prevalncia da virtude deve sempre aparecer, ainda mais naqueles campos que a lei no atinge: H meios para impedir os crimes: as penas; h outros para acarretar a mudana das maneiras: os exemplos. 88 A idia de um exemplo, uma imagem que tem efeitos essencial na esfera no regulada pela lei. No s os exemplos virtuosos devem ser propagados; os exemplos nefastos devem ser controlados. Da que no s os crimes fatos jurdicos particulares se tornem publicamente relevantes; todas as aes, mesmo as da esfera privada, devem ser tomadas como manifestaes da virtude ou do vcio. E aqui que entra a necessidade da censura:
85 86
Ibidem, p. 62. Ibidem, p. 279. 87 Ibidem, p. 51. 88 Ibidem, p. 278.
57
No so apenas os crimes que destroem a virtude, mas tambm as negligncias, os erros, uma certa tibieza no amor ptria, exemplos perigosos, sementes de corrupo, tudo que no contraria as leis, mas as elude; o que no as destri mas as enfraquece; tudo isso deve ser corrigido pelos censores. 89
Exemplos perigosos, sementes de corrupo que enfraquecem as leis. O censor de Montesquieu um vigia da virtude, sempre atento aos efeitos que uma manifestao contrria a ela possa causar. 2.10. Em seus Comentrios aO esprito das leis, Voltaire se volta contra a passagem em que Montesquieu ressalta a necessidade dos censores na repblica, devido ao princpio da igualdade que a rege:
A censura muito boa, em geral, para manter num povo os preconceitos teis queles que governam. (...) O receio de ser degradado pelo censor tanto maior, quanto mais se for sensvel s honras, s distines, s prerrogativas. Os homens guiados pela virtude ririam dos juzos dos censores, e empregariam a prpria eloqncia a fim de fazer abolir esse estabelecimento ridculo. 90
Voltaire retoma aqui um tpico clssico, que ser sintetizado de modo belssimo por Paul Valry em seu Informe sobre os prmios virtude, discurso feito na Academia Francesa em 1934: A luz entorpece e despede o bem; o rudo o pe em fuga; por isso a verdadeira virtude se oculta mais profundamente que o vcio. 91 O poder censrio consiste
Ibidem, p. 86. Os Commentaire sur LEsprit des lois apareceram em 1777. Posteriormente, parte das anotaes de Voltaire sobre o livro de Montesquieu foram reunidas junto com as de Crvier, de Mably, de la Harpe, entre outros, em forma de notas a uma edio de O esprito das leis, tomada como base da traduo aqui citada (MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do esprito das leis. Com as anotaes de Voltaire, de Crvier, de Mably, de la Harpe, etc. Primeiro volume. p. 89). 91 VALRY, Paul. Estudios filosficos. Traduo ao espanhol por Carmen Santos. Madri: Visor, 1993. p. 220. Desta maneira, mesmo que o vcio aparecesse mais, que o criminoso houvesse se tornado uma desgraada
90 89
58
justamente em trazer luz a virtude e o vcio, em disp-los em uma ordem aparente com fins polticos, medindo-os de acordo com um parmetro. Desse modo, o paradoxo em que Cato recaa no relato de Plutarco inerente censura, que tende a tornar a virtude um penduricalho bom para se pendurar no gabinete, uma palavra solta na ponta da lngua, um simples enfeite, como um brinco 92, ou seja, um ttulo vazio. Na filosofia moderna, coube a John Locke enfatizar tal indissociabilidade entre virtude, aparncia e censura. A passagem do Ensaio sobre o entendimento humano (publicado pela primeira vez em 1690) em que o filsofo ingls aborda a censura encontra-se no contexto da diferenciao entre trs planos diferentes de leis com as quais os homens medem suas aes e julgam da retido ou prevaricao das mesmas: a Lei Divina, a Lei Civil e, por ltimo, a Lei da Opinio, ou Reputao. 93 A primeira a Medida do Pecado e do Dever, que tem como sano as recompensas e castigos com peso infinito numa outra vida 94; j a segunda a Medida dos Crimes e Inocncia, a regra estabelecida pela comunidade [commonwealth] para as aes dos seus membros, que julga se estas so criminosas ou no 95; por fim, a terceira a Lei Filosfica, Medida da Virtude e do Vcio. a essa Lei que Locke d a maior ateno, designando-a por diferentes nomes: Lei da Opinio, Lei da Reputao, Law of Fashion, e, finalmente, Lei da Censura Privada (Law of Private Censure):
celebridade (p. 221), haveria muitos exemplos de virtude escondidos, os quais Valry d a ver, relatando-os para seu interlocutor imaginrio que procurava a virtude somente nos lugares e instituies mais conhecidos e homenageando-os com seu discurso: por exemplo, as enfermeiras dos pobres da rua Xaintrailles, em Paris, que so veneradas e na rua, quando passam, se percebe o reconhecimento a elas nos olhares (p. 225). Ao faz-lo, porm, Valry torna visveis tais exemplos escondidos: com seu discurso, as enfermeiras dos pobres no so mais apenas reconhecidas nas ruas, mas conhecidas pela Academia Francesa e pelo mundo. 92 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro I. Traduo, prefcio e notas lingsticas e interpretativas de Srgio Milliet. Porto Alegre: Editora Globo, 1961. Cap XXXVII: Cato, o jovem. p. 279. 93 LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano. v. I: Livros I e II. Introduo, notas e coordenao da traduo por Eduardo Abranches de Soveral. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1999. p. 467. 94 Idem. 95 Ibidem, p. 468.
59
pois, embora os homens se unam em sociedades polticas, delegam no pblico a fora de todo o seu poder, de modo a que no a podem aplicar contra qualquer concidado para alm do que a lei do seu pas o permite; todavia, mantm, ainda, o poder de julgar bem ou mal, de aprovar ou desaprovar as aes daqueles com quem vivem e com quem conversam, e a partir desta aprovao e desaprovao estabelecem entre eles o que iro designar como virtude e vcio. 96
Parece faltar a essa lei, diz Locke, algo essencial prpria definio de lei: o poder de a executar [a power to enforce it], a fora de lei, a coercibilidade jurdica. Mas, explica o filsofo ingls, se, de fato, um homem pode transgredir as leis de Deus, esperando alguma reconciliao posterior, e mesmo as leis civis, apostando na impunidade, ele no pode escapar ao castigo da censura e do descrdito quando vai contra os costumes e opinies daqueles com quem convive e aos quais se subjuga: ningum que tenha um mnimo de inteligncia e de senso consegue viver numa sociedade debaixo do repdio e das ms opinies dos seus familiares e daqueles com quem convive. 97 A Lei da Opinio, que no parece propriamente uma lei, mais poderosa que a lei de fato (a maior parte [da humanidade] se governa principalmente, se no somente, por esta lei de costumes [Law of Fashion] 98). E, assim como ela no tem fora de lei, tambm no estabelecida por algum poder. A medida da virtude e do vcio se forma atravs de um consenso secreto e tcito:
Assim, a medida do que em todo o mundo designado e considerado como virtude e vcio a Ibidem, p. 469. Ibidem, p. 470-471. Continua Locke: e, assim, faz aquilo que a mantenha de bem com os seus semelhantes e d pouca ateno s leis de Deus ou aos seus magistrados. Muitos, ou melhor, a maioria no reflete sobre as sanes resultantes da desobedincia s leis de Deus, e entre aqueles que o fazem, muitos, enquanto desobedecem lei, tm em mente reconciliaes futuras e pensam fazer as pazes em relao a tais desobedincias. E no que diz respeito aos castigos derivados das leis da comunidade, encantam-se freqentemente com as promessas de impunidade. (...) No existe um homem em dez mil que seja suficientemente duro e insensvel para suportar o descrdito e a condenao constantes do prprio grupo. 98 Ibidem, p. 471.
97 96
60
aprovao ou a averso, o louvor ou a censura, que, atravs de um consenso secreto e tcito, se estabelece nas diversas sociedades, tribos, e clubes de homens de todo o mundo; de onde, diferentes aes encontram a aprovao ou o descrdito de acordo com o juzo, mximas e costumes [fashion] desse lugar. 99
Mas h mais. Esse consenso varivel. Na sua reivindicao da censura para a esfera privada, Locke acaba por trazer ao primeiro plano um aspecto encoberto pela leitura moralista de Bodin e, mais tarde, de Montesquieu: a ntima conexo da censura com a esfera da aparncia. A medida da virtude e do vcio varivel de lugar para lugar: devido aos diferentes temperamentos, educao, costumes [fashion], mximas ou interesses dos diferentes tipos de homens aconteceu que o que era considerado louvvel num lugar no escapou censura num outro, e, assim, em sociedades diferentes as virtudes e os vcios variam. 100 O nico denominador comum, diz Locke, a associao, universal, da virtude com o louvor (termos sinnimos em Ccero e Virglio) e do vcio com a repreenso; por isso, a recompensa e a sano da Lei da Opinio so, respectivamente, o Louvor e o Descrdito: A virtude em todo lado aquilo que louvvel, e nada mais do que aquilo que tem a estima do pblico considerado virtude, um argumento, deve-se salientar, j presente na tica a Nicmaco de Aristteles. 101 Os
Ibidem, p. 468-469. Ibidem, p. 469; traduo modificada. 101 Idem. A primeira edio do Ensaio receberia crticas, como a de Lowde, por esta equiparao entre virtude e reputao e louvor, o que relativizaria o Bem. Por isso, Locke explica, em um adendo segunda edio, que no quis fazer da virtude vcio e do vcio virtude: Na verdade, eu no pretendia apresentar a regras de moral mas mostrar a natureza e a origem das idias morais, e enumerar as normas que os homens observam nas relaes morais, por esse mundo alm, sejam essas normas verdadeiras ou falsas. verdade que a soluo do filsofo ingls, tanto no texto do Ensaio quanto no adendo, de compromisso: apesar disso [de um povo considerar virtude aquilo que louva] (...) os homens se no afastam muito, ainda assim, na classificao das suas aes, da Lei Natural (Ibidem, p. 13; grifo nosso). Como? Locke no explica. No seu Dicionrio filosfico, Voltaire tambm argumentar, em um verbete dedicado mesma Lei Natural, que existe um instinto que nos faz sentir a justia e que o justo e injusto O que aparece como tal ao mundo inteiro. Apesar de O universo ser composto de muitas cabeas e de que na Lacedemnia aplaudiam-se os larpios que, em Atenas, eram condenados s
100 99
61
diferentes nomes que Locke d para essa Lei da Censura Privada reforam essa associao entre a censura e uma certa aparncia pblica: Lei da Opinio, Lei da Reputao, e, por fim, Law of Fashion, este ltimo difcil de traduzir por um s termo, mas as vrias tradues possveis apontam para tal relao costume, maneira, moda. A polissemia de fashion e mesmo dos termos que servem para traduzi-la indicam exteriorizaes (costume tanto hbito quanto roupa e mesmo hbito tanto roupa quanto costume, prtica arraigada) e apontam para um dado essencial sobre a censura: ela age sobre um campo esttico-moral que essencial ao campo poltico, que pode sempre contagi-lo. preciso destacar aqui que Locke, apesar de no preceituar um rgo censor, destaca a importncia do poder censrio, que seria
minas, essas seriam apenas leis convencionais, usos arbitrrios, modas que passam; o essencial permanece sempre. No haveria, por exemplo, um pas onde seja honesto arrebatar o fruto de seu trabalho, violar sua promessa, mentir para prejudicar, caluniar, assassinar, envenenar, ser ingrato para com seu benfeitor, espancar seu pai e sua me quando vos do de comer (VOLTAIRE, Franois Marie Arouet de. Dicionrio filosfico. Em: Cartas inglesas; Tratado de metafsica; Dicionrio filosfico; O filsofo ignorante. 2. ed. Seleo de textos de Marilena Chau; traduo de Marilena Chau (et al). So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1978. pp. 85-295; citao na pgina 230). Em outro verbete do mesmo Dicionrio, Voltaire tambm trata do tema, com referncia explcita ao filsofo ingls. Trata-se da passagem dedicada Conscincia (mais especificamente a Seo Primeira, voltada Conscincia do Bem e do Mal): Locke demonstrou (se for permitido usar este termo em moral e metafsica) que no temos idias inatas, nem princpios inatos. () Da segue-se evidentemente precisarmos muito que nos ponham na cabea boas idias e bons princpios, desde que possamos usar a faculdade do entendimento. Locke mostra o exemplo dos selvagens que matam e comem seu prximo sem nenhum remorso na conscincia, e soldados cristos bem educados, que, numa cidade tomada de assalto, pilham, esganam, violam, no somente sem remorso, mas com um prazer encantador, com honra e glria, com aplausos de todos os seus companheiros () A natureza preveniu contra esse horror dando ao homem a disposio para a piedade e o poder de compreender a verdade. Esses dois presentes de Deus so o fundamento da sociedade civil; por isso sempre houve poucos antropfagos e a vida tornou-se um pouco tolervel entre as naes civilizadas. Pais e mes do aos seus filhos uma educao que logo os torna sociveis e conscientes (Ibidem, p. 125). verdade que, no verbete dedicado aos Antropfagos, o filsofo relativiza tal parecer que faz do canibalismo o grande Outro da sociedade civil (j presente, como vimos, supra, em Hobbes e Grotius), mas o tpico, um lugar-comum poca persistiria (e persiste) por um longo tempo, ganhando, com Freud, foros (pseudo-)cientficos.
62
exercido e formado consensualmente pela opinio da sociedade. Porm, sabemos que no existe consenso sem uma boa dose de coero; ou melhor, a opinio consensual sempre formulada, ou, ao menos, emitida (isto , expressada) por algum, por um rgo. A quem caberia exerc-lo? 2.11. A filosofia poltica moderna props basicamente duas respostas questo. Segundo a primeira delas, o rgo censor deveria pertencer s fileiras do Estado. a posio majoritria e teve em Rousseau um de seus maiores partidrios. No Discurso sobre a economia poltica (na verdade, um verbete que escreveu para a Encyclopdie), isto , sobre o governo, coloca-se uma pergunta capciosa: se a primeira regra do governo legtimo e popular (...) seguir em tudo a vontade geral 102, como se faz nos casos em que essa no se manifestou realmente?. 103 Rousseau responde que primeiro seria preciso conhec-la e, acima de tudo, distingui-la bem da vontade particular, comeando por si prprio, distino que sempre muito difcil de fazer e para a qual somente a mais sublime virtude pode fornecer lume suficiente. 104 Aqui, a virtude aparece como a conformidade da vontade particular geral 105, uma definio que lembra a de Montesquieu. Assim, Rousseau responde questo com uma resposta direta, mas extremamente abstrata: quando a vontade geral no se manifestou, o governante no precisa consult-la novamente; bastar ser justo para estar seguro de seguir a vontade geral. 106 Na verdade, o que esse argumento diz que algum tem de decidir o que a vontade geral, e esse algum o governo: preciso que o governo seja nico e quando os pareceres forem discordes, ser preciso que haja uma voz preponderante que decida. 107 Em jogo no Discurso sobre a economia poltica est assegurar ao mesmo tempo a liberdade pblica e a autoridade do governo 108, a expresso da vontade geral e a sua declarao pelo governante, articuladas pela virtude. Por isso a temtica (que domina o texto) da exemplaridade do governante,
102
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social e Discurso sobre a economia poltica. Traduo de Mrcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. So Paulo: Hemus, 1981. p. 156. 103 Ibidem, p. 159. 104 Ibidem, p. 156. 105 Ibidem, p. 161. 106 Ibidem, p. 159. 107 Ibidem, p. 150. 108 Ibidem, p. 156.
63
da f e da confiana que ele deve ganhar do povo e da tambm a importncia daquela esfera tradicionalmente ligada censura:
a maior fora da autoridade pblica est no corao dos cidados e (...) nada pode suprir aos costumes pela conservao do governo. No necessrio apenas gente de bem que saiba administrar as leis, mas gente honesta, de fato, que saiba obedec-las. Aquele que chega ao ponto de provocar os remorsos no tardar a desafiar os suplcios; punio menos rigorosa, menos contnua e qual pelo menos se espera escapar; e apesar de todo cuidado que se tome, no faltam certamente os meios de eludir a lei e escapar pena para aqueles que confiam apenas na impunidade para transgredir aos seus deveres. Ento, como todos os interesses particulares se coalizam contra o interesse geral que no mais de ningum, os vcios pblicos tm, para enfraquecer as leis, mais fora que estas para reprimir os vcios; a corrupo do povo e dos chefes espalha-se at envolver o governo, por mais sbio que este possa ser. 109
Do mesmo modo, quando Rousseau trata explicitamente Da Censura na sua mais famosa obra, Do Contrato Social, aparece uma questo semelhante ao do caso em que a vontade geral no se exprimiu. Para resolv-la, Rousseau estabelece a mesma relao entre a censura e aquilo que Locke chamava de Lei da Opinio:
Assim como a declarao da vontade geral se faz pela Lei, a declarao do julgamento pblico se faz pela censura. A opinio pblica uma espcie de lei cujo ministro o censor, que s faz aplic-la aos casos particulares, a exemplo do prncipe. O tribunal censrio, longe pois de representar o rbitro da opinio do povo, no passa de seu declarador e, desde que disso se afasta, suas decises tornam-se vs e sem efeito. 110
109 110
Ibidem, p. 161; grifos nossos. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; Ensaio sobre a origem das lnguas; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
64
O censor seria o ministro da opinio pblica; ele a aplica nos casos particulares, mas essa aplicao apenas uma declarao: ao afastar-se da opinio pblica, a censura no possui efeitos. Aqui nos deparamos, novamente, com a circularidade que domina muitas definies da censura: a censura se funda na opinio pblica e serve para mant-la ou mesmo defini-la: A censura mantm os costumes, impedindo as opinies de se corromperem, conservando a sua retido por meio de aplicaes sbias e at, algumas vezes, fixando-os, quando ainda se mostram incertos. 111 Por isso, ela deveria ser instituda durante o vigor das leis, pois no teria fora para restabelecer costumes corrompidos. Mas se a censura apenas expressa a opinio pblica, porque um censor necessrio? Rousseau responder associando os costumes aparncia:
intil distinguir os costumes de uma nao dos objetos de sua estima, pois tudo se prende ao mesmo princpio e se confunde necessariamente. Entre todos os povos do mundo, no em absoluto a natureza, mas a opinio, que decide a escolha de seus prazeres [grifo nosso]. Melhorai as opinies dos homens, e seus costumes purificar-se-o por si mesmos. Ama-se sempre aquilo que belo ou que se julga belo. , porm, nesse julgamento que surge o engano, sendo pois necessrio regul-lo. Quem julga os costumes, julga a honra, e quem julga a honra, vai buscar sua lei na opinio. 112
Aquilo erroneamente. julgamento da rgo precisa julgamento.
que objeto de louvor pela opinio pode s-lo Ou melhor: se, de fato, a censura apenas expressa o opinio pblica, ou da esfera privada, algum, algum ser o porta-voz dessa expresso e, mesmo, desse
homens; Discurso sobre as cincias e as artes. 2. ed. Traduo de Lourdes Santos Machado. Introduo e notas de Paulo Arbousse-Bastide e Lourival Gomes Machado. So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1978. p. 135136; grifo nosso. 111 Ibidem, p. 136. 112 Idem.
65
2.12. De Lolme fornecer uma resposta diferente de Rousseau sobre quem deve declarar a opinio pblica, ao tratar do censorial power em seu livro a respeito da Constituio da Inglaterra. Ali, a rea de atuao do power of censure situada, como no resto da literatura sobre o assunto, naqueles casos que esto fora do alcance das leis. 113 Mas, ao contrrio de Montesquieu, Rousseau e, de fato, todos os autores sobre o assunto com que De Lolme diz ter se deparado, o terico poltico suo-ingls se coloca contra a instituio de um tribunal censrio, argumentando que seus antecessores, ao invocar o exemplo da Roma antiga, no estavam cientes de que esse poder de censura, alocado nas mos de magistrados particulares, junto a outros poderes discricionrios ligados a ele, (...) havia sido inventado pelo senado como um meio adicional de garantir a sua autoridade. 114 Os motivos pelos quais De Lolme nega o tribunal censrio, confessando sentir uma espcie de prazer por ter levado suas idias de liberdade mais longe do que muitos autores que mencionaram tal palavra com muito entusiasmo, j nos soam familiares: por se ocupar de fatos fora do alcance das leis, o tribunal censrio no pode ser limitado por regulaes precisas; a natureza arbitrria de suas funes impede at mesmo um controle constitucional de seus atos que podem afetar da maneira mais cruel, a paz e felicidade dos indivduos; mas, alm disso e aqui De Lolme toca no ponto que nos interessa , o tribunal censrio produz uma conseqncia muito perniciosa: ditando ao povo seus julgamentos dos homens ou das medidas, ele lhes retira aquela liberdade de pensar que o privilgio mais nobre bem como o suporte mais firme da
DE LOLME, Jean Louis. The Constitution of England or an account of the English government in which it is compared both with the republican form of government and the other monarchies in Europe. Edio com biografia e notas por John MacGregor. Londres: Henry G. Bohn, 1853. p. 200. Como os males dos quais se pode reclamar num estado nem sempre emergem meramente dos defeitos das leis, mas tambm da sua no-execuo e esta no-execuo de tal tipo, que muitas vezes impossvel sujeit-la a qualquer punio expressa, ou mesmo determin-la por qualquer definio prvia , homens, em muitos estados, foram levados a buscar por um expediente que possa suprimir a inevitvel deficincia de provises legislativas, e comear a operar, como se fosse, do ponto no qual estas ltimas comearam a falhar. Eu me refiro aqui ao poder censrio, um poder que pode produzir excelentes efeitos, mas cujo exerccio (contrrio quele do poder legislativo) deve ser deixado aos prprios povos (p. 199). 114 Ibidem, p. 200.
113
66
liberdade. 115 Na medida em que somente a opinio dos indivduos que constitui a verificao [check] de um poder censor, este poder no pode produzir o efeito desejado alm do ponto em que esta opinio tornada conhecida e declarada: os sentimentos do povo so a nica coisa em questo aqui: , portanto, necessrio que o povo deva falar por si mesmo, e manifestar estes sentimentos. 116 At aqui, a posio parece ser a mesma de Locke. Contudo, De Lolme est ciente de que o poder censrio necessita de modos para se fazer valer, e nisso a Constituio (em sentido amplo) inglesa exemplar, pois ela entregou nas mos do povo (...) o exerccio do poder censrio:
Todo sujeito na Inglaterra tem no apenas o direito de apresentar peties ao rei, ou s casas do parlamento, mas tem o direito tambm de apresentar suas reclamaes ou observaes perante o pblico, por meio de uma imprensa livre [open press]: um direito formidvel esse para aqueles que regem a humanidade; e o qual, continuamente desfazendo a nuvem de majestade que os envolve, os traz para o mesmo nvel do resto do povo, e os atinge no prprio ser de sua autoridade. 117
Liberty of Press, o ttulo do captulo em que se insere esta reflexo sobre o poder censrio no deixa dvidas: o rgo censor deve ser a imprensa. A seguir, De Lolme traa um histrico dos confrontos entre a liberdade de imprensa e a censura estatal, que tambm um histrico de como a liberdade de imprensa tomou para si o poder censrio. No se trata, porm, de uma abordagem isolada. No sculo XVIII, censura e crtica eram tomados muitas vezes como sinnimos. No s dicionrios, mas at mesmo a Encyclopdie ressaltava a semelhana: no verbete dedicado Critique, ela aparece plenamente: Crtica se aplica s obras literrias; censura s obras teolgicas, ou s proposies de doutrina, ou aos costumes. 118 Esta ligao visvel at
Idem. Ibidem, p. 199. 117 Ibidem, p. 200-201. 118 Michel Foucault relaciona o nascimento da crtica moderna generalizao e laicizao da governamentalizao no sculo XVI (ainda que ambas tenham seus antecedentes, respectivamente, na mstica e no poder pastoral cristos). A crtica seria, para ele, a arte da inservido voluntria, aquela da indocilidade
116 115
67
hoje em parte do vocabulrio da crtica literria, como no termo resenha, que vem, a partir da forma recenso, do latino recensio: recenseamento, medio, contagem, avalio. Entrada boa parte do sculo XIX, Karl Marx ainda dir, retomando o mote expresso por De Lolme: A verdadeira censura, baseada na prpria essncia da liberdade de imprensa, a crtica; esta a corte que a imprensa criou ao seu redor. A
refletida. Porm, como todos os conceitos foucaultianos, no se trata de uma definio absoluta, mas articulada com aquela prpria arte de governar contestada: a vontade de no ser governado sempre a vontade de no ser governado assim, dessa forma, por elas, a esse preo. Quando formulao de no ser governado em absoluto, ela me parece ser de alguma espcie o paroxismo filosfico de alguma coisa que seria essa vontade de no ser relativamente governado. A proximidade da crtica com o poder censrio tanto terica (os censores romanos deveriam vigiar no s a conduta dos governantes magistrados e senadores , mas tambm criticar e aconselhar sobre o horizonte poltico-moral que os guiavam, assim como os modos em que este horizonte era implementado), quanto histrica: no mesmo sculo XVI que se d o resgate moderno da censura romana, tanto como mecanismo do governo da populao como um todo (censo), quanto como instrumento de controle moral. Poder-se-ia retrucar que existe uma diferena de posio em relao ao Estado entre o censor e o crtico, na medida em que o primeiro exerce uma funo de autoridade dentro do aparato estatal. No entanto, essa distino invalidada, por um lado e em menor medida, pelo fato da crtica tambm ser, muitas vezes, praticada por funcionrios pblicos (o professor universitrio), e, por outro, pela reivindicao moderna (que estamos analisando) do poder censrio pela imprensa, exterior ao Estado. Desse modo, no surpreende que Foucault descreva a relao da crtica com a lei fazendo uso de um vocabulrio e formulao que parecem remeter censura: a crtica um olhar sobre um domnio onde quer desempenhar o papel de polcia e onde no capaz de fazer a lei (...) H alguma coisa na crtica que se aparenta virtude (FOUCAULT, Michel. O que a crtica? [Crtica e Aufklrung] (Conferncia proferida em 27 de maio de 1978). Traduo de Gabriela Lafet Borges. Publicado em Espao Michel Foucault. Disponvel em http://filoesco.unb.br/foucault/critica.pdf. pp. 5, 24-25, 2; grifos nossos). Alis, at mesmo o campo semntico do verbo grego krinein, do qual crtica uma derivao, assemelha-se ao de censere, designando diviso, separao, julgamento. Nos seus ltimos cursos, tanto no Collge de France (A hermenutica do sujeito, O governo de si e dos outros e A coragem da verdade), quanto em Berkeley (Discurso e verdade, publicado como Fearless speech), Foucault associar a crtica parrhesia. Optamos por no deter-nos nessa noo capital pelo fato de visarmos, nessa tese, deslocar o tratamento da censura, de sua relao com a verdade (marco no qual ela geralmente estudada), para a sua relao com os efeitos polticos sensveis e com os costumes.
68
censura a crtica como monoplio do governo. O exerccio da censura pelo Estado equivaleria sua liberdade de imprensa, e, portanto, esta liberdade de imprensa, como a que existe no lado oficial, e a prpria censura tambm necessitam censura. E quem o censor da imprensa do governo, exceto a imprensa do povo?. 119 Em jogo, nesse texto do jovem Marx jornalista, no est a luta contra a censura, mas a luta pela censura. Est em jogo ser o rgo controlador dos discursos e das imagens, dos costumes e da virtude. Por isso, Max Weber, ao esboar um programa de pesquisa para a Sociologia da Imprensa, elencar, em pleno sculo XX, a opinio de alguns publicistas de que no Estado do futuro a incumbncia da imprensa seria precisamente trazer luz pblica aqueles assuntos que no possam ser submetidos aos tribunais de justia; sua incumbncia seria a de assumir o antigo papel de censor. 120 De fato, esta era a opinio, por exemplo, do poltico e jurista Rui Barbosa, que afirmava, em 1920, que A imprensa a vista da Nao, para, a seguir, compar-la respirao: Entre as sociedades modernas, esse grande aparelho de elaborao e depurao reside na publicidade organizada, universal e perene: a imprensa 121, que deve contradizer e aconselhar. 122 O sentido desta depurao, desta limpeza, clarificado com metforas corpreas, sensoriais, e argumentos que conectam a corrupo efeminao e prostituio: Um pas de imprensa degenerada ou degenerescente , portanto, um pas cego e um pas miasmado, um pas de idias falsas e sentimentos pervertidos, um pas, que, explorado na sua conscincia, no poder lutar contra os vcios, que lhe exploram as instituies. 123 Uma m imprensa provocaria a crena de uma prostituio de conscincias mais contagiosa que a das mulheres de mau viver. 124 mulher pblica se contraporia o homem pblico, que no aquele de casa aberta prostituio dalma como
MARX, Karl. Liberdade de imprensa. Traduo de Cludia Schilling e Jos Fonseca. Porto Alegre: L&PM, 2009. p. 53. 120 WEBER, Max. Sociologia da imprensa: um programa de pesquisa. Traduo de Encarnacin Moya. Lua nova revista de cultura e poltica. n. 5556. So Paulo: Centro de Estudos de Cultura Contempornea, 2002. pp. 185194; citao na p. 187. 121 BARBOSA, Rui. A imprensa e o dever da verdade. 3. ed., atualizada e revista. So Paulo: Com-Arte; EdUSP, 1990. p. 65; grifo nosso. 122 Ibidem, p. 51. 123 Ibidem, p. 22. 124 Ibidem, p. 26.
119
69
do corpo as vendilhoas de prazeres sexuais, mas aquele que vive velando por todos, o vigia da lei. 125 A reivindicao da imprensa de ser o Quarto poder (que ameaa tornar-se, hoje, nas palavras de Oscar Wilde, realmente o nico poder, pois Devorou os outros trs 126), um poder moderador e fiscalizador, um poder que se exerce no pelas leis e sentenas, mas na ausncia delas, nos costumes e nas opinies, por meio de uma palavra, um olhar, um risco da caneta, , nesse sentido, uma reivindicao do poder censrio.
Ibidem, p. 43; grifo nosso. Rui Barbosa tambm distingue entre duas formas de amor, que poderiam, como veremos mais adiante, servir para diferenciar a censura (ou a imprensa) da arte: por um lado, o amor ilcito, impuro, mundano, e, por outro, o amor lcito, puro, santo: Um, todo carne, todo culpa, nasce do apetite, nele se ceva, e com ele acaba. Por isso s blandcias, lisonja s e s mentira todo ele. O outro deriva do corao, e no esprito se acendra, pelo que vive de sinceridade, zelo e devoo, e todo ele f e confiana, todo estima e desvelo, todo escrpulo e verdade. Esta a condio do amor casto, do amor fiel, do amor consagrado: o amor dos pais, o amor dos bem-casados, o amor da ptria, o amor de Deus (Ibidem, p. 51-52). 126 WILDE, Oscar. A alma do homem sob o socialismo. Traduo de Heitor Ferreira da Costa. Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 59.
125
70
71
3. Mercado das idias. Quando o pensamento privatizado
O discurso, em nossa cultura (e, sem dvida, em muitas outras), no era originalmente um produto, uma coisa, um bem: era essencialmente um ato um ato que estava colocado no campo bipolar do sagrado e do profano, do lcito e do ilcito, do religioso e do blasfemo. Ele foi historicamente um gesto carregado de riscos antes de ser um bem extrado de um circuito de propriedades. (Michel Foucault)
3.1. Em nossa breve genealogia da censura, ignoramos completamente a Idade Mdia crist a no ser pela meno ao adgio segundo o qual o exemplo de vida do prncipe a melhor censura. No porque a censura no tivesse sido formulada e exercida na medievalidade. Pelo contrrio, pode-se dizer, sem grandes riscos de erro, que a Igreja catlica foi capaz de construir um sistema poltico-jurdico que equivalia, no limite, censura total. Tecnicamente, no vocabulrio da Igreja romana, a censura designava, e ainda designa, um dos dois grandes conjuntos de punies ou penas do Direito Cannico, que eram, por um lado, as medicinais, e, por outro, as expiatrias (as quais tinham como objetivo reparar o dano feito comunidade e punir o ofensor). As penas que se reuniam sob o manto da censura excommunicatio, interdito e suspenso (sendo as duas primeiras aplicveis a todos, a segunda at mesmo a lugares, e a ltima apenas ao clero) eram medicinais porque visavam curar a alma do ofensor. A sua aplicao pelo membro eclesistico era regida por uma grande dose de arbitrariedade, e, como a ignomnia censria da Roma antiga, a censura catlica era, em tese, limitada no tempo, durando at o arrependimento e/ou penitncia do ofensor. Como uma punio (a ignomnia ou infmia) que originalmente possua um carter jurdico fraco, e que se caracterizava por estar ligada lei de modo excepcional, como um suplemento a ela, veio se tornar uma das duas formas de penas previstas pelo Direito Cannico? Como vimos, condutas repetidamente consideradas indignas pelos censores romanos passaram a ser praticamente tipos penais previstos pelos editos pretorianos e punidos com a infmia permanente, havendo, portanto, uma passagem da censura lei. Todavia, na censura da Igreja, estamos diante de algo distinto, na medida em que ela no se aplicava a condutas tipificadas, restando grande dose de arbitrariedade
72
quando da determinao dos comportamentos que implicavam uma censura. O que marcante a proeminncia jurdica da censura no Direito Cannico, como se isso dissesse respeito prpria natureza jurdica do cristianismo. Conforme argumenta Fabin Luduea, no cristianismo se d a indita coincidncia entre vida e lei no corpo do Messias: a vida de Cristo , nesse sentido, a primeira e autntica biografia jurdica (no sentido literal) que o Ocidente conheceu. 127 O Novo Testamento composto por quatro biografias (algo que, como apontou Emanuele Coccia, ainda no foi suficientemente sublinhado 128) da lei vivente que Jesus representa para o cristianismo: os evangelhos. A lei do Messias a sua vida, que deve ser tomada como exemplo a ser seguido. Porm, como vimos no paradoxo de Cato, se o exemplo, por um lado, algo que merece ou deve ser imitado, por outro, ele , pela sua prpria exemplaridade, inimitvel: o exemplo, diz Agamben, excludo do caso normal no porque no faa parte dele, mas, pelo contrrio, porque exibe seu pertencer a ele. 129 Dito de outro modo: se o exemplo de Jesus pode e deve ser seguido, , contudo, impossvel estar altura dele, imit-lo plenamente (ele adquiriu um carter exemplar justamente pela grandeza de seus mritos, por exceder a normalidade, por brilhar mais que ela: deste modo, o exemplo constitui o prprio parmetro literalmente, medida que est ao lado: ao lado da medida do caso normal, ao colocar-se como medida perfeita deste). Para tentar contornar este problema, gestou-se, nos monastrios, a noo de regra, de obscura natureza jurdica, na medida em que no podia ser uma lei no sentido antigo, que fosse separada da (e aplicada sobre a) vida, devendo, ao contrrio, ser interior a esta, uma norma a qual se servisse voluntariamente 130, e cuja desobedincia deveria dar lugar a punies com um significado essencialmente moral e corretivo, comparveis terapia prescrita por um mdico. 131 No surpreende que, no contexto
LUDUEA ROMANDINI, Fabin. A comunidade dos espectros. I. Antropotecnia. p. 120, 121. 128 COCCIA, Emanuele. El mito de la biografa, o sobre la imposibilidad de toda teologa poltica. Revista Plyade, n. 8, prevista para abril de 2012. 129 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer I. O poder soberano e a vida nua. Traduo de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. p. 29. 130 Estou me apoiando aqui em reflexes que Fabin Luduea est desenvolvendo, e que, em parte, foram expostas no seminrio Sacro Poder, ministrado junto com Emanuele Coccia no segundo semestre de 2011 na Universidade de Buenos Aires. 131 AGAMBEN, Giorgio. Altissima povert. Regole monastiche e forma de vita. (Homo sacer, IV, I). Veneza: Neri Pozza, 2011. p. 44.
127
73
mais amplo, fora dos monastrios, a censura tenha sido o nome dado a este remdio receitado pelos sacerdotes que servia para interiorizar, na vida de cada um, a nova lei, na medida em que ela atua justamente sobre as formas de vida, os costumes (Bin), visando fazer a imagem de cada um coincidir com o exemplo de Cristo. A (antiga) lei externa vida , portanto, includa no caso normal (aqui constitudo pela abolio da exterioridade da lei atravs da coincidncia desta com a vida), justamente porque no faz parte dele, isto , como exceo, arbitrariedade censria. Como Agamben argumentava ao comeo do projeto Homo sacer, exceo e exemplo so conceitos correlatos, que tendem, no limite, a confundir-se e entram em jogo toda vez que se trata de definir o prprio sentido da participao dos indivduos, do seu fazer comunidade. To complexa , em todo sistema lgico como em cada sistema social, a relao entre o dentro e o fora, a estranheza e a intimidade. 132 Por esta vizinhana entre exceo e exemplo, tambm no causa estranhamento que houvessem muitos mdicos-monstros aplicando em doses cavalares o remdio censrio, a ponto de Bodin atribuir ao abuso da censura eclesistica o descrdito (mais um) em que recaa, o qual seria responsvel pelo fato dos venezianos, ao institurem vigias dos costumes em 1566, optarem por no adotar esta designao, pois o nome do Censor em uma cidade livre repleta de prazeres parecia duro e severo. 133 3.2. Contudo, a censura total da Igreja no se produziu apenas por meio da censura entendida como pena (que era somente, ainda que isso seja muito, o ltimo elo de uma cadeia censria), mas sim pelo que podemos chamar de censo catlico, o qual atendia pelo nome de poder espiritual. Como vem demonstrando Coccia, a grande sacada poltica do cristianismo na Idade Mdia foi justamente a de criar uma doutrina teolgico-jurdica que convertia os pensamentos em aes, tornando-os passveis de punio pela lei (que, na tradio jurdica ocidental, s pode atingir atos). O fundamento do poder espiritual consistia, assim, na equiparao do pensamento (da conscincia) a uma prxis voluntria do sujeito, e, portanto, na articulao de tal pensamento-ao com a esfera da lei. Estava longe de ser uma evidncia para os antigos que o saber fosse uma prxis, que se gerasse autnoma e independentemente dentro do sujeito. A novidade poltica do cristianismo est justamente na converso de pensamentos em aes, atravs da noo de f, de fides:
132 133
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer I, p. 30. BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Livro VI; Cap. I.
74
Fides apenas a adeso puramente arbitrria e soberana (voluntaria) de um sujeito a um saber: ela expressa uma forma precisa da gnese do saber em relao a um sujeito, sua gnese prtica. 134 Ao igualar as crenas, as opinies e os saberes, a atos voluntrios de um sujeito, o poder espiritual os torna tambm objetos da lei (capturando-os no binmio obedincia e transgresso). Dito de outro modo: s no acreditava nos dogmas da Igreja quem no queria, isto , quem escolhia no ter f (que se constitua, assim, como um verdadeiro oximoro: uma certeza voluntria). O sujeito cujo pensar uma ao autnoma est tambm sujeito sujeio do seu pensar eis o truque da Idade Mdia crist. S um sujeito que gera praticamente suas prprias opinies pode ser punido por elas (nesse sentido, uma das formas da censura medieval praticada pela Igreja catlica a aplicao da lei do poder espiritual, a dominao e sujeio da conscincia). Da a fora das noes teolgicojurdicas de pecado e heresia; e, mais do que isto, da a verdadeira essncia do poder espiritual, que se baseava justamente nesta equivalncia entre pensamento e ao: no s pensar se constitua como um ato passvel de enquadramento legal, como tambm era impossvel, para o sujeito, agir contrariamente sua conscincia, sua confisso religiosa. A possibilidade de controle que isto possibilitava evidente. Alm disso, pode-se facilmente depreender como e porque as cismas religiosas, o banimento de seitas hereges, a perseguio doutrinria, e, finalmente, as guerras religiosas que cresceram exponencialmente durante a Reforma, produziram tantos massacres e destruies: eram guerras confessionais, isto , guerras (aes) em que estavam em jogo certezas (pensamentos). Para seguir o exemplo da lei vivente messinica, de Cristo, , portanto, preciso acreditar nele voluntariamente, e no seguir uma srie de preceitos convencionais. E, mais do que isto, para que a lei atravesse por inteiro a vida do sujeito, ela deve chegar at o seu mais ntimo. Entretanto, como lemos em uma passagem de 1984, de George Orwell, que poderia muito bem dizer respeito ao poder espiritual (se , como veremos mais adiante, que no diz),
Com toda a sua sagacidade, no tinham jamais conquistado o segredo de descobrir o que pensa outro ser humano. () No podiam alterar os
134 COCCIA, Emanuele. Filosofa de la imaginacin. Averroes y el averrosmo. Traduo ao castelhano de Mara Teresa DMeza. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008. p. 383.
75
sentimentos do indivduo: nem ele prprio o consegue, mesmo que o deseje. Podiam desnudar, nos mnimos detalhes, tudo quanto houvesse feito, dito ou pensado; mas o imo do corao, cujo funcionamento um mistrio para o prprio indivduo, continuava inexpugnvel. 135
Para ser efetivo, o poder espiritual catlico dependia de uma srie de instrumentos que, por um lado, internalizavam a lei e o exemplo (doutrinao, propaganda, ritualstica), e, por outro, faziam com que os indivduos externalizassem o mximo possvel os seus pensamentos (em especial, a confisso). Neste sentido, podemos dizer que o poder censrio estabelece (ou, no limite, tenta, como no caso do catolicismo, destitu-la) poltico-moralmente (e se exerce sobre) a linha divisria entre ser e aparecer, constituindo o regime jurdico que regula a passagem daquele a este e vice-versa. 3.3. Para justificar seu resgate da censura romana, Bodin aduz uma srie de motivos histricos. poca, ela seria mais necessria do que j foi antes, pois o declnio do pater potestas, o poder familiar do pai sobre a famlia e a casa (entendida no sentido amplo de oikos), e a negligncia da religio estavam provocando uma infinidade de crimes, tais como o assassinato, o parricdio, a traio, o perjrio, o adultrio e o incesto. 136 A bem da verdade, estes poderes intermedirios (e outros, como a honra senhorial da nobreza, conforme apontar Montesquieu) estavam se esfacelando devido a uma corrente maior de reconfiguraes histricas que iam da Reforma protestante inveno da imprensa, e que abrangia tambm a centralizao do poder estatal, na qual Bodin desempenhou um papel fundamental. Devemos a ele, no custa lembrar, o moderno conceito de soberania como o poder absoluto e perptuo de uma Repblica. 137 O carter absoluto da soberania serve para neutralizar poderes intermedirios e difusos, submetendo-os a um poder mais alto e nico. Por isso, O prncipe soberano est sujeito somente a Deus e no religio. A constituio do Estado absolutista que d origem ao Estado moderno tem como objetivo resolver um problema concreto e imediato: pr fim s guerras civis religiosas. Como lembra o coletivo Tiqqun, Os seis livros da Repblica de Bodin aparecem [em
135
ORWELL, George. 1984. 12. ed. Traduo de Wilson Velloso. So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979. p. 157. 136 BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Livro VI; Cap. 1. 137 Ibidem, Livro I, Cap. 8.
76
1576] quatro anos depois da Noite de So Bartolomeu, e o Leviat, de Hobbes, em 1651, ou seja, onze anos depois do comeo do Long Parliament. A continuidade do Estado moderno, do Absolutismo ao Estado Providncia, ser de uma incessante guerra inacabada travada guerra civil. 138 A tarefa, porm, no implicava somente a afirmao de um poder acima dos poderes, mas a neutralizao do poder temporal das Igrejas. Para tanto, era preciso privatizar as questes confessionais, e os poderes intermedirios mais em geral, cindindo o homem em uma faceta pblica e outra privada uma operao cujas conseqncias permanecem at hoje e que no foram investigadas em sua completude. A melhor formulao desta privatizao foi feita por Hobbes, no captulo do Leviat dedicado a investigar as coisas que Enfraquecem ou levam DISSOLUO de uma Repblica. Dentre as doenas de uma repblica que derivam do veneno das doutrinas sediciosas estaria a Conscincia errnea:
Outra doutrina incompatvel com a sociedade civil a de que pecado o que algum fizer contra a sua conscincia, e depende do pressuposto de que o homem juiz do bem e do mal. Pois a conscincia de um homem e o seu julgamento so uma e mesma coisa, e tal como o julgamento tambm a conscincia pode ser errnea. Portanto, muito embora aquele que no est sujeito lei civil peque em tudo o que fizer contra a sua conscincia, porque no possui nenhuma outra regra que deva seguir seno a sua prpria razo, o mesmo no acontece com aquele que vive numa repblica, porque a lei a conscincia pblica, pela qual ele j aceitou ser conduzido. Do contrrio, em meio a tal diversidade de conscincias particulares, que no passam de opinies particulares, a repblica tem necessariamente de ser perturbada, e ningum ousa obedecer ao poder soberano seno na medida em que isso se afigurar bom aos seus prprios olhos. 139 Tiqqun. Organe de liason au sein du Parti Imaginaire. Zone dOpacit Offensive. Paris: Belles-Letres, 2001. p. 11. 139 HOBBES, Thomas. Leviat, ou matria, forma e poder de uma repblica eclesistica e civil. Organizao de Richard Tuck. Edio brasileira supervisionada por Eunice Ostrensky. Traduo de Joo Paulo Monteiro, Maria
138
77
A terminologia utilizada por Hobbes precisa e visa desmontar o aparato poltico cristo que atendia pelo nome de poder espiritual. Ou seja, quando Hobbes afirma que a conscincia pode ser errnea, ele est desarticulando a relao que o poder espiritual cristo estabeleceu entre a vontade e a verdade: a verdade no uma questo de f; a verdade depende de um julgamento, passvel de falha. Na definio moderna do Estado no est em jogo a disputa de dois poderes pelo mesmo domnio, mas o desmanche do espao da lei em que agia o poder espiritual e sua substituio por outro, baseado na soberania, no poder indivisvel do julgamento do soberano. A conscincia, o saber e a opinio dos sujeitos deixam de ser praxeis passveis de serem submetidas lei para se tornarem questes privadas. A nica conscincia vlida para a poltica a lei decretada pelo soberano, porque a lei a conscincia pblica, enquanto conscincias particulares (...) no passam de opinies particulares. A inverso com o poder espiritual aqui total e no poderia ser mais drstica: ao tratar Do Poder Eclesistico, Hobbes no hesitar em dizer que no h nenhum juiz da heresia entre os sditos a no ser o seu prprio soberano civil 140, resolvendo assim o problema derivado do fato de que os homens dem nomes diferentes a uma nica e mesma coisa, por causa das diferenas entre as suas prprias paixes: Quando aprovam uma opinio particular, chamam-lhe opinio, e quando no gostam dela chamam-lhe heresia; contudo, heresia significa simplesmente uma opinio particular, apenas com mais algumas tintas de clera. 141 A soberania no pode ser dividida, e, para tanto, o poder temporal deve eliminar o poder espiritual:
como o poder espiritual reclama o direito de declarar o que pecado, reclama por conseqncia o direito de declarar o que lei (nada mais sendo o pecado do que a transgresso da lei) e dado que, por outro lado, o poder civil reclama o direito de declarar o que lei, todo sdito tem de obedecer a dois senhores, ambos os quais querem ver as suas ordens cumpridas como leis, o que impossvel. Ora, se houver apenas um Beatriz Nizza da Silva, Claudia Berliner. So Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 274. 140 Ibidem, p. 485. 141 Ibidem, p. 89.
78
reino, ou o civil, que o poder da repblica, tem de estar subordinado ao espiritual, e ento no h nenhuma soberania exceto a espiritual; ou o espiritual tem de estar subordinado ao temporal e ento no existe outra supremacia seno a temporal. Quando portanto estes dois poderes se opem um ao outro, a repblica s pode estar em grande perigo de guerra civil e dissoluo. 142
No preciso ter certeza voluntria (f) da verdade enunciada pelo soberano civil; ou melhor, nem a verdade est mais em jogo basta agir de acordo com uma conscincia que no mais auto-gerada pelo sujeito, a Conscincia pblica, isto , a lei. Pensamento (privado) e ao (pblica) se apartam. Pode-se pensar qualquer coisa, desde que publicamente se aja conforme a lei. Na modernidade, para usar as palavras lapidares de Montaigne, a razo privada tem jurisdio privada: a lei nada tem a ver com o nosso pensamento, mas o resto, nossas aes, nosso trabalho, nossas fortunas, e nossa prpria vida, cumpre-nos coloc-lo a servio da coletividade e submet-lo sua aprovao. 143 3.4. Se a privatizao da conscincia e a afirmao da soberania resolviam o problema das guerras civis religiosas, criavam outro, na medida em que constituam um espao onde a lei no chega. Nesse sentido, se O gesto fundador do Estado moderno ou seja, no o primeiro, mas aquele que ele reitera sem cessar a instituio dessa ciso fictcia entre pblico e privado, entre poltica e moral, a qual implica tambm um movimento de ciso entre liberdade interior e submisso exterior, entre interioridade moral e conduta poltica 144, isso
Ibidem, p. 278. MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro I. Cap XXIII: Dos costumes e da inconvenincia de mudar sem maiores cuidados as leis em vigor. p. 191. 144 Tiqqun. Organe de liason au sein du Parti Imaginaire. p. 15. A tese seguinte (41) da Introduo guerra civil enuncia os efeitos dessa ciso: A operao estatal de neutralizao, segundo a consideremos de uma borda ou outra da rachadura, institui dois monoplios quimricos, distintos e solidrios: o monoplio do poltico e o monoplio da crtica, aquele por parte do Estado, e esse por parte do homem privado: A crtica, portanto, ocupa, simetricamente ao espao poltico moralmente neutro da Razo de Estado, o espao moral politicamente neutro do livre uso da Razo (...) Gestos sem discurso por um lado, discurso sem gesto do outro (Idem). Trata-se de uma concepo muito semelhante de Koselleck, para quem a crise do mundo burgus, a sua
143 142
79
no significa que o campo privado da moral no possa produzir efeitos sobre aquele, pblico, da poltica. A separao entre homem privado (que pensa, opina, tem conscincia em privado) e homem pblico (que age de acordo com as leis, ou punido por suas aes transgressivas) desarticula o poder espiritual, mas tambm dificulta a soberania moderna de sujeitar as conscincias. A soluo encontrada primeiro por Bodin, e depois endossada por quase toda a filosofia poltica moderna, nas mais variadas tendncias, at pelo menos o sculo XIX, foi a de resgatar o antigo instituto romano da censura, capaz de chegar aonde a lei no chega, e de controlar no as conscincias ou a vida privada, mas os seus efeitos pblicos, no o crime, mas a corrupo da virtude. Nesse sentido, o resgate moderno da censura aponta tanto para a independncia conferida esfera dos efeitos da conscincia privada quanto para o poder poltico desta e da a necessidade de alguma articulao entre os dois plos, por meio, por exemplo, da noo de virtude, que adquire uma centralidade no pensamento poltico moderno. Mas se a virtude serve para articular as conscincias privadas conscincia pblica, o homem ao cidado, resta um problema: na medida em que ela um sentimento, algo subjetivo e no passvel de verificao objetiva direta, as suas manifestaes e exteriorizaes ganham relevncia. E mais: por ser um sentimento privado que uma renncia ao interesse privado, toda ao mostra a virtude ou a sua
patognese que ainda estaramos vivendo, derivaria do fato de que, a partir do absolutismo, a condio de homem foi privatizada. Para preservar sua soberania, o Estado absolutista teve que criar um espao de indiferena, para alm da religio e da poltica, que protegesse o homem das atrocidades da guerra civil e lhe permitisse cuidar tranquilamente de seus afazeres. O homem desintegrado, sdito, associa-se de incio, no seio da elite intelectual na sociedade civil e tenta encontrar uma ptria num domnio apoltico e a-religioso. Ele a encontra na moral, que o produto da religio confinada ao espao privado (KOSELLECK, Reinhart. Crtica e crise: uma contribuio patognese do mundo burgus. Traduo de Luciana Villas-Boas CasteloBranco. Rio de Janeiro: EdUERJ; Contraponto, 1999. p. 159). A partir da moral, criar-se-ia o campo da crtica, do julgamento, que, enquanto separada da esfera poltica, s pode agir sobre essa indiretamente. Como se ver, o que se busca nessa tese um tanto distinto: se, de fato, a ciso do homem em duas facetas, pblica e privada, a princpio neutraliza politicamente essa segunda esfera, acaba, porm, dando independncia a uma esfera intermediria entre as duas, que a disputam: a esfera em que o privado se d a ver, em que aparece com efeitos pblicos. A histria da modernidade, nesse sentido, seria a histria da disputa pelo controle entre tal esfera, a histria das tentativas de sua neutralizao, de sua captura, de sua monopolizao.
80
ausncia. Como se pode notar, as referncias, na literatura sobre a censura, s maneiras, esto longe de ser gratuitas. Existe um campo constitudo pelas maneiras como os sujeitos conduzem sua vida, aparecem e se relacionam uns aos outros, ou seja, seus costumes, entendidos em sentido amplo; esses modos no necessariamente constituem aes enquadrveis pelas leis, como os crimes, mas podem propagar-se pelo exemplo, e provocar efeitos como as sedies nesse campo aonde a lei no chega que a censura deve agir. Diretamente esses atos no podem afrontar s leis, mas podem ter como efeito o enfraquecimento da obedincia norma. Assim, o poder censrio aparece como indispensvel constituio poltica, ainda que se possa discutir a quem cabe exerc-la, a qual deva ser o rgo censor, pois, para retomar uma colocao de Rousseau, aquilo que objeto de louvor pode s-lo erroneamente, assim como a conscincia privada pode s-la para Hobbes. Ao censor, cabe identificar e vigiar a virtude, ou melhor, a sua manifestao, sua expresso, sua aparncia. A censura se ocupa daqueles atos que so formas de aparecer: os costumes, os hbitos (e, insistamos, o vocabulrio usado para definir a esfera de atuao da censura j atesta isso: costumes e hbitos no indicam apenas prticas consagradas pela tradio, mas tambm vestimentas, formas em que o sujeito se d a ver). A censura controla os efeitos polticos da aparncia. 3.5. Se, como dissemos antes, o poder censrio define (e se exerce sobre) o regime poltico-jurdico-moral da passagem do ser ao aparecer, ento a privatizao da conscincia ganha um outro sentido. O que est em jogo nela a alterao da natureza jurdica dos costumes na Modernidade, um processo no qual vrios atores e no s o Estado contribuem, ainda que no necessariamente de modo consciente e voluntrio, e em que a censura, entendida no sentido estrito de policiamento, auxilia na instituio de um censo, em sentido amplo, enquanto marco regulatrio da aparncia. nesse contexto que devemos entender o cruzamento entre o resgate terico da censura na formulao do Estado moderno, e a prtica censria realmente existente poca. Entre as obras de Hobbes e Bodin, ou seja, entre os sculos XVI e XVII, no auge da Inquisio, o papa Clemente VIII publicou uma Instructio que, entre outras coisas, proibia a impresso de livros que no exibissem o nome, sobrenome e nacionalidade do autor (Nullus liber in posterum excudatur, qui non in fronte nomen, cognomen et patriam praeferat auctoris), bem como nome do editor, e local e ano da impresso (nomen
81
impressoris, locus impressionis, et annus quo liber impressus est) 145, o que no era comum na medievalidade, que conheceu uma profuso de textos annimos sobre os quais at hoje se debate a autoria, e que desconhecia o que modernamente chamamos de autor. O termo auctor no servia, na Idade Mdia, para designar qualquer um que escrevesse um texto, um livro, um poema: para ser auctor, o escritor de tal texto, livro ou poema deveria ser tambm uma autoridade a ser respeitada e acreditada; a obra de um auctor deveria ter valor intrnseco e autenticidade. Os escritos de um auctor, diz Alastair Minnis, continham, ou possuam, auctoritas no sentido abstrato do termo, com suas conotaes fortes de veracidade e sagacidade. 146 Por isso, era comum algum atribuir a outrem (alguma figura reconhecida do passado ou presente) a autoria do prprio texto, conferindo-lhe, assim, autoridade. O objetivo da norma de Clemente VIII era evidente: atravs dela, vedava-se a publicao de textos annimos, permitindo assim identificar e responsabilizar autores, editores e cidades que escrevessem, publicassem e/ou fizessem circular livros hereges, pecadores, sediciosos, etc. A norma faria larga fortuna dentro da Igreja Catlica, consolidandose como uma das regras do Index, o ndice de livros proibidos na ltima edio, trata-se da regra nmero 43. O que pode surpreender que ela e correlatos seus tambm se espalhariam em normativas
A instruo servia para guiar a aplicao das regras do Conclio de Trento, aparecendo como um apndice a elas no Index Librorum Prohibitorum. As normas mencionadas encontram-se, respectivamente, nos pargrafos I e III da seo De Impressione Librorum da Instructio, e visavam aclarar e expandir o Decretum de Editione et Usu Sacrorum Librorum da quarta sesso (de 9 de abril de 1546) do Conclio, na qual se decretara: nullique liceat imprimere, vel imprimi facere, libros de rebus sacris sine nomine auctoris. Segundo a Instructio, excepcionalmente, o bispo e inquisidor possuam autoridade para permitir a publicao annima de uma obra, mas o nome do autor e do impressor, com seus respectivos endereos, deve[ria] ser registrado (PUTNAM, George Haven. The censorship of the Church of Rome. And its influence upon the production and distribution of literature. A study of the history of the prohibitory and expurgatory indexes, together with some consideration of the effects of Protestant censorship and censorship by the State. Vol. I. Nova Iorque; Londres: The Knickerbocker Press, 1906. p. 260). 146 MINNIS, Alastair. Medieval Theory of Authorship. Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. 2. ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. p. 10.
145
82
protestantes e laicas, universalizando-se 147 e permanecendo em vigor at nossos dias, sob outras formas: uma delas, que parece singela, a ficha catalogrfica, a identificao, presente e obrigatria em todo livro nacional, de seu autor, ttulo, editor, local e ano de edio. A vedao do anonimato possibilitou um controle inaudito das publicaes, a individuao e responsabilizao de autores e editores, e se enraizou de modo to forte que aparece at mesmo nas Declaraes de Direitos: ao mesmo tempo em que estas garantem a liberdade de expresso, possibilitam o seu reverso, a responsabilizao jurdica do sujeito que se expressa. Desse modo, diz o art. 11 da Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado de 1789: A livre comunicao das idias e das opinies um dos mais preciosos direitos do homem; todo cidado pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Por sua vez, diz o inciso IV do art. 5 da nossa atual Constituio: livre a manifestao do pensamento, sendo vedado o anonimato; o inciso seguinte garante o direito de resposta. A responsabilizao jurdica s possvel atravs da individuao de um autor. Que o anonimato permita fugir das represlias do poder atestado, em forma mitigada, pelo sigilo da fonte jornalstica (o que constitui uma exceo, talvez devido natureza do poder censrio da imprensa), e, de modo mais visvel, pela sua reivindicao por grupos polticos virtuais, como o Anonymous. A validade do dito benjaminiano de que todo documento de cultura , ao mesmo tempo, documento da barbrie, se revela plenamente aqui. No s porque a declarao de um direito fundamental vem acompanhada de uma limitao generalizada pela Inquisio, mas porque a individuao de uma obra, a atribuio de uma expresso a um responsvel um dos mecanismos sem os quais o moderno sistema de direitos autorais jamais funcionaria: individualizar cada escrito a um autor tanto garantir que ele tenha direitos sobre ela, quanto permitir que possa ser total e isoladamente responsabilizado. Os direitos autorais expressam uma ideologia em que o conhecimento ou o pensamento so produes privadas, so mercadorias, regulando juridicamente esta produo e assinalando a cada autor o direito (at de alienar) sobre seu produto (livro, obra, texto), por meio da individualizao da expresso. O caso-limite desse sistema o ghost-writer: aquele que vende por
147
Desde a antigidade, as autoridades constitudas tentaram combater ferozmente os libelos difamatrios (libelli famosi) annimos ou assinados com nomes falsos, sem, porm, obter o xito desejado, e tambm sem conseguir a universalizao do instituto da autoria.
83
inteiro sua obra, incluindo at mesmo o direito a ter seu nome estampado na capa como autor quem figura como autor nesse caso aquele que comprou a propriedade sobre a expresso. Mas o ghostwriter apenas o extremo de uma cadeia que tem como centro nevrlgico os editores, a quem geralmente os autores vendem ou cedem os direitos sobre a obra. Desse modo, a outra condio de possibilidade dos direitos autorais a transformao da natureza jurdica do pensamento e da expresso, que deixam de ser considerados aes (pblicas) e passam a ser concebidos como produes (privadas), isto , como mercadorias. Veremos que, nesse caso, invertendo a formulao nietzschiana, tambm as ms coisas podem ter um belo comeo. Para entender melhor a moderna natureza jurdica da expresso, talvez o melhor seja recorrer s prprias reivindicaes da liberdade de pensamento. 3.6. Naquele que considerado o discurso fundador da moderna liberdade de expresso, John Milton no se ope frontalmente a toda censura, e mesmo aquela qual se ope, o faz por critrios utilitrios. Pode parecer mais um exemplo de negociao com os rgos do poder, em que se admite o terreno da discusso imposto pelo inimigo para tom-lo por dentro 148, no fosse o fato de Milton se tornar, cinco anos depois do Areopagitica, censor da Coroa. Assim, se h momentos do discurso que adiantam a clebre frase de Heine (onde se queimam
148
Uma ocorrncia dessa estratgia pode ser vista na proposio de um debate pblico por parte de Jos Celso de Martinz Correa quando da censura a O Rei da Vela (da qual trataremos depois): em uma declarao a jornal, que pode ser lida como a postura de boa vizinhana, o diretor e dramaturgo disse no acreditar que os censores houvessem achado a pea inconveniente, mas que a tivessem cortado por estar recebendo constantemente reclamaes de idiotas, sempre os mesmos, que pretendem ser os corregedores do mundo. E conclamava esta minoria de mortos-vivos a um debate franco sobre a pea, ressalvando que a censura tem de agir, claro, dentro dos limites do jogo democrtico (MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958-1974). Seleo, organizao e notas de Ana Helena Camargo de Staal. So Paulo: Ed. 34, 1998. p. 113). Essa estratgia no isenta de riscos: discutir (como pretende o liberalismo cultural) se est-se maduro ou no para consumir certo objeto (...) significa aceitar a vagueza da censura ( maduro quem sabe deter-se a tempo, ou seja, autocensurar-se?) e promov-la ainda que se questione as suas fronteiras sob o gesto da reprovao. Censurar o censor fazer o seu jogo (Para comprender la censura. p. 17).
84
livros, acaba-se queimando pessoas) Quem mata um homem mata uma criatura racional, feita imagem de Deus; mas aquele que destri um bom livro, mata a prpria razo, mata a imagem de Deus, como que no olho 149 , h outros em que Milton frisa que no se deve confundir licena (para publicar livros) com licenciosidade, ou seja, que no se deve deixar de exercer a censura moral. O ncleo de sua argumentao gira em torno de saber a melhor maneira para evitar a infeco provocada por libelos sediciosos. Para Milton, a soluo mais saudvel seria o livre arbtrio, o conhecimento do bem e do mal: citando a passagem bblica segundo a qual Para os puros, todas as coisas so puras, aduz que ela no se refere apenas a carnes e bebidas, mas [a] qualquer tipo de conhecimento, seja bom ou mau. O conhecimento no pode corromper, nem, por conseguinte, os livros, se a vontade e a conscincia no se corromperem: Porque os livros so como as carnes e as viandas (...) Alimentos saudveis pouco diferem de alimentos estragados para um estmago doente. Da mesma forma, bons livros para uma mente perversa constituem oportunidades para o mal. 150 Aqui, aparece um tpico que j nos familiar na discusso terica sobre a censura, a saber, a virtude que deve servir de guia em um terreno sem lei, sem normas:
Acredito, em conseqncia, que Deus, ao ampliar a dieta dos corpos dos homens, ressalvadas, naturalmente, as normas da temperana, deixou, como dantes, ao arbtrio das suas criaturas, o regime e alimentao dos nossos espritos. Que grande virtude a temperana, que importncia desempenha ao longo da vida do homem! Ora, Deus confia inteiramente a gesto de uma responsabilidade to grande, sem lei particular ou prescrio, conduta de cada ser adulto. 151
Assim, a censura de livros s prejudicaria os bons, aqueles que tem a virtude da moderao (temperana). Outra objeo de Milton
MILTON, John. Areopagtica discurso pela liberdade de imprensa ao Parlamento da Inglaterra. Ed. bilnge. Prefcio e edio por Felipe Fortuna; traduo e notas por Raul de S Barbosa. Rio de Janeiro: TopBooks, 1999. p. 63. 150 Ibidem, p. 87. 151 Ibidem, p. 89; traduo modificada; grifo nosso.
149
85
censura a impossibilidade de capacitar suficientemente os censores, geralmente despreparados para a funo:
Outro motivo que ir tornar claro que essa Ordenao no alcanar os fins almejados: considere-se a competncia que devem ter os censores. indiscutvel que aquele que deve julgar o nascimento ou morte dos livros, se eles devem passar por este mundo ou no, necessita ser um homem de qualidades incomuns, ao mesmo tempo estudioso, culto e judicioso (...) Alm de outras inconvenincias, se os homens letrados so os primeiros beneficirios dos livros e tambm os propagadores do vcio e do erro, como confiar nos censores, a no ser que se lhes atribua, ou que eles mesmos se arroguem, por cima da cabea dos demais na terra, a graa da infalibilidade e da incorruptibilidade? (...) O Estado pode errar na escolha do censor to facilmente como o censor pode errar. 152
Sublinha-se aqui o paradoxo inerente ao censor: ele deve conhecer ou experimentar o que deve proibir. A nica sada possvel que ele, mais do que exemplar, seja excepcional, possua uma virtude ausente nos outros: assim, lemos em um texto annimo publicado em 1975 na revista argentina Literal, seu olhar deve controlar-se, seu desejo est a salvo do contgio, para ele um dever fazer e ver aquilo 153 Pode-se que converte os demais em culpados quando o provam. perceber como a argumentao de Milton prepara seu ingresso na carreira censria: se cada censor deve ser estudioso, culto e judicioso, nada melhor que, dentre os homens letrados, escolha-se para a funo algum que tenha a virtude da moderao que ele mesmo demonstra no discurso. Contudo, o cerne do raciocnio de Milton a conseqncia nefasta produzida pela censura: Verdade e entendimento no so produtos que possam ser monopolizados e comercializados por meio de tquetes e estatutos e padres. No podemos pensar em fazer de todo o conhecimento no pas uma mercadoria vistoriada, sujeita a controle de qualidade, com estampilhas e licenas, como nossas casimiras ou nossos
152 153
Ibidem, p. 117, 99, 125. Para comprender la censura. p. 21.
86
fardos de l. interessante notar que no so os censores que fazem do conhecimento uma mercadoria; eles apenas controlam e vistoriam a produo e circulao da verdade e do entendimento, que j so, segundo Milton, mercadorias: em outra passagem sobre o prejuzo incalculvel e o dano que essa conspirao da censura nos causa, o poeta diz que ela mais grave do que a de um inimigo que nos impusesse um bloqueio martimo de todas as nossas baas e portos esturios. Obstrui e retarda a importao da nossa mais rica mercadoria, 155 a verdade. No se trata de mera estratgia retrica. Quando Milton afirma Admito que o Estado seja meu governante, mas no meu crtico 156, revela o que est em jogo na moderna liberdade de expresso: um direito negativo, que consiste na retirada do Estado da esfera das opinies privadas, uma conseqncia, como vimos, do desmonte do poder espiritual e da ciso entre pblico e privado. A liberdade de expresso uma liberdade privada. Mas h mais: o carter privado dessa liberdade tem como modelo o que fica patente quando os livros so comparados a objetos como comidas e bebidas, e, especialmente, a mercadorias a liberdade de comrcio. Em sua Apologia dos Impressores, de 1731, Benjamin Franklin tambm ressalta o carter mercantil da opinio e da impresso. Para tanto, ele parte de duas premissas: a primeira que as Opinies dos Homens so quase to variadas quanto seus Rostos; e a segunda que o Negcio da Impresso tem principalmente a ver com as Opinies dos Homens. Disso deriva
a peculiar Infelicidade daquele Negcio, a que outras Vocaes no esto sujeitas; aqueles que seguem a Impresso raramente podem fazer qualquer coisa em seu modo de Viver que no Ofenda provavelmente a alguns, e provavelmente a muitos; enquanto o Ferreiro, o Sapateiro, o Carpinteiro, ou o Homem de qualquer outro Mercado, pode trabalhar indiferentemente para Pessoas de todas as Mentalidades, sem ofender nenhuma delas: e o Mercador pode comprar e vender com Judeus, Turcos, Herticos e Infiis de todos os tipos, e ganhar Dinheiro de cada um
154 155
154
MILTON, John. Areopagtica. p. 129; traduo modificada; grifo nosso. Ibidem, p. 151; grifo nosso. 156 Ibidem, p. 125; traduo modificada.
87
deles, sem Ofender o mais ortodoxo, de qualquer variedade; ou sofrer a menor Censura ou a MVontade da Parte de qualquer Homem que seja. 157
O vocabulrio e os termos de comparao no deixam margem a dvidas: o impressor um empresrio de opinies, um mercador de idias. Tal equiparao era comum nas reivindicaes da poca. Assim, em uma carta de 1763, Giulio Rucellai, jurista e poltico italiano, dir que: A imprensa no pode ser considerada seno como uma manufatura determinada unicamente pelo esprito do comrcio. (...) A base deste comrcio a liberdade. 158 Para dar apenas mais um exemplo, invoquemos a formulao lapidar das Catos Letters: Este privilgio sagrado, a liberdade de expresso, to essencial ao governo livre, que a segurana da propriedade e a liberdade de expresso sempre andam juntas; e naqueles pases corrompidos onde um homem no pode chamar sua lngua de prpria, dificilmente pode considerar qualquer outra coisa sua [propriedade]. 159 3.7. O emblema do novo estatuto jurdico-poltico da expresso na modernidade a inveno da arte de eternizar as extravagncias do esprito humano, para usar as palavras com as quais Rousseau caracterizou a imprensa. 160 Ordinariamente, costuma-se derivar da
FRANKLIN, Benjamin. Apology for printers. Publicado originalmente na The Pennsylvania Gazzete, 27 de maio de 1731. Disponvel em http://www.jprof.com/history/franklin-apologia.html 158 O texto citado de Rucellai se encontra coligido em LANDI, Sandro. Il governo delle opinioni: censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento. Bolonha: Il Mulino, 2000. p. 271. 159 This sacred privilege is so essential to free government, that the security of property; and the freedom of speech, always go together; and in those wretched countries where a man can not call his tongue his own, he can scarce call any thing else his own (GORDON, Thomas. Catos Letters, n. 15: Of Freedom of Speech: That the same is inseparable from publick Liberty. Publicado originalmente em 4 de fevereiro de 1720. Disponvel em http://classicliberal.tripod.com/cato/letter015.html). As Catos Letters so uma srie de 144 cartas escritas por John Trenchard e Thomas Gordon (e publicadas pela imprensa inglesa) entre 1720 e 1723. Agradeo a Alessandro Pinzani por ter me chamado a ateno para elas. 160 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; Ensaio sobre a origem das lnguas; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as cincias e as artes. p. 350. Continua Rousseau: Graas aos caracteres tipogrficos e utilizao que deles fazemos, ficaro
157
88
inveno da imprensa uma mudana radical no modo de pensar e na histria das idias. Contudo, talvez o raciocnio correto seja o inverso: a inveno da imprensa deriva de um novo modo de encarar o pensamento, isto , do declnio do poder espiritual, e de sua premissa: a de que o pensamento uma prxis. Pois o que est em jogo na liberdade de expresso e na correlata liberdade de impresso? De um lado, o direito a exteriorizar algo uma idia, uma opinio, um pensamento , e, de outro, o direito de imprimi-lo sobre um objeto. Trata-se de tornar externo, de objetificar uma aparncia. Mas no s isso. A reprodutibilidade tcnica da expresso faz com que o raio de ao, a abrangncia e a intensidade de seus efeitos aumente incrivelmente. Falando da imprensa, Gabriel Tarde far uso de uma frmula que demonstra bem a mudana gerada na esfera dos costumes, da aparncia: a imprensa faz o reino da moda suceder ao reino do costume 161 a ameaa de contgio ou infeco se amplifica. O pensamento, na modernidade, apresenta-se como produo de obras, que so, ao mesmo tempo, tipos reprodutveis. Nesse sentido, deve-se levar at as ltimas conseqncias a idia de Vilm Flusser de que Os prrequisitos tcnicos existiam antigamente (prensas, tintas, folhas e tambm a arte de moldagem por fundies de metais), mas Ainda no se imprimia, porque no se estava ciente de que se manejavam tipos quando se desenhavam sinais grficos. Consideravam-se os sinais
para sempre os perigosos sonhos dos Hobbes e dos Spinozas; Considerandose as tremendas desordens que a imprensa j causou na Europa, julgando-se o futuro pelo progresso que o mal faz de um dia para outro, pode-se facilmente prever que os soberanos, para banir essa arte terrvel de seus Estados, no tardaro a ter tanto trabalho quanto tiveram para introduzi-la. O sulto Achmet, cedendo importunao de algumas pessoas de pretenso bom gosto, consentira em instalar um prelo em Constantinopla. Mas, assim que a imprensa comeou a funcionar, viram-se obrigados a destru-la e jogar as peas num poo. Conta-se que, tendo sido o califa Omar consultado sobre o que se deveria fazer da biblioteca de Alexandria, respondeu nestes termos: Se os livros dessa biblioteca contm coisas opostas ao Alcoro, so maus e preciso queim-los; se s contm a doutrina do Alcoro, queimai-os do mesmo modo: so suprfluos. Os nossos sbios citam esse raciocnio como o cmulo do absurdo. Suponde, no entanto, Gregrio, o Grande, no lugar de Omar e o Evangelho no lugar do Alcoro; a biblioteca teria sido igualmente queimada e esse seria talvez o mais belo trao da vida daquele ilustre pontfice. 161 TARDE, Gabriel. A opinio e as massas.Traduo de Eduardo Brando. So Paulo: Martins Fontes, 2005.p. 55. Tarde est se referindo imprensa enquanto rgo da mdia, mas creio que esta generalizao para a impresso em si seja fiel sua argumentao.
89
grficos caracteres. O pensamento tipificante no se imps conscincia naquela poca. 162 Mas o que caracteriza tal pensamento tipificante? A etimologia de tipo indica um carter ambguo, entre a empiria e a abstrao: o grego typos significa imagem, vestgio, rastro, ou seja, ausncia, ndice de uma presena imemorial. Para usar um exemplo de Flusser: os typoi so como vestgios que os ps de um pssaro deixam na rea da praia. Ento, a palavra significa que esses vestgios podem ser utilizados como modelos para classificao do pssaro mencionado. 163 Nesse sentido, haveria dois traos caractersticos da tipografia: 1) A tipografia mostra que os tipos no so formas invariveis eternas (como queriam Plato e os realistas medievais), mas, ao contrrio, que elas podem ser modeladas, aprimoradas e rejeitadas; 2) Um impresso uma coisa tpica e no uma coisa particular, incomparvel, singular. Um impresso um exemplar, um entre muitos exemplos de uma coisa singular (de um manuscrito, por exemplo). No como uma coisa particular (como essa folha de papel singular), mas como tipo que o impresso tem valor. No a produo da coisa impressa (da folha, da impresso escrita) que a torna interessante, mas sim a produo dos tipos (do texto). 164 Ou seja, os tipos podem ser produzidos, no correspondendo necessariamente a uma realidade, ainda que sejam baseados nela: o que conta a sua (re)produtibilidade intrnseca. Quando Max Weber sedimenta seu mtodo com os chamados tipos ideais, tal ambigidade se faz presente. Para ele, os tipos puros ou ideais no poderiam ser encontrados na realidade; o que existia de fato era sempre um compsito, mais ou menos hbrido, de tipos que e da a sua natureza circular se construam a partir de elementos dispersos nesta mesma
162 FLUSSER, Vilm. A escrita: h futuro para a escrita? Traduo de Murilo Jardelino da Costa. So Paulo: Annablume, 2010. p. 62. Uma das fontes de Flusser , evidentemente, McLUHAN, Marshall. A galxia de Gutenberg: a formao do homem tipogrfico. Traduo de Lenidas Gontijo de Carvalho e Ansio Teixeira. So Paulo: Editora Nacional, 1977. 163 FLUSSER, Vilm. A escrita. p. 61. 164 Ibidem, p. 65.
90
realidade em que eram aplicados. 165 O essencial, portanto, no tanto a natureza do tipo quanto sua (re)produtibilidade a possibilidade de ele servir de modelo de explicao a situaes diferenciadas que o torna vlido epistemologicamente. Nesse sentido, a concepo moderna de tipo uma secularizao ou transformao estrutural da concepo figural crist (a qual, por sua vez, uma teologizao da noo greco-romana), na qual o typos ou a figura apresenta-se como algo real e histrico que anuncia alguma outra coisa que tambm real e histrica. 166 Ou seja, na concepo crist, o exemplar no pode ser produzido alis, no mximo, pode ser extrado, a partir da interpretao figural, de uma pessoa ou evento histricos: a exemplaridade derivava do caractere, do carter, no era (re)produzida artificialmente. Mesmo que se reproduzissem textos antes da inveno da imprensa (e antes do pensamento tipogrfico), era sempre a partir de um original, ou melhor, de um objeto singular. O que diferencia a reproduo tipogrfica que tal original reproduzido j um molde: Mesmo na reproduo mais perfeita, um elemento est ausente, diz Benjamin, o aqui e agora da obra de arte, sua existncia nica no lugar em que ela se encontra. 167 Por isso, poder-se-ia dizer que o impresso a primeira mercadoria
No que diz respeito investigao, o conceito de tipo ideal prope-se a formar o juzo de atribuio. No uma hiptese, mas pretende apontar o caminho para a formao de hipteses. Embora no constitua uma exposio da realidade, pretende conferir a ela meios expressivos unvocos. (...) Obtm-se um tipo ideal mediante a acentuao unilateral de um ou de vrios pontos de vista e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenmenos isoladamente dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor nmero ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo os pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de se formar um quadro homogneo de pensamento. impossvel encontrar empiricamente na realidade este quadro, na sua pureza conceitual, pois trata-se de uma utopia (WEBER, Max. A objetividade do conhecimento na cincia social e na cincia poltica. Em: Metodologia das cincias sociais. Parte I. 2. ed. Traduo de Augustin Wernet; introduo edio brasileira de Maurcio Tragtenberg. So Paulo; Campinas: Cortez; Editora da UNICAMP, 1993. pp. 107-154; citao extrada das pginas 137-138). 166 AUERBACH, Erich. Figura. Traduo de Modesto Carone. So Paulo: tica, 1997. p. 27. 167 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade tcnica (primeira verso). Em: Magia e tcnica, arte e poltica. (Obras escolhidas, vol. I). Traduo de Srgio Paulo Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1985. pp. 165196; citao: p. 167.
165
91
industrial: A primeira conseqncia (...) dessa supervalorizao do tipificar a revoluo industrial, portanto, a instalao de mquinas. A tipografia pode ser compreendida como o modelo e o embrio da revoluo industrial: informaes no devem ser impressas apenas em livros, mas tambm em txteis, metais e plsticos. 168 A mercadoria sempre um tipo que demanda reproduo, que demanda a imitao (talvez aqui se encontre a origem do fetiche da mercadoria). Que os tipos, no s de impresso ou de produtos, mas tambm de condutas podem ser produzidos algo que os mass media, em especial o ramo da propaganda, sabem muito bem, e grande parte do trabalho destes consiste precisamente em criar estere-tipos, nem singulares, nem universais, mas exemplares. 169
FLUSSER, Vilm. A escrita: h futuro para a escrita? p. 66. D.H. Lawrence formula uma interessante teoria sobre a linguagem, ao afirmar que toda palavra possui um sentido individual e um sentido-de-massas (mob meaning), argumentando que a propaganda estaria descobrindo como lidar com este sentido individual, ainda que, de certo modo, falsificando-o (na medida em que o falso sentido individual por ela produzida visaria despertar um comportamento homogeneizado): When it comes to the meaning of anything, even the simplest word, then you must pause. Because there are two great categories of meaning, forever separate. There is mob-meaning, and there is individual meaning. Take even the word bread. The mob-meaning is merely: stuff made with white flour into loaves that you eat. But take the individual meaning of the word bread: the white, the brown, the corn-pone, the homemade, the smell of bread out of the oven, the crust, the crumb, the unleavened bread, the shew-bread, the staff of life, sour-dough bread, cottage loaves, French bread, Viennese bread, black bread, a yesterday's loaf, rye, Graham, barley, rolls, Bretzeln, Krineln, scones, damper, masten there is no end to it all, and the word bread will take you to the ends of time and space, and far-off down avenues of memory. But this is individual. The word bread will take the individual off on his own journey, and its meaning will be his own meaning, based on his own genuine imaginative reactions. And when a word comes to us in its individual character, and starts in us the individual responses, it is a great pleasure to us. The American advertisers have discovered this, and some of the cunningest American literature is to be found in advertisements of soap-suds, for example. These advertisements are almost prose-poems. They give the word soap-suds a bubbly, shiny individual meaning, which is very skillfully poetic, would, perhaps, be quite poetic to the mind which could forget that the poetry was bait on a hook (D.H. LAWRENCE, D. H. Sex, Literature and Censorship. (ensaios editados por Harry T. Moore). Nova Iorque: Twayne Publishers, 1953. p. 70-71).
169
168
92
3.8. no censo moderno da expresso (entendido como a diviso entre pblico e privado e a constituio do regime de passagem entre ambos, que substitui o marco regulatrio cristo) que devemos buscar o sentido profundo do que se chama censura de mercado, bem como o seu sentido mais estrito e usual de impedir a visibilidade de determinadas obras pela concentrao, nas mos de empresas, dos meios tcnicos de comunicao (incluindo as editoras) e exibio (estdios, centros culturais, salas de cinema, museus, etc.). 170 A censura (ou censo) do mercado no sentido forte a prpria concepo do pensamento e da expresso como produes individuais, e nisso se confunde com o sistema mesmo dos direitos autorais. 171 s porque obras artsticas e, mais em geral, de pensamento, podem ser adquiridas como se fossem bananas, que a sua circulao pode ser regida pelas leis do mercado. Censura do mercado e direitos autorais so, desse modo, inseparveis, na medida em que ambos implicam que o pensamento se forma e circula (ou melhor, se negocia) em um mercado das idias. A diferena no apenas com a concepo crist do pensamento, mas com outra que podemos chamar, na falta de melhor rtulo, de demonaca. Para esta concepo, errtica, que no adquiriu uma institucionalizao como a do poder espiritual ou a do mercado das idias, falar, escrever, e, no limite, at mesmo pensar, so encarados como gestos ou atos impessoais. provvel que tal concepo tenha sua
Marx, como no poderia deixar de ser, j alertava para a censura econmica: A imprensa francesa no muito livre; no suficientemente livre. No est sujeita censura intelectual, certamente, mas a uma censura material, o depsito de alta segurana. Tal fato afeta materialmente a imprensa, pois a expulsa de sua esfera verdadeira, impulsando-a esfera das especulaes comerciais. Alm disso, as grandes especulaes necessitam de grandes cidades. Por isso, a imprensa francesa est concentrada em poucos pontos, e, quando a fora material est assim concentrada, age diabolicamente, da mesma forma que o faria uma fora intelectual (MARX, Karl. Liberdade de imprensa. p. 64). 171 interessante resgatar aqui uma formulao do escritor e jurista Jos de Alencar, que fez, em seu tratado sobre A propriedade publicado postumamente na dcada de 1880, uma calorosa defesa da propriedade imaterial diante do que ele chamava de materialismo de nossa legislao civil. Apesar disso, o autor de Senhora e ex-ministro da Justia do Imprio no deixava de alertar contra os possveis abusos que a propriedade intelectual gerava, como as concesses de privilgio aos novos inventos e descobertas, e mesmo introduo daqueles que ainda no forem conhecidos no pas. Assim, conclui Jos de Alencar, A propriedade anteriormente desconhecida e desrespeitada tornou-se monoplio (ALENCAR, Jos de. A propriedade. Edio fac-similar. Braslia: Senado Federal; Superior Tribunal de Justia, 2004. p. 53; grifo nosso).
170
93
formulao mais conhecida na definio platnica do fazer potico: o poeta aquele que acometido por um furor divino. O poeta, para Plato, movido por um demnio, que o faz falar, que o faz dizer coisas as quais no sabe explicar. So mltiplas as encarnaes dessa concepo: o poeta como vidente (vates), como antena da raa, na formulao de Pound, o seu ser inspirado pelas Musas, e inclusive a idia de gnio, que no se refere a uma pessoa especialmente habilidosa ou bem nascida, genial, e sim a uma geniosa, tomada por uma fora extra-humana, por um gnio da lmpada, por assim dizer. Talvez at mesmo nosso verbo falar derive etimologicamente de tal concepo, remetendo a uma raiz latina presente no fas, o direito divino dos antigos romanos, o qual, segundo Benveniste, indica um discurso impessoal dos deuses traduzidos pelos sacerdotes atravs dos sinais contidos nas vsceras de animais. 172 Encontramos uma bela formulao desta concepo nas palavras de Rod Serling, criador de The Twilight Zone (Alm da Imaginao):
Idias vm da terra, elas vm de cada experincia humana que voc testemunha ou da qual fique sabendo, traduzidas dentro de seu prprio crebro, em seu prprio dilogo sensvel, em sua prpria forma de linguagem; idias nascem daquilo que se cheira, que se ouve, que se v, que se experimenta (...); idias provavelmente esto no ar, como minsculos elementos de oznio. A coisa mais fcil do mundo ter uma idia. O passo seguinte a coisa mais difcil do mundo: colocar [a idia] no papel. Algum disse que escrever era a coisa mais fcil do mundo: eu simplesmente entro no meu escritrio, eu sento, eu ponho o papel na mquina de escrever, eu corrijo as margens, eu ajeito o papel, e eu sangro. 173 Cf., entre outros, BETTINI, Maurizio. Weighty words, suspect speech: Fari in Roman culture. Arethusa 41. 2008. pp. 313-375; e a seo Fas de BENVENISTE, mile. O vocabulrio das instituies indo-europeias. v. II. pp. 135-144. 173 O ttulo de um dos livros de poesia de Mrio de Andrade intitula-se significativamente H uma gota de sangue em cada poema (1917). Ademais, em 1940, Mrio ir proferir uma crtica fortssima noo de autor, relativizando historicamente e prognosticando seu possvel ocaso (acarretado, possivelmente, pelo desenvolvimento tcnico): arte no consiste s em criar obras-de-arte. Arte no se resume a altares raros de criadores genialssimos. No
172
94
Em ltima instncia, para a concepo demonaca, dizer e pensar so praticamente um ritual de macumba, e escrever deixar Exu se apossar do corpo do poeta, ou seja, no possuem nada de prprio. Possivelmente a teorizao mais acabada dessa concepo seja a de Averris, para quem o pensamento levava felicidade suprema, ao proporcionar uma unio (copulatio) e conjuno (continuatio) do indivduo com o intelecto material, nico para todos os homens. O intelecto seria comum a todos, e pensar seria um modo de se conjugar a esse comum, por meio da imaginao, das imagens: o intelecto material no se une conosco por si e desde o princpio, antes, se une conosco por sua unio com as formas da imaginao. 174 Para colocar a questo em termos jurdicos: se nos fiarmos nesta tradio, ontem e hoje hertica (a concepo de Averris, como demonstrou Coccia, desafiava o poder espiritual, como tambm os piratas virtuais desafiam os direitos de propriedade intelectual que movem o chamado capitalismo informacional), o direito ao acesso (a obras, a expresses) imprescindvel prpria (ou verdadeira) liberdade de expresso, e os direitos autorais formam um entrave (tanto prtico pois impedem o acesso universal , quanto conceitual, pois representam uma apropriao indbita de algo que seria comum) a ambos. 175 Se o acesso regido pelas leis de mercado, isto quer dizer no apenas que, na modernidade, o pensamento foi privatizado, mas tambm que o espao pblico das atuais democracias censitrio, pois foi s com a apropriabilidade privada e a circulao mercantil das manifestaes e
o foi no Egito, no o foi na Idade Mdia, no o foi na ndia nem no Isl. Talvez no o seja, para maior felicidade nossa, na Idade Novssima que se anuncia. A arte muito mais larga, humana e generosa do que a idolatria dos gnios incondicionais. Ela principalmente comum (ANDRADE, Mrio. Msica doce msica. So Paulo: Martins Fontes, 1963. p. 417). 174 Utilizo a traduo ao espanhol feita por Andrs Martnez Lorca do Livro Terceiro do Grande Comentrio ao livro Sobre a Alma de Aristteles, em: AVERRIS [ABU-L-WALID IBN RUSD]. Sobre el intelecto. Edio e introduo de Andrs Martnez Lorca. Madri: Trotta, 2004. p. 146. 175 O conceito jurdico de conhecimentos tradicionais uma tentativa de frear a apropriao (via direitos intelectuais) de prticas e discursos, e revela, a contrapelo, a pirataria que funda os direitos autorais (e intelectuais mais em geral). O que, de fato, distingue um conhecimento tradicional de um no tradicional, um ditado popular de um poema? No caso da elaborao literria inspirada em acontecimentos pblicos e/ou da vida de outros, quem o autor delas?
95
expresses que algo como a moderna esfera pblica moderna pde se constituir. De fato, Jrgen Habermas demonstrou como esta se forma a partir da mercantilizao dos bens culturais: como mercadorias, tornam-se, em princpio, acessveis a todos, o que acarreta o no fechamento do pblico: todos (...) podiam, atravs do mercado, apropriar-se dos objetos em discusso. As questes discutveis tornamse gerais. 176 Foi o acesso aos bens culturais (por meio da sua converso em mercadorias e de sua reproduo industrializada) que permitiu uma discusso mais ampla (aberta a todos com condies financeiras de adquirir jornais, livros, etc.) e geral sobre eles, formando aquela esfera literria, o frum de debate que serviu de embrio para a chamada esfera pblica de discusso poltico-social: A esfera pblica burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das pessoas privadas reunidas em pblico. 177 Cada um poderia ter a sua opinio individual sobre o objeto em discusso, pois havia feito uma avaliao privada dele, e partilh-la em um ambiente comum, formando, assim, a opinio pblica: a reprodutibilidade tcnica da impresso acabara com a aura que envolvia obras e textos e monopolizava o acesso a seu sentido nas mos de autoridades. 178 Mais tarde, argumenta Habermas, esse mbito de debate passou a ser mantido reunido atravs da instncia mediadora da imprensa e sua crtica profissional. Se, desse modo, a opinio pblica se constitui atravs das conscincias privadas e do acesso que os indivduos tm informao e expresso (tambm privatizadas), e se a impresso capaz de produzir exemplos reprodutveis, ento se percebe o poder inerente concentrao dos meios tcnicos de expresso (entendida em sentido amplo) e do acesso informao (e, de modo mais geral, o verdadeiro marco regulatrio da censura de mercado constitudo pelos direitos autorais, que fixam a natureza jurdica privada da expresso). Talvez tenha sido por isso que Alexis de Tocqueville, numa formulao famosa, tenha associado a democracia ao que chamou de Indstria das Letras e vendedores de idias: A democracia no faz somente penetrar o gosto pelas letras nas classes industriais;
176
HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural da esfera pblica: investigaes quanto a uma categoria da sociedade burguesa. 2. ed. Traduo de Flvio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 52, 53. 177 Ibidem, p. 42. 178 Cf., para um exame mais detalhado do relato que Habermas faz da formao da esfera pblica, o Captulo Terceiro, 7 (infra).
96
introduz o esprito industrial nos domnios da literatura. 179 verdade que, como argumenta Carl Schmitt, a liberdade de expresso da opinio e a liberdade de imprensa se tornaram instituies polticas. Como tais, elas possuem o carter de direitos polticos (...) O uso da liberdade de imprensa e da liberdade de expresso da opinio pblica (...) uma atividade pblica, o exerccio de certa funo pblica que constitui o controle pblico. 180 De fato, a propagao de exemplos possibilitada pelos modernos meios de comunicao fez com que a chamada opinio pblica (que , nas palavras de um poltico mafioso, a opinio que se publica) adquirisse um poder que foi equiparado, como vimos, ao poder censrio tanto pelo seu mbito de atuao, suplementando as leis ao agir sobre os costumes; quanto pelo seu modus operandi, atravs da repreenso dos maus exemplos e a louvao dos bons. Alis, na imprensa e na opinio pblica moderna se pode constatar mais claramente como o poder censrio no consiste apenas na faceta negativa do controle, mas se exerce tambm positivamente, constituindo o campo em que age por meio da conduo. No por acaso, Gabriel Tarde ir afirmar que os publicistas, bem mais que os homens de Estado, mesmo superiores, fazem a opinio e conduzem o mundo 181; e Vilm Flusser no hesitar em dizer que, Do ponto de vista do futuro, a imprensa no o quarto poder, mas o primeiro: nela pela primeira vez se mostra que o poder est onde se produzem e se divulgam informaes. (...) A imprensa no nada alm de um precursor dos atuais centros de deciso. Os antigos poderes no tem mais nada a dizer: Programas polticos na televiso comprovam isso. Ali, as articulaes polticas so sorvidas por um novo modo de conscincia informativo: a poltica uma questo de imagem, o que se diz de maneira imprecisa; e um video casting decide os candidatos presidncia. 182 A indistino entre negatividade e positividade do poder censrio encarnado pela opinio pblica encontra uma excelente sintetizao em Orfeu nos infernos, de Jacques Offenbach. Ali, a Opinio Pblica, toma o lugar do antigo coro, com uma pequena mas
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na Amrica. 2. ed. Traduo e notas de Neil Ribeiro da Silva. Belo Horizonte; So Paulo: Itatiaia; EdUSP, 1987. p. 359; grifo nosso. 180 SCHMITT, Carl. Constitutional Theory. Editado e traduzido ao ingles por Jeffrey Seitzer. Durham: Duke University Press, 2008. 18. The People and the Democratic Constitution; III. The people compared with the constitutional regime (public opinion); 3. 181 TARDE, Gabriel. A opinio e as massas. p. 21. 182 FLUSSER, Vilm. A escrita: h futuro para a escrita? p. 127-128.
179
97
significativa vantagem em relao a este: sou melhor: eu mesma ajo, / e, tomando parte da ao, / do aplauso ou da antema / eu fao a distribuio. Desse modo, ela pressiona at obrigar Orfeu (Escravo sou da Opinio Pblica, diz o personagem) a ir buscar Eurdice no inferno, coisa que ele no queria fazer: Vamos! intil resistir Opinio!, sentencia a prpria. Se, desse modo, tal sentido profundo do poder de agenda faz com que a opinio pblica seja, de fato, uma instituio poltica constituda pela liberdade de expresso e de impresso, no podemos, mesmo assim, acompanhar Schmitt quando ele diz que estas no so mais o resultado da individualista liberdade de confisso e religio, como so no contexto [norte-]americano, onde seriam um engajamento dentro da esfera privada. 183 A moderna liberdade de expresso e impresso no deixa de carregar dentro de si seu carter privado e mercantil, essencial formao ( prpria forma) da opinio pblica o que se percebe objetivamente na concentrao dos meios de comunicao nas mos de oligoplios. Ela implica, como percebia Tocqueville, uma via de mo dupla, que privatiza o pblico e publiciza o privado. Nesse sentido, a liberdade de expresso e impresso tanto um instrumento essencial do poder censrio, que torna publicamente relevante o que privado, quanto seu objeto privilegiado, por permitir a responsabilizao individual de uma opinio pblica e identificar o lobo que se esconde entre as ovelhas e excede o parmetro institudo da liberdade. 3.9. No campo moderno da impresso e da expresso, o autor se assemelha a um produtor de mercadorias tambm quando de sua responsabilizao jurdica, que parece ter como modelo aquela referente produo de objetos comerciais. Desde pelo menos o sculo XVII, a censura judicial no leva em conta, ao menos como fator decisivo ou preponderante, a inteno do autor, que s tem validade enquanto o manuscrito permanecer nas mos do autor. 184 Ao contrrio, ela se atenta somente aos efeitos que o texto, um objeto prprio, pode
SCHMITT, Carl. Constitutional Theory. 18; III; 3. Portanto, desde o momento em que a lei foi forada a tomar conhecimento de um problema de interpretao literria, o julgamento, de 1633, sobre o libelo sedicioso de William Prynne, os juzes afirmaram que a inteno autoral (sobre a qual se erigira a defesa preparada por Collingbourne) s tinha validade enquanto o manuscrito permanecesse nas mos do autor (PATTERSON, Annabel. Censorship and Interpretation. The conditions of writing and reading in early modern England. Madison: University of Winsconsin Press, 1991. p. 19).
184 183
98
produzir: A criatura (obra) no se confunde com a pessoa de seu criador (artista) e, uma vez concluda, passa a subsistir independentemente dele, afirma um juiz na sentena de um processo censrio recente. 185 Enquanto dono da obra/produto, o autor, impressor e editor (esse sentinela avanado contra o escndalo, que, se deixa passar o delito, como se deixasse passar o inimigo, segundo outro censor judicial 186) devem responder pelos seus efeitos exatamente como as empresas devem, em juzo, responder objetivamente por possveis danos ocasionados pelas suas mercadorias industriais, ou seja, sem levar em considerao a existncia da inteno de lesar. A possibilidade de responsabilizao cinde a expresso em duas facetas: uma privada, regida pelas leis comerciais dos direitos autorais, e outra pblica, em que os efeitos da obra podem ser julgados. A ciso do sujeito moderno interiorizada na expresso, criando-se uma distino entre a mera expresso e a expresso como ao, a liberdade privada e a liberdade poltica, o direito individual e a atividade pblica. A liberdade de expresso nunca total: basta lembrar o exemplo, comum nos manuais de Direito, da pessoa que grita Fogo! em um teatro lotado, quando sabe que no h incndio algum ela no pode alegar estar exercendo a liberdade de expresso. Na jurisprudncia americana, isso foi estabelecido pela diferenciao entre expression e conduct: a liberdade de expresso no cobre todas aquelas manifestaes que conduzem a um efeito direto. 187 Se a manifestao se configurar como conduta, se levar ao, sua legalidade depender da legalidade ou no desta (isso aparece mais claramente nos tipos penais
Trata-se da sentena que confirmou a censura a Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca (as atas do processo se encontram publicadas em SILVA, Deonsio da. Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e represso ps-64. 2. ed. Barueri: Manole, 2010; citao: p. 234). importante sublinhar que essa no apenas a opinio do juiz, mas tambm a dos outros dois plos do processo (autor e censor). Deonsio da Silva notou com preciso como os autos do processo revelam que As duas partes admitem que a inteno do escritor irrelevante, no somente no caso especfico do julgamento, mas tambm em toda a tradio literria dos chamados povos do Ocidente (p.138). 186 El origen del narrador: actas completas de los juicios a Flaubert y Baudelaire. Traduo ao castelhano de Luciana Bata. Buenos Aires: Mardulce, 2011. p. 41. 187 A bibliografia sobre o tpico imensa. Cf., para um recente quadro geral do tema, VOLOKH, Eugene. Speech as Conduct: Generally Applicable Laws, Illegal Courses of Conduct, Situation-Altering Utterances, and the Uncharted Zones. Cornell Law Review. v. 90, n. 5. Jul/2005.
185
99
da incitao ao crime). Nas palavras de Montesquieu, As palavras que so ligadas a uma ao adquirem a natureza desta ao. 188 Uma das balanas com as quais a censura judicial mede os efeitos de uma obra de expresso o homem mdio, uma fico jurdica muito comum no Direito Penal. Ele invocado explicitamente na censura a Ulysses, de James Joyce, e, com variantes, no processo de censura contra Pasolini, em que aparecem o sentimento mdio de pudor e o leitor mdio. E tambm aparece na sentena que confirmou a censura a Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, na qual o juiz argumentou que
o exerccio do direito de livre emisso do pensamento est condicionado ao respeito s regras morais e aos bons costumes, princpios basilares de uma sociedade civilizada, onde ao rgo estatal encarregado da censura compete, com exclusividade, o interpretar aquilo que, em cada momento histrico, constitui a moral do homem mdio, de modo que o ato de censura concerne ao exerccio de poder discricionrio. 189
Talvez no haja melhor conceituao do que caracteriza um rgo censor: ser o intrprete daquilo que constitui a moral do homem mdio, com a ressalva de que esta interpretao tambm sempre uma criao, e que fazer uma mdia estipular uma medida. Ou seja, o homem mdio a medida que permite averiguar se uma determinada obra consiste em uma mera expresso ou em uma ao contrria ao ordenamento (seja ela de incitao, seja de injria, seja de afronta aos bons costumes), e sua caracterizao, por vezes, parece ser mais ficcional que as fices censuradas:
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do esprito das leis. p. 184. O filsofo continua o captulo sobre as palavras indiscretas do seguinte modo: Assim, um homem que vai praa pblica exortar os sditos revolta toma-se culpado de lesa-majestade, porque as palavras esto unidas ao e dela participam. No so as palavras que so castigadas, e sim uma ao cometida, na qual se usam palavras. Elas s se tomam crimes quando preparam, acompanham ou seguem uma ao criminosa. Tudo ficar invertido se fizermos das palavras um crime capital, em vez de tom-las como o sinal de um crime capital. 189 SILVA, Deonsio da. Nos bastidores da censura. p. 226.
188
100
Ora, o brasileiro mdio abomina a violncia contra a pessoa humana, mxime o habitante das grandes cidades, permanente exposto a ela, no lar, na rua e no trabalho, ante o grande nmero de assaltos ocorridos nos ltimos anos. O brasileiro mdio no o intelectual nem o analfabeto. No o da Av. Vieira Souto nem o do serto do Piau. O brasileiro mdio tem instruo mdia, capaz de crer que o Cravo bem temperado segredo de culinria e que F. Dostoievski era reserva da seleo sovitica. Homem afamiliado, de regra no tem vcios, mas s vezes diz os palavres que o livro emprega. O brasileiro mdio l pouco e v muito televiso. Jura que no tem preconceitos, mas ainda acha que a mulher deve casar virgem. O brasileiro mdio gosta de futebol e gosta de carnaval. s vezes vai ao cinema e raramente vai ao teatro. O brasileiro mdio simpatiza com o Presidente e nem gosta de pensar na fila do Inamps. No santo nem demnio. O brasileiro mdio acha que o custo de vida est pela hora da morte. O brasileiro mdio detesta a violncia e tem muito medo de assalto. 190
O carter pblico da liberdade de expresso , desse modo, o que permite a sua responsabilizao privada. Justamente porque a liberdade de expresso no totalmente privada, mas o marco jurdico da passagem do privado ao pblico e vice-versa, ela deve ser controlada e vigiada. Por produzir efeitos polticos e morais, a expresso, segundo o mesmo juiz censor, deve estar de acordo com o homem mdio, e evitar o excesso, pois a moderao (...) que consolida o poder e os mais eficientes coveiros de liberdade podem ser precisamente os seus amantes mais apaixonados e egostas, que, com os seus arroubos, 191 acabam por engendrar as ditaduras dos liberticidas. Como veremos a seguir, a moderao encontra-se no ncleo mesmo da ambgua relao entre arte e censura, entre a arte e o seu poder.
190 191
Ibidem, p. 243. Ibidem, 244-245.
101
4. Mala carmina: a literatura diante da lei
A jurisdio do teatro comea exatamente onde termina o domnio das leis mundanas. (Friedrich Schiller)
4.1. No texto que ficou conhecido como Discurso sobre as cincias e as artes, premiado pela Academia de Dijon em 1750, Jean-Jacques Rousseau responde negativamente pergunta proposta pelo concurso: o restabelecimento das cincias e das artes ter contribudo para aprimorar os costumes? O filsofo constri, para amparar a sua resposta, uma diferenciao entre a virtude, por um lado, e as cincias e as artes, por outro, argumentando que estas no necessariamente levam quela: no em absoluto cincia que maltrato, (...) a virtude que defendo (...) E no bastar, para aprender tuas leis, voltar-se sobre si mesmo e ouvir a voz da conscincia no silncio das paixes? 192 Nesse sentido, depois de citar elementos da crtica platnica aos poetas e sofistas (os quais retomaremos adiante), Scrates e Cato so invocados como exemplos de sua posio: Scrates comeou em Atenas, o velho Cato continuou em Roma a deblaterar contra esses gregos artificiosos e sutis que seduziam a virtude e afrouxavam a coragem de seus concidados. 193 Por negar valor arte e s cincias no aprimoramento dos costumes, Rousseau, por ocasio da encenao de sua pea Narciso ou O amante de si mesmo, dois anos aps o discurso premiado, tem de escrever um prefcio justificando o espetculo por ele composto. Todavia, mesmo ali, sustenta-se o mesmo argumento:
[As artes e as cincias] Destroem a virtude, mas preservam o seu simulacro pblico, (...) [que] consiste numa certa doura de costumes que algumas vezes substitui a sua pureza, uma certa aparncia de ordem que previne a tremenda confuso, uma certa admirao pelas belas coisas que impede as boas de carem inteiramente no esquecimento. o vcio que toma a mscara da virtude, no como a hipocrisia para enganar e
192
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; Ensaio sobre a origem das lnguas; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as cincias e as artes. p. 333, 352. 193 Ibidem, p. 340.
102
trair, mas para, sob essa efgie amvel e sagrada, afastar o horror que tem de si mesmo quando se contempla nu. 194
Jacques Derrida parece acertar em cheio quando, na sua Gramatologia, insere Rousseau na linhagem da metafsica da presena, que v em toda representao uma falsificao, linhagem que, obviamente, teria suas razes conceituais em Plato e na crtica que este faz mmesis artstica (duplamente afastada da Idia): No nos enganemos: o que Rousseau critica, em ltima anlise, no o contedo do espetculo, o sentido por ele representado, embora tambm o critique: a re-presentao mesma. 195 Contudo, preciso notar uma outra dimenso da argumentao rousseauniana, presente no mesmo prefcio. O que torna plausvel algum condenar as artes e pratic-las, segundo Rousseau, que, em povos corrompidos, como o francs, os espetculos, se no os levam a agirem bem, ao menos servem para distra-los de fazer o mal. 196 Como argumentou Bento Prado Jr., o essencial na abordagem de Rousseau aos espetculos no est numa crtica de inspirao teolgico moral, tampouco numa crtica metafsica da representao. A verdadeira questo (...) , como bem observa M. Launay, celle de la fonction sociale du thtre. 197 De fato, na famosa Carta a DAlembert, que tanto Derrida quanto Bento Prado Jr. tm em mente ao analisar a crtica de Rousseau aos espetculos, o que est em jogo no o teatro em si e por si, mas a sua possvel instalao em Genebra. No verbete sobre a cidade sua que escreveu para a Encyclopdie, DAlembert argumentava que, para tal cidade se tornar perfeita, s faltava um teatro o que motivou a resposta de Rousseau, o qual, porm, desde o incio, desloca a questo, da validade do teatro per se, para a dos seus efeitos: Perguntar se os espetculos so bons ou maus em si mesmos fazer uma pergunta vaga demais; examinar uma relao antes de ter determinado os termos. Os espetculos so feitos
Ibidem, p. 426; grifos nossos. DERRIDA, Jacques. Gramatologia. 2. ed. 2. reimpresso. Traduo de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. So Paulo: Perspectiva, 2006. p. 372. 196 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; Ensaio sobre a origem das lnguas; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as cincias e as artes. p. 426. 197 PRADO Jr., Bento. Gnese e estrutura dos espetculos. (Notas sobre a Lettre dAlembert de Jean-Jacques Rousseau). Estudos CEBRAP. n. 14. So Paulo: outubro de 1975. pp. 3-34; citao na p. 25
195 194
103
para o povo, e s por seus efeitos sobre ele podemos determinar suas qualidades absolutas. 198 E, prossegue, o efeito geral do espetculo reforar o carter nacional, acentuar as inclinaes naturais e dar nova energia a todas as paixes (...) S a razo no tem valor algum no palco. Um homem sem paixes, ou que sempre as dominasse, no seria capaz de interessar a ningum no palco. 199 O problema, contudo, no a paixo em si, na medida em que o homem sem paixes uma quimera 200, mas o modo em elas aparecem, em uma esfera separada:
O teatro tem suas regras, suas mximas, sua moral parte, assim como sua linguagem e seus trajes. Dizemos a ns mesmos que nada daquilo nos convm, e nos acreditaramos to ridculos adotando as virtudes de seus heris quanto falando em versos e nos vestindo romana. Eis, portanto, mais ou menos para que servem todos esses grandes sentimentos e todas essas brilhantes mximas que se elogiam com tanta nfase; para releg-los para sempre ao palco, e para nos mostrar a virtude como um jogo de teatro, bom para divertir o pblico, mas que seria loucura querer transportar seriamente para a sociedade. Assim, a mais vantajosa impresso das melhores tragdias reduzir a alguns sentimentos passageiros, estreis e sem efeito, todos os deveres do homem, em nos fazer aplaudir a nossa coragem, louvando a dos outros, a nossa humanidade, lamentando os males que poderamos curar, nossa caridade dizendo ao pobre: Deus te proteja. 201
No teatro, as paixes, a moral e a virtude aparecem em uma esfera parte e so regidos por uma lgica distinta da que guia o cotidiano poltico-social. A crtica independizao da imagem uma constante na Carta a DAlembert, o que parece levar gua pro moinho
198
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. Traduo de Roberto Leal Ferreira. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. p. 40; grifo nosso. Para Paris, vale o mesmo diagnstico que Rousseau havia feito no prefcio a Narciso: os espetculos servem para que se distraia o povo, j corrompido, impedindo-o de praticar seus vcios (p. 74-75). 199 Ibidem, p. 42, 41. 200 Ibidem, p. 122. 201 Ibidem, p. 147; grifos nossos.
104
do argumento derridiano. Todavia, preciso insistir, o problema no reside na imagem fictcia do honesto e do belo [que] mal entrou no corao do homem 202, mas nos efeitos que esta produz: Favorecendo todas as nossas inclinaes, ele d uma ascendncia nova s que nos dominam; as contnuas emoes que nele sentimos nos tiram a energia, nos enfraquecem, nos tornam mais incapazes de resistir s paixes; e o estril interesse que ganhamos pela virtude s serve para contentar o nosso amor-prprio, sem nos obrigar a pratic-la. 203 Desse modo, a questo que o teatro, situado historicamente, um espetculo incapaz de favorecer o sentimento pblico da virtude; ao contrrio, ele acentua as paixes privadas. Como notou Bento Prado Jr., para Rousseau, h uma alterao do teatro na modernidade, roubando o carter pblico e cvico dos espetculos, implica[ndo] numa diminuio essencial, que no poupa a prpria natureza da poesia dramtica 204: Nessa decadncia do teatro, diz Rousseau, vemo-nos obrigados a substituir as verdadeiras belezas eclipsadas por pequenos enfeites capazes de se impor multido. No sabendo mais alimentar a fora do cmico e dos caracteres, reforamos o interesse pelo amor. 205 O problema que o amor propriamente dito um sentimento privado que suplementa a
Ibidem, p. 97; traduo modificada; grifo nosso. Ibidem, p. 73. 204 PRADO Jr., Bento. Gnese e estrutura dos espetculos. p. 12. Tal crtica privatizao dos espetculos tem momentos que parecem antecipar Guy Debord: Acreditamos reunir-nos no espetculo, e ali que cada um se isola; ali que vamos esquecer os amigos, os vizinhos, os prximos, para nos interessarmos por fbulas, para chorarmos as desgraas dos mortos ou rirmos s custas dos vivos (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 40). Lembre-se da belssima tese dA sociedade do espetculo: O espetculo rene o separado, mas o rene como separado (DEBORD, Guy. A sociedade do espetculo. Traduo de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. p. 21). Cabe notar que Jean-Luc Nancy filia Debord, de certo modo, mesma tradio da metafsica da presena a qual pertenceriam Plato e Rousseau: Se se observa bem, se ver que as crticas da alienao espetacular, em ltima instncia, se fundam, queiram ou no, na distino entre um bom e um mau espetculo. (...) No fundo, esta diviso maniquesta no pressupe apenas uma distino dos objetos representados, mas tambm uma oposio no estatuto da representao: por um lado, a interioridade do bom espetculo, que manifestao, expresso do prprio, e, por outro, a exterioridade que constitui a representao do mau espetculo, imagem, reproduo (NANCY, Jean-Luc. Ser singular plural. Traduo para o espanhol de Antonio Tudela Sancho. Madri: Arena Libros, 2006. p. 84). 205 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 64.
203 202
105
falta do amor pblico, o amor da humanidade e o amor da ptria 206, e provoca uma efeminao, o imprio feminino, pois o amor o reino das mulheres. 207 Ou seja, o teatro inverte (e subverte) integralmente o lao que deveria ligar o indivduo ao Estado: em vez do amor ao que pblico, a ascese virtuosa que torna publicamente relevante toda ao privada, tal como preconizava Montesquieu, o teatro valoriza em pblico o amor prprio, aquilo ao qual se deveria abdicar para o bem comum. Como dissemos, a crtica de Rousseau uma crtica poltica do teatro. 208 Assim, ao defender que no se instale um teatro em Genebra, o filsofo apresenta uma alternativa: uma festa cvica que desperte os bons sentimentos, especialmente o amor pblico. Tal festa, porm, tem pouco ou nada da pura presena que Derrida enxerga nela: tratase de uma celebrao da estratificao social, com a proeminncia dos
Todo o teatro francs s respira a ternura: a grande virtude a que se sacrificam todas as outras, ou pelo menos aquela que tornaram a mais querida pelos espectadores. (...) O amor da humanidade e o amor da ptria so os sentimentos cujas pinturas mais comovem os que os sentem; mas quando essas duas paixes se extinguem, s resta em seu lugar o amor propriamente dito: porque seu encanto mais natural e se apaga mais dificilmente do corao do que o de todas as outras paixes. No entanto, ele no convm igualmente a todos os homens: mais como um suplemento aos bons sentimentos do que como um bom sentimento realmente que podemos admiti-lo; no porque o amor no seja elogivel em si, como toda paixo bem ordenada, mas porque os seus excessos so perigosos e inevitveis (Ibidem, p. 122; grifos nossos). 207 O amor o reino das mulheres. So elas, necessariamente, que ditam a lei ali: porque, de acordo com a ordem da Natureza, a resistncia lhes pertence e os homens s podem vencer essa resistncia s custas de sua liberdade. Um efeito natural desse tipo de pea , pois, ampliar o imprio feminino, fazer das mulheres e das moas os preceptores do pblico e lhes dar sobre os espectadores o mesmo poder que tm sobre os amantes. Pensa V. Sa. que essa ordem no tenha inconvenientes e que aumentando to aplicadamente a ascendncia das mulheres os homens sero melhor governados? (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 65); Se os heris de algumas peas submetem o amor ao dever, admirando a fora deles, o corao deixa-se levar pela fraqueza que mostram; aprendemos menos a ter a sua coragem do que a nos colocarmos na situao de precisar dela. Isso significa mais exerccio para a virtude; mas quem ousa exp-la a tais combates merece sucumbir a eles. O amor, o prprio amor assume a sua mscara para surpreend-lo; veste o seu entusiasmo; usurpa a sua fora; imita a sua linguagem e, quando nos damos conta do erro, j tarde demais! (p. 123). 208 PRADO Jr., Bento. Gnese e estrutura dos espetculos. p. 25.
206
106
velhos, da diviso sexual, com as danas entre os jovens altamente regradas. Se h passagens em que um estado idlico se anuncia na festa, e a separao entre ator e espectador, imagem e mundo, parece se desfazer 209, logo a real funo e natureza da festa aparece em sua crueza:
Os bons costumes dependem mais do que se pensa de que cada qual esteja bem em sua condio. A astcia e o esprito de intriga vm da inquietude e do descontentamento: tudo vai mal quando um aspira ao emprego do outro. preciso amar seu ofcio para bem faz-lo. (...) Quereis, pois, tornar um povo ativo e trabalhador? Dai-lhe festas, oferecei-lhe diverses que o faam amar sua condio e o impeam de desejar outra mais doce. Dias assim perdidos valorizaro todos os outros. Presidi a seus prazeres para torn-los honestos; este o verdadeiro meio de animar seus trabalhos. 210
Desse modo, o espetculo til quando serve hierarquia social, ao bom funcionamento do Estado, ou melhor, quando mostra a diviso constitutiva. Se o espetculo fomenta as paixes, o seu problema que, ao independizar a imagem do substrato social, produz, como efeito, paixes por imagens diferentes daquela do status quo. Assim, o perigo do teatro que ele fornea exemplos outros de organizao polticosocial, exemplos de outros costumes que podem contagiar a populao, ou melhor, exemplos da possibilidade de ser outro (ou outra imagem) que podem contagiar a populao. Por isso, talvez a crtica rousseauniana ao teatro no pertena, de fato, tradio da metafsica da
Por exemplo: No sejam efeminados nem mercenrios os vossos prazeres, nada do que sabe a obrigao e interesse os envenene, sejam eles livres e generosos como vs, e ilumine o sol vossos inocentes espetculos; vs mesmos formareis um espetculo, o mais digno que ele possa iluminar. // Quais sero, porm os objetivos desses espetculos? Que se mostrar neles? Nada, se quisermos. Com a liberdade, em todos os lugares onde reina a abundncia, o bem-estar reinar tambm. Plantai no meio de uma praa uma estaca coroada de flores, reuni o povo e tereis uma festa. Ou melhor ainda: oferecei os prprios espectadores como espetculo; tornai-os eles mesmos atores; fazei com que cada um se veja e se ame nos outros, para que com isso fiquem todos unidos (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 128; grifo nosso). 210 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 145; grifo nosso.
209
107
presena. Isso no quer dizer, porm, que no pertena linhagem platnica de crtica poesia. Se os romanos cunharam o termo censura e forneceram ao Ocidente o maior exemplo de um censor, coube a um grego a defesa mais conhecida da censura arte. Estamos falando, evidentemente, do episdio do banimento dos poetas da Repblica de Plato. Enfim chegada a hora de confront-la. 4.2. Diante da lei, diante dos sofistas, dos retricos, dos polticos, dos juristas, e tambm dos poetas, diante de todos aqueles que o acusam de ser mpio e de corromper a juventude, Scrates inicia a sua defesa dizendo: Eu sou um estrangeiro lngua que aqui se fala. Comprometido com a verdade, Scrates se furta de recorrer compaixo, o que o igualaria s mulheres, buscando distanciar-se da linguagem dos poetas, que, tal como os profetas e os adivinhos, dizem coisas muito boas, sem compreender nada do que dizem. Podemos afirmar que, na verdade, era isso que estava em jogo no julgamento do filsofo: uma questo de linguagem. Scrates no estaria sendo julgado por impiedade, por querer saber dos cus e da terra, mas, segundo o relato legado a ns por Plato, por mostrar que as pessoas que figuram que sabem no sabem nada. Neste sentido, o que estava em julgamento era a prpria filosofia. Como se sabe, nos principais dilogos socrticoplatnicos o on, o Fedro, o Banquete, a Repblica, etc. , a contraposio entre discurso filosfico e discurso potico-retrico aparece insistentemente. Esta ciso central no s para a filosofia platnica, mas para o pensamento ocidental, e poderamos resumir seu fundamento atravs de uma diferenciao traada por Scrates no Eutfron, ou seja, no dilogo que se situa temporalmente logo antes do julgamento, quando o filsofo est na porta da lei. O adivinho Eutfron, diz Scrates, movido por um entusiasmo, uma potncia divina, um demnio interior que o faz dizer coisas verdadeiras, mas as quais no consegue compreender e explicar. Este o paradigma da poesia: o poeta movido a falar pelas musas, pelo furor divino. 211 Tambm o filsofo
211
Uma das imagens que Plato utiliza, no on, para descrever a potncia divina do rapsodo a comparao com a magnetita: pedra capaz de imantar outros metais. Como vem mostrando Leonardo Dvila de Oliveira, esta figura platnica reaparecer ao longo da tradio ocidental, e, por via de Poliziano e Marsilio Ficino, ser retomada nos poemas latinos de Rimbaud, ou seja, no corao mesmo da poesia moderna. Cf. OLIVEIRA, Leonardo Dvila de. Poesia e imantao. Trabalho apresentado no XII Congresso Internacional da ABRALIC (Curitiba, julho de 2011). Disponvel em: http://migre.me/7nSSJ. Uma verso ampliada do trabalho aparecer, junto com a traduo, feita pelo
108
possui o seu demnio interior, s que este atua de modo diferente: ele age de forma a refrear o filsofo toda vez que o entusiasmo ameaa mov-lo a falar o que no sabe de fato. 212 Temos, portanto, dois modelos de acesso verdade segundo Scrates: o modelo do poeta ou do retrico, que consiste em dizer algo verdadeiro sem conseguir explic-lo, modelo magntico-sensorial, em que a verdade se espalha pela conduo das almas, atravs da simpatia, da compaixo, da efeminao que gera em quem a ouve; e o modelo do filsofo, que consiste em um acesso verdade por via negativa, isto , pela desconfiana em relao aos sentidos e a toda enunciao entusiasmada da verdade. Contudo, a bem da verdade, o quadro muito mais sutil do que aquele traado por Plato por intermdio de Scrates e isso que interessa aqui. Vejamos o famoso episdio do banimento dos poetas dA Repblica ideal. As anlises mais comuns geralmente focam no argumento de que a poesia se afasta da verdade por ser uma mmese de segundo grau (imitao da realidade que , por sua vez, imitao da Idia), sem se deterem o suficiente no motivo da efeminao provocada pela poesia, isto , na alterao que ela produz na sensibilidade. Com efeito, Plato, ao tentar provar que a poesia tem o poder de lesar at mesmo os bons, argumenta que os gregos, quando ouvem, em Homero ou em algum poeta trgico, uma passagem intensa, abandonam a si prprios e seguem simpaticamente o personagem, admirando como melhor poeta aquele que mais produz este efeito (605d). Simpatizar possui em grego um sentido forte de sofrer junto, ser afetado por uma mesma coisa que outro: sym-pathos, paixo conjunta. Diante de uma aflio em suas prprias vidas, continua o filsofo, os gregos se orgulham de manter a calma, comportamento de um homem, isto , comportamento masculino, enquanto no teatro agiam como mulheres. A imitao potica alimenta as afeces, que devem ser regidas e no regerem, caso os homens queiram ser bons e felizes (606d). No se trata, porm, somente de um problema de coerncia: ser afetado pelas emoes de um personagem no teatro, enquanto na vida cotidiana elas so mantidas afastadas at mesmo em uma situao de tenso. Plato est ciente de que no h como artificialmente isolar uma esfera das afeces, isolar a arte. Mas, ao mesmo tempo, a soluo que se podia
prprio Leonardo Dvila, das poesias latinas de Rimbaud, no volume A Primavera de Rimbaud: Poesia Latina (Desterro: Cultura e Barbrie, no prelo). 212 Sobre os demnios socrticos, cf. o essencial De Deo Socratis, de Apuleio, introduo indispensvel a qualquer demonologia.
109
esperar o banimento completo dos poetas no sugerida pelo filsofo. Plato abre uma exceo ao expurgo da poesia (os hinos aos deuses e as loas aos homens bons seriam admitidas na polis do Reifilsofo (607a)), e tambm deixa aberta as portas para a readmisso do resto da poesia, se for provado que, alm de doce, prazerosa (hdeia), ela tambm til, benfica (phelim) para a vida dos homens e para a politeias (607d-607e). No se trata de eliminar os efeitos que a arte provoca, mas control-los. Por essa razo, Oswald de Andrade chamou Scrates de patrono da literatura dirigida, o animador da censura. 213 4.3. No Livro III, Plato j fizera uso de um raciocnio semelhante ao do (quase-) banimento da poesia no Estado ideal, quando da abordagem da mentira (pseudon), em que se mostra ciente de que impossvel ou temerrio expurgar uma fora que , para usar a expresso de Oscar Wilde, fundadora das relaes sociais. 214 Assim, do mesmo modo que
ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofgica. p. 114. Adorno ainda mais severo: As notas que Plato distribui arte em funo da sua correspondncia ou no com as virtudes militares da comunidade que ele confunde com a utopia, o seu rancor totalitrio para com a decadncia real ou odiosamente inventada, e tambm a sua averso relativamente s mentiras dos poetas que, no entanto, nada mais so do que o carter de aparncia da arte, que ele chama a uma ordem existente tudo isso macula o conceito de arte no mesmo instante em que ele , pela primeira vez, refletido (Teoria esttica. Traduo de Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 2008. p. 359). 214 WILDE, Oscar. The Decay of Lying. Em: The collected works of Oscar Wilde. Hertfordshire: Woodsworth Editions, 2007. pp. 919-944; citao: p. 932. A expresso de Wilde social intercourse. A funo fundadora de laos poltico-sociais exercida pela mentira tambm sublinhada por Hannah Arendt: a negao deliberada da verdade factual a habilidade de mentir e a capacidade de mudar os fatos a habilidade de agir esto interconectados; eles devem sua existncia mesma fonte: a imaginao (Crises of the republic. Nova Iorque: Harcourt Brace, 1974. p. 5). Igualmente, Walter Benjamin ressaltar este aspecto no-violento da mentira enquanto modelo de interao social: na conversa (...) um acordo no-violento no apenas possvel, mas a eliminao por princpio da violncia pode ser explicitamente comprovada com um tipo de relao importante: a impunidade da mentira. Talvez no exista no mundo nenhuma legislao que originalmente puna a mentira. Quer dizer que existe uma esfera de entendimento humano, no-violenta a tal ponto que seja totalmente inacessvel violncia: a esfera propriamente dita do entendimento, a linguagem (BENJAMIN, Walter. Crtica da violncia/Crtica do Poder. p. 168). No final de seu ensaio sobre Benjamin, Jrgen Habermas argumenta que uma teoria da comunicao
213
110
a poesia, a mentira deve ser proibida aos indivduos e monopolizada pelo Estado, pois, sendo uma droga (um dos inmeros da Farmcia de Plato, como Jacques Derrida a cunhou 215), deve ser ministrada por quem sabe faz-lo, isto , por um iatros, um mdico (389b), no caso, os governantes da polis. Ainda que a verdade seja prefervel mentira, esta, enquanto pharmakon, no somente veneno, mas tambm remdio, e, portanto, no trato com os inimigos, ou mesmo com os prprios cidados, pode revelar-se pheliai til, benfica. No foi toa que Carlos Astrada tenha visto nessa passagem a inveno da mentira cvica, i.e., da razo de Estado. 216 Mas sobre o que se funda em ltima instncia a deciso sobre a utilidade da poesia e/ou da mentira? Retornemos ao Livro X para tentar descobrir a resposta. Para Plato, o imitador de segundo grau exploraria as iluses sensoriais derivadas do fato de que toda apario percebida atravs um ponto de vista. O antdoto contra isso seria a medida (metrein), o clculo (arithmein), o peso (histanai) (602d). 217 O uso do metron, segundo o filsofo, permite reduzir a uma unicidade aquilo que pode aparentar ser de diversas formas segundo o ponto de vista. O poeta, que s sabe as palavras e as frases (onomasi e rhemasin (601a)) se nega a fazer uso desta medida que leva ao Um. como se a negao desta medida fosse a fonte dos efeitos que a poesia provoca. Mas tal medida parece estar longe, como adiantamos, da Razo (da necessidade) e perto de algo
lingstica que reintroduza as intuies de Benjamin numa teoria materialista da evoluo social deve pensar (HABERMAS, Jrgen. Habermas sociologia. Organizao de Barbara Freitag e Srgio Paulo Rouanet. So Paulo: tica, 1990. p.206) tal passagem benjaminiana, mas sintomaticamente omite da citao que faz dela as frases referentes mentira, mencionando apenas a frase final, a qual, todavia, carece de sentido sem a hiptese da no-punio. 215 Cf. DERRIDA, Jacques. A farmcia de Plato. 3. ed. revista. Traduo de Rogrio Costa. So Paulo: Iluminuras, 2005. 216 ASTRADA, Carlos. Poesa y filosofa. Disponvel em: http://migre.me/7nSRB 217 Como lembra Luis Gil, a medida platnica guia tanto o censo, a diviso sensvel do Estado, quanto a disposio do organismo humano, que se correspondem: o estado para ele vinha a ser como um organismo humano com uma cabea dirigente, um brao executivo e defensor e alguns rgos para prover as necessidades de conservao (GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo. p. 85-86). Na poltica: filsofo, guerreiros, e agricultores/artesos; no organismo: mente regente, vontade que obra de acordo com ela, e o apetite carnal que deve ser governado pelas duas anteriores; as qualidades que deveriam guiar cada um dos trs estratos poltico-fisiolgicos seriam, respectivamente, a sabedoria, a valentia e a moderao.
111
como uma razoabilidade (de uma contingncia tomada como necessidade). No s porque certas derivaes de metron (no s no texto platnico) parecem ser usadas no sentido de razovel, mas porque todo o discurso do dcimo livro dA Repblica gira em torno de uma racionalidade utilitria ou econmica, que no parece se fundar numa Lei, no Um, ou na Idia. Repassemos os exemplos levantados: diante de aflies no dia-dia, o homem, enquanto homem, deve manter a calma, deve ser razovel, por assim dizer; a poesia foge medida e deve ser banida, mas, em se revelando til, pode voltar polis; por fim, a mentira, na mo dos governantes, pode ser benfica. A medida entre as palavras e as coisas no deduzida da Idia, mas da prxis e esta esfera que est em jogo. Mas o exemplo mais claro do tipo de medida que est em jogo aparece no derradeiro motivo que Scrates d a Glauco para ser um homem bom e justo (o que inclui, evidentemente, negar a poesia): a narrao mtica das recompensas que aguardam a alma do homem virtuoso depois da morte. O apelo a este tipo de mito, comum entre os gregos, mas diante do qual Plato se mostrava perplexo, um dos motivos pelos quais Averris, em sua Exposio dA Repblica, prescinde de comentar o Livro X: estes mitos no tem nenhum valor, e as boas qualidades que deles se deduzem no so autnticas virtudes, pois se so qualificadas como tais por pura homonmia, procedendo de velhas imitaes. 218 Em ltima instncia, o que baseia a medida no
AVERRIS. Exposicin de la Repblica de Platn. 5. ed. Estudo preliminar, traduo ao espanhol e notas de Miguel Cruz Hernndez. Madri: Tecnos, 1998. p. 149. Averris tambm faria uma defesa da filosofia diante da lei em seu Discurso decisivo, mas nessa defesa, como mostrou Daniel HellerRoazen, a filosofia escapa o julgamento no momento em que submetido a ele (HELLER-ROAZEN, Daniel. Philosophy before the Law: Averross Decisive Treatise. Critical Inquiry. v. 32. Chicago: University of Chicago Press, primavera de 2006. pp. 412-442; citao na pgina 442). Boris Groys, que partilha com Alain Badiou um esforo de retomar Plato associando-o de alguma forma ao comunismo (Badiou advoga tambm um retorno a Paulo como fundador da militncia universal, criando, assim, um excntrico para dizer o menos panteo comunista), justifica a posio socrtica quanto aos mitos da seguinte maneira: leitores atentos dos dilogos platnicos percebem que Scrates, de sua parte, de modo algum se esfora para produzir discursos coerentes e livres de paradoxos. Ele se satisfaz em descobrir e revelar os paradoxos nos discursos de seus oponentes. E de modo acertado, pois simplesmente por expor os paradoxos escondidos sob a superfcie do discurso sofstico, a evidncia de to intenso resplendor brilha de modo que os ouvintes e leitores dos dilogos platnicos ficam fascinados, e por longos perodos so incapazes de se apartar dele. inteiramente suficiente apontar o paradoxo
218
112
seno o costume ou o consenso. Plato explicita isso ao dizer que a admisso da Musa na polis faria com que o prazer e a dor governassem a cidade no lugar da Lei e da Razo, os melhores a faz-lo de acordo com a opinio comum (607a). Ou seja, a medida como muitos outros vocbulos relacionados aferio, como valor e fronteira no discurso platnico deve ser entendida na sua dupla acepo de mensuramento a partir de um padro e estabelecimento deste padro. Ou melhor, no imbricamento entre estes dois sentidos tomar uma medida sempre oscila entre aplicar uma lei e cri-la. Por isso, o que foge medida no deve ser totalmente excludo, mas controlado, capturado. O que sem-medida pode radicar na medida, pois esta no tem fundamento, ou melhor, se funda somente no ato de excluso daquela. s tomando uma medida (banindo a poesia), que Plato pode afirmar a existncia de uma medida. O censo (a medio) implica a censura e esta, por sua vez, no pode existir sem o estabelecimento de uma medida. No h censura que no seja censeamento, e no h censeamento que no seja censura. No centro dos plos, no est a Razo, mas a doxa, o senso comum, o consenso ou, poderamos dizer, a moral, os costumes arraigados. No entanto, estes no existem em estado bruto, mas so construdos e estabelecidos pela medida que os toma como base. O senso comum no existe per se, mas uma construo que exige um processo de internalizao do que no o integrar. A censura e o censo no so conservadores ou mensuradores do status quo, eles criam o status quo, convertendo uma situao (contingente) em estado (necessrio). Assim, como mostrou Astrada, em jogo nessa disputa entre filsofos e poetas (Aristfanes, em As nuvens, acusava Scrates das mesmas coisas que este atribua poesia), nesta antiga querela, estava ser considerado a conscincia reflexiva de Atenas 219 e mesmo o direito de exercer o poder censrio.
escondido, des-cobri-lo, revel-lo, para a evidncia necessria emergir. O passo ulterior, de formular um discurso livre de contradies, desnecessrio. O leitor j confia nas palavras de Scrates graas a essa evidncia que irradia somente dos paradoxos que Scrates exps. luz dessa evidncia, Scrates adquire o direito de falar em mitos, exemplos e analogias sugestivas e, mesmo assim, consegue credibilidade (GROYS, Boris. The communist postscript. Traduo ao ingls de Thomas H. Ford. Londres, Nova Iorque: Verso, 2009. p. 5-6). Sobre a complexa relao entre mitologia e filosofia, sempre bom lembrar uma famosa formulao aristotlica: O amante de mitos (philomythos) , em certo sentido, um filsofo (philosophos), pois o mito composto de maravilhas (thaumasion), e o maravilhamento, o espanto, que leva os homens a filosofar. 219 ASTRADA, Carlos. Poesa y filosofa.
113
A grande ameaa da arte para Plato era que o modo de encenao sasse do palco e tomasse a polis de assalto. No tratado sobre as Leis, o filsofo argumenta que isso, de fato, j teria ocorrido. Ali, o declnio ateniense aparece ligado ao que ele chamou de teatrocracia, o domnio do auditrio: os poetas comearam a misturar os gneros, acabando com a diferena entre a boa e a m msica, ao que se seguiu a intromisso cada vez maior do pblico nas encenaes, pblico j incapaz de distinguir o bom do ruim, e prepotente ao ponto de levar esta intromisso poltica, criando, assim, a democracia. 220 Era isso que Plato queria a todo custo evitar e/ou reverter. Para contornar o perigo, sugere a censura prvia, pela qual os poetas no poderiam mostrar suas composies aos particulares antes de terem sido aprovadas por juzes (censores) nomeados para serem legisladores da msica e supervisores da educao, j que a tribo dos poetas (poietn gnos) seria incapaz de discernir o que bom do que no (801b-d) a comdia seria aceita pois sem o ridculo, impossvel compreender o srio (816d). Do mesmo modo, qualquer alterao nos jogos infantis seria proibida, na medida em que inovando nos jogos, as crianas querero, quando adultas, inovar nas leis e instituies, buscando um modo de vida distinto (ggon Bon) daqueles dos pais (798c). Para retomar Rousseau, segundo a ratio dessa concepo, o teatro infunde o exemplo da forma de vida artstica: o gosto pela aparncia e pela dissipao que deve produzir entre os nossos jovens o exemplo dos comediantes; (...) esse exemplo produzir seu efeito. 221 E mais: a disseminao desse modo de vida acarretaria um perigo poltico real, a ameaa de que os atores, em pouco tempo, se tornassem os rbitros do Estado. 222 Os poetas no apenas se afastam da verdade ideal: eles se aproximam por demais do poder poltico. Compem, portanto, uma faco. 4.4. A crtica platnica arte e aos jogos, ou melhor, a crtica platnica ao poder de alterao dos costumes que a arte, a mentira e os jogos
Rousseau tambm far essa associao: O exemplo da antiga Atenas, cidade incomparavelmente mais populosa do que Genebra, oferece-nos uma lio impressionante: foi no teatro que se urdiu o exlio de vrios grandes homens e a morte de Scrates; foi graas ao furor do teatro que Atenas pereceu, e seus desastres justificaram at demais a tristeza mostrada por Slon quando das primeiras representaes de Tspis (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 125). 221 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 125; grifo nosso. 222 Ibidem, p. 126. Rousseau dizia que isso aconteceria em, no mximo, trinta anos na cidade de Genebra, caso ali se instalasse um teatro.
220
114
possuem, e ao carter poltico de tal poder (presente j no vocabulrio: tribo dos poetas, outro modo de vida), se encontrar, na modernidade 223, com uma tradio crist semelhante, que tinha como expoente mximo o libelo De spectaculis, de Tertuliano, escrito na passagem do sculo II ao III. Como vimos, para o cristianismo todos os atos pessoais, includos os aparentemente mais triviais, transformam-se imediatamente em aes polticas 224, e, por isso, no s os espetculos, mas at mesmo o vesturio era politicamente relevante, a ponto de Tertuliano ter dedicado um tratado ao tema. Apesar de terem, em sua histria, uma complexa relao de aproximaes e afastamentos, na modernidade, ambas as tradies iro praticamente se confundir, e o cristianismo converter o banimento platnico em um exemplo a ser seguido. Assim, na edio estabelecida por Francisco Pea, no sculo XVI, do Manual dos Inquisidores redigido dois sculos antes por Eymeric, o Directorium Inquisitorum, diante da constatao da existncia de poetas antigos e recentes que dizem coisas obscenas e contrrias moral, e que so corruptores da juventude (iuuentutis corruptores), parasitas (parasitis) e rufies (lenonibus) ou seja, os mesmos contra os quais Bodin concebe o resgate da censura , evoca-se a autoridade do grande Plato, que no permitiria que estes vivessem em sua Repblica. 225 No mesmo sculo XVI, Juan Luis Vives redigir (ecoando Tertuliano em muitos pontos) um tratado sobre a instruo da mulher crist (que, pela sua suposta fragilidade, por ser naturalmente efeminada, sempre recebeu uma ateno obsessiva por parte dos cristos, moralistas e censores), dedicando um captulo a examinar quais autores deveriam ser lidos e quais no (Qui non legendi scriptores qui legendi), em que no s a Repblica platnica trazida baila como modelo diante do qual uma cidade crist se empalidece pela frouxido com que trata os corruptores da juventude, como tambm o vocabulrio mtrico do filsofo grego utilizado para justificar a necessidade de punio dos maus poetas:
J na prpria antiguidade, a crtica platnica far uma larga fortuna, no s no plano terico, mas tambm no poltico-prtico. Assim, por exemplo, Calgula cogitou suprimir em todas as bibliotecas do Imprio [romano] os exemplares de Homero, alegando a favor da proposta o precedente de Plato, que desterrou o poeta de sua cidade ideal (GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo. p. 195). 224 LUDUEA ROMANDINI, Fabin. A comunidade dos espectros. I. p. 108. 225 EYMERIC, Nicolau; PEA, Francisco. Directorium Inquisitorum cum commentariis. Veneza: 1607. Livro II, Quaest XVII, comm. LII, p. 315. A primeira edio estabelecida por Pea de 1578.
223
115
Vivemos em uma cidade crist. Quem expressa o desprazer mnimo que seja com um autor de tais poemas hoje em dia? Disse desprazer? Quem no os abraa com entusiasmo e os elogia? Plato expulsa Homero e Hesodo da repblica dos homens bons que ele instituiu. Mas que imoralidade pode se encontrar neles em comparao com A arte de amar, de Ovdio, que lemos, temos mo, usamos at gastar e aprendemos de cor? (...) O exlio a punio para aqueles que adulteram pesos e medidas. Algum que falsifica moeda ou falsifica um documento queimado. (...) E deve-se honrar na cidade e tomar como mestre da sabedoria um corruptor da juventude? 226
O poeta que corrompe a juventude, desse modo, igualado a quem desrespeita um sistema de padres de medida, como o adulterador do peso de uma mercadoria ou o falsificador de moedas, devendo, portanto, ser punido da mesma maneira que estes. No devemos nos espantar, fazendo uso de nossas lentes modernas, da dureza da comparao. Se Joo do Rio pde dizer que em 1905 havia mais poetas que homens, pode-se, sem muito esforo, afirmar que, nos primrdios da modernidade, era o nmero de partidrios da censura que superava o de homens. A dureza crist no trato com os poetas atinge o hiperblico no Dilogo contra os poetas, de Francesco Berni 227 e datado do mesmo sculo, em que o autor lamenta que Plato no tenha vivido o suficiente para ver concretizado o que havia proposto na Repblica. Todavia, aqui se aventa uma soluo alternativa ao banimento, a qual, ainda que hoje parea cmica, totalitria, e, de certo modo, arrisca ainda estar em funcionamento. No Dilogo, Berni argumenta que os poetas transgridem cada um dos dez mandamentos, especialmente o que ordena no roubar, transgresso da qual, alis, eles muito se orgulham: os poetas, pois,
VIVES, Juan Luis. De institutione feminae christianae. Livro I. Edio bilnge (latim/ingls), editada por C. Fantazzi (tradutor ao ingls) e C. Matheeusen. Leiden: E.J. Brill, 1996. Cap V., p. 48-51. 227 Berni foi autor de uma pardia a Orlando innamorato, de Matteo Boiardo. No se trata de um acaso: como veremos, os Orlandos eram alvo dos espritos censores da poca.
226
116
glorificam o roubar (...) dizendo que quem no rouba no pode ser bom poeta. No roubam casacos, nem outras roupas, (...) mas roubam os belos traos e as invenes uns dos outros. Comece por Virglio, e se encontrar as setes coisas que ele diz saber no serem suas, mas ou de Homero, ou de Lucrcio, ou de nio, ou de Catulo. pois de crer ainda que estes as tomaram de outros, pois dizem que ningum pode dizer algo que no tenha sido dito anteriormente. (...) 228 Eis porque os poetas so ladres.
A primeira soluo que Berni prope para lidar com estes loucos (furiosi, pazzi) caracteriz-los como uma seita, o que remonta a Plato, quando este, como vimos, fala de uma tribo de poetas. No entanto, o cenrio histrico e o prprio texto apontam tambm para uma relao com o discurso religioso corrente poca. Isso fica mais patente na concluso que Berni tira dessa caracterizao, a saber, a necessidade de uma inquisio particular sobre os poetas, como se faz com os hereges ou os marranos na Espanha. 229 Porm, ela remete tambm ao nascente discurso do Estado moderno, que arroga a si o direito exclusivo de decidir quando se d uma heresia, e o que caracteriza uma seita nociva. Pois, continua Berni, do mesmo modo que a manuteno do bem viver estava sendo obtida pelas proibies de portar armas, ela poderia ser reforada pela proibio de mostrar versos. A proibio de portar armas uma referncia direta centralizao do poder estatal (lembremos da clssica definio weberiana do Estado como monoplio da fora fsica). Se levssemos o paralelo de Berni at as ltimas conseqncias, poderamos inferir que, assim como a proibio de portar armas se d com vistas monopolizao da violncia pelo Estado, a proibio de mostrar versos implicaria uma concentrao da arte nas mos do soberano, o que de fato , como vimos, algo reivindicado por Plato. Mas, ainda nos atendo ao paralelo, o que significa comparar os versos poticos s armas? Por que a arte descrita como se fosse to ameaadora quanto um poderio militar? No custa repetir que devemos entrever, na forma hiperblica do dilogo, certas marcas discursivas pertencentes tradio, por um lado, e, por outro, distintivas de um determinado campo no qual a
228
BERNI, Francesco. Opere. vol. I. Milo: G. Daelli e C. Editori, 1864. p. 1819. 229 Ibidem, p. 17.
117
censura age. Alm disso, devemos tentar ver como a extrapolao, o excesso, a forma caricatural adotada por Berni, permite compreender melhor elementos e solues sobre e para o problema moderno da arte. Desse modo, se voltarmos ao captulo que Bodin dedica censura (e cabe lembrar que Os seis livros da repblica tambm datam do sculo XVI), nos depararemos claramente com uma descrio de quo perigosa a arte aparecia ao Estado: les Comiques & Jongleurs, isto , os atores, so caracterizados como uma das
mais perniciosas pestes [que assola uma Repblica] que se possa imaginar: pois no h nada que desgaste [corrompa] mais os bons costumes, a simplicidade e bondade natural de um povo; que tm mais efeitos e poder, pois suas palavras, entonaes, gestos, movimentos e aes conduzidos com todos os artifcios que se possa imaginar, e com o assunto mais repugnante e desonesto que se possa escolher, deixam uma impresso viva nas almas daqueles que atinge pelos sentidos. Em suma, se pode dizer que o theatre des joueurs um aprendizado de toda impudncia, lubricidade, obscenidade, astcia, 230 ligeireza e perversidade.
O teatro , para Bodin, a escola da sedio: ao corromper os bons costumes, ameaa o prprio fundamento da Repblica. O vocabulrio comum entre partidrios da Inquisio, da censura eclesistica, e Bodin (e os demais tericos pioneiros do Estado moderno), no aponta para uma secularizao do discurso e prtica censrias (pois teramos que afirmar a anterioridade de um processo inverso, a teologizao da censura, j que parte deste vocabulrio era moeda corrente nas invectivas platnicas e no mundo antigo em geral), e tambm no indica apenas uma certa consonncia entre os interesses eclesisticos e os estatais. Mais do que isso, indica a especificidade de um terreno comum, aquele sobre o qual a censura age. Seja como for, Bodin advoga a soluo extrema de Plato, no mesmo gesto em que corrige Aristteles: no se deve apenas, como este sugeria, controlar o assunto encenado pelas comdias; deve-se botar abaixo os teatros, e fechar os portes da cidade aos atores [joueurs]. Contudo, Bodin estava ciente de que isso era
230
BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Livro VI; Cap. I.
118
contextualmente impossvel, pois no se pode esperar que os espetculos [ieux] sejam proibidos pelos magistrados, porque normalmente estes so os primeiros a ir assisti-los. 231 De fato, era invivel acabar no s com os teatros (at porque eles poderiam, segundo at mesmo um de seus opositores, como era Rousseau, cumprir uma funo positiva em alguns Estados, e, alm do mais, a instalao de um teatro parecia ser uma rua de mo nica, um ponto a partir do qual no se poderia voltar), mas tambm com a poesia (a inveno da to amaldioada mquina chamada de imprensa, para usar as palavras de Charles Teste 232, tornara a empreitada uma misso quase impossvel). Por isso, uma segunda soluo proposta por Berni para lidar com a poesia lhe parecia por trs de sua figurao caricatural mais vivel. Seguindo a caracterizao dos poetas como uma seita, Berni sugere implementar uma prtica utilizada pela Inquisio (a qual, ademais, prenuncia uma levada a cabo pelo nazismo), a saber, a identificao exterior dos poetas, que evitaria que os demais se aproximassem deles e se contagiassem: como os Judeus, para serem assinalados pelos cristos como gente infame e odiosa, usam chapus amarelos (...), assim os poetas usaro chapu verde, para assinalar a infmia e para que se possa melhor evit-los, e no deix-los se aproximar. 233 Se j no era mais possvel acabar com a peste artstica que assolava as cidades humanas, ao menos ainda era possvel isol-la por meio da identificao de seus portadores. Nossa hiptese que devemos ver nesta hiprbole totalitria a descrio de um procedimento estrutural que foi, de certo modo, implantado na modernidade. Talvez possamos entend-lo melhor recorrendo a um episdio de um romance escrito mesma poca (tanto da recuperao crist da crtica platnica, e da Inquisio, quanto da formulao terica do Estado moderno), e no mesmo cenrio, a Espanha (de Vives, Pea e evocada por Berni). Estamos falando de Dom Quixote, publicado em 1605 e considerado o fundador do romance, ainda que no se tenha refletido o suficiente sobre essa coincidncia entre o nascimento da literatura e do Estado modernos. Na obra de Cervantes, at mesmo o vocabulrio, por muitas vezes, se assemelha ao que viemos analisando. No por acaso, a certa altura, os escritores so descritos pejorativamente por um personagem como inventores de novas seitas e
231 232
Idem. Em: BOTIE, tienne de La. Discurso da servido voluntria. p. 69. 233 BERNI, Francesco. Opere. p. 18.
119
de um novo modo de vida. 234 A faco potica, a poesia como faco: nos deparamos, novamente, com o poder poltico da arte. Como lidar com esses professores da sedio? Um episdio de Dom Quixote parece apresentar uma resposta sinistramente similar a de Berni. 4.5. Um decreto da Coroa espanhola, datado de 1543 e direcionado s provncias do Peru, observava que
a introduo nestas terras de livros e cantares de temas profanos e fbulas, o livro de Amadis e outras semelhantes histrias mentirosas, causam muitos danos; decorre que os ndios educados na leitura, atrados por estas histrias, abandonam os livros da santa e reta doutrina e extraem destas obras mentirosas maus hbitos e vcios; se, alm do mais, viessem a saber que esses livros de histrias vs foram publicados sem a nossa permisso, poderiam perder a confiana na autoridade da Sagrada Escritura e de todos os outros livros dos Doutores, acreditando, como gente ainda pouca slida na f, que todos os nossos livros so vos como aqueles. 235
Deste modo, o decreto proibia a venda e a circulao, na Amrica espanhola, daquelas mesmas obras cuja leitura, anos mais tarde, causar em um obscuro e ficcional senhor provinciano da regio da Mancha, o mais estranho gnero de loucura que poderia caber em um pensamento disparatado. Como sabemos, Alonso Quijano preencheu sua fantasia com tudo aquilo que lia nos livros, de encantamentos a querelas, batalhas, desafios, feridas, amores, tormentas e disparates impossveis; e assentando de tal modo em sua imaginao que era verdade toda aquela maquina daquelas sonhadas invenes que lia, que para ela no havia outra histria mais acertada no mundo, o engenhoso fidalgo se rebatizou, tornando-se, assim, Dom Quixote. Uma tradio muito fecunda viu no romance moderno, inaugurado pelo cavaleiro da triste figura de Cervantes, uma
234
Todas as citaes do Dom Quixote foram extradas de CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 44. ed. Madri: Espasa Calpe, 1997. 235 O decreto encontra-se coligido em MORETTI, Franco (org.). O romance, 1: A cultura do romance. Traduo de Denise Bottmann. So Paulo: Cosac & Naify, 2009. p. 197.
120
explorao dos mundos possveis, das possibilidades de mundo(s). Milan Kundera, por exemplo, afirma que O romance no examina a realidade, mas sim a existncia. A existncia no o que aconteceu, a existncia o campo das possibilidades humanas, tudo aquilo que o homem pode tornar-se, tudo aquilo que capaz. Os romancistas desenham o mapa da existncia descobrindo essa ou aquela possibilidade humana. 236 Porm, essa definio do romance, ou da fico mais em geral, unidirecional: leva em conta s o escritor, esquecendo aquilo que caracteriza o quixotismo, a saber, a leitura. No romance de Cervantes, h um antes e um depois da leitura: o engenhoso fidalgo l e se transforma no cavaleiro da triste figura: Dom Quixote o efeito das leituras realizadas por Alonso Quijano. Como diz Carlos Fuentes, Dom Quixote vem da leitura e a ela se dirige. 237 E no s Quijano que l. Por todo o romance de Cervantes encontramos leitores: a maioria apaixonada por histrias de aventuras, ainda que sem a engenhosidade, a loucura do protagonista; alguns leitores analfabetos, que gostam de ouvir a leitura de histrias, ou de assistir encenao de um conto de cavalaria na forma do teatro de fantoches; outros embebidos pela vida pastoral cantada pelos poetas, poetas eles prprios, e tambm conversos, enlouquecidos, pela leitura; e, por fim, os leitores de um livro apcrifo que narra justamente as desventuras de Quixote, e que, ao longo de todo o segundo volume do romance, no cessam de criar situaes imaginrias bem ao gosto do heri (que conhecem, j que leram a seu respeito), e rir s custas dele. Isso sem falar da hiptese de Kafka (a hiptese kafkiana do quixotismo), para quem o verdadeiro leitor do romance seria o analfabeto Sancho Pana, que, no curso dos anos conseguiu, oferecendo-lhe inmeros romances de cavalaria e de salteadores nas horas do anoitecer e da noite, afastar de si o demnio a quem mais tarde deu o nome de D. Quixote de tal maneira que este, fora de controle, realizou os atos mais loucos. Portanto, no mundo de Dom Quixote, quase todos so leitores. O romance de Cervantes o mundo da leitura. Mas h, como vimos, dois tipos de leitura, dois tipos de leitores. Por um lado, os leitores que sabem distinguir entre a aparncia e o ser, conflito que, segundo Mara
KUNDERA, Milan. A arte do romance (ensaio). Traduo de Teresa Bulhes C. da Fonseca e Vera Mouro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 42. 237 FUENTES, Carlos. Cervantes o la crtica de la lectura. Mxico: Joaquin Motriz, 1976. p. 82.
236
121
Zambrano, caracterizaria o relato do engenhoso fidalgo. De cima a baixo da hierarquia social, argumenta Marthe Robert,
do estalajadeiro proxeneta ao detento-escrivo Ginez de Passamonte, todos aqui cultivam as belas-letras, pessoas reunidas por acaso travam relaes regalando-se mutuamente com histrias, contos e canes (...) Todos apreciam a bela linguagem, as histrias dramticas em que homens lutam e morrem por amor (...), adota[ndo] em palavras o ideal quixotesco de nobreza ou de generosidade, [mas] no pensa[ndo] um nico instante em colocar suas crenas em prtica. 238
Por outro lado, no extremo oposto desses leitores cnicos, temos os loucos, dos quais Quixote o paradigma, mas no o nico representante: os que se convertem pela leitura, os que levam a srio a literatura que leram. Dom Quixote, diz Fuentes, um cavaleiro da f. Essa f provm da leitura. E essa leitura uma loucura. Todavia, a sinonmia entre leitura, loucura, verdade e vida 239, repitamos, no se limita a Quixote: envolve tambm, ao menos, os poetas-pastores. De fato, lemos no romance, fazer-se poeta algo ainda pior do que enlouquecer lendo romances de cavalaria, pois enfermidade incurvel e infecciosa. Portanto, no plo dos maus leitores, se d o face-a-face da poesia e da loucura, que caracterizaria a cultura ocidental, conforme argumenta Foucault no captulo de As palavras e as coisas dedicado ao romance de Cervantes: os maus leitores, os loucos e os poetas so os homens das semelhanas selvagens. 240 No por acaso que, para manter sua palavra de abandonar a cavalaria errante por um ano, Quixote cogite com seus amigos, ao final da narrativa, passar esse tempo como pastor, e dar vazo a seus amorosos pensamentos, exercitando-se na pastoral, compondo versos pastoris, ou cortesos, ou seja, tornar-se poeta. possvel ler um episdio do prprio romance como emblema dessa diviso entre cnicos e loucos, bons e maus leitores: o teatro de
ROBERT, Marthe. Romance das origens, origens do romance. Traduo de Andr Telles. So Paulo: Cosac Naify, 2007. p. 157. 239 FUENTES, Carlos. Cervantes o la crtica de la lectura. p. 74, 75. 240 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das cincias humanas. 8. ed. Traduo de Salma Tannus Muchail. So Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 68.
238
122
fantoches do Mestre Pedro. As bordas do teatro de fantoches que Mestre Pedro exibe, diz Ortega y Gasset (que considera Dom Quixote uma selva ideal), so a fronteira de dois continentes espirituais. Dentro delas, o teatro contm uma orbe fantstica, articulada pelo gnio do impossvel; o mbito da aventura, da imaginao, do mito. Fora delas, existe um aposento no qual se agrupam uns quantos homens ingnuos, destes que vemos sempre ocupados no pobre af de viver. Esses homens, diramos, reconhecem as bordas que separam o teatro de fantoches de si, eles reconhecem a linha divisria. Mas, continua Ortega, Em meio a eles est um mentecapto, um fidalgo de nossa vizinhana, que uma manh abandonou o vilarejo impelido por uma pequena anomalia anatmica de seus centros cerebrais. 241 Esse mentecapto no aceita a diviso, ou melhor, no reconhece as bordas que separam a encenao da realidade, e, como sabemos, intervm na encenao, destruindo fantoches e cenrio para auxiliar na perseguio aos viles empreendida por um personagem-fantoche. Mas a diviso entre cnicos e loucos, bons e maus leitores, adultos e crianas, no absoluta. A loucura de Quixote se dissemina, a leitura de Quijano produz efeitos, no s convertendo-o em Quixote, mas obrigando os demais a partilhar de sua leitura (do mundo). Um vizinho do protagonista, Sanso Carrasco, faz-se de cavaleiro para tentar derrotar Quixote em um duelo que decretaria o fim da cavalaria errante para o perdedor. Muitos outros personagens so obrigados pelo engenhoso fidalgo a jogarem o seu jogo, a comear pelo estalajadeiro que o heri toma como senhor de castelo e que lhe nomeia cavaleiro, um ritual que Quixote considerava imprescindvel para a sua converso completa. Isso para no falar dos j mencionados personagens do segundo volume do romance, que no se cansam de alimentar a fantasia de Quixote, participando dela, ainda que sob o pretexto de burlar o heri. A literatura moderna nasce, portanto, como um relato do mal, da doena que a prpria literatura pode provocar, dos efeitos nocivos que a leitura pode produzir, entre os quais se inclui o caso extremo da metamorfose, em que o leitor se desidentifica de si mesmo, cria uma imagem outra de si. O aspecto meta-literrio do romance moderno, j presente no Dom Quixote, no se refere diretamente escrita, mas leitura, isto , no propriamente aos mecanismos da linguagem, mas aos efeitos que estes provocam. Mas h, como dissemos acima, um episdio
241
ORTEGA Y GASSET, Jos. Meditaciones del Quijote e Ideas sobre la novela. 9. ed. Madri: Revista de Occidente, 1975. p. 119.
123
do romance que ata, com um n indissolvel, o destino da literatura moderna censura. Se a leitura pode provocar a doena, preciso evitar que ela se dissemine, preciso evitar, a todo custo, o contgio. Por isso, para tentar curar o protagonista, seus amigos Padre e Barbeiro decidem fazer um curioso e grande escrutnio na biblioteca do nosso engenhoso fidalgo. Nele, livros so, como pessoas, condenados fogueira ou ao exlio (a casa do Barbeiro), e o Padre tem seu momento inquisitorial, como se Torquemada fosse. No s os livros de cavalaria passam pelo escrutnio, mas tambm os de poesia. Alm disso, a censura em sentido estrito reforada por outra, que contm elementos comuns prpria doena que visa combater, ou melhor, que visa combater a doena com a mesma: um dos remdios que o Padre e o Barbeiro deram, ento, para o mal de seu amigo foi ordenar murar e tapar o aposento dos livros, para que, quando ele se levantasse, no os achasse (talvez quitando a causa, cessaria o efeito), e que dissessem que um encantado os havia levado, o aposento inclusive. O enfrentamento da infeco no se d apenas pelo impedimento de acesso causa, mas tambm pela modificao desta, por uma correo de rota da fico. Trata-se de uma sumarizao da censura moderna arte: uma tentativa de controlar a contaminao pelas imagens, os efeitos infecciosos produzidos por elas, alterando-as para tentar conduzir seus efeitos. O Padre e o Barbeiro no s separam a fico venenosa em um aposento: eles intervm nela, na loucura de Quixote, sendo co-autores de seu relato imaginrio (ao atriburem a vedao do quarto ao de um feiticeiro). A censura moderna se constitui, em um nvel profundo, como este isolamento mgico que identifica, separa e, se necessrio, mitiga, por uma interveno positiva, o mal literrio para reforar a fronteira espiritual entre os dois mundos. 4.6. O gesto do Padre e do Barbeiro, e tambm o de Bodin, Vives, Eymec, Rousseau e, especialmente, o de Plato, so, ao contrrio do que pode parecer, um tributo ao poder da arte, pois eles a concebem como capaz de fazer ruir, por contaminao, a comunidade poltica. poca do Quixote, havia inquisidores cientes de que a censura terminava por outorgar poder arte, e, por essa razo, eram contrrios proibio de livros de cavalaria. Assim, por exemplo, Michele Ghislieri, comissrio geral do Santo Ofcio romano, argumentava que Proibindo Orlando, Orlandino, Cem novelas e outros livros semelhantes provocaramos o riso porque esses livros no so lidos como coisas nas quais se deva acreditar, mas como fbulas, e como se lem ainda muitos livros de
124
gentios como Luciano, Lucrcio e outros que tais. 242 Todavia, como o Decreto da Coroa espanhola apontava, a ausncia de censura a esse tipo de obra acarretava o risco dos livros sagrados serem medidos pelos vos: era preciso criar um cordo de isolamento que diferenciasse uns dos outros. Por isso, a longo prazo (em um processo no necessariamente consciente e no qual diversas foras estiveram envolvidas), o modo de controlar o contgio produzido por esses envenenadores pblicos, como Pierre Nicole definiu os romancistas nas suas Lettres sur lhrsie imaginaire, foi garantir que as fronteiras dos dois mundos espirituais a fico e a realidade, a arte e o discurso verdadeiro fossem bem demarcadas, garantir que os livros vos no possussem nenhum papel real nos negcios humanos, nem que para isso tenha sido preciso isolar magicamente as bibliotecas e, como queria Berni, identificar claramente os poetas, diferenciando a arte das demais prticas da vida humana. Se verdade que geralmente houve, no Ocidente, uma diviso mais ou menos tnue entre a arte e as demais reas da vida humana, tambm certo que s na modernidade esta separao chegou a seu limite extremo, e o perigo da contaminao aventado, como vimos, por diversos autores preocupao que atesta a existncia de passagens da arte pelas fronteiras que a limitavam pde ser, mais ou menos, solucionado pelo isolamento. O surgimento da Esttica, no s como disciplina, mas como esfera autnoma de uma prxis humana, o resultado deste processo que no se d sem uma longa dialtica com as prticas censrias. Como afirma Anabel Patterson, em um argumento extensvel arte como um todo: , em parte, censura que devemos nosso prprio conceito de literatura, como um tipo de discurso com suas prprias regras, um conceito que, por sculos, foi ideado como sendo capaz de proteger escritores que tentaram conformar-se quelas regras. 243 O ponto final deste processo foi a converso da arte em uma reserva ecolgica, para usar uma formulao de Lvi-Strauss:
seja isso deplorvel ou motivo de alegria, conhecem-se ainda zonas onde o pensamento selvagem, tal como as espcies selvagens, ache-se
242
Citado em PROSPERI, Adriano. Censurar as fbulas. O protorromance e a Europa catlica. Em: MORETTI, Franco (org.). O romance, 1: A cultura do romance. pp. 97-138; citao: p. 99 243 PATTERSON, Annabel. Censorship and Interpretation. p. 4.
125
relativamente protegido: o caso da arte, qual nossa civilizao concede o estatuto de parque nacional, com todas as vantagens e os inconvenientes relacionados com uma frmula to artificial; e sobretudo o caso de tantos setores da vida social ainda no desbravados, onde, por indiferena ou impotncia e sem que o mais das vezes saibamos por que, o pensamento selvagem continua a prosperar. 244 LVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Traduo de Tnia Pellegrini. Campinas: Papirus, 1989. p. 245. curioso que Paulo Leminski far uso de uma imagem semelhante para caracterizar a poesia: Poesia um ato de amor entre o poeta e a linguagem. E esse um territrio como se fosse assim uma reserva ecolgica do mercado em que vivemos que resiste ao fato de se transformar em mercadoria (LEMINSKI, Paulo. Poesia: a paixo da linguagem. Em: CARDOSO, Srgio (et. al.). Os sentidos da paixo. [Curso promovido pelo ncleo de Estudos e Pesquisas da Fundao Nacional de Arte, em 1986]. So Paulo: Companhia das Letras, 1987. pp. 283-291; citao na pgina 291). Entretanto, por mais que se possa ponderar as vantagens da arte habitar uma esfera separada e autnoma, preciso atentar ao que implica tal separao, e mesmo ao que implica a imagem do parque nacional ou da reserva ecolgica. Nesse sentido, Eduardo Viveiros de Castro sublinhou que tal isolamento, na formulao levistraussiana, no acarreta conseqncias apenas polticas, mas tambm epistemolgicas: O pensamento selvagem foi confinado oficialmente ao domnio da arte; fora dali, ele seria clandestino ou alternativo. Valorizada como seja a experincia artstica, ela nada tem a ver com o experimento cientfico: a arte inferior cincia como produtora de conhecimento. Ela pode ser emocionalmente superior, mas no epistemologicamente superior (VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstncia da alma selvagem. So Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 488-489). Um exemplo, aparentemente banal, ilustra as conseqncias jurdicas do isolamento da fico. Quando da publicao de Serafim Ponte Grande em 1933, seu autor, Oswald de Andrade, incluiu, ao incio do romance, a seguinte nota: Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as lnguas. Tratava-se claramente de uma disposio jurdica de vontade. Todavia, na ltima edio publicada de Serafim Ponte Grande, em 2007, a nota anti-autoral se tornou parte do romance. Assim, junto ficha catalogrfica, encontramos uma nota de Direito autoral padro, no babelismo que caracteriza essas notas, que parecem ser pardias de si mesmas: Copyright 2000 by Esplio de Oswald de Andrade. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta edio pode ser utilizada ou reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecnico ou eletrnico, fotocpia, gravao, etc. nem apropriada ou estocada em sistema de bancos de dados, sem a expressa autorizao da editora. A nota anti-autoral de Oswald de Andrade consta na edio, mas s na pgina 54, depois de todos
244
126
No seu Manual de Zoologia Fantstica, Borges apresenta um relato que dificilmente podemos deixar de tomar como paradigmtico do estatuto da arte na modernidade:
Naquele tempo, o mundo dos espelhos e o mundo dos homens no estavam, como agora, incomunicveis. Eram, alm do mais, muito diferentes: no coincidiam os seres, nem as cores, nem as formas. Ambos os reinos, o especular e o humano, viviam em paz, entrava-se e saa-se pelos espelhos. Uma noite, as gentes dos espelhos invadiram a terra. Sua fora era grande, mas, ao cabo de sangrentas batalhas, as artes mgicas do Imperador Amarelo prevaleceram. Este repeliu os invasores, encarcerou-os nos espelhos e impslhes a tarefa de repetir, como em uma espcie de sonho, todos os atos dos homens. Privou-os de sua fora e de sua figura e reduziu-os a meros reflexos servis. 245
Se tomarmos o mundo dos espelhos como a esfera que chamamos de fico (ou, de modo mais geral, de poesia e de arte) devemos notar dois traos essenciais de sua relao com o mundo dos homens, aquilo que entendemos por realidade: o primeiro a reduo dos espelhos mera funo de repetir os atos dos homens (Luiz Costa Lima sustenta precisamente que haveria na modernidade um veto fico, uma reduo da mmesis imitatio, atravs de um controle do imaginrio 246); e o segundo, que, na verdade, possibilita o primeiro, e
os prefcios e antecedido por uma folha de rosto que demarca o incio do romance. Uma disposio jurdica de vontade passa a compor fazer da fico, o que anula seus efeitos legais. Cf. NODARI, Alexandre. Lei do homem. Lei do Antropofgo: o Direito Antropofgico como Direito sonmbulo. Anais do I Simpsio de Direito & Literatura. Florianpolis: Fundao Boiteux, 2011. v. 1; pp. 125-145. 245 BORGES, Jorge Luis; GUERRERO Margarita. Manual de zoologia fantstica. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1998. p. 24-25. Borges se baseia em uma lenda chinesa coligida pelo sinlogo e diplomata britnico Herbert Allen Giles. 246 A imitatio era o instrumento de conciliao (...) que s alcanava xito se a imitatio permitisse o controle da subjetividade individual e se um de seus discursos possveis, o ficcional, fosse previamente tambm controlado pela sujeio a modelos legitimitados (COSTA LIMA, Luiz. Trilogia do controle:
127
que mais nos interessa aqui, a separao entre Os dois reinos, o especular e o humano por obra desta separao, no se pode mais entrar e sair pelos espelhos. Dito de outro modo: fico se impe um limite, a arte habita uma esfera separada. Mesmo que a repetio no se d na forma da pura imitatio, como quer Costa Lima, j que a tarefa de repetir relegada aos espelhos se d como se fora em sonho, isto , com possveis distores, de acordo com a composio do espelho e a posio do observador, mesmo que aquilo que se repita seja diferente, os dois mundos, o da fico e o da realidade, permanecem incomunicveis. Os avisos, contidos em obras de fico, de que qualquer semelhana com a realidade mera coincidncia so falsos: o selo de fico indica que no h co-incidncia possvel entre arte e vida. 4.7. Algo como uma esfera pblica feudal, argumenta Habermas em Mudana estrutural da esfera pblica, s pode ser entendida como uma exibio pblica do status e da hierarquia, uma demonstrao da soberania o que Giorgio Agamben chamou, mais recentemente, de Glria, incluindo nela, porm, o prprio consenso visado pelo terico alemo. 247 Haveria representao e publicidade feudais no no sentido de algum ser representante da nao ou de determinados mandantes, mas sim ligada existncia concreta do senhor e que confere uma aura a sua autoridade: Enquanto o prncipe e seus terra-tenentes so o pas, ao invs de simplesmente colocar-se em lugar dele, eles s podem representar num sentido especfico: eles representam a sua dominao, ao invs de faz-lo pelo povo, fazem-no perante o povo. 248 Habermas associa esta representatividade feudal ao que chama de atributos da pessoa, como a insgnia (emblemas, armas), hbito (vestimenta, penteado), gesto (forma de saudar, comportamentos) e retrica (forma de falar, o discurso estilizado em geral), em suma: um rgido cdigo de comportamento nobre 249, e, para tanto, ampara-se na
O controle do imaginrio, Sociedade e discurso ficcional, O fingidor e o censor. 3. ed. revista. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. p. 43). Tambm o estatuto epistemolgico da imaginao sofreu um controle ou censura, de acordo com o j clssico livro: CULIANU, Ioan Petru. Eros et magie la Renaissance, 1484. Paris: Flammarion, 1984. 247 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Il regno e la gloria: per una genealogia teologica delleconomia e del governo. (Homo sacer v. II, t. 2). Vicenza: Neri Pozza, 2007. 248 HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural da esfera pblica. p. 20. 249 Idem.
128
distino de Carl Schmitt entre estilo representativo e a discusso e o raciocnio: aquele prescindiria destes, que seriam tpicos de uma publicidade burguesa que s apareceria depois. A racionalidade do estilo representativo adviria da fala que se enuncia conforme a si mesma, fala esta no-discutidora e no-argumentativa, e que torna visvel (...) uma dignidade humana, pressupondo, para isso, uma hierarquia, pois a ressonncia espiritual da grande retrica provm da crena na representao reivindicada pelo orador. 250 Ou seja, a publicidade medieval se basearia na pura exibio de significantes privilegiados cujos significados no podem ser discutidos, ou mesmo enunciados: o prprio e simples uso destes significantes do poder (cujo acesso controlado) que expe o seu significado contextual, isto , nada mais que o status de seus portadores. Tal representao no comunica nada, ou melhor, a sua no-comunicabilidade que comunica: uma racionalidade baseada na crena. A aura e a autenticidade que tais selos exibem derivam do fato de que estes acompanham seus portadores em todo lugar, confundem-se com eles, no s exibem, mas so a sua originalidade, conferindo-lhes aquilo que Walter Benjamin chamou, no seu ensaio sobre a reprodutibilidade tcnica da arte, de valor de culto: os nobres so orientados, continua Habermas, pelo cdigo de comportamento cavalheiresco (...) no s em locais bem definidos, talvez em uma esfera pblica, mas em qualquer lugar, onde eles representam o papel de seus direitos senhoriais. 251 A publicidade medieval a prpria aura. Com o mercantilismo, argumenta Habermas, as condies de possibilidade da emergncia da esfera pblica moderna comeam a se dar. No s a base econmica do feudalismo inicia sua runa, como tambm o constante intercmbio de informaes que se torna imprescindvel com as atividades crescentes dos mercados e a formao de burocracias estatais e de exrcitos permanentes, essenciais s disputas comerciais, abrem espao para o que ele chamar de publicidade burguesa. Porm, a esfera pblica burguesa nasceria primeiro como esfera literria, antes de se tornar poltica ainda que esfera literria aqui tenha sentido amplo, na medida em que anterior disciplinarizao do saber, indicando, assim, um espao de discusso, apresentao e exegese de textos e obras em que vige o argumento racional e no o status,
250 Apud HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural da esfera pblica. p. 292; traduo modificada; grifo nosso. 251 Ibidem, p. 21.
129
espao este brotado dos cafs, dos sales, das comunidades de comensais, e que depois seria mediado pela imprensa. O conhecimento pblico a publicidade burguesa funcionaria como arma contra o segredo que fundamenta o saber hierrquico, baseando-se, para tanto, na idia de igualdade entre os homens, ou melhor, no debate pblico entre pessoas privadas, onde as diferenas ficariam de fora. Mas tal esfera s se tornou possvel, como vimos, pela mercantilizao dos bens culturais, pela impresso convertida em mercadoria. , portanto, a mudana provocada pelo capitalismo no estatuto da arte, que passa de insgnia do poder com valor imanente a objeto que extrai seu valor das cotaes nos mercados dos bens e das idias, que permite que algo como uma esfera pblica brote: A arte, liberada de suas funes de representao social, torna-se objeto da livre escolha e de tendncias oscilantes. O gosto, pelo qual, a partir de ento, se orienta, expressa-se no julgamento de leigos sem competncia especial, pois no pblico qualquer um pode reivindicar competncia. 252 A referncia ao gosto fundamental na argumentao habermasiana, como demonstra a citao que faz da passagem em que Gadamer se volta sobre o iderio educacional de Gracin. 253 Assim, a teoria da ao comunicativa no s identificaria o gosto como saber constitutivo de uma esfera pblica literria, que, por sua vez, criaria o ambiente (formaria um pblico) para a esfera pblica poltica, como o situaria tambm como parmetro desta, na medida em
Ibidem, p. 56. Gadamer desenvolve o contexto espiritual e histrico dessa antiga tradio da formao humanstica nos topoi dos sensus communis e do gosto (uma categoria da Filosofia Moral), em cujas implicaes sociolgicas se torna evidente o significado do humanismo da corte para a formao da publicidade e da esfera pblica. Quanto ao iderio educacional de Gracian dito [por Gadamer]: O gosto no apenas o ideal que faz surgir uma nova sociedade, mas, pela primeira vez, constitui-se, sob o signo desse ideal do bom gosto, aquilo que, desde ento, tem-se chamado boa sociedade. Ela no se identifica nem se legitima mais pelo nascimento e pelo nvel hierrquico, mas fundamentalmente por nada mais que a comunidade de seus juzos, ou melhor, por sua capacidade de se elevar acima da parvoce dos interesses e das preferncias pessoais, chegando ao nvel de um verdadeiro julgamento Sem dvida alguma, com o conceito de gosto, pensa-se, portanto, em um modo de conhecimento. Sob o signo do bom gosto, pode-se chegar a um distanciamento para consigo mesmo e em relao s preferncias pessoais. Por isso, de acordo com a sua prpria essncia, o gosto no nada privado, mas um fenmeno social de primeira categoria. Pode at mesmo se contrapor, como uma instncia judicativa, inclinao privada do indivduo, em nome de uma generalidade que ele indica e representa (Ibidem, p. 292).
253 252
130
que o gosto constituiria um saber sem verdade. Analogamente, Arendt tambm tentou identificar na Crtica do Juzo kantiano, isto , no julgamento esttico, os critrios para o debate e julgamento polticos. O que tanto Habermas quanto Arendt omitem ou no vislumbram que o desenvolvimento da Esttica e do Gosto pressupe a anestetizao da arte. Tomemos a concepo kantiana invocada por Arendt e que , de certo modo, paradigmtica do processo que estamos investigando. Para Kant, a bela arte ou arte esttica fruto do gnio, um talento que visa originalidade e a criao de exemplos, o nico modo pelo qual a arte pode ser aprendida. No entanto, o gnio deve ser tolhido pelo gosto, que , assim como o Juzo em geral, a disciplina (ou cultivo) do gnio, corta-lhe muito as asas, torna-o educado ou polido. 254 Ou seja, o gosto uma domesticao do poder criador de exemplos. Porm, ele no domestica apenas o gnio, mas tambm os sentidos, de modo a constituir o campo especfico da bela arte em distino arte sensorial, que Kant chama de agradvel. Enquanto esta visa fruio, e faz com que o prazer acompanhe as representaes como simples sensaes 255, produzindo o contentamento (ou o gozo, algo que apraz nas sensaes corporais), a arte bela apraz no mero julgamento (no na sensao de sentidos, nem por um conceito): o juzo de gosto meramente contemplativo, isto , um juzo que, indiferente existncia de um objeto, s considera sua natureza em comparao com sentimento de prazer e desprazer. 256 O gosto consiste, desse modo, em um juzo anesttico, que indiferente ao objeto, isto , indiferente s sensaes corpreas de prazer e desprazer. O tipo de prazer que a arte esttica deve despertar essencialmente asctico, ou, para invocar a mais famosa das definies kantianas sobre o tema, desinteressado: Gosto a faculdade de julgamento de um objeto ou de um modo de representao, por uma satisfao, ou insatisfao, independente de todo interesse. O objeto de uma tal satisfao chama-se belo. 257 Susan Buck-Morss demonstrou como essa doutrina do prazer desinteressado de Kant, baliza da
254
KANT, Immanuel. Crtica da Faculdade do juzo. Traduo de Valerio Rohden e Antnio Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2010. 50. Da ligao do gosto com os produtos da arte bela; p. 165; traduo modificada. 255 Ibidem, 44. Da arte bela; p. 151. 256 Ibidem, 5. Comparao dos trs modos especificamente diversos de complacncia; p. 54. 257 Ibidem, Explicao do belo inferida do primeiro momento; p. 55; traduo modificada.
131
Esttica moderna, se fundamenta justamente no mito do homo autotelus, auto-suficiente, capaz de produzir a si mesmo e de bastar-se inteiramente a si prprio, dotado de um corpo inacessvel aos [prprios] sentidos e (...) a salvo de controle externo, insensvel estesia, ou seja, sensao-efeito produzida pela arte: a modernidade abandona o campo original da esttica, concebida pelos gregos como a cincia da percepo (Aistitikos a palavra grega antiga para aquilo que perceptivo atravs do tato), para inserir em seu lugar as criaes artsticas e, conseqentemente, a trindade Arte, Beleza e Verdade. 258 De fato, na esttica kantiana h um afastamento do sensorial-natural em favor de uma produo artificial e controlada, o que fica ainda mais claro quando da diferenciao entre Arte, fazer e obra, por um lado, e natureza, ao e efeito, por outro: A Arte distingue-se da natureza, como o fazer (facere) distingue-se do agir ou atuar em geral (agere), e o produto ou a conseqncia da primeira enquanto obra (opus) distingue-
BUCK-MORSS, Susan. Esttica e anesttica: o ensaio sobre a obra de arte de Walter Benjamin revisitado. Traduo de Rafael Lopes Azize. Travessia revista de literatura. n. 33. Florianpolis: EdUFSC, ago-dez 1996. p. 11-41; citaes extradas das pginas 16 e 13 respectivamente. Para a autora, o mito da auto-gnese seria um dos mitos mais persistentes de toda a histria da modernidade (e antes disso do pensamento poltico ocidental poder-se-ia acrescentar) (p. 15). Os perigos aos quais o mito pode levar transparecem quando Kant eleva a figura do guerreiro ao posto de homem mais digno de respeito, impermevel a toda a sua informao sensorial de perigo (p. 19). Adorno , novamente, ainda mais duro: a esttica torna-se para Kant um hedonismo castrado, prazer sem prazer, com igual injustia para a experincia artstica, na qual a satisfao atua casualmente e de nenhum modo a totalidade, e para com o interesse sensual, as necessidades reprimidas e insatisfeitas, que vibram na sua negao esttica e fazem com que as obras sejam mais do que modelos vazios (ADORNO, Theodor. Teoria esttica. p. 27). Para uma desconstruo do conceito kantiano de gosto, cf. DERRIDA, Jacques. Economimesis. Traduo ao ingls de R. Klein. Diacritics. v. 11; n. 2. Vero de 1981. pp. 2-25. Sobre a anestetizao do homem moderno, cabe lembrar que Cato e Sneca foram constantemente invocados como modelos do homem pblico, exemplos do ideal de um homo liber et sapiens, aquele que exerce um domnio sobre seus impulsos e paixes e ao qual se contraporiam trs representaes da dominao pelos afetos: as grandes massas, as mulheres e os filhos (SCHMITT, Carl. La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberana hasta la lucha de clases proletaria. Traduzido para o espanhol por Jos Daz Garca. Madri: Recista de Occidente, 1968. p. 41).
258
132
se [do produto] da ltima como efeito (effectus). 259 O artista , desse modo, um produtor de obras, no um agente produtor de efeitos: ele se afasta da natureza por ser um fazedor, j que s pode se denominar arte a produo por liberdade, isto , por um arbtrio. No , portanto, um acaso que, nA gaia cincia, Nietzsche se insurja contra este homem de corpo fechado produzido pelo gosto, atacando o bom gosto hominizante em nome dos direitos do desgosto e [de uma] nova concuspiscncia, e do animal que o homem : O mau gosto tem seu direito da mesma forma que tudo que bom; tem mesmo um privilgio em relao ao bom gosto. 260 com este pano de fundo que devemos ler a colaborao de Montesquieu para a Encyclopdie. Curiosamente, o filsofo optou por no escrever algum dos verbetes referentes poltica, como era de se esperar, ainda que seja citado neles sucessivamente inclusive, como vimos, naquele dedicado ao censor: antes, escolhe por redigir um verbete sobre o Gosto, que, mesmo inacabado, aparecer na obra coordenada por DAlembert e Diderot. 261 Ainda assim, o verbete parece replicar a argumentao poltica do filsofo francs: se o belo nasce da curiosidade fomentada pelo no sei o qu (o it, poderamos dizer), este dever ser contrabalanado pela ordem, que, por sua vez, dever ser freada pela variedade, que pode ser moderada pela simetria, a qual os contrastes podem mitigar, etc. O prazer sensvel se sublima na moderao, virtude por excelncia desde Plato, e o espectador da arte deve cultivar o gosto, como o censor cultiva a virtude e evita os excessos contagiantes por meio da temperana advogada por Milton. O vocabulrio e a estratgia argumentativa de Montesquieu correspondem ao seu raciocnio poltico de buscar conter foras com contra-foras, balanceando aes e reaes 262, de modo que sua concepo esttica inseparvel de sua viso poltica (incluindo sua defesa da censura) e vice-versa.
KANT, Immanuel. Crtica da Faculdade do juzo. 43. Da arte em geral; p. 149. Kant joga aqui com a similaridade, na lngua alem, existente entre wirken (atuar), Werk (obra) e Wirkung (efeito). 260 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia cincia. Traduo de Mrcio Pugliesi, Edson Bini, Norberto de Paula Lima. So Paulo: Hemus, 1981. Livro Primeiro, 76 e 77 (p. 91 e 92). 261 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O gosto. Traduo e posfcio de Teixeira Coelho. So Paulo: Iluminuras, 2005. 262 Sobre a ao e reao no pensamento de Montesquieu, cf. STAROBINSKI, Jean. Ao e reao. Vida e aventuras de um casal. Traduo de Simone Perelson. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002. pp. 287-290.
259
133
Se o gosto, desse modo, refreava o contgio da emoo, para usar a definio de arte de Tlstoi, baseando-se em um juzo desinteressado (frio como o dinheiro que permitia o acesso e debate sobre as obras), quando ele transposto como paradigma esfera pblica mais ampla, a arte refreada uma segunda vez, sendo isolada. Com a constituio de uma esfera especfica de debate sobre a arte (a Esttica), a esfera pblica deixa de ser literria, ainda que continue a manter o ideal asctico do gosto. Este processo de separao, porm, lento: s no sculo XVIII, diz Habermas, tomando Raymond Williams como referncia, que arte e cultura passam a ter o seu significado moderno de uma esfera separada da reproduo da vida social 263, perdendo o sentido de tcnica, de ofcio, de habilidade e s muito depois disso, com a especializao do debate esttico, a esfera pblica abandona a arte como objeto de discusso. Contudo, repitamos, ela continua tendo o juzo do gosto como parmetro, no s pela ausncia de verdade como baliza, mas especialmente pelo isolamento sensorial. Com a separao, a esfera pblica se torna (ou melhor, almeja se tornar) racional, fechada aos sentimentos e s sensaes e, para tanto, deve no s desatrelar-se da estesia, mas tambm da esttica, isto , da prpria arte. O regime mesmo da linguagem da esfera pblica e da conversao cotidiana (a saber, dos negcios humanos) deve se diferenciar o mximo possvel daquele que rege a criao artstica:
O que distingue a linguagem potica a capacidade criadora de mundo. (...) A peculiar despotencializao dos atos de fala, que criadora de fices, consiste em estes serem privados de sua fora ilocucional, preservando apenas significados ilocucionais como se da refrao de uma reproduo indireta, de uma citao, se tratasse (...) A suspenso da fora ilocucional virtualiza as referncias ao mundo, nas quais os atos de fala foram introduzidos graas sua fora ilocucional e desvinculam os participantes da interao de se entenderem na base de pressupostos idealizantes sobre algo no mundo, e de modo a que coordenem os seus planos de ao e possam assim assumir vnculos relevantes para os resultados das suas aes (...) A neutralizao das foras vinculativas alivia os atos ilocucionais desativados da presso exercida pelas decises da
263
HABERMAS, Jrgen. Mudana estrutural da esfera pblica. p. 52-53.
134
praxis comunicacional do quotidiano, extrai-os da esfera do discurso normal e autoriza-os assim criao ldica de mundos novos ou antes: pura demonstrao da fora descobridora do mundo de que so dotadas as expresses inovadoras da linguagem. 264
Para Habermas, a arte no produz efeitos diretos nos afazeres humanos, pois o que a especifica justamente a suspenso da produo de efeitos, ou, no mximo, o confinamento dos seus efeitos em uma esfera separada. Todavia, tal isolamento no dado como o filsofo alemo parece dar a entender. Pelo contrrio, ele fruto de um constante processo de purificao. A linguagem, como o corpo, tambm produz dejetos, o que Walter Benjamin chamou de produtos residuais do uso cotidiano da linguagem, entre os quais estariam includos os apelidos, nomes de empresa, xingamentos, juramentos, expresses de devoo e obscenidades, ou seja, significantes que, sendo excessivos, de dficit expressivo, sagrados, uma fermentao da linguagem cultual, ou ento, superexplcitos, desavergonhados, e depravados 265, fogem da esfera da
HABERMAS, Jrgen. O discurso filosfico da modernidade. Traduo de Manuel Jos Simes Loureiro et. al. Lisboa: Dom Quixote, 1990. p. 191; grifos nossos. A passagem citada faz parte do debate de Habermas com Derrida. A discusso adquire contornos surreais quando Habermas critica a concepo da linguagem de Derrida e a posio deste quanto aos speech acts e s esferas em que eles se do, sem citar o filsofo francs, mas sim um comentador. A resposta de Derrida sintomtica: para sublinhar uma situao infelizmente tpica e politicamente muito grave numa conjuntura que no hesitarei em qualificar de mundial e histrica; quer dizer que no se poderia exagerar o seu alcance e ela merece srias anlises. Em toda parte, em particular nos Estados Unidos e na Europa, so os supostos filsofos, tericos e idelogos da comunicao, do dilogo, do consenso, da univocidade ou da transparncia os que pretendem lembrar sem cessar a tica clssica da prova, da discusso e da troca, so eles que o mais das vezes dispensam-se de ler e estudar atentamente o outro, do prova de precipitao e dogmatismo, no respeitam mais as regras elementares da filosofia e da interpretao, confundem cincia com tagarelice, como se no tivessem sequer o gosto pela comunicao, ou antes, como se tivessem medo dela, no fundo. Medo de qu, no fundo? Por qu? Eis a boa questo (DERRIDA, Jacques. Limited Inc. Traduo de Constana Marcondes Cesar. Campinas: Papirus, 1991. p. 183). 265 BENJAMIN, Walter. A state monopoly on pornography. Em: Selected writings. v. 2, parte 1 (1927-1930). Editado por Michael W. Jennings. Traduo ao ingls por Rodney Livingstone et al. Cambridge: Harvard University Press, 1999. p. 73.
264
135
comunicao. Tais excessos de energia comunicativa seriam o resduo de uma experimentao infinita: a linguagem, nas vrias fases de seu desenvolvimento histrico, um nico grande experimento conduzido por um nmero de laboratrios igual ao nmero de povos, e que teria como meta uma comunicao instantnea, no-ambgua, atravs de um sugestivo e liberador modo de expresso. 266 Ou seja, os excessos de energia comunicativa derivam do prprio esforo comunicador: Estes arranjos experimentais esto em fluxo contnuo, e o corpus inteiro do conhecimento deve ser constantemente revisto. Sub-produtos de toda ordem so inevitveis. 267 A arte e a publicidade medievais (que se indeterminavam), tais como entendidas por Habermas, enquanto insgnias do poder, aliam este excesso esfera da dominao; j a esfera pblica pretende controlar o excesso isolando-o na arte, fechando o corpo, por assim dizer, do homem pblico. Portanto, a linguagem, para comunicar racionalmente, precisa ser constantemente purificada, no havendo uma medida fixa (a comunicao): medida e desmedida coexistem originariamente. A referncia aos dejetos no fortuita: em sua Histria da merda, Dominique Laporte vinculou a privatizao dos excrementos cada qual com sua merda construo da Nao Francesa, incluindo a a inveno de uma lngua pura e medida. Laporte nota que datam do mesmo ano de 1539 duas ordens reais: 1) uma que obrigava que a administrao da justia (bem como o registro de documentos civis e os atos notariais) fosse feita em francs, substituindo o latim, na medida em que este possibilitaria interpretaes diversas quanto significao das palavras, por uma escrita dotada de uma clareza que remover todas as ambigidades ou incertezas; 2) e outra que implementava uma srie de medidas higienizadoras, proibindo desde o escarro em praa pblica at a prtica, comum poca, de jogar as fezes e a urina na rua, pela janela. 268 Os resduos so sublimados: a merda vai para o campo e, atravs das taxas de limpeza, se converte em riqueza, isolando o que Elias Canetti chamou de selo antiqssimo daquele fenmeno de poder que se chama digesto, a soma comprimida de todos os indcios contra ns. 269 Do mesmo modo, a lngua deve se tornar, nas palavras da
266 267
Ibidem, p. 72. Ibidem, p. 73. 268 LAPORTE, Dominique. History of Shit. Traduo para o ingls de Nadia Benabid e Rodolphe el-Khoury. Cambridge: MIT Press, 2000. 269 CANETTI, Elias. Massa e poder. Traduo de Srgio Tellaroli. So Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 209.
136
ordem real, clara sem sombra de dvida, isto , no deve conter nenhuma ambigidade, nenhuma trava comunicao, nenhum indcio contra ns que ateste esse processo de purificao. Que esta concomitncia entre higienizao da cidade e da lngua seja um pressuposto da formao da moderna esfera pblica definida por Habermas no um acaso. O banimento da merda vai de mos dadas com o banimento da forca ilocutria, e a linguagem da arte, produtora de efeitos sensveis, confinada a uma reserva ecolgica, para que o debate racional possa melhor produzir seus efeitos. 4.8. Recentemente (em 2005), Eugenio Corti publicou Cato, o velho, romance apologtico (em forma de roteiro de cinema) que reconstri ficcionalmente, a partir das fontes antigas, a vida do mais famoso dos censores romanos. Curiosamente, o primeiro feito de Cato como censor narrado por Corti no uma admoestao a algum cidado vivendo em maus costumes, nem tampouco o combate luxria, e nem mesmo a elaborao de uma nota censoria ou a reviso de lista de senadores. No lugar de todas estas atividades elevadas, Corti opta por retratar Cato, recm-eleito censor, inspecionando as cloacas da cidade, verificando o estado de sua canalizao, se estavam limpas, se os maus odores que dela exalavam no eram excessivos. De fato, o zelo pelas vias pblicas era uma das funes do censor romano, condizente com a purificao e limpeza dos costumes, daquilo que aparece, que se d a ver, que est na rua, em pblico. Alm disso, Plutarco relata que, ao disputar o cargo, Cato bradava em alta voz que a cidade precisava de uma purgao, dos mais rigorosos mdicos 270: um higienista. Algumas cenas depois, a limpeza empreendida por Cato descrita por Corti como tendo chegado inclusive arte, aos espetculos teatrais de aporte grego, que tanto enojavam o censor. Um personagem, aps ter assistido uma pea de teatro, afirma a Cato que at mesmo gente de profisso desgarrada parece receber o influxo de tua censura. V-se que mesmo eles escutam tua chamada ao rigor moral. 271 A pea que o personagem diz ter assistido Captivi (Os prisioneiros), de Plauto, um contemporneo de Cato, e cujo desfecho Corti, que o considera surpreendente mesmo para ns [hoje em dia], relaciona ascese moral implementada por este. A pea termina com todos os atores dizendo:
270 271
Cat. Ma. 33. CORTI, Eugenio. Catn el Viejo. Traduo ao espanhol de Fidel Argudo Snchez. Salamanca: Sgueme, 2008. Cena 141; p. 250. O episdio das cloacas constitui se encontra na cena 138, p. 239-241.
137
Espectadores, esta fbula feita conforme as boas maneiras. (...) Os Poetas encontram poucas comdias deste tipo, onde os bons se tornam melhores. Ento, se vos agrada, e se ns vos agradamos e se no fomos um aborrecimento , repassem este sinal: Vs que desejais o prmio para o pudor, dai-nos o vosso aplauso. 272
A ligao entre a pea de Plauto e a censura de Cato uma licena potica, na medida em que ela foi escrita provavelmente cinco anos antes (em 194 a.C.) de este comear a ser censor. No obstante, a passagem do romance revela algo sobre a relao entre a censura como purificao, limpeza, e a arte, e, mais do que isso, sobre a prpria posio de Corti a respeito dela. Ao final do romance, o autor insere uma Contaminatio (uma de muitas presentes em meio narrativa) em que aborda a arte e expe a sua concepo asctica e higienista. Aps pressupor, de modo sumrio, um entrelaamento entre arte, beleza, liberdade e verdade no mundo grego, e postular, de modo igualmente rasteiro, uma continuidade entre os mundos gregos, romano e cristo, Corti fornece um diagnstico, tambm tosco e apressado, da arte moderna e contempornea:
Agora que temos um certo conhecimento das artes que se desenvolveram em todo o resto do mundo, notamos que somente no mbito, antes mencionado, Grcia Roma Europa medieval Ocidente moderno, a arte se manteve indissoluvelmente ligada beleza: [ela] foi, por assim dizer, consubstancial com a beleza. Para quem escreve essas linhas (mas e disso estamos convencidos assim tambm pensariam os antigos atenienses) toda a arte ligada ao monstruoso como a mesopotmica, certa arte oriental, a pr-colombiana da Amrica no parece, em realidade, verdadeira arte, mas sim confusas manifestaes tendentes arte, que no chegam propriamente a realizar.
272
Plauto, Capt. 5.4.
138
Contudo, na primeira metade do sculo XX (significativamente de forma simultnea apario do comunismo e do nazismo, ainda que em um mbito territorial completamente distinto) tambm teve lugar na arte ocidental uma irrupo massiva do monstruoso e do informe. Aqui no temos espao para uma anlise detalhada. Basta, porm, pensar nas obras de Picasso e em outras inumerveis semelhantes a elas pela desfigurao (para no ficarmos em meras aluses, podemos assinalar como exemplos particularmente repulsivos Atrs do espelho, de Marc Chagall, e a Mulher de trs rostos, de Mino Maccari mas, acrescentando a estes, imediatamente, em conjunto, os produtos da art contemporain, que hoje pretende ser a nica e verdadeira arte). Quanto literatura, basta pensar na progressiva dissoluo do fato de escrever iniciada pelo niilismo. Se semelhante decomposio sistemtica da beleza continuar de modo irrefrevel, pode-se prever que levar extino da arte ocidental. (Em uma perspectiva mais ampla: isso vir a constituir o espelho da morte da civilizao ocidental). 273
A falsificao histrica aqui evidente. Ao sugerir um lao entre a irrupo (...) do monstruoso e do informe na arte e o nazismo, Corti omite de modo que beira o criminoso que este havia se autoproclamado justamente uma reao morte da civilizao ocidental, e que reivindicava, no campo esttico, exatamente o ideal de beleza da arte greco-romana (ou, para usar a distino nietzschiana, o lado apolneo da arte grega, a integridade, a fortaleza, a auto-suficincia, que se contrapunha dimenso dionisaca, orgistica, de contaminao), ao mesmo tempo em que perseguia a arte condenada por Corti, relacionando-a a decadncia ocidental. De fato, o nazismo construiu um imenso aparato de censura e propaganda contra ela, uma campanha que culminou na famosa (e infame) exposio sobre a Arte degenerada (Entartete Kunst), inaugurada na cidade de Munique, em 1937, e que circulou por toda a Alemanha. Seu objetivo era detratar os artistas expostos, associando-os judasmo, ao internacionalismo, ao comunismo e loucura (comparando quadros de vanguarda a desenhos de doentes
273
CORTI, Eugenio. Catn el Viejo. p. 367-368.
139
mentais). Entre os artistas assim denegridos, estava justamente Marc Chagall, mencionado como exemplo monstruoso por Corti. No mesmo ano e cidade, outra exposio, o contraponto positivo da primeira, teve lugar, a Grande Exposio de Arte Alem, em cuja abertura Hitler proferiu um discurso composto por um raciocnio e um vocabulrio macabramente semelhantes aos do romancista italiano: O colapso e o declnio geral da Alemanha foram como sabemos no apenas econmicos ou polticos mas, provavelmente em propores muito maiores, tambm culturais 274, afirma logo ao comeo. Mas tal colapso, continua, havia se transformado tambm num impulso para (...) [a] purificao (...) da enchente de todo o lodo e lixo 275 que assolava o pas. E a restaurao alem por meio do nazismo seria, tambm, a do Ocidente, pois a raa ariana era o veculo no s da nossa [alem] cultura mas tambm das culturas precedentes da Antiguidade. 276 O processo de regenerao estaria chegando arte, que no pode ser uma moda, pois o carter e o sangue do nosso povo pouco se modifica, e, sendo parte deste carter, ou seu reflexo, ela tampouco poderia se modificar. Por isso, era preciso eliminar o Cubismo, dadasmo, futurismo, impressionismo, etc. [que] nada tm a ver com nosso povo alemo 277: Doravante, conclua Hitler, empreenderemos uma incessante guerra de purificao contra os ltimos elementos de putrefao em nossa cultura. (...) Por ns, esses abutres da cultura e balbuciadores da arte da idade da pedra pr-histrica podem muito bem voltar para as cavernas de seus ancestrais e adorn-las com seus primitivos rabiscos internacionais. 278 O projeto artstico nazista, condizente com sua poltica racial, visava, desse modo, purificar a cultura por meio do ataque ao excessivo, monstruoso, disforme, excrementcio, levando a cabo uma censura inaudita, que produziu um nmero de fogueiras de livros s comparvel Inquisio. Com efeito, o nazismo e o seu antecedente inquisitorial cumpriram risca o famoso dito de Heine: Onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas.
HITLER, Adolf. Discurso de inaugurao da Grande Exposio de Arte Alem, 1937. Traduo de Joo Azenha Jr. Em: CHIPP, Herschel B (org.). Teorias da arte moderna. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1996. pp. 481-490; citao na pgina 481. 275 Ibidem, p. 481-482; grifo nosso. 276 Ibidem, p. 484. 277 Ibidem, p. 486. 278 Ibidem, p. 489; grifo nosso
274
140
Porm, apesar de falsificar os dados e discursos histricos para tornar sua hiptese mais palatvel, Corti acerta ao sublinhar, tanto em sua narrativa quanto em sua digresso, que um mesmo ideal de purificao do sensvel levava o censor romano a zelar pela limpeza dos resduos corpreos e pela limpeza da arte. Isso diz respeito ao vasto campo que a cura morum censria abarcava. No podemos, obviamente, inferir uma linha de continuidade direta que conectaria o ideal de limpeza de Cato ao higienismo racial nazista, at porque estaramos partindo de uma recriao da vida do censor romano por um contemporneo nosso, Eugenio Corti (que, esse sim, pode ter seu discurso associado a uma tendncia ao menos fascista). Contudo, o romance do escritor italiano, como dissemos, revela uma ligao, de fato existente, entre a atuao censria e um ideal de pureza e limpeza, que visa limpar os resduos tanto das vias pblicas (o lixo, a merda), quanto das manifestaes artsticas (que corrompem, que degeneram), e cuja ratio levada s ltimas conseqncias, ao limite, pode conduzir queima industrial tanto de livros quanto de pessoas. 4.9. Por esse motivo, pode causar estranheza, pelo menos para nosso olhar contemporneo, que artistas tenham invocado ditos ideais de pureza e limpeza para defender suas obras perante a censura entrando, assim, em seu regime discursivo. o caso, por exemplo, de D.H. Lawrence, que viu seu Lady Chatterleys Lover (alm de outras obras 279) censurado, especialmente pela presena da chamada f*** word: fuck. 280 O autor no hesita em argumentar que ele mesmo
Como a apreenso de quadros seus em 1929, caso que chegou at os tribunais. Na sentena, o juiz afirmou que totalmente irrelevante se tratam-se de obras de arte ou no. O quadro mais esplendidamente pintado no universo pode ser obsceno, e pinturas obscenas deveriam ser sacrificadas [put to an end] como qualquer animal selvagem que possa ser perigoso. Por fim, os quadros foram devolvidos com a condio de no serem exibidos. Cf. sobre as diversas censuras pelas quais Lawrence passou, MOORE, Harry T. D.H. Lawrence and the censor-morons. Em: LAWRENCE, D. H. Sex, Literature and Censorship. pp. 9-32; citao extrada da pgina 24. A bibliografia sobre a censura a Lady Chatterleys Lover imensa, mas cabe meno especial ao ensaio de COETZEE, J. M. Lady Chatterleys Lover: The Taint of Pornography. Em: Giving offence: essays on censorship. Chicago: University of Chicago Press, 1996. pp. 48-60. 280 Para se ter uma dimenso do tabu em relao a fuck na poca, basta mencionar o caso do artigo de Allen Walker Read sobre a palavra, na qual o romance de Lawrence louvado por ser uma corajosa tentativa de ignorar o
279
141
censuraria pornografia genuna, com rigor 281, pois a sua obra no seria pornogrfica de fato. Para amparar este argumento, Lawrence no se apia no lugar-comum da distino entre pornografia, como intencionalmente concebida para produzir excitao, e erotismo, que supostamente possuiria, como argumenta Coetzee, um valor esttico redentor que pe a pornografia comercial em seu lugar 282 distino invocada por Afrnio Coutinho em seu parecer judicial sobre o processo de censura a Feliz ano novo, de Rubem Fonseca. 283 Ao contrrio, segundo Lawrence, a arte pornogrfica no se caracteriza por uma inteno deliberada da parte do artista de produzir ou excitar sensaes sexuais 284; antes, a pornografia visa degradar o prprio sexo. Desse modo, argumenta, seus romances s poderiam ser considerados erticos se Eros fosse equacionado ao amor 285 e s foras criativas: a ascese no se produziria pelo veculo em si a arte , mas por determinada corrente que o move. A diferenciao, portanto, se daria entre duas correntes, uma de criao (sexual) e outra de descriao (do excremento):
As funes do sexo e as funes excrementcias funcionam to prximas no corpo humano, ainda que sejam, por assim dizer, completamente diferentes em direo. O sexo um fluxo criativo, tabu, e em que o autor advoga a necessidade de limpar e/ou purificar [cleanse] a linguagem, removendo-a de sua condio doentia, pelo uso de palavras consideradas tabu: no texto, porm, fuck no aparece grafado nenhuma vez (READ, Allen Walker. An obscenity symbol. American Speech. v. 9, n. 4. Dez/1934. pp. 264-278; citaes extradas das pginas 275 e 277). 281 LAWRENCE, D. H. Pornography and obscenity. Em: Sex, Literature and Censorship. pp. 69-88; citao na pgina 74. 282 COETZEE, J. M. Taking offence. Em: Giving offence: essays on censorship. pp. 1-33; citao na pgina 30. 283 Na classificao da literatura em questo, h que se distinguir (...) o que so literatura ertica e literatura pornogrfica. (...) De um lado, a literatura ertica de valor artstico, e do outro a literatura pornogrfica, sem mrito artstico, visando apenas a despertar, como um afrodisaco, o instinto sexual, e sua inteno sobretudo comercial. O valor ou mrito artstico purifica, e o afrodisaco e o monetrio rebaixam: nas palavras do advogado do autor: A arte literria purifica o tema, por mais veemente que seja a imoralidade dele (SILVA, Deonsio da. Nos bastidores da censura. p. 198 e 175. 284 LAWRENCE, D. H. Pornography and obscenity. p. 74. 285 Cf. LAWRENCE, D. H. Amor. Traduo de Alexandre Nodari. Sopro. n. 53. Jun/2011. pp. 2-6. O texto foi originalmente publicado em 1918.
142
o fluxo excrementcio se dirige dissoluo, descriao, se podemos usar tal palavra. No ser humano realmente saudvel a distino entre ambas instantnea, nossos mais profundos instintos talvez sejam nossos instintos de oposio entre os dois fluxos. Mas no ser humano degradado, os instintos profundos morreram, e os dois fluxos se tornam idnticos. Este o segredo do povo realmente vulgar e pornogrfico: o fluxo do sexo e o fluxo do excremento so a mesma coisa para ele. Ento o sexo sujo e o sujo sexo, e a excitao sexual torna-se um jogar com a sujeira, e qualquer sinal de sexo em uma mulher torna-se uma mostrao de sua sujeira. Esta a condio do ser humano comum, vulgar, cujo nome legio, e que levanta sua voz e esta a Vox populi, Vox Dei. E esta a fonte de toda a pornografia. 286
De um lado, sade, sexo, criao; de outro, degradao, excremento, descriao: eis a rgida diviso traada por Lawrence. Apesar da proximidade fsica, no corpo, dos rgos responsveis pelas duas funes-correntes, a sua distino deve ser instantnea. Entretanto, se tal diferenciao sinnimo de sade, ento o quadro que Lawrence apresenta mostra uma infeco generalizada: a sociedade estaria dominada pela grande classe pornogrfica the really common men-inthe-street and women-in-the-street, variante do j mencionado homem mdio. S que, ao contrrio dos censores que querem proteg-lo, Lawrence quer reeduc-lo, criar uma nova medida, um novo padro, deixando claro a linha que impede a confuso da criao ertica com as foras dissolventes da merda. Se a pornografia um sinal de uma condio doente do corpo poltico, ento o modo de tratar a doena trazer para a luz o sexo e o estmulo sexual 287, abrindo espao para que os homens e mulheres sejam capazes de pensar o sexo, completamente, honestamente, limpamente. 288 interessante perceber que esta
LAWRENCE, D. H. Pornography and obscenity. p. 76. LAWRENCE, D. H. Pornography and obscenity. p. 77. 288 LAWRENCE, D. H. A propos of Lady Chatterleys Lover. Em: Sex, Literature and Censorship. pp. -89-122; citao na pgina 92; grifo nosso. a inteno de Ladys Chatterleys Lover: a frase que citamos inicia-se com I want (Eu quero que homens e mulheres...). Cabe lembrar que Lawrence tinha plena cincia de que a inteno do autor no era um ndice confivel para
287 286
143
empreitada higienizadora de reeducao sexual do homem mdio, na qual a produo ficcional de Lawrence estava engajada, teria como objetivo ltimo uma espcie de reforma moral que aboliria as emoes falsificadas (counterfeit emotions), que fazem com que todas as aes, especialmente o sexo, sejam exercidas como se fossem um acting up, um faz-de-conta. 289 A fora criadora do sexo, revigorada pela luz do sol, possibilitaria, assim, dissipar a fico descriadora dos excrementos. A equiparao, por parte dos prprios escritores, da tarefa artstica a um empreendimento purificador dos costumes mais comum do que se pode imaginar. No s incontveis vezes a arte foi comparada ao poder de correo moral, como tambm, por incrvel que possa parecer, a figura do poeta foi aproximada a de Cato. o caso de um um dos maiores documentos da nossa literatura [brasileira], como Oswald de Andrade 290 definiu as Cartas Chilenas, que comearam a circular pelas Minas Gerais s vsperas da Revoluo Francesa e, especialmente, da Inconfidncia Mineira, na qual tiveram uma participao. O poema satirizava os desmandos locais deslocando-os metaforicamente para um Chile fictcio. Porm, mesmo esta desreferencializao no tornava a sua publicao lcita: o formato estava de antemo proibido pela legislao da metrpole Portugal, que vetava, desde a ordenao de D. Jos datada de 2 de outubro de 1753, a escrita e publicao de stiras, ou libelos famosos. Alis, provvel que a proibio dos chamados libelos famosos seja uma das mais antigas da histria jurdica ocidental, remontando Lei das Doze Tbuas, que, conforme Franois Baudoin (baseando-se em Ccero), punia com a morte quem compusesse um malum carmen, um verso difamatrio. Como as Doze Tbuas prescreviam a pena de morte para poucos crimes, Ccero conclui que as mala carmina eram vistas no
compreender a obra: Um ensaio sobre pornografia, lembro, chega a concluso que a pornografia na arte aquilo que calculado para produzir desejo sexual, ou excitao sexual. E o acento posto no fato de se o autor ou artista teve a inteno de produzir sensaes sexuais. a velha e aborrecida questo da inteno, to maante hoje em dia, quando sabemos quo forte e influente so nossas intenes inconscientes. E porque um homem deveria ser culpado pelas suas intenes conscientes, e inocentado pelas suas intenes inconscientes, eu no sei, j que todo homem feito mais de intenes inconscientes do que daqueles conscientes. Eu sou o que eu sou, no meramente o que eu penso que eu sou (LAWRENCE, D. H. Pornography and obscenity. p. 72). 289 LAWRENCE, D. H. A propos of Lady Chatterleys Lover. p. 93. 290 ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofgica. p. 73.
144
como uma ofensa privada, mas, ao contrrio, como ameaando toda a comunidade, e, portanto, como uma sedio. 291 Para escapar desta proibio, e, obviamente, da perseguio poltica, as Cartas foram assinadas com um pseudnimo Critilo , recaindo, porm, em outro formato proibido pelo aparelho censor portugus: o anonimato. As cartas s foram impressas em conjunto mais de oitenta anos depois, em 1863, e por muito tempo houve uma longa discusso filolgica acerca de sua autoria se deveriam ser atribudas a Toms Antnio Gonzaga, a Cludio Manuel da Costa, ou coletividade daquele ajuntamento de poetas, como ficou conhecida a Inconfidncia. S a partir do comeo da dcada de 1940, com os estudos de Manuel Bandeira, Afonso Arinos e Manuel Rodrigues Lapa, se firmou a autoria de Gonzaga. Devido s Cartas e sua participao no levante anti-colonial de Minas Gerais, o poeta passaria alguns anos na priso da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e, mais tarde, sofreria o degredo a Moambique. Contudo, como adiantamos, resulta curioso aos olhos de hoje observar que, nas Cartas, Cato aparea duas vezes retratado positivamente. Encontramos a primeira das referncias j na carta que abre a stira. Nela, antes de apresentar os desmandos de Fanfarro Minsio, Critilo descreve longamente a aparncia fsica do moderno chefe, / que acaba de reger a nossa Chile, / Ilustre imitador a Sancho Pana (p.194; v.51-53) 292:
Tem pesado semblante, a cor baa, o corpo de estatura um tanto esbelta, Cf. BAUDOIN, Franois. Ad leges de famosis libellis et de calumniatoribus commentarius. Paris: 1562. pp. 6 e ss. Para Baudoin, o Corpus Iuris Civilis faria referncia a duas formas de injria: a primeira, contida no Digesto, remontaria a esta produzida pelas mala carmina, e a segunda, presente no Codex, teria sua raiz em outra Lei das Doze Tbuas, que punia os caluniadores e os falsos acusadores. Todavia, ainda que esta diviso possa ter embasamento histrico, ambas as ofensas remetem a um terreno poltico-ontolgico comum, que abarca tambm a desclassificao romana dos atores, sobre a qual nos deteremos mais adiante. 292 As citaes das Cartas tomam como referncia a edio crtica organizada por Manuel Rodrigues Lapa para as Obras completas de Gonzaga (GONZAGA, Toms Antnio. Obras completas. v. I: Poesias; Cartas Chilenas. Edio crtica de Manuel Rodrigues Lapa. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1957). Entre parnteses, constam, primeiro, o nmero da pgina da referida edio, e, depois, a numerao dos versos adotada por Rodrigues Lapa.
291
145
feies compridas e olhadura feia; tem grossas sobrancelhas, testa curta, nariz direito e grande, fala pouco em rouco, baixo som de mau falsete; sem ser velho, j tem cabelo ruo, e cobre este defeito e fria calva fora de polvilho, que lhe deita. Ainda me parece que o estou vendo no gordo rocinante escarranchado, as longas calas pelo umbigo atadas, amarelo colete e sobre-tudo vestida uma vermelha e justa farda. De cada bolso da fardeta, pendem listradas pontas de dois brancos lenos; na cabea vazia se atravessa um chapu desmarcado; nem sei como sustenta o pobre s do lao o peso. (p.195-196; v.74-92)
Logo a seguir, sem relatar nenhum ato de corrupo ou de desgoverno, como se o modo de se portar bastasse para a censura, o poeta repreende Fanfarro invocando Cato:
Ah! tu, Cato severo, tu que estranhas o rir-se um cnsul moo, que fizeras se em Chile agora entrasses e se visses ser o rei dos peraltas quem governa? J l vai, Doroteu, aquela idade em que os prprios mancebos, que subiam honra do governo, aos outros davam exemplos de modstia, at nos trajes. Deviam, Doroteu, morrer os povos, apenas os maiores imitaram os rostos e os costumes das mulheres, seguindo as modas e raspando as barbas. (p. 193; v.93-104)
A aparncia fsica e o vesturio efeminados no servem apenas para compor um retrato caricato do governante satirizado, mas guardam uma relao com a prtica poltica deste. Critilo deixa isso explcito ao anunciar a descrio, ligando-a aos fins do poema, a saber, o relato dos desmandos de Fanfarro: Ora pois, doce amigo, vou pint-lo / da sorte que o topei a vez primeira; / nem esta digresso motiva tdio / como aquelas que so dos fins alheias (p.195; v.66-69). A forma com
146
que o corrupto chefe aparece um ndice que permite entrever algo como a sua essncia: que o gesto, mais o traje, nas pessoas / faz o mesmo que fazem os letreiros / nas frentes enfeitadas dos livrinhos, / que do do que eles tratam boa idia (p.195; v.70-73). A efeminao do regente da Chile fictcia, o rei dos peraltas, que por si s seria motivo mais do que suficiente para a censura moral de Cato, prenuncia o que est por vir nas Cartas: o desrespeito lei, a arbitrariedade, o desvio de dinheiro pblico, a ostentao, a corrupo, etc. A segunda remisso Cato se situa em uma posio textual diametralmente oposta primeira, ou seja, na ltima carta, uma resposta de Doroteu (a quem Critilo dirige as epstolas) pseudnimo do poeta Cludio Manuel da Costa. O verso que aqui menciona o censor romano Tu, severo Cato, tu repreendes (p.188; v.186) evoca explicitamente o verso da primeira carta Ah! tu, Cato severo, tu que estranhas. A segunda meno se mostra, assim, uma resposta pergunta trazida pela primeira, a saber, que fizeras [tu Cato] / se em Chile agora entrasses e se visses/ ser o rei dos peraltas quem governa?:
Tu, severo Cato, tu repreendes com teu mudo semblante a ptria Roma. Nem seus teatros de lascvia cheios sofrem teus olhos nobremente irados. Pede o congresso, de terror ferido, que o rgido censor o circo deixe ou que se no produza a torpe cena. Este, Critilo, o precioso efeito dos teus versos ser: como em espelho, que as cores toma e que reflete a imagem, os mpios chefes de uma igual conduta a ele se vero, sendo argidos pela face brilhante da virtude, que, nos defeitos de um, castiga a tantos. Lies prudentes, de um discreto aviso, no mesmo horror do crime, que os infama, teus escritos lhes dem. Sobrada usura este o prmio das fadigas tuas. Eles diro, voltando-se a Critilo: Quanto devemos, censor fecundo, ao castigado metro, com que afeias nossos delitos, e buscar nos fazes
147
da cndida virtude a s doutrina! (p.188; v.186208)
A resposta de Doroteu clara: o censor impede, pela sua simples presena, que se (...) produza a torpe cena. Desse modo, o poema descreve com preciso a lgica da censura: a sua atuao em uma esfera da aparncia, dos costumes, que fundamenta as instituies polticas, o carter exemplar do censor, inimigo da efeminao e cujo mudo semblante (como, para Bodin, uma palavra, um olhar, um risco da caneta) inspirava um pavor muito mais vivo que todas as sentenas e punies dos magistrados. Todavia, o passo posterior operado por Doroteu transferir a funo saneadora de Cato ao poeta Critilo, que se torna, assim, o censor fecundo, que faz da cndida virtude a s doutrina. 293 O precioso efeito das Cartas Chilenas a produo de uma imagem em que os mpios chefes de igual conduta se identificaro, como em espelho. Por meio dela, poderiam passar da infmia face brilhante da virtude. O mudo semblante de Cato se converte no discreto aviso de Critilo. O que faria Cato?, pergunta Critilo. Cato escreveria as Cartas Chilenas eis a resposta de Doroteu. E, de fato, segundo a biografia redigida por Plutarco, Cato via no exemplo negativo uma funo pedaggica de incremento da virtude e de correo moral: [Cato] Dizia tambm que os sbios aprendiam e aproveitavam mais dos loucos, o que no faziam os loucos dos sbios, porque os sbios viam as faltas dos loucos, procuravam se preservar para no agir, enquanto os loucos no se aperfeioam nunca em imitar os belos e bons atos que fazem os sbios. 294
O dilogo que Critilo e Doroteu travam sobre Cato (dilogo que se d na forma de pergunta do primeiro e resposta do segundo), faz com que o posicionamento, por alguns fillogos, da Epstola a Critilo assinada por Doroteu, antes das cartas que aquele lhe dirige (e mesmo antes do Prlogo e da Dedicatria, como opta Rodrigues Lapa) seja destituda de sentido (e destitua o sentido do dilogo: a resposta, nesse caso, viria antes da pergunta). 294 Cat. Ma. 17. Quando esteve sintomaticamente internado em um asilo de alienados entre 1919 e 1920, Lima Barreto anotou essa passagem no seu Dirio do hospcio: Dizia Cato, segundo Plutarco, que os sbios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles, porque os sbios evitam os erros nos quais caem os loucos, enquanto estes ltimos no imitam os bons exemplos daqueles. A entrada seguinte tambm referente ao censor romano: Ouvindo Cato, que pronunciava poucas palavras para o intrprete traduzi-las, observaram estes que as palavras do romano saam do corao e as dos gregos da ponta da lngua (LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Dirio do hospcio; O cemitrio dos vivos. Prefcio de Alfredo Bosi. Organizao e notas
293
148
O carter exemplar das Cartas Chilenas, sua funo censora, ressaltado no Prlogo: a stira do fictcio general chileno Fanfarro Minsio serviria para emenda dos mais, que seguem to vergonhosas pisadas (p. 190). E aparece tambm na Dedicatria aos Grandes de Portugal, que diferencia duas formas de instruo, ambas igualmente eficazes: a das aes gloriosas, que nos despertam o desejo da imitao, e a das aes indignas, que nos excitam o seu aborrecimento (p.189), situando as Cartas Chilenas no segundo grupo. Assim, o deslocamento metafrico da crtica para um Chile ficcional acaba sendo mitigado intra-textualmente na primeira das Cartas, em que a veracidade do relato sublinhada:
No cuides, Doroteu, que vou contar-te por verdadeira histria uma novela da classe das patranhas, que nos contam verbosos navegantes, que j deram ao globo deste mundo volta inteira. Uma velha madrasta me persiga, uma mulher zelosa me atormente e tenha um bando de gatunos filhos, que um chavo no me deixem, se este chefe no fez ainda mais do que eu refiro. (p.194-195; v. 56-65) 295
A auto-justificativa em termos morais feita por artistas e dirigida s autoridades era no apenas uma prtica corrente, mas formava parte do prprio funcionamento da engrenagem ficcional, marcando sua relao com (e utilidade para) a esfera do poder, alm de constituir uma forma de, sublinhando sua funo poltica positiva, tentar fugir dos tentculos censores, muitas vezes atravs do procedimento de ressaltar o
de Augusto Massi e Murilo Marcondes de Moura. So Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 122). Mais de dez anos antes, Lima Barreto fizera uma referncia irnica a Cato, nas Recordaes do Escrivo Isaas Caminha. Diante do relato de casos de psicopatia sexual (na verdade, de mnage trois) , um personagem afirma que Esta sociedade est muito corrupta, ao que outro, que recm entrava no aposento (e que, portanto, no sabia o contexto da afirmao), retruca com malcia: Oh! Cato! (LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Recordaes do escrivo Isaas Caminha. 7. ed. (Obras de Lima Barreto, I Coleo organizada sob a direo de Francisco de Assis Barbosa). So Paulo: Brasiliense, 1978. p. 131). 295 No sei, prezado amigo, o que te escrevo. / S sei que o que te escrevo so verdades lemos em uma das Cartas.
149
carter fictcio da obra (que poderia, paradoxalmente, influir moralmente justo devido a esta ficcionalidade, pura imagem a ser tomada como modelo a seguir ou evitar). Em grande parte das obras literrias publicadas at pelo menos o sculo XIX, podemos encontrar prefcios desse tipo. Para ficar com apenas um exemplo, do mesmo sculo das Cartas e de um autor que tambm foi censurado e preso, invoquemos o prefcio de Robinson Cruso, tido por alguns crticos e historiadores como o verdadeiro pontap inicial do romance moderno, devido matria narrativa eminentemente burguesa. Nele, o autor, Daniel Defoe, travestido de editor do relato de Cruso, ressalta os usos os quais os homens sbios poderiam fazer dos eventos narrados no romance, a saber, a instruo de outros por meio deste exemplo. A exemplaridade de Robinson Cruso emana do fato de que as maravilhas de sua vida excedem tudo (...) que se pode encontrar; a vida de um homem dificilmente sendo capaz de maior variedade. Aqui tambm encontramos um jogo retrico em que se afirma, ao mesmo tempo, tanto a ficcionalidade quanto a veracidade do relato, como se a exemplaridade se alimentasse deste misto ambguo e paradoxal de verdade e mentira (excepcionalidade) 296: por um lado, lemos que a
296
Juan Jos Saer argumenta que a fico constitui uma espcie de antropologia especulativa justamente por dar verdade e realidade objetiva o tratamento complexo que elas exigem, ignorando a diviso entre objetividade e ficcionalidade: Quanto dependncia hierrquica entre verdade e fico, segundo a qual a primeira possuiria uma positividade maior que a segunda, desde j, no plano que nos interessa, uma mera fantasia moral. (...) no se escreve fices para se esquivar, por imaturidade ou irresponsabilidade, dos rigores que o tratamento da verdade exige, mas justamente para pr em evidncia o carter complexo da situao, carter complexo que o tratamento limitado ao verificvel implica uma reduo abusiva e um empobrecimento. Ao dar o salto em direo ao inverificvel, a fico multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. No d as costas a uma suposta realidade objetiva: muito pelo contrrio, mergulha em sua turbulncia, desdenhando a atitude ingnua que consiste em pretender saber de antemo como essa realidade. No uma claudicao ante tal ou qual tica da verdade, mas uma busca de uma um pouco menos rudimentar. interessante observar que o texto de Saer inicia-se com uma anlise de biografias de Joyce, e a primeira frase do texto, sintomaticamente, diz que Nunca saberemos quem foi James Joyce (SAER, Juan Jos. O conceito de fico. Traduo de Joca Wolff. Sopro. n. 15. Ago/2009. pp. 1-4; citaes nas pginas 2 e 1). Seria impossvel, destarte, escrever uma biografia verdadeira (para as conseqncias dessa impossibilidade, cf. COCCIA, Emanuele. El mito de la biografa, o sobre la imposibilidad de toda teologa poltica). Como corolrio, a exemplaridade
150
histria contada atendo-se de modo religioso aos eventos, no havendo qualquer aparncia de fico nela; mas, por outro, tendo em vista que este tipo de coisa alvo de disputa, a saber, se trata-se ou no de uma fico, o romance, diz o editor, pode servir tambm diverso, como instruo do leitor, de igual modo. 297 A estratgia clara: em primeiro lugar, pela exemplaridade verossmil que emana do relato, afirma-se a sua utilidade poltico-moral; mas, justamente para evitar crticas poltico-morais que podem redundar na censura, salientase tambm o carter ficcional da obra, e sua funo de passatempo. Assim, um exemplo poltico-moral de conduta, ao ser poetizado e/ou entrar no campo da fico, virtualiza sua referencialidade, o que o protege contra a censura. Vimos como tal virtualizao e a autodeclarao, por parte do autor, do carter ficcional da obra fazem parte de um complexo de regras que afastam o discurso artstico daquele caracterstico da opinio pblica em sentido estrito, implicando uma suposta despotencializao dos atos de fala. Contudo, a adeso explcita a tais regras do jogo pode conviver com a pretenso de um exerccio de poder poltico ou moral sobre os costumes e os negcios humanos, justamente por meio da imagem exemplar, que, desreferencializada de um contexto concreto e direto, pode aumentar o seu alcance (j que no se prende ao realmente existente) e seu poder (pela forma artstica que trabalha sobre a produo de efeitos sensoriais). Retomando o que afirmamos anteriormente sobre o modo como Carlos Astrada concebe a antiga querela grega entre poetas e filsofos, que, a seu ver, constitui uma disputa pela posio de conscincia reflexiva da cidade, podemos dizer que o isolamento moderno da arte em uma esfera separada, com regras de elaborao e recepo prprias, dificulta ou, no limite, impede o exerccio de tal posio. 298 Para tentar ocup-la, muitos artistas,
biogrfica seria uma fico construda. Uma questo complexa, que no podemos responder aqui, mas que , de certo modo, inquietante, diz respeito relao possvel entre a antropologia especulativa que se d nas biografias imaginrias e a normatividade das biografias exemplares. O que est em jogo em cada uma delas? Como o seu estatuto difere? (A bibliografia sobre as memrias imaginrias imensa, mas um livro recente de Silviano Santiago parece apontar para um novo caminho de investigao: cf. SANTIAGO, Silviano. A vida como literatura. O amanuense Belmiro. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006). 297 DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Londres: Penguin Books, 1994. p. 7. 298 Sobre a relao contempornea entre o poeta e os negcios pblicos e citadinos, cf. o belssimo AUDEN, W. H. O poeta e a cidade. Traduo de Carlos Felipe Moiss. So Paulo; Rio de Janeiro: Espectro Editorial, 2009. Vale
151
mesmo mantendo a salvaguarda possibilitada pelo isolamento ficcionalartstico, adotam as enunciaes e os enunciados censrios, entrando perigosamente na disputa pela posio que, na modernidade, se concentra no Estado e na imprensa. Ou seja, tentam colocar-se como clercs, isto , nas palavras de Carl Schmitt, como representantes da espiritualidade e da opinio pblica 299, nem que para isso tenham de invocar o exemplo de Cato. Como dissemos, o caso das Cartas Chilenas est longe de constituir exceo: a reivindicao do papel moral da literatura, e da funo do escritor de correo e/ou direo dos costumes era um topos comum utilizado para a justificao de artistas perante o Estado e a sociedade. Todavia, como tambm j ressaltamos, em muitos casos no se tratava de mera estratgia retrica, mas de uma verdadeira e profunda partilha das premissas da censura. o caso, por exemplo, de Gustave Flaubert. 4.10. Como se sabe, Madame Bovary: costumes de provncia foi alvo da censura por parte do promotor (advogado imperial) Ernest Pinard, que tentou proibir judicialmente a obra devido a sua suposta imoralidade, vendo nela um atentado aos bons costumes. A defesa de Flaubert consistir, nada mais nada menos, em afirmar o poder moral corretivo da obra atravs de uma frmula lapidar: o esprito da obra, argia Monsieur Snard (advogado do autor e a quem este agradece na verso em livro 300), da primeira ltima linha, um esprito moral e religioso
a pena citar aqui as linhas finais do ensaio: Caso um poeta e um campons iletrado eventualmente se cruzem, talvez no tenham muito que dizer um ao outro, mas, se ambos toparem com um funcionrio pblico, partilharo o mesmo sentimento de suspeio; nenhum deles confiar na figura, para alm do que seus olhos possam alcanar. Se entrarem em uma repartio de governo, ambos partilharo o mesmo sentimento de apreenso e talvez dividam o mesmo desfecho: nunca mais sair. Quaisquer que sejam as diferenas culturais entre eles, ambos farejam, em todo espao oficial, o cheiro de uma no realidade, na qual pessoas so tratadas como estatsticas. O campons pode jogar cartas, noite, enquanto o poeta escreve versos, mas existe um princpio poltico que ambos endossam: entre a meia dzia, se tanto, de propsitos pelos quais um homem honrado deve estar preparado, se necessrio, para morrer, o direito de jogar, o direito frivolidade no dos que menos conta (p. 24). 299 SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. p. 112. 300 A Marie-Antoine-Jules Senard / Membro do Tribunal de Paris / Expresidente da Assemblia Nacional / e antigo ministro do Interior // Caro e ilustre amigo, // Permiti-me inscrever o vosso nome testa deste livro e acima
152
(...) um esprito eminentemente moral e religioso que pode se traduzir nas seguintes palavras: a incitao virtude mediante o horror ao vcio. 301 E qual seria a origem do vcio de Madame Bovary que o romance de Flaubert pintaria de forma to horrenda? Trata-se do mesmo de Alonso Quijano: a leitura, o gosto pela fico. A cada por assim dizer da protagonista inicia-se (e o advogado de defesa sublinha isto) com a leitura de romances e poemas no convento onde ela estudou:
Havia no convento uma solteirona que vinha todos os meses, durante oito dias, trabalhar na lavanderia. (...) Freqentemente as pensionistas escapavam do estudo para ir v-la. Ela sabia de cor as canes galantes do sculo passado, que cantava a meia-voz, enquanto empurrava a agulha. Contava histrias, punha-as a par das novidades, encarregava-se das encomendas na cidade, e emprestava s maiores, s escondidas, algum romance que sempre tinha nos bolsos do avental, e de que a boa moa pessoalmente engolia longos captulos, nos intervalos do trabalho. Eram s amores, namorados, namoradas, damas perseguidas a desmaiar em pavilhes solitrios, mensageiros que so mortos em todas as paradas, cavalos que se esgotam em todas as pginas, florestas sombrias, perturbaes do corao, juramentos, suspiros, lgrimas e beijos, barquinhos ao luar, rouxinis nos bosques, cavalheiros bravos como lees, meigos como cordeiros, virtuosos a no mais poder, sempre bem-postos, e que choram como urnas. Durante seis meses, aos quinze anos, Emma sujou as mos nessa poeira dos velhos gabinetes de leitura. Com Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se pelas coisas histricas, sonhou com bas, sala de mesmo da dedicatria; pois a vs, principalmente, que devo a sua publicao. Passando por vossa magnfica defesa, a minha obra adquiriu para mim mesmo como que uma autoridade imprevista. Aceitai, pois, aqui a homenagem da minha gratido que, por maior que possa ser, nunca estar altura de vossa eloqncia e de vossa dedicao. // GUSTAVE FLAUBERT / Paris, 12 de abril de 1857 (FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary: costumes de provincia. Traduo de Mario Laranjeira. So Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011. p. 71). 301 El origen del narrador. p. 47; grifo nosso.
153
guardas e menestris. Teria gostado de viver em alguma velha manso, como aquelas castels de longo corpete, que, sob o trevo das ogivas, passavam os seus dias, com o cotovelo sobre a pedra e o queixo na mo, a olhar vir do fundo da campanha um cavaleiro de pluma branca que galopa num cavalo negro. Teve, naquele tempo, um culto por Maria Stuart, e veneraes entusiastas em relao a mulheres ilustres ou infortunadas. Joana dArc, Helosa, Agns Sorel, a bela Ferronnire e Clmence Isaure, para ela, destacavam-se como cometas na imensido tenebrosa da histria, onde se sobressaam ainda, aqui ou acol, porm mais perdidos na sombra e sem nenhuma relao entre eles, So Lus e o seu carvalho, Bayard moribundo, algumas ferocidades de Lus XI, um pouco de So Bartolomeu, o penacho do Brnais, e sempre a lembrana dos pratos pintados em que Lus XIV era louvado. 302
O bovarismo, portanto, uma espcie de quixotismo (que, ao invs de s produzir a efeminao, a potencializa) que atua ao longo de todo o romance: Emma no cessa de realizar ela mesma parte verdadeira daquelas imaginaes, participar da atmosfera de um outro mundo, o mundo da fico. A protagonista, desse modo, tem sua vida cindida: por um lado, ela Conhecia (...) a pequenez das paixes que a arte exagerava, mas, por outro, queria desviar disso o pensamento 303 e deixar-se afetar pela arte, sendo capaz at mesmo de reconciliar a prpria ciso, essa inconstncia da alma feminina, com a fico: Pela diversidade de seu humor, ora mstico, ora alegre, tagarela, taciturno, exaltado, sossegado, ela ia recordando (...) mil desejos, evocando instintos ou reminiscncias. Ela era a apaixonada de todos os romances, a herona de todos os dramas, o vago ela de todos os volumes de versos. 304 Portanto, Madame Bovary, como Dom Quixote, habita os dois mundos que deveriam estar separados, ela atravessa a fronteira espiritual que os divide. Isso termina por criar um duplo padro moral, duas morais, caracterizados por Rodolphe, um dos amantes de Emma, do seguinte modo: A pequena, convencional, a dos homens, a que varia sem cessar e que vocifera tanto, agita-se embaixo, rampeira, como este
302 303
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. p. 116-118. Ibidem, p. 263, 333 e 335 304 Ibidem, p. 382.
154
ajuntamento de imbecis que voc est vendo. Mas a outra, a eterna, est em torno e acima, como a paisagem que nos envolve e o cu azul que nos ilumina. 305 O bovarismo cria, assim, outro padro de conduta, mais elevado, imagens ideais com os quais se mede a vida cotidiana, que nunca consegue estar altura delas, provocando uma busca constante e impossvel, que se converte em errncia e mais desejo, em errncia do desejo 306: o bovarismo, como o tornar-se poeta de Dom Quixote, uma enfermidade incurvel e infecciosa. No surpreende, desse modo, que Charles e sua me aventem, para tentar curar o mal de que Emma padecia, a mesma soluo que o Padre e o Barbeiro lanaram mo no tratamento de Quixote: a interdio dos romances 307, por meio do cancelamento da assinatura de livros junto ao fornecedor da droga (No se teria o direito de avisar a polcia se o livreiro persistisse assim mesmo em sua tarefa de envenenador? 308). Segundo a defesa de Flaubert, Bovary no s no deveria ter lido aqueles romances e volumes de versos que eram as sementes de sua corrupo: ela no deveria nem mesmo ter estudado no convento. Madame Bovary seria, por esse prisma, a histria da educao que, com demasiada freqncia, se d nas provncias, histria dos perigos aos quais aquela pode conduzir; histria da degradao; histria da educao, histria de uma vida deplorvel para a qual muitas vezes a educao serve de ante-sala. 309 Porm, o romance no se limitaria a pintar a mulher que, em vez de buscar se conformar com sua condio, com sua situao, com seu nascimento, em vez de procurar adaptar-se vida que lhe corresponde, continua preocupada por mil aspiraes estanhadas nascidas de uma educao elevada demais para ela. 310 Ele
305 306
Ibidem, p. 242. No estava feliz, nunca tinha estado. De onde vinha ento essa insuficincia da vida, essa podrido instantnea das coisas em que ela se apoiava? Mas, se havia em algum lugar um ser forte e belo, uma natureza valorosa, cheia, ao mesmo tempo, de exaltao e de refinamento, um corao de poeta sob a forma de anjo, lira com cordas de bronze, soando para o cu epitalmios elegacos, por que, porventura, ela no o encontraria? Oh! que impossibilidade! Nada, alis, valia a pena de uma procura; tudo mentia! Cada sorriso escondia um bocejo de tdio, cada alegria uma maldio, cada prazer o seu desgosto, e os melhores beijos no deixavam nos lbios seno uma irrealizvel vontade de uma volpia mais alta (Ibidem, p. 403). 307 El origen del narrador. p. 297. 308 Ibidem, p. 221. 309 Ibidem, p. 51. 310 Ibidem, p. 52-53.
155
no s produz horror ao vcio: atravs deste, incita a virtude. A sua leitura poderia evitar o poder das leituras perigosas, evitar a reproduo de casos como a de Emma, constituir uma medida frente desmedida. Assim, Madame Bovary exerceria o papel de uma pedagogia censria, agindo ali onde as outras instncias de controle moral e dos costumes falharam:
Por Deus!, muitas de nossas jovens que no encontram nos elevados princpios da honestidade, em uma religio severa, os meios para se manterem firmes no cumprimento de seus deveres de mes, que no os encontram especialmente naquela resignao, aquela cincia prtica da vida que nos diz que devemos nos contentar com o que temos, e que encaminham seus sonhos para fora de seu lugar, a essas jovens, as mais honradas e puras que, em meio ao prosasmo de sua localidade, se sentem por vezes atormentadas pelo que ocorre ao seu redor, no duvidem, um livro como este as faria refletir, e muito. 311
Este romance serviria, portanto, de antdoto a outros romances venenosos. No processo, movido no ano seguinte (1857) pelo mesmo Pinard, contra as Flores do Mal, o advogado de Baudelaire afirma que no se encontrou melhor meio de corrigir os homens 312 do que o modo exagerado com que se pinta o vcio, como se faz no teatro. 313 O
Ibidem, p. 55. Ibidem, p. 147; grifo nosso. 313 Gustave Chaix DEst-Ange, o advogado de defesa, invoca muitas outras obras, no s teatrais, mas especialmente as clssicas, que deveriam ser censuradas caso Pinard quisesse manter sua coerncia: no pode haver dois pesos e duas medidas; a moral pblica uma s, e se ela no ultrajada por tantas outras obras que enchem nossas bibliotecas, que se imprimem e reimprimem sem cessar sob nossos olhos, por tantas outras que nascem todo dia em verso e em prosa, de que modo a moral pblica teria sido ultrajada por alguns fragmentos que o ministrio pblico pede que os senhores condenem na obra de Baudelaire? (Ibidem, p. 157). O argumento muito comum na defesa de autores censurados, aparecendo tambm na de Flaubert, Rubem Fonseca e D.H. Lawrence, para ficar apenas nos casos que j mencionamos aqui. Os censores, em geral, tm dificuldade para se justificar, insistindo na tese da oportunidade que compete ao censor enquanto dotado de um poder
312 311
156
programa do poeta, semelhante, desse modo, ao de Flaubert, seria o de uma guerra declarada contra as baixezas e os vcios da humanidade, e algo como uma maldio lanada contra todas as vergonhas 314, e, por isso, seus versos seriam versos justiceiros, e sua linguagem, a elevada linguagem de um moralista: Baudelaire exagera o mal para reprov-lo, () pinta o vcio com tons vigorosos e comovedores porque quer inspirar um dio mais profundo em relao a ele, e se o pincel do poeta faz uma pintura horrvel de tudo o que odioso, precisamente porque quer inspirar horror a eles. 315 Contudo, ao contrrio do autor de Madame Bovary, Baudelaire condenado, talvez, porque, aventa Daniel Link, O tribunal aprendeu de Flaubert o risco que implica distribuir encantamentos, pronunciar palavras proibidas, sussurrar carcias nos ouvidos das moas recm-alfabetizadas. 316
administrativo-policial: assim, por exemplo, argumenta Pinard, no haveria sentido em proibir uma obra obscura ou pouco lida, pois a censura daria visibilidade a ela. Porm, no caso das obras chamadas clssicas, o que explica a desnecessidade da censura que o prprio processo de classicizao, por assim dizer, promove uma ascese, eleva a obra, esvaziando-a de seus efeitos poltico-morais. Um dilogo de A morta, pea de Oswald de Andrade, capta de modo magistral este esfriamento-mortificao: O POLCIA O mundo um dicionrio. Palavras vivas e vocbulos mortos. No se atracam porque somos severos vigilantes. Fechamo-los em regras indiscutveis e fixas. Fazemos mesmo que estes que so a serenidade tomem o lugar daqueles que so a raiva e o fermento. Fundamos para isso as academias... os museus... os cdigos... // O TURISTA E os vivos reclamam? // O POLCIA Mais do que isso. Querem que os outros desapaream para sempre. Mas se isso acontecesse no haveria mais os cus da literatura, as guas paradas da poesia, os lagos imveis do sonho. Tudo que clssico, isto , o que se ensina nas classes. // O TURISTA Com quem tenho a honra de falar? // O POLCIA Com a polcia poliglota. // O TURISTA Oh! que prazer! O senhor sou eu mesmo na voz passiva. Na minha qualidade de turista falo sete lnguas, nesta idade! E no tenho mais governante! // O POLCIA Tambm falo sete lnguas, todas mortas. A minha funo essa mesma, mat-las. Todo o meu glossrio de frases feitas... // O TURISTA As mesmas que eu emprego. Ns dois, s conseguimos catalogar o mundo, esfri-lo, p-lo em vitrine! // O POLCIA Somos os guardies de uma terra sem surpresas (ANDRADE, Oswald de. Panorama do fascismo. O homem e o cavalo. A morta. So Paulo: Globo, 2005. p. 205-206). 314 El origen del narrador. p. 145. 315 Ibidem, p. 144. 316 LINK, Daniel. Juicio al autor. Perfil. Buenos Aires, 28 de agosto de 2011. Disponvel em: http://migre.me/7o3Aj.
157
Desse modo, em ambos os processos, os censurados concordam com seus censores que a arte deve ter uma funo moral. A discordncia reside na forma em que esta funo deve ser exercida. No processo contra Flaubert, o promotor chega a aceitar, a ttulo de hiptese, a moralidade do relato (a qual, contudo, ataca, pois Emma no , segundo ele, freada no romance; nenhum personagem aparece suficientemente forte para conden-la), mas acrescenta que uma concluso moral no poderia servir de escusa aos detalhes lascivos que podem encontrar-se na obra:
os detalhes lascivos no podem ser desculpados por uma concluso moral, pois, do contrrio, poder-se-ia narrar todas as orgias imaginveis, descrever todas as indignidades de uma mulher pblica (...) Estaria permitido estudar e ensinar todas as suas poses lascivas! Este tipo de coisa seria como contraditar todas as regras do bom senso, ou como colocar o veneno ao alcance de todos e o remdio, em contrapartida, ao alcance de alguns poucos, se que existe um remdio. 317
Contra Baudelaire, Pinard aplica o mesmo raciocnio: Os senhores acreditam, de boa f, que est permitido dizer todo, pintar tudo, pr tudo a nu, desde que em seguida se fale da repugnncia produzida pelo excesso e se descrevam as enfermidades que o castigam? 318 Os excessos de linguagem dos poemas de Baudelaire tambm so equiparados a certas flores de vertiginoso perfume (as Flores do Mal) que no devem ser respiradas, pois o seu veneno (...) sobe cabea, embriaga os nervos, produz turbao, vertigem, pode mesmo matar. 319 Em uma coisa, portanto, as duas partes de ambos os processos judiciais esto de acordo: a literatura um pharmakon, uma droga, que pode ser tanto veneno quanto remdio. Contudo, para a acusao, mesmo que as obras possam servir de remdio, a composio qumica (para continuar com a imagem medicinal) das duas em questo faz com que se paream mais a um veneno, devido aos efeitos colaterais, especialmente se forem ministradas para (ou seja, lidas por) aquelas jovens (a quem to bem fariam segundo a defesa de Flaubert):
317 318
El origen del narrador. p. 42; grifos nossos. Ibidem, p. 137; grifo nosso. 319 Ibidem, p. 138; grifo nosso.
158
uma vez que a imaginao foi seduzida, uma vez que esta seduo tenha chegado at o corao, e uma vez que o corao tenha falado aos sentidos, vocs crem que um raciocnio frio ser forte o bastante contra esta seduo do sentimento e dos sentidos? (...) o homem carrega consigo os baixos instintos e as idias enaltecedoras; e em todos ns a virtude no seno conseqncia de um esforo geralmente penoso. As pinturas lascivas exercem, em geral, mais influencia que os raciocnios frios. 320
O problema, desse modo, no seria pintar as paixes, mas pintlas sem freio e sem medida, pois sem uma regra, a arte deixaria de ser arte; seria como uma mulher da qual se tirasse toda a roupa. Impor arte a regra nica da decncia pblica no avassal-la, mas sim enaltec-la. S possvel elevar-se mediante uma regra. 321 interessante perceber que o promotor no nega a existncia dos quadros pintados pelos artistas, mas recrimina o fato de serem retratados em toda a sua nudez: no que no existam tais vcios, o problema que sejam exibidos, mesmo na presena de um desfecho moral. Esse argumento tem um antecedente de peso, Rousseau, que argumentava exatamente que O desfecho no apaga o efeito de uma pea, pois o efeito de uma tragdia e o de seu desfecho so completamente independentes!: h muita diferena entre mostrar maus costumes e atacar os bons: pois este ltimo efeito depende menos das qualidades do espetculo do que da impresso que provoca. 322 O problema no , desse modo, apenas o contedo, mas a forma em que ele aparece, a qual pode produzir um efeito que se descola da matria narrada (os sentidos sendo seduzidos pelo vcio reprovado segundo o raciocnio moral da obra). A simples exposio, a mera apario de vcios pode propag-los: cenas viciosas podem tornar-se viciantes. A regra da decncia pblica pela qual a arte deve elevar-se no apenas uma doutrina moral, qual, possivelmente, Flaubert e Baudelaire professariam, mas uma regra esttica: a forma diz mais ou tanto que seu contedo. por isso que o tribunal decide, mesmo inocentando Flaubert, que a misso da literatura deve ser a de enriquecer (...) o esprito elevando a inteligncia e depurando os costumes muito mais que a de inspirar o horror ao vcio
320 321
Ibidem, p. 42-43. Ibidem, p. 45-46. 322 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 70, 71 e 127.
159
apresentando o quadro dos extravios que podem existir na sociedade. 323 Para a censura, a literatura , no limite, propaganda, mesmo em sua forma, e deve depurar os costumes, corrigi-los pelo exemplo positivo, jamais pelo negativo, que pode, por sua prpria apario, produzir o mesmo vcio a que se prope combater. moral eterna e acima que a fico ensinara a Bovary, uma moral que consiste em deixar-se levar pelos afetos, a censura responde com uma elevao propiciada pela conteno, pelo decoro e respeito pela decncia pblica: contra a contaminao pelas imagens, os censores propem a depurao delas.
323
Ibidem, p. 128.
160
161
5. Guerras espirituais: eufemizao, o paradigma da censura
A contaminao poltica ia se agravar ao tornar-se espiritual. (Leopoldo Lugones) ESPANHA No existe censura: o que existe um Servio de Informao Bibliogrfica para evitar possveis prejuzos econmicos aos editores. No h gente que morre de fome: h pessoas que sofrem de insuficincias trficas devidas a insuficincias alimentares. No h luta de classes: h tenses sociais polarizadas em torno de partilhas desiguais da Renda Nacional. No h oposio episcopal: no se trata de tirar o bispo seno de modificar as estruturas hierrquicas que no so conscientes do compromisso com as linhas ps-conciliares. No h partidos polticos: h articulao de contrastes de opinies. No h subidas de preos: h reviso de tarifas. No h greve: h uma maneira de exteriorizar o conflito direto. No h epidemia de clera: h surtos estivais de diarrias. No se fala de anistia, seno da condenao de sanes. Etctera. (Joan Brossa)
162
5.1. Em uma srie de discursos proferidos no final da dcada de 1970, o almirante Emilio Massera apontava os motivos que teriam levado ao golpe militar que deps Isabelita Pern da presidncia da Argentina: Durante os ltimos trinta anos vem se desenvolvendo uma verdadeira guerra mundial, uma guerra que tem como campo de batalha predileto o esprito do homem. Segundo esse integrante da Junta Militar ditatorial, um ciclone quieto e sutil havia se deslizado pela emoo e pelo pensamento, destruindo primeiro a nitidez: Apodrecidos os limites das coisas, uma pesada neblina foi-se estendendo sobre os ncleos vitais de nosso universo. Devido fora subversiva (...) [da] exploso comunicadora, o homem deixou o lugar de protagonista, sendo substitudo nesse papel pela projeo do homem: as imagens comearam a dominar-nos e comearam a modificar-nos. (...) A imagem se independiza do modelo humano e paulatinamente comea a ser ela mesma o modelo social. Para Massera, teriam sido Marx, Freud e Einstein os responsveis pelas bases tericas da perda do sentido de verdade e totalidade e da passagem do homem racional ao homem sensorial, passagem que se veria com mais nitidez nos jovens, que
se tornam indiferentes ao nosso mundo e comeam a edificar seu universo privado (...), celebram seus ritos a msica, a roupa com total indiferena, e buscam sempre identificaes horizontais, desprezando toda relao vertical. Depois, alguns deles trocaro sua neutralidade, seu pacifismo ablico, pelo estremecimento da f terrorista, derivao previsvel de uma escalada sensorial de itinerrio ntido, que comea com uma concepo to arbitrariamente sacralizadora do amor (...) [e] Prossegue com o amor promscuo, se prolonga nas drogas alucingenas e na ruptura dos ltimos laos com a realidade objetiva comum e desemboca por fim na morte, (...) justificada pela redeno social que alguns manipuladores (...) lhes forneceram para que coroem com uma ideologia o que foi uma carreira enlouquecedora rumo a mais exasperada exaltao dos sentidos.
Desse modo, a guerra espiritual no teria poupado nem as palavras, [que] infiis aos seus significados, perturbavam o raciocnio: Quando se vive em um mundo como este, conclua Massera, em que os inimigos se mimetizam reciprocamente at confundir suas
163
identidades; quando o esquema selvagem impregna as conscincias, quando o simples fato de existir um ato de provocao, ento chegou a hora de dizer basta a esta abjeta Torre de Babel. 324 O basta, como sabemos, foi o Proceso de Reorganizacin Nacional, tambm conhecido simples e sintomaticamente como el Proceso, nome auto-proclamado da ditadura argentina, a qual instava seus cidados a identificar o lobo entre as ovelhas: na medida em que, segundo Videla, o inimigo no possui nem bandeira, nem uniforme (...) nem tampouco um rosto, e que S ele sabia que ele era o inimigo, os cidados eram convocados a tomar parte na guerra espiritual por meio da vigilncia e da desconfiana: Suas armas so seus olhos, seus ouvidos, e sua intuio. 325 Instaurada para fazer voltar a nitidez, a Verdade e o homem racional, para fazer com que as palavras voltassem a ter sentido, a ditadura argentina terminou criando, nas palavras de Marguerite Feitlowitz, um lxico do terror, do qual o vocbulo mais conhecido o termo desaparecido, eufemismo essa figura de linguagem preferida do poder e dos burocratas para os mortos e seqestrados em campos de concentrao pelo regime militar argentino. Os discursos de Emilio Massera so paradigmticos da estratgia adotada pelas ditaduras latino-americanas dos anos 60 e 70: no se tratava apenas de derrotar um modelo econmico, uma ideologia, a emergncia de setores sociais marginalizados e de foras polticas h muito reprimidas. Tratava-se tambm de buscar uma regulao dos corpos, dos costumes, das palavras, das imagens e do futuro, na figura dos jovens. Os anos 1960 e 1970, ainda hoje, so vistos como um perodo nico, em que a partilha do sensvel existente foi ameaada: a massificao da televiso, as teorias da informao, artistas que reelaboravam as vanguardas do comeo do sculo, novos costumes, novas formas dos corpos se mostrarem e se relacionarem. Poltica e moral, arte e vida pareciam confluir. Nas palavras de Z Celso Martinez Corra:
As revolues cultural e poltica encaminhavamse para se encontrar e para encontrar o povo.
324 MASSERA, Emilio E. El camino a la democracia. Caracas: El Cid editor, 1979. Foram citados trechos dos discursos El ciclon quieto y sutil (p. 47-51), pronunciado no Dia da Armada, em 1977; Discurso en la Universidad del Salvador (Buenos Aires) (p. 83-91); e La iconolatria subversiva (p. 69-78), proferido na Cmara Argentina de Anunciantes. 325 Citado em FEITLOWITZ, Marguerite. A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999. p. 23.
164
Quebraram-se os compartimentos de vrias reas de informao: elas comunicavam entre si, trocavam suas experincias e iam atraindo, com os seus trabalhos, cada vez mais gente. (...) Na rea poltica, a radicalidade das primeiras aes despertaram a simpatia popular. Os estudantes se encontraram com os operrios. 326
Se Carl Schmitt tem razo ao argumentar que no caso excepcional que podemos compreender melhor o fundamento e o funcionamento do caso normal (da regra), ento talvez possamos ver na censura de um dos regimes de exceo latino-americanos dessa poca o paradigma do funcionamento do poder censrio. 5.2. Em 1967, o Teatro Oficina encenou pela primeira vez O Rei da Vela. A pea, escrita por Oswald de Andrade em 1933, quando seu autor militava nas fileiras comunistas (no mesmo ano, declarou, no conhecido prefcio de Serafim Ponte-Grande, querer ser pelo menos casaca de ferro da Revoluo proletria 327), satirizava as desventuras do capitalismo na periferia global. Publicada em 1937, era repleta de implementos formais anti-ilusionismo, interpelao do pblico, intertextualidade, hibridismo de gneros, metalinguagem (um dos personagens O Ponto) quando a tnica da poca no Brasil era o teatro de costumes. O personagem Abelardo I, dono de uma indstria de velas e agiota, cuja fortuna construiu base do roubo e da corrupo, quer se casar com Helosa (de Lesbos) para obter o status social da famlia oligrquica-latifundria desta (retratada com todos os tons da decadncia). Uma tal aliana entre Ordem e Progresso (para usar o lema positivista da bandeira de nosso pas) conta com a aprovao de Mister Jones (O Americano), verdadeiro controlador dos empreendimentos de Abelardo I cabe a ele at mesmo o direito de pernada, a noite de npcias. Porm, na ltima hora, Abelardo I trado por seu scio/funcionrio Abelardo II (chamado de socialista, numa clara crtica stalinista a toda forma de comunismo no-ortodoxo), que lhe arrebata criminosamente a fortuna e o casamento, pois Helosa ser sempre de Abelardo. clssico! tudo sob as bnos dO Americano,
MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato. p. 131. ANDRADE, Oswald de. Serafim Ponte Grande. 9. ed. Estabelecimento de texto de Maria Augusta Fonseca. So Paulo: Globo, 2007. p. 58.
327
326
165
a quem cabe a ltima palavra da pea Oh! good business!. 328 A pea realiza um diagnstico bem acabado da mercantilizao do homem, como agudamente percebeu Graciliano Ramos, constituindo, segundo Gonzalo Aguilar, um instrumento de dissecao dos sujeitos e de seu desejo em uma sociedade entregue ao automatismo da mercadoria 329: o mesmo substituindo o mesmo incessantemente. De alto teor poltico, o happening tupi, como um dos espectadores definiu a encenao, consagrou o grupo do diretor Z Celso de Martinez Corra, convertendo-a em marco do ambiente cultural a que se daria o nome de Tropicalismo. De fato, em seu depoimento, que consta nas Opinies do Pblico sobre o espetculo, datado de novembro de 1967 330, Caetano Veloso declarava que s compunha depois de ter visto O Rei da Vela (...) a coisa mais importante que eu vi. O Brasil. O Rei da Vela tornava legvel no s uma srie de intervenes artsticas do perodo, mas a prpria condio perifrica: na pea at os nomes dos personagens (Abelardo I e Abelardo II e, igualmente, O Cliente, A Secretria, O Americano) indicam que o sujeito se converte em funo a cumprir: todos podem ser substitudos, mas o papel a ser desempenhado continua. A frmula teatral do Oficina, o te-ato, visava justamente mostrar o teatro nas relaes humanas, ou seja, questionar a assuno voluntria de papis por parte de atores no jogo poltico:
Quando voc descobre o teatro nas relaes humanas voc tira as mscaras. (...) Te-ato uma atuao exatamente de desmascaramento do teatro das relaes sociais. Desmascaramento do teatro que existe a partir das relaes sociais, de filho com a me, de pai e filho, patro e empregado etc. Nesse desmascaramento, o te-ato provoca uma nova conscincia fsica da existncia. No uma experincia intelectual, mas sim uma experincia com o corpo que passa por uma ao real. uma coisa mais prxima de Artaud, ou ento de macumba, ou de dana primitiva. alguma coisa que provoca e tem a pretenso de provocar uma As citaes da pea foram extradas de ANDRADE, Oswald de. O Rei da Vela. So Paulo: Globo, 2004. 329 AGUILAR, Gonzalo. Por una ciencia del vestigio errtico. Seguido de La nica ley del mundo (de Alexandre Nodari). Buenos Aires: Grumo, 2010. p. 73. 330 O documento nunca foi publicado, e encontra-se no arquivo do prprio Teatro Oficina, onde obtive uma cpia.
328
166
mudana fsica. atravs da ao que voc chega a mudar alguma coisa. E no te-ato h isso, essa crena de que o homem que muda o homem. 331
Desse modo, o Oficina buscava reforar a forte carga poltica do texto e o seu mau gosto intrnseco 332 com o o poder de subverso da forma pelo qual se estabelecia uma relao de luta (...) entre atores e pblicos: A pea agride intelectualmente, formalmente, sexualmente, politicamente. Isto , chama muitas vezes o espectador de burro, recalcado e reacionrio. E a ns mesmos tambm. 333 A estratgia, que chegou a ser chamada, pejorativamente, de teatro da agresso, e equiparada ao teatro da crueldade de Artaud, visava uma reao, uma resposta do pblico, o que j restava claro em um anncio da pea, em que se lia VOC VAI AMAR OU ODIAR! Ateno: quadrados
MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato. p. 321. O valor paradigmtico da encenao dO Rei da Vela para o Tropicalismo e do Tropicalismo para a cultura brasileira reside aqui. Toda uma srie de proposies, que vo desde o jaguno civilisado de Araripe Jr. (de posse da eletricidade, [o jaguno] ter sobre o estrangeiro a vantagem de conhecer no s os caminhos secretos da vida interior, mas tambm de saber que so de pedra os monstros, que fazem esgares das torres da velha catedral e no obstante assustam os desprecavidos que ali penetram), passando pela Antropofagia (O que atropelava a verdade era a roupa, o impermevel entre o mundo interior e o mundo exterior. A reao contra o homem vestido. O cinema americano informar, como lemos no Manifesto Antropfago, de Oswald de Andrade), at chegar nos Parangols, de Hlio Oiticica (se eu vou para a rua feito doido de CAPA pra dar pra vestir, eu vou pra DAR DE VESTIR: a capa veste e desnuda ao mesmo tempo), e na Tropiclia (Rogrio Duarte psicografaria Gilberto Gil, em 1968, no texto da contra-capa do lbum deste: Qual a fantasia que eles vo me pedir que eu vista para tolerar meu corpo nu? Vou andar at explodir colorido. O negro a soma de todas as cores. A nudez a soma de todas as roupas) se condensam no te-ato dO rei da vela: a fico mostraria o substrato ficcional da vida e, com isso, se converteria em meio de transform-la. Dito de outro modo: a alocao, em esferas separadas, da arte e da poltica, era questionada. 332 Ele [Oswald de Andrade, em O Rei da Vela] deflorou a barreira da criao no teatro e nos mostrou as possibilidades do teatro como forma, isto , como arte e antiarte. Como expresso audiovisual. E principalmente como mau gosto. nica forma de expressar o surrealismo brasileiro. Fora Nelson Rodrigues, Chacrinha talvez seja seu nico seguidor, sem sab-lo (MARTINEZ CORRA, Jos Celso. O Rei da Vela: Manifesto do Oficina. Em: ANDRADE, Oswald de. O Rei da Vela. pp. 21-29; citao na pgina 26). 333 MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato. p. 112.
331
167
festivos pudicos NO VENHAM!. 334 E, de fato, a montagem produziu efeitos. O mencionado documento do Oficina, que contm as Opinies do Pblico sobre o espetculo entre as quais encontramos depoimentos de artistas, estudantes, professores, operrios, capitalistas, annimos, e at mesmo de um diplomata, que declarou, simplesmente: Horroroso , revela um compsito de reaes heterogneas. A comear pelo ponto de vista esttico: se, por um lado alguns estudantes destacam seu valor de retrato da realidade do seu tempo, da autenticidade do ambiente scio-econmico que vivemos, da verdadeira realidade brasileira, de nossa realidade em [19]67, ou seja, o seu carter representativo e didtico H muito tempo que no se faz coisa to real ; por outro, dois espectadores o relacionaram ao dadasmo: um annimo, de forma pejorativa, caracterizou a pea como sendo dadasmo caboclo, uma volta verborragia futurista; por sua vez, o artista Nelson Leirner conferiu encenao o mesmo significado que dentro das artes o dadasmo teve para com o mundo contemporneo. Do mesmo, a atualidade da pea ora ressaltada como flagrante, como vimos, ora negada por repetir velhos chaves dos anos 1930, dcada em que foi originalmente publicada, estando superada e ligada aos crculos da esquerda irresponsvel de 1964, em uma referncia explicao oficial sobre o golpe militar daquele ano. Se a maioria das opinies favorvel, h tambm vrias negativas faccioso, Demagogia, Merda, Fogo! (no palmas), etc. , bem como acusaes de imoralidade imoral pelo simples fato de quer[er] ser imoral , e desrespeito a presena do espectador. Neste ltimo ponto, confluem tanto as opinies contrrias quanto as favorveis: o happening tupi cumpria a proposta do te-ato, como se v pelos adjetivos constantemente invocados pelo pblico: incmodo, chocante, arrepiante, mordaz, cruel, destruidora, etc. Era o valor do choque, do efeito produzido pelo poder subversivo da forma que estava em jogo: por um lado, aqueles que acreditavam que isso de nada contribua para a reorganizao da grande Ptria; por outro, os que achavam que a pea era O melhor que se pudesse fazer para acordar as platias adormecidas e no completo marasmo. Quando encenada pela primeira vez j durante a ditadura militar instaurada em 1964, O Rei da Vela sofreu com a censura 335: primeiro, os
Ibidem, p. 104. A dramaturgia de Oswald de Andrade inseparvel da censura a que foi submetida. Em 1934, policiais grilos, como eram chamados fecharam o espao, de nome sugestivo, onde seria encenado O Homem e o Cavalo: o
335 334
168
rgos censores determinaram o corte da cena em que o protagonista era empalado, e apreenderam um canho de luz gigante que servia de pnis a um boneco, sob a justificativa de ser material subversivo. 336 Mais tarde, depois do Ato Institucional n.5 337, a pea foi integralmente
Teatro da Experincia, idealizado por Flvio de Carvalho. Mais tarde, em 1972, a mesma pea receberia parecer negativo dos censores da ditadura militar: a tcnica de censura Maria Luiza Barroso Cavalcanti (...) destacou dois pontos fundamentais com implicaes no campo da segurana nacional: o texto teatral, no campo poltico, apresentava apologia ao comunismo, enaltecia o regime sovitico e exaltava a revoluo do proletariado; na esfera moral, evidenciava tese antirreligio e anticristo. Em resumo, a censora federal considerou a fora do argumento e o poder de convencimento de O Homem e o Cavalo como elementos atentatrios segurana nacional (SOUZA, Miliandre Garcia de Souza. Ou vocs mudam ou acabam: aspectos polticos da censura teatral (1964-1985). Topoi Revista de Histria (UFRJ). v. 11, n. 21. Rio de Janeiro: jul-dez/2010. pp. 235-259; citao: p. 240). Em 1967, mesmo ano da encenao pioneira de O Rei da Vela, outra pea (ou melhor, os mistrios gozosos moda de pera chamados de O santeiro do Mangue), foi proibida de circular como separata da revista Mirante das Artes no aparecendo, tambm devido censura, nas suas Obras completas, que saram em 1971. Nela tambm um programa poltico se traduz em afrontas ao conservadorismo moral, usando de pardias Igreja Catlica o po nosso de cada dia se converte em o pau nosso de cada noite para tratar do esgoto sexual da burguesia, a zona de prostituio carioca conhecida como Mangue. Em 1995, O Santeiro do Mangue foi encenado pelo Oficina em Araraquara, o que rendeu ao grupo um processo por vilipendiar atos e objetos de culto religioso pois, na encenao da comunho do corpo de Cristo, a hstia era substituda por uma banana, em outra referncia flica , acusao da qual o grupo s foi inocentado em 2000. 336 Com o boneco, no se fazia referncia somente subsuno, presente no texto da pea, do sexo aos interesses econmicos, mas se criava uma nova acepo para o significante vela: alm do atraso, do colonialismo, do casamento entre tradio e modernidade, a vela como falus, insgnia do patriarcalismo, como lemos no Manifesto do Oficina (MARTINEZ CORRA, Jos Celso. O Rei da Vela: Manifesto do Oficina. p. 24). 337 O artigo 9 desse ato que decretou o golpe dentro do golpe facultava ao Presidente da Repblica (...) adotar, se necessrio defesa da Revoluo, as medidas previstas nas alneas d e e do 2 do art. 152 da Constituio de 1967, ou seja, a suspenso da liberdade de reunio e de associao (alnea d) e a censura de correspondncia, da imprensa, das telecomunicaes e diverses pblicas (alnea e). O prprio regime revelou, no famoso julgamento sobre o censura da revista Opinio, que era esse o fundamento jurdico da censura ps68. poca, at mesmo certos juristas no entenderam o amparo legal da censura, na medida em que o 2 art. 152 da Constituio se referia s medidas que s podiam ser tomadas no estado de stio, o qual no havia sido
169
proibida. Contudo, o mais intrigante que, feitas algumas alteraes nos dilogos que no modificam a trama e o tom satrico, a censura autorizou que fosse levada aos palcos novamente. Assim, por exemplo, depois da censura, o termo renovao substitui o mais carregado ideologicamente Revoluo Social. Mesmo que a ditadura houvesse se iniciado com a auto-intitulada Revoluo de 64, a palavra remetia de modo mais forte ao iderio de esquerda; j renovao possui uma grande dose de ambigidade no cenrio poltico, podendo tanto remeter a um programa progressista, quanto a uma proposta conservadora e o prprio partido de apoio ao regime militar se chamava Aliana Renovadora Nacional (ARENA). A maioria das alteraes visava retirar referncias diretas a certos sujeitos, passando-as ao impessoal. Assim, A polcia me perseguiria d lugar a Eles me perseguiriam. Depois da censura, a guerra contra a Rssia se torna uma guerra contra eles. O carter conflitual e poltico das relaes sociais tambm se esfuma: uma multido de trabalhadores para nos dar a nota fica sendo uma multido para nos ajudar; algum comunista morto num comcio se converte em algum morto num comcio. O que se deve sublinhar novamente que, no contexto da pea, tais alteraes no escondem tanto o que apagam formalmente. Isto fica mais evidente quando o estatuto de colnia econmica do Brasil no omitido pela censura, que faz questo, apenas, de apagar os nomes dados aos imperialistas: Os ingleses e os americanos temem por ns passa a ser Todos temem por ns. Todavia, o personagem chamado O Americano, ou Mr. Jones, no foi cortado da pea; ao contrrio, mesmo com a censura, continua controlando as peripcias dos capitalistas brasileiros e continua cabendo a ele a ltima frase: Good business!. Uma alterao, destarte, sintomtica do procedimento censrio: a substituio de um tosto de cada morto nacional por um tosto de cada um que se vai: uma eufemizao. Nas palavras do diretor do Oficina: Eles [os censores brasileiros responsveis pelas alteraes aO Rei da Vela] reescreveram algumas palavras do texto, colocando palavras mais fracas. Fizeram
formalmente decretado. Mas o pulo do gato do AI-5 consistia justamente em liberar juridicamente os poderes de exceo: atravs dele, o regime podia fazer uso dos poderes do estado de stio fora do estado de stio, julgando caso a caso a necessidade das medidas em defesa da Revoluo. No era preciso decretar o estado de stio, o AI-5 era a decretao do estado de stio, a normalizao da ditadura militar como exceo permanente.
170
igual ao que acontece na Unio Sovitica, onde os textos so alterados. 338 A preocupao excessiva com os significantes, as palavras e a forma no uma excrescncia da nossa ditadura, mas o modus operandi de sua prtica censria. De fato, conhecida a obsesso da censura por cortar palavres por vezes, os artistas os incluam em grande nmero para garantir que alguns passassem pelo crivo , ou substitu-los (fodase por dane-se, por exemplo). A ateno aos significantes s vezes beirava ao absurdo, como na substituio de lavagem por enema em uma encenao de O doente imaginrio, ou na supresso de eczema em outra pea. 339 Caetano Veloso sofreu com esse tipo de obsesso do aparato repressor pela forma, pelo significante. No seu livro Verdade Tropical, o msico tropicalista relembra uma conversa, de quando estava preso, que travou com um capito militar treinado nos EUA, o qual citava Freud e Marcuse:
O rei da vela e a revoluo social. Luz & Ao: jornal da Cooperativa Brasileira de Cinema. s/d. p. 5. Curiosamente, o eufemismo encontrado pra feudal e semi-colonial foi tropical. Para um elenco maior das alteraes textuais impostas pelos rgos censores (ou negociados entre estes e o Teatro Oficina) pea, cf. MAGALDI, Sbato. Teatro da ruptura: Oswald de Andrade. So Paulo: Global, 2004. pp. 102-108. Sobre a censura nos regimes soviticos e socialistas reais, interessante notar que, em muitos casos, no havia rgos explcitos de censura, mas sim de planejamento da atividade literria, de tal modo que seus integrantes, na medida em que planificavam a literatura da mesma maneira que se fazia com a economia, sentiam-se legitimados a sugerir (o que equivalia a impor) alteraes. Cf. DARNTON, Robert. O significado cultural da censura: a Frana de 1789 e a Alemanha Oriental de 1989. Como se sabe, a forma artstica privilegiada que a URSS adotou a partir do primeiro Congresso de Escritores Soviticos, realizado em 1934 com a organizao de Andrej Zdanov, foi o realismo socialista, que se amparava na tipicidade exemplar de personagens e situaes. Uma das fontes dessa concepo Engels, o qual formulava que o realismo (...) implica, alm da verdade do detalhe, a verdade na reproduo de personagens tpicos em circunstncias tpicas (citado em JANSEN, Sue Curry. Censorship: the knot that binds power and knowledge. Nova Iorque: Oxford University Press, 1991. p. 234; n. 20). Por meio do tipo exemplar, o romance sovitico servia de propaganda ideolgica da virtude socialista e de pedagogia do regime. 339 Para mais exemplos de censura teatral, cf. COSTA, Cristina. Censura em cena: teatro e censura no Brasil: Arquivo Miroel Silveira. So Paulo: EdUSP; FAPESP; Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, 2007.
338
171
[O capito] Referiu-se a algumas declaraes minhas imprensa em que a palavra desestruturar aparecia, e, usando-a como palavra-chave, ele denunciava o insidioso poder subversivo do nosso trabalho. Dizia entender claramente que o que Gil e eu fazamos era muito mais perigoso do que o que faziam os artistas de protesto explcito e engajamento ostensivo. 340
Com relao ao controle da imprensa, tambm havia censura que no dizia respeito ao contedo, mas forma em que ele era transmitido. Assim, proibia-se a divulgao de notcias tendenciosas, vagas ou falsas, e o uso de termos como fonte fidedigna, pessoa ou poltico bem informado, fontes autorizadas da Presidncia, etc. 341 Os assaltos a bancos promovidos pela guerrilha por vezes podiam ser noticiados, desde que se resumisse o mais possvel e nas pginas internas dos jornais peridicos. Uma Recomendao para a imprensa escrita, falada e televisada ordenava No publicar manchetes ou ttulos, que chamem a ateno do pblico, referentes a crimes, nem estampar fotografias que despertem a concupiscncia ou atentem contra a moralidade da famlia brasileira, sejam obscenas ou deprimentes (...). vedada a descrio minuciosa do modo de cometimento de delitos. 342 No foi toa, portanto, que Cristina Costa tenha argumentado que A negociao pelas palavras a moeda do processo censrio. 343 Como entender essa preocupao da censura com a forma para alm do contedo, com o significante para alm do significado? Como entender a cotao dessa moeda? 5.3. Pode ser que seja s o leiteiro l fora, pea de Caio Fernando Abreu, geralmente associado contracultura, encena a noite de um grupo de jovens alternativos e desabrigados que buscam refgio numa casa abandonada. Nela, no h meno explcita ao regime militar. Pelo contrrio, a hiptese de um holocausto e do fim do mundo que aparece
VELOSO, Caetano. Verdade tropical. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 393. 341 Cf. KUSHNIR, Beatriz. Ces de guarda jornalistas e censores do AI-5 Constituio de 1988. So Paulo: Boitempo; FAPESP, 2004. p. 108, 118. 342 Cf. FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrneos da ditadura militar espionagem e polcia poltica. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 171, 172; negrito no original. 343 COSTA, Cristina. Censura em cena. p. 247.
340
172
na pea fruto do devaneio dos personagens causado pelo consumo de drogas. Entretanto, a cena final parece recriar o clima instalado pela ditadura: amanhecendo, ouve-se batidas na porta da casa, e um dos personagens, o mais paranico, acredita ser a polcia; os demais, alucinados, comeam a se assustar; as batidas continuam e o autor sugere que a pea s termine quando os atores e/ou a platia estiverem cansados. Ou quando algum bater na porta avisando que amanheceu e o teatro precisa ser fechado. 344 O clima psicolgico de perseguio ainda que fosse causado pela parania e/ou delrio dos personagens foi suficiente para que a pea fosse censurada. Era com base na idia de uma guerra psicolgica adversa que essa e muitas outras censuras eram realizadas durante o regime militar. Por exemplo, na dcada de 1970, uma pea do Teatro Oficina criou uma polmica entre a Polcia Federal de So Paulo, a favor da censura da pea, e a Polcia Federal de Braslia, que queria estudar a aplicao de tcnicas de hipnotismo do pblico, as quais o grupo teria supostamente aprendido na China. E, mais tarde, os integrantes do Oficina foram, de fato, presos por praticar subverso por hipnotismo. 345
ABREU, Caio Fernando. Teatro completo. Organizao de Lus Artur Nunes e Marcos Breda. Rio de Janeiro: Agir, 2009. p. 95. 345 MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato. p. 324. Em 1974, os integrantes do Teatro Oficina foram presos tambm por trfico de drogas. O jornal Notcias Populares, de 22 de abril daquele ano, noticiou a priso com as manchetes: Artistas presos no embalo da boleta Teatro Oficina era o QG dos txicos. H inmeros outros casos de censura e/ou perseguio motivados pela guerra psicolgica adversa (entre as quais, a j mencionada priso de Caetano). Alguns hoje parecem cmicos, como esses relatados por Carlos Fico: Em 1973, palavras de ordem da esquerda foram carimbadas em cdulas de 1 e 10 cruzeiros: para a comunidade de informaes tratava-se modificao sofisticada da propaganda adversa. (...) A logomarca da 29 Reunio da SBPC realou as letras PC. Por isso, foi alvo de percuciente estudo por parte dos agentes de informaes do Ministrio da Justia, que destacava: A estimulao sensorial prescinde da compreenso imediata de seu contedo. A persistncia de uma estimulao, mesmo no compreendida imediatamente, predispe a mente humana para uma rpida e eficaz compreenso da mensagem, quando desvendada. Sob esse ponto de vista, a publicao do logotipo da SBPC se caracteriza, nitidamente, como propaganda subliminar do Partido Comunista (FICO, Carlos. Como eles agiam. p. 73). Para dar um exemplo do campo teatral: a censora Vilma Helena Domingos Ribeiro considerou que, em uma pea, a repetio de expresses no texto constitua tcnica de propagao ideolgica (SOUZA, Miliandre Garcia de Souza. Ou vocs mudam ou acabam: aspectos polticos da censura teatral. p. 247).
344
173
As trs Leis de Segurana Nacional promulgadas pela ditadura de 1964 (a de 67, a de 69 e a de 78) conceituaram a guerra psicolgica adversa do seguinte modo: o emprego da propaganda, da contrapropaganda e de aes nos campos poltico, econmico, psicossocial e militar, com a finalidade de influenciar ou provocar opinies, emoes, atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecuo dos objetivos nacionais 346, uma traduo literal da definio utilizada pelo Departamento de Estado dos EUA. O AI-14 chegou at mesmo a prever a possibilidade de pena de morte, de priso perptua, [e] de banimento para os atos de guerra psicolgica adversa (...) que (...) mantm [o pas] em clima de intranqilidade e agitao. O que estava em jogo na guerra psicolgica pode ser melhor compreendido no confronto textual entre as Leis de Segurana Nacional do regime de 1964 e aquelas que lhes so anteriores e posteriores. Em todas, probe-se propaganda de guerra ou de meios violentos visando subverter ou alterar a ordem poltica ou social. Todavia, s nas Leis de Segurana Nacional do regime de 1964 no encontramos a clusula que permite a exposio, o debate ou a crtica de doutrinas. Poderamos dizer que no lugar desta clusula excludente que aparece a guerra psicolgica, ausente nas demais Leis de Segurana Nacional. A mera exposio deixa de ser encarada como mera exposio para se tornar propaganda. A linguagem vista pelos integrantes do regime militar no como uma ferramenta de comunicao racional, mas como veculo de propagao de efeitos. A ateno se volta no s para o que enunciado, mas para o modo em que enunciado. De alguma maneira, o discurso produzido pela ditadura repetia aquela verdade enunciada por McLuhan: o meio a mensagem. 347 A centralidade da guerra psicolgica adversa para a ditadura brasileira visvel tambm na ltima reunio do Conselho de Segurana Nacional antes da que decidiu pela decretao do AI-5. Em pauta, estava a discusso do Conceito Estratgico Nacional, documento cuja importncia j foi ressaltada por Carlos Fico 348 e que pretendia fornecer
346 A definio encontra-se no art. 2, 2 dos Decreto-lei 314 (13/3/1967) e 898 (29/9/1969) e no art. 3, 2 Lei 6620 (17/12/1978). 347 Cf. o clssico McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicao como extenses do homem (Understanding Media: The Extensions of Man). Traduo de Dcio Pignatari. So Paulo: Cultrix, 1971. 348 FICO, Carlos. Como eles agiam. pp. 78-79. A ntegra do esboo do Conceito Estratgico Nacional, bem como da ata da reunio do Conselho de Segurana
174
as diretrizes da ditadura e apontar as ameaas a ela, que eram chamadas de Presses Dominantes. interessante notar o que Emlio Garrastazu Mdici, futuro presidente e poca chefe do Servio Nacional de Informaes (SNI), argumentou a respeito da Presso Comunista: A poltica governamental tem conseguido controlar de maneira efetiva o sentido ideolgico dessa presso, mas ainda carece do estabelecimento de uma estratgia adequada para enfrentar os novos processos da Guerra Revolucionria Mundial conduzida pelo Movimento Comunista Internacional (...) que esconde seu carter ideolgico e objetiva, basicamente, a subverso. Ou seja, a Presso Comunista em si no representava perigo, mas poderia se aproveitar dos efeitos das demais presses (scio-econmica, poltica nacional, econmica, etc.). Esse argumento se mostrava j no vocabulrio utilizado pelos presentes reunio: a Presso Comunista estimula, deforma, explora racionalmente as vulnerabilidades, cria um clima perigosamente emocional, etc. Tal vocabulrio, j presente na definio da guerra psicolgica pelas Leis de Segurana Nacional do regime, remete a uma lgica sensorial, corporal, de contgio, e afasta-se do palavrrio referente ideologia e conscincia (convencer, enganar, etc.). No havia, aos olhos do regime, o perigo do comunismo conscientizar ideologicamente as massas, mas sim o de criar um clima perigosamente subversivo. Da que, para Mdici, a Presso Comunista fosse responsvel pela guerra psicolgica desencadeada sobre o alvo mais sensvel da estratgia defensiva democrtica, que a opinio pblica (...) o que talvez torne eis o pulo do gato impositiva a reviso do amplo conceito de liberdades
Nacional que o discutiu, em 26 de agosto de 1968, pode ser lida no site do Arquivo Nacional (http://www.arquivonacional.gov.br). A ata deixa clara a inter-relao entre guerra fria e guerra psicolgica. Havia um claro conhecimento de que a possibilidade da Destruio Mtua Assegurada (MAD) entre EUA e URSS implicava um novo Tratado de Tordesilhas (a expresso de Jos de Magalhes Pinto, do Itamaraty, e mais conhecido por sua oposio ao Tratado de No-Proliferao Nuclear), no qual a guerra global entre os dois blocos no tinha a menor chance de acontecer. Desta maneira, na sua interveno, o Ministro da Justia, Lus Antnio da Gama e Silva, sugeria que se acrescentassem, entre as Presses Dominantes, a Presso da Guerra Psicolgica, que tambm a Presso da Guerra Revolucionria, pois Embora do contexto se infiram essas presses, tm elas hoje tal importncia, que no devem deixar de ser referidas. J que, em virtude da bomba atmica, a guerra convencional est sendo afastada, sobre ns agem todos os elementos, atravs dessas presses psicolgicas e revolucionrias.
175
democrticas, para limit-las dentro de faixas definidas, considerando os magnos interesses da Segurana Nacional. Estava aberto o caminho para o AI-5, instrumento autorizador da censura que era a principal arma da ditadura na guerra psicolgica pela opinio pblica. 349 A idia de guerra psicolgica como legitimadora da censura permite desfazer um mal-entendido comum queles que se debruam sobre o assunto: a separao entre censura moral e censura poltica. De fato, havia um aparato totalmente dedicado censura moral antes do regime de 1964. Porm, a ditadura no apenas somou uma censura poltica a essa censura moral; a ditadura tambm politizou a censura moral, ou melhor, demonstrou a inseparabilidade entre ambas, a politicidade intrnseca da censura moral. 350 Isso visvel em diversos
Como se sabe, antes de 1968, a censura no possua a onipresena que adquiriu depois do AI-5. As causas so inmeras: setores da sociedade civil, como alguns intelectuais e muitos veculos de comunicao, apoiaram o golpe; as fogueiras de livros, como a ocorrida em Florianpolis com os livros da chamada Livraria do Salim; as cassaes e demisses; o fechamento de sindicatos e associaes estudantis; em suma, as medidas de terror que tiveram lugar logo aps o golpe cortaram, nas palavras de Roberto Schwarz, as pontes entre o movimento cultural e as massas (SCHWARZ, Roberto. O pai de famlia e outros estudos. 2. ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 72). Todavia, ao contrrio do que diagnosticava Schwarz, a efervescncia poltica e cultural entre 1964 e 1968 ameaou construir mais uma vez e de outra forma essas pontes. 350 Uma rpida olhada na lista de livros proibidos entre 1974 e 1978 d uma dimenso da polivalncia dos tentculos censores e da impossibilidade de separar censura moral da censura poltica, bem como da dificuldade em se limitar esta ltima a critrios ideolgicos em sentido estrito. Por um lado, encontramos, como era de se esperar, ttulos de polticos e pensadores marxistas, como Lenin, Trotsky, Mao, Che Guevara, Frantz Fanon, Althusser, Eduardo Galeano, bem como livros sobre guerrilha, sobre a revoluo cubana e sobre regimes socialistas, alm de anlises scio-econmicas de intelectuais brasileiros ligados esquerda, tais como Nelson Werneck Sodr, Darcy Ribeiro, Caio Prado Jr., e o ex-esquerdista Jos Serra. Todavia, preciso notar, por outro lado, que a imensa maioria de livros era censurada para preservar a moral e os bons costumes: assim, foram proibidos, entre muitos outros, ttulos como Adelaide, uma enfermeira sensual, A aliciadora feliz, O amante insacivel, Amor a trs, Anatomia de uma prostituta, Como aumentar a satisfao sexual, Copa mundial do sexo, os livros da srie Emanuelle, o Dicionrio de palavres e termos afins, a Filosofia de alcova ou escola de libertinagem, do Marqus de Sade, o Guia para o amor sensual, o cmico H muito no tenho relaes com o leito, o Photo manual of sex intercourse, alm de 13 livros cujo ttulo se inicia com a palavra sexo. Alm disso, na lista encontramos autores renegados
349
176
discursos produzidos por partidrios do regime, como um de Aurlio Campos (na Assemblia Legislativa de So Paulo, em 20 de junho de 1968) em que ele afirma que o que os esquerdinhas festivos (...) objetivam agredir o regime democrtico, muito mais que defender a liberdade de pensamento. Entendem eles que instilando a desagregao nos costumes tradicionais, atravs da obscenidade e da pornografia nas peas de teatro, estaro preparando o Brasil para a Revoluo social. 351 A guerra psicolgica tambm permite entender melhor a
at pela esquerda ortodoxa, como Lvi-Strauss, e mesmo ttulos nazi-facistas, como Mein Kampf, de Hitler e os Protocolos dos Sbios de Sio, pattico relato forjado da conspirao judia para dominar o mundo. Somando a isso os contos e romances de Rubem Fonseca, poca diretor de uma multinacional, e conhecido pelas suas fices sobre a violncia e criminalidade urbana, e a fico cientfica Zero, de Igncio de Loyola Brando, fica difcil entender essa compsita lista adotando uma ciso entre censura poltica e censura moral. A lista aqui utilizada como referncia est contida em SILVA, Deonsio da. Nos bastidores da censura. p. 291-305, que est longe de ser definitiva. Apesar da censura a livros, filmes e peas de teatro ter sido bastante burocratizada, havia certa desorganizao no tocante a competncia da cada rgo (cf., por exemplo, CAROCHA, Maika Lois. A censura musical durante o regime militar (19641985). Histria: questes e debates. n. 44. Curitiba: Editora UFPR, 2006. pp. 189-211; especialmente pp. 198-200), o que dificulta um levantamento preciso. Some-se a isto o fato de que o nmero de pesquisas com os arquivos do aparato censor pequeno, ainda que esteja crescendo exponencialmente. 351 Cf. MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato. p. 123. Esse tipo de discurso, por mais obtuso que parea retrospectivamente, era comum poca. Drogas e sexo misturavam-se subverso comunista. Veja-se esses trs exemplos levantados por Fico: [1] o uso da droga se constitui num degrau da subverso, face degradao moral a que conduz o viciado (...) [2] a toxicomania no pode deixar de ser encarada, tambm, como a mais sutil e sinistra arma do variado arsenal do movimento comunista internacional, empregada cada vez em maior escala, em suas contnuas e quase sempre clandestinas atividades em busca do domnio do mundo (...) [3] o baixo nvel scio-econmico [e outras razes] fecham um crculo vicioso de prostituio, de vcio e da prtica sexual aberta que, fatalmente, levam indiferena, abrindo caminho prpria subverso (FICO, Carlos. Como eles agiam. p. 187-188). H de se notar que esse discurso era (re)produzido tambm pela sociedade: existia um desejo pela censura e pela represso como um todo por grande parte da populao. Salim Miguel costuma insistir que o golpe de 1964 no foi um golpe puramente militar, mas civil-militar. Parte da sociedade civil o que quer que seja isso criou as condies da deposio de Joo Goulart e apoiou o novo regime. O Estado de S. Paulo at hoje considera o golpe de 64 um ato em defesa da democracia, ainda que discorde dos rumos que o regime
177
preocupao da censura com a forma, com o modo como os crimes aparecem nos jornais, com o modo como as palavras so pronunciadas no teatro. Na proibio do sensacionalismo, na substituio de certas palavras fortes por mais fracas ou genricas, parece estar em jogo uma tentativa de neutralizar os efeitos sensveis, diminuir a sua intensidade, evitar que o dizer e o mostrar se propaguem para alm da esfera em que so enunciados. Desse modo, se, nas palavras de um chefe do Servio de Censura e Diverses Pblicas, Geov Lemos Cavalcante, era notria a campanha, encetada por faces ideolgicas, que visa a debilidade psquica e moral das naes ainda no dominadas, com a finalidade de implantar regimes e ideologias aliengenas, campanha que teria como um de seus instrumentos peas que primam pela pregao da dissoluo de costumes 352, isto no implicava necessariamente apenas uma postura proibitiva. Os censores, como co-autores, poderiam mitigar os efeitos de obras, reescrevendo-as. As alteraes recomendadas por uma censora pea O Abat-jour Lils, de Plnio Marcos, demonstram com total clareza o objetivo eufemizantes de tais reescrituras:
do ponto de vista censrio, entendemos que a periculosidade maior est na cena final de tortura, tomou. Beatriz Kushnir demonstrou como a Folha da Tarde atuou no front do regime, com jornalistas servindo como Ces de guarda, e at mesmo indivduos isolados escreviam para os censores pedindo mais rigor, e o que nos interessa mais aqui assinalando o entrelaamento entre vcio moral e subverso, corrupo moral e corrupo poltica. Quatro exemplos de cartas censura nesse sentido: 1) o comunismo comea no pela subverso poltica. Primeiro, ele deteriora as foras morais, para que, enfraquecidas estas, possa dar o seu golpe assassino; 2) vivemos uma guerra total, global e permanente, e o inimigo se vale do recurso da corrupo dos costumes para desmoralizar a juventude do pas e tornar o Brasil um pas sem moral e respeito; 3) Essa a ttica dos inimigos da Ptria, solapar a famlia, corromper a juventude, disseminar o amor livre, a prostituio e toda sorte de degradao do povo. Feito isso, nada mais precisa ser feito para se dominar um Pas; 4) O estudante, antes normal, torna-se um viciado, escravo, nervoso, excitado sexual, descuidado no vesturio ou hippie, pois enfraquece o sistema nervoso por tanta excitao contnua em acordes dissonantes e sem emoo, pois ns todos temos que ter uma vlvula de escape (citaes retiradas de FICO, Carlos Prezada censura: cartas ao regime militar. Topoi Revista de Histria (UFRJ). n. 5. Rio de Janeiro: dez/2002. pp. 251-286; citaes nas pginas 261 e 272). 352 Citado por: SOUZA, Miliandre Garcia de Souza. Ou vocs mudam ou acabam: aspectos polticos da censura teatral. p. 240.
178
exagerada e gratuita, feita em moldes policialescos. H nessa passagem a possibilidade de o espectador intelectualmente comprometido, desvirtu-la e fazer sua extrapolao para a realidade poltica brasileira, que bem diversa. Por esta razo, entendemos que a seqncia em questo deve ter a marcao alterada, de maneira violncia fsica impingida s prostitutas pelo homossexual e pelo leo-de-chcara ser levada a cabo sem os instrumentos de tortura, o pau-dearara, ou qualquer outro procedimento no qual o leigo ou o agitador eventualmente possa encontrar uma analogia com a conduta de polcia atrabiliria. No final deve dar-se, pois, uma mudana na marcao, com o objetivo de descaracterizar, esvaziar o eventual e velado contedo politicamente indesejvel. 353
Uma mudana formal (na marcao), e uma omisso parcial (da tortura, mas no da cena violenta em si) serviriam, desse modo, para evitar a associao psquica da pea com a ditadura, e para produzir uma desferencializao que mitigava os efeitos polticos da pea. A principal estratgia censria nas batalhas da guerra psicolgica era a eufemizao, em que, nas palavras de Valabrega, a censura franca das tarjas pretas pode ser substituda por uma censura mais completa e hipcrita, no limite difcil ou mesmo impossvel de se reconhecer: a supresso do texto subversivo e sua substituio por um texto trivial. 354 5.4. Ou seja, na exceo, a distino entre mera expresso e conduta se desfaz: nas palavras de um escritor sovitico perseguido pela censura, a literatura se torna uma forma de propaganda. 355 Mas no s isso: ao tomar como plano de combate o terreno da guerra psicolgica ou guerra espiritual, em que as palavras e os corpos, as falas e as aes se
Citada por: Citado por: SOUZA, Miliandre Garcia de Souza. Ou vocs mudam ou acabam: aspectos polticos da censura teatral. p. 243; grifo nosso. 354 VALABREGA, Jean-Paul. Fundamento psico-poltico da censura. p. 11. 355 Trata-se de uma alegao de defesa por parte Andrei Siniavski, no processo movido contra ele e Juli Daniel em 1966. Trechos da audincia encontram-se traduzidas em MORETTI, Franco (org.). O romance, 1: A cultura do romance. pp. 233-240; citao na pgina 239.
353
179
indistinguem, o poder deixa de ser apenas um leitor que faz uma triagem das obras, e passa a ser tambm co-autor delas. David Vias observou que a censura pertence mesma famlia de coaes que a tortura, ainda que se distingam: No espao da censura aquilo que o amo busca, a partir do poder, que o outro cale a boca e no emita a palavra crtica, heterodoxa ou subversiva; na tortura, por sua vez, o que o carrasco visa, a partir do alto, arrancar a palavra perigosa do corpo silencioso da vtima. 356 Podemos dizer que, nas guerras espirituais, a censura passa a agir de outro modo, que a aproxima ainda mais da tortura, na medida em que no apenas probe a palavra hertica, mas obriga o sujeito a emitir a palavra autorizada, ou emitir de forma autorizada a palavra assim como a tortura passa a operar como sistema privilegiado da censura enquanto proibio, j que a palavra proibida se converte em uma conduta sediciosa que deve ser combatida a qualquer preo. Por isso, na exceo, o impedir de dizer e o obrigar a dizer, que caracterizariam, para Roland Barthes 357, o autoritarismo e o fascismo respectivamente, no so mais diferenciveis. A mquina que Kafka descreve em Na colnia penal 358, uma mquina de escrever que , ao mesmo tempo, uma mquina de torturar, uma mquina que, no mesmo ato, escreve a sentena no acusado e inflige a sentena, em uma tatuagem que tambm consiste em uma tortura, o emblema da arma que o poder utiliza quando das guerras espirituais. Dito de outro modo: nas guerras espirituais, a censura se converte em Terror. Por Terror, devemos entender no apenas a paradigmtica prtica poltica dos jacobinos, mas toda aquela que transforma o aparecer e o pensar imediatamente em condutas e no campo de batalha mais importante. 359 Como vimos, para Saint-Just, a situao
VIAS, David. Censura en Buenos Aires?. Em: Menemato y otros suburbios. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2000. pp. 143-145. 357 BARTHES, Roland. Aula. 11. ed. Traduo e posfcio de Leyla PerroneMoiss. So Paulo: Cultrix, 2000. p. 14. Estamos descontextualizando e ampliando o horizonte da afirmao de Barthes. 358 KAFKA, Franz. O Veredicto e Na Colnia Penal. Traduo de Modesto Carone. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. 359 Desse modo, o poder espiritual cristo seria uma forma de Terror permanente. Devemos notar, porm, que a equao, no cristianismo, entre pensamento e ao, apesar de estar metafisicamente fundada na fuso entre vida e lei no Messias, forma-se por uma normalizao de mecanismos excepcionais da antiga Roma, onde no se costumava punir o mero conhecimento de doutrinas proibidas ou a mera posse de obras a elas relacionadas (ainda que se expulsassem constantemente adivinhos e filsofos). O modus operandi jurdico
356
180
revolucionria exigia que o Estado fosse salvo ou pela fora, por meio da ditadura, ou pela virtude, por meio da censura exercida por cada um dos revolucionrios sobre os demais com vistas a criar e vigiar o exemplo. Todavia, a bem da verdade, para os jacobinos, virtude e fora, censura e Terror, precisam ser conjugados na revoluo. Nas palavras de Robespierre:
A primeira mxima de vossa poltica deve ser que se conduza o povo pela razo, e os inimigos do povo pelo terror. Se a fora moral do governo popular na paz a virtude, a fora moral do governo popular em revoluo ao mesmo tempo virtude e terror: a virtude, sem a qual o terror funesto; o terror, sem o qual a virtude impotente. O terror nada mais que a justia imediata, severa, inflexvel; ele , portanto, uma emanao da virtude. Mais que um princpio particular, uma conseqncia do princpio geral da democracia aplicado s mais prementes necessidades da ptria. 360
Como demonstrou Carl Schmitt, a virtude, que deveria ser, conforme vimos, o amor pela igualdade em uma repblica, converte-se em instrumento de diferenciao por meio do Terror: para a ditadura jacobina, o oponente poltico no possua virtude, isto , a devida
da prtica persecutria do poder espiritual cristo deriva da generalizao de um longo processo iniciado nos tempos imperiais. Entre os momentos dessa escalada, cabe mencionar o senatus consultum decretado durante o imprio de Tibrio que, alm de expulsar os feiticeiros e adivinhos, proibia a todos o contato com eles; o comentrio de Ulpiano (Non tantum huius artis professio, sed atiam scientia prohibita est) que condenava no apenas a prtica e o ensinamento da magia, mas seu prprio conhecimento; a Lex Quisquis,promulgada por Arcdio e que condenava pena de morte os participantes de uma conspirao, bem como aqueles que s pensaram em participar, mesmo que nem tivessem planejado algo; e, por fim, a ordenao de Teodsio II que estabelecia a cremao dos livros de Nestrio assim como a pena de morte para quem conservasse ou lesse seus escritos (cf. GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo. pp. 184, 285, 338 e 401, respectivamente). 360 ROBESPIERRE, Maximilien. Virtude e terror. Apresentao de Slavoj Zizek; seleo e comentrios dos textos por Jean Ducange; traduo de Jos Maurcio Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 185. A citao provm do famoso discurso Sobre os princpios de moralidade poltica que devem guiar a Conveno Nacional na administrao interna da Repblica.
181
atitude poltica, no possua civismo. Ele no era um patriota, e, portanto, estava hors de loi [fora da lei]. O grau em que uma instncia de desigualdade corresponde igualdade poltica como um correlato necessrio aqui se torna manifesto de um modo especialmente claro. 361 Ou seja, opera-se uma binarizao total da sociedade (os contrarevolucionrios tratados com o Terror e os revolucionrios tendo seu sentimento reforado pela virtude, em um processo em que uma medida refora a outra), que deixa, porm, um resto: os aparentemente indiferentes, os que no se mostraram nem revolucionrios nem contrarevolucionrios. Deste modo, a Lei dos Suspeitos, aprovada pela Conveno Nacional da recm instaurada Repblica francesa em 1793, declarava suspeitos e, portanto, sujeitos ao Terror e no virtude, no s aqueles que nas assemblias do povo, detm a energia destas por meio de discursos astuciosos, gritos turbulentos ou ameaas, ou que assinam peties contra-revolucionrias ou freqentam sociedades e clubes anti-cvicos, mas tambm aqueles que receberam com indiferena a constituio republicana e manifestaram falsos temores sobre seu estabelecimento e sua durao (grifo nosso) e aqueles que, no tendo feito nada contra a liberdade, tambm no fizeram nada a favor dela. O Terror visa eliminar toda indiferena, toda neutralidade, capturando-a no sistema binrio amigo-inimigo, incluindo-a unicamente atravs de sua excluso 362: o indiferente tornava-se um inimigo sujeito ao Tribunal revolucionrio, no qual, como mostrou Salvatore Satta, o mistrio do processo se esfumava, com a converso do Juiz em uma das partes, como parte da ao. 363 Mas no s isso: na prtica, o Terror forava sob pena de morte que se mostrasse ou fingisse (ou seja: que se exteriorizasse, manifestasse) apoio Revoluo, isto , que se exibisse a virtude para no sofrer o Terror. evidente como isso s poderia resultar na mais flagrante hipocrisia, exatamente a maior inimiga dos revolucionrios 364, e em uma disputa
SCHMITT, Carl. Constitutional Theory. 17. The Theory of Democracy: Fundamental concepts; II. The concept of equality (general human equality, substantive equality); 4. 362 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer I. p. 26. 363 SATTA, Salvatore. Il mistero del processo. Milo: Adelphi, 1994. 364 bem mais cmodo usar a mscara do patriotismo para desfigurar, por insolentes pardias, o drama sublime da revoluo, para comprometer a causa da liberdade por uma moderao hipcrita ou pelas extravagncias estudadas (...) Se todos os coraes no mudaram, quantos rostos esto mascarados! Quantos traidores se misturam em nossas questes para arruin-las (ROBESPIERRE, Maximilien. Virtude e terror. p. 191; grifo nosso).
361
182
sem fim sobre a virtude e suas manifestaes, que terminaria com os prprios Robespierre e Saint-Just sofrendo pelo Terror que catapultaram. Em pginas brilhantes, Hannah Arendt argumentou justamente que, ao fundar a Revoluo sobre a compaixo e o sentimento de amor pblico 365, os jacobinos terminaram por desencadear uma guerra hipocrisia que transformou a ditadura de Robespierre em um Reino de Terror. 366 Isto porque, sendo o corao humano, no limite, insondvel, o reino da virtude estava destinado a ser, no pior caso, o governo da hipocrisia, e, no melhor, a luta interminvel para des-cobrir [ferret out] os hipcritas, uma luta que s poderia terminar em derrota pelo simples fato de que era impossvel distinguir entre verdadeiros e falsos patriotas 367:
claro que todo feito tem seus motivos bem como sua finalidade e seu princpio; mas o ato em si, ainda que proclame sua finalidade e manifesta seu princpio, no revela a motivao mais ntima de seu agente. Seus motivos permanecem obscuros, eles no brilham mas so escondidos no apenas dos demais mas, na maior parte do tempo, do prprio agente, bem como de sua auto-inspeo. Portanto, a busca por motivos, a exigncia que todos exibam em pblico sua motivao mais ntima, na medida em que, na verdade, exige o impossvel, transforma todos os atores [agentes, actors] em hipcritas; o momento em que a exibio de motivos comea, a hipocrisia comea a envenenar todas as relaes humanas. O esforo, alm disso, de arrastar o obscuro e o escondido para a luz do dia s pode resultar em uma manifestao aberta e descarada daqueles atos cuja prpria natureza faz com que busquem a proteo da escurido; , infelizmente, a essncia dessas coisas que todo esforo de fazer a bondade manifestar-se em pblico termine com a apario esse zelo compassivo pelos oprimidos, esse amor sagrado pela ptria, esse amor mais sublime e mais santo da humanidade, sem o qual uma grande revoluo nada mais que um crime espetacular que destri um outro crime; ela existe, essa ambio generosa de fundar sobre a terra a primeira Repblica do mundo (ROBESPIERRE, Maximilien. Virtude e terror. p. 204). 366 ARENDT, Hannah. On revolution. Nova Iorque: Penguin Books, 2006. p. 89. 367 Ibidem, p. 87.
365
183
do crime e da criminalidade na cena poltica. Na poltica, mais que em qualquer outro lugar, no temos nenhuma possibilidade de distinguir entre ser e aparncia. No reino dos negcios humanos, ser e aparncia so, de fato, uma e nica coisa. 368
Auto-concebidos como protetores e vigias da virtude, os regimes de Terror terminam por produzir uma legio de hipcritas, e esvaziar de sentido as palavras e ideais que os inspiraram, a comear pela prpria virtude. Terminam, portanto, por vias tortas, dando aos homens aquele mesmo conselho que um cnico personagem da Teoria do Medalho de Machado de Assis dava a seu pupilo: Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a clusula nica de no ligar nenhuma idia especial a esses vocbulos, e reconhecer-lhes somente a utilidade do schibboleth bblico 369, isto , como elemento de pertencimento, de distino. 5.5. Se a censura a tentativa de controlar os efeitos do sensvel, neutralizando-os quando so vistos como politicamente infecciosos, como exemplos que podem se reproduzir e abalar os costumes (moral) que sustentam o corpo pblico (poltico), e seu paradigma pode ser visto no Terror, ento podemos afirmar que seu objetivo a eufemizao. Por eufemizao devemos entender o vasto processo que visa purificar os costumes, depur-los, higieniz-los, torn-los um bem-aparecer, mas que termina por criar uma regra ritual-formal (vazia de contedo) da manifestao, ou seja, devemos entend-lo como aquela fora que Benveniste chamou de eufemia e que retira da palavra blasfmica, da palavra proibida e hertica, a sua realidade fmica, portanto sua eficcia smica, tornando-a literalmente destituda de sentido. 370 O habitat natural dos eufemismos a linguagem burocrtica da poltica e do direito. Em uma formulao esplndida, Guy Patin afirmou que os polticos tm uma linguagem parte e que lhes prpria; entre eles, os termos e a frases no significam as mesmas coisas que entre os
Ibidem, p. 88. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Teoria do medalho. Em: Obra completa. v. II: Conto e Teatro. Organizao de Afrnio Coutinho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. pp. 288-295; citao: p. 294. 370 BENVENISTE, mile. A blasfemia e a eufemia. Em: Problemas de lingstica geral, II. Traduo de Eduardo Guimares et. al. Campinas: Pontes, 1989. pp. 259-262; citao na p. 262.
369
368
184
demais homens. 371 talo Calvino forneceu uma descrio acuradssima do modus operandi dessa linguagem, em que vige o terror semntico, ou antilngua, a fuga diante de cada vocbulo que tenha por si s um significado:
O escrivo est diante da mquina de escrever. O interrogado, sentado em frente a ele, responde s perguntas gaguejando ligeiramente, mas preocupado em dizer, com a maior exatido possvel, tudo o que tem de dizer e nem uma palavra a mais: De manh cedo, estava indo ao poro para ligar o aquecedor quando encontrei todos aqueles frascos de vinho atrs da caixa de carvo. Peguei um para tomar no jantar. No estava sabendo que a casa de bebidas l em cima havia sido arrombada. Impassvel, o escrivo bate rpido nas teclas sua fiel transcrio: O abaixo assinado, tendo se dirigido ao poro nas primeiras horas da manh para dar incio ao funcionamento da instalao trmica, declara ter casualmente deparado com boa quantidade de produtos vincolas, localizados na parte posterior do recepiente destinado ao armazenamento do combustvel, e ter efetuado a retirada de um dos referidos artigos com a inteno de consumi-lo durante a refeio vespertina, no estando a par do acontecido arrombamento do estabelecimento comercial sobranceiro. 372
Calvino est descrevendo aqui, claramente, um processo de traduo, em que o escrivo transcreve o texto da lngua cotidiana linguagem jurdica, ao juridiqus, como popularmente se nomeia a verborragia dos juristas. Como mostrou Salvatore Satta em um texto justamente sobre o escrivo, o brocardo jurdico Da mihi factum, dabo tibi jus (Exponha o fato e te direi o direito) revela a existncia de um hiato no s entre os fatos e o direito, quanto entre a linguagem cotidiana e a jurdica. A tarefa do escrivo seria a reduo do escopo
Citado em: BAYLE, Pierre. Dissertation sur les libelles diffamatoires. Em: Dictionairre historique et critique. Tomo XV. Paris: Desoer, 1820. pp. 148-189; p. 182. 372 CALVINO, Italo. Assunto encerrado: discursos sobre literatura e sociedade. Traduo de Roberta Barni. So Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 148149.
371
185
prtico que a parte se prope a atingir a uma vontade jurdica e juridicamente tipificada 373, ou seja, a traduo de uma vontade, um fato, um ato da vida, para tipos jurdicos. O Direito no lida propriamente com fatos ou atos, mas com fatos ou atos jurdicos, que correspondam a certos tipos previstos. Passar um ato ou fato da vida ao Direito tipific-lo. Mas esse tipo jurdico tem de ser suficiente geral, amplo, e, no limite, vago, para que possa ser aplicado a distintos casos singulares. A linguagem jurdica eufmica, abstrata, formal justamente para que uma deciso possa subsumi-la ao caso concreto (o mesmo vale para a linguagem poltica, em que o sentido concreto de termos como interesse e ordem pblicas, segurana estatal, etc. so atribudos arbitrariamente). Ou seja, a linguagem poltico-jurdica suspende os efeitos sensveis e as referncias diretas da linguagem cotidiana ao tipificar e eufemiz-las, permitindo, assim, produzir com mais eficcia efeitos performativos. A substituio censria de palavras fortes por mais fracas, ou de pronomes pessoais por impessoais, a alterao de nomes de lugares, serve, do mesmo modo, para impedir a atribuio de uma referencialidade direta, para virtualizar e tornar vago o sentido, mitigando o efeito dos significantes. Porm, esse caso paradigmtico de substituio pelo eufemismo propriamente dito apenas uma das formas de manifestao da eufemizao. Se, como diz Benveniste, o eufemismo no pode ser identificado per se, se s a situao [que] determina o eufemismo 374, ento talvez possamos dizer que o processo mais geral de eufemizao que caracteriza a censura tambm se manifeste de diferentes modos, de acordo com o contexto. Assim, at mesmo a supresso censria de obras seria uma forma (extrema) de eufemizao, na medida em que produz uma ascese da aparncia, por meio da proibio do baixo, do excessivo, etc.: s se d a ver aquilo que est de acordo com a decncia, a moderao, o decoro. Todavia, a supresso apresenta um problema: nas palavras de Marx, ela se revela uma m medida policial, porque no consegue o que quer, nem quer o que consegue. 375 Ao censor, cabe declarar infame um escrito, um filme,
SATTA, Salvatore. Poesia e verdade na vida do notrio. Traduo de Diego Cervelin. Sopro. n. 17. Dez/2009. p. 5. 374 BENVENISTE, mile. Eufemismos antigos e modernos. Em: Problemas de lingstica geral, I. 2. ed. Traduo de Maria da Glria Novak e Maria Luiza Neri. Campinas: Pontes; Editora da UNICAMP, 1988. pp. 340-347; citao na p. 342. 375 MARX, Karl. Liberdade de imprensa. p. 59.
373
186
uma obra de arte: mas, ao faz-lo, acaba por produzir o efeito contrrio, conferindo-lhe fama. Tal paradoxo foi magistralmente apresentado por Borges em sua Histria universal da infmia, na qual os feitos mais infames, por sua prpria infmia, tornam seus executores famosos. Trata-se de um topos clssico, enunciado com maestria por Tcito em uma frmula que ser sucessivamente invocada ao longo da modernidade: nam contra punitis ingeniis gliscit auctoritas 376 (a punio do gnio fortalece sua autoridade). Assim, j em seu Areopagitica, Milton afirma que a supresso de libelos sediciosos, em vez de suprimir seitas e cismas, (...) os provoca e os investe de uma reputao. 377 A eufemizao pela substituio (da palavra blasfmica pelo eufemismo propriamente dito), pela co-autoria por parte do censor, tambm provoca esse efeito, ainda que no de modo to agravado. Contudo, talvez ela no constitua a estratgia limite do poder censrio, mas apenas o meio-termo entre a eufemizao pela proibio (contraprodutiva) e o seu oposto, a eufemizao pela liberao, que estaramos assistindo hoje em dia. 5.6. Ao tratar dos dejetos lingsticos, Os palavres, talo Calvino, ainda que sublinhando o sentido marcadamente conservador da linguagem popular da obscenidade, apontou trs ordens de valor que estes podem adquirir: 1) a fora expressiva pela qual a locuo obscena serve como uma nota musical para criar um determinado efeito na partitura do discurso falado ou escrito; 2) o valor denotativo direto, isto , o uso da palavra mais simples para designar aquele rgo ou aquele ato quando se deseja falar realmente daquele rgo ou daquele ato, abrindo mo, o mais possvel, tanto do eufemismo como do uso metafrico; e 3) a quebra de uma hierarquia social de linguagem: quando usados num discurso pblico, os palavres indica[m] que no aceitamos uma diviso de linguagem privada e linguagem pblica. 378 Os palavres, quando usados para denotar diretamente aquilo a que se referem, dissolvem sua aura sacra a expresso de Calvino , revelando a sua pertinncia mesma esfera da linguagem comunicativa; e aqui tambm o sentido de seu uso em pblico. Walter Benjamin,
Ann. IV, 35. MILTON, John. Areopagtica. p. 141. Milton prossegue, citando Francis Bacon: Punir o talento reala a autoridade deles, como disse o Visconde de St. Albans, e um texto censurado como que uma centelha de verdade que salta nos rostos dos que procuram apag-la com o p. 378 CALVINO, Italo. Assunto encerrado. pp. 359-361.
377 376
187
tomando o mesmo caminho, dir que os livros que costumamos chamar de pornogrficos tratam do amor sem ..., ou -, o cdigo Morse universal usado na literatura para representar a linguagem do amor. 379 O uso pblico dos palavres, ou das chamadas palavras-tabu mais em geral, visa contestar a hierarquia da linguagem, a forma do bem-dizer, o cdigo Morse: a sua apario produz um efeito blasfmico. Desse modo, as palavras consideradas blasfmicas renem em si uma potncia que , ao mesmo tempo, tanto descriadora, pois desmontam as regras hierrquico-eufmicas, quanto, conseqentemente, criadora, por possibilitarem uma nova ordenao: dever da sociedade, diz Benjamin a respeito dos dejetos lingsticos, nos quais inclui a linguagem obscena, colocar estes processos naturais para no dizer profanos na vida da linguagem a seu servio como foras naturais. Assim como as cascatas de Nigara alimentam estaes de energia, do mesmo modo, a queda torrencial da linguagem na forma de sujeira e vulgaridade pode ser usada como uma potente fonte de energia para dirigir o dnamo do ato criativo. 380 Todavia, adverte Calvino, h um perigo no seu uso descriminado: As palavras obscenas so expostas, mais que as outras, a um desgaste expressivo e semntico, e nesse sentido acredito que devamos nos preocupar em defend-las: defendlas do uso preguioso, aptico, indiferente. 381 Ou seja, o seu poder blasfmico derivaria de uma relao contextual: ao serem usadas constantemente, ao tornarem-se habituais, costumeiras, elas perderiam a sua fora. Esta relao de interdependncia entre as correntes eufmicas e as blasfmicas da linguagem foi analisada por Walker Read em seu artigo sobre An obscenity symbol (a palavra fuck):
se certos objetos so arbitrariamente designados como bodes expiatrios, ento pode-se aproximarse dos restantes sem medo. por isso que (...) ainda que eles [os bodes expiatrios lingsticos] raramente ou nunca possam ser externalizados, eles executam uma funo para os falantes do ingls padro ao servir de bodes expiatrios. (...) BENJAMIN, Walter. A state monopoly on pornography. p. 72. Ibidem, p. 73. 381 CALVINO, Italo. Assunto encerrado. p. 360. A seguir, Calvino adverte que essa defesa no deve ser excessiva, invocando uma imagem que j nos familiar: Naturalmente sem mant-las sob uma redoma de vidro, ou num parque nacional, como preciosos cabritos verbais: preciso que vivam e circulem num habitat congenial (Ibidem, p. 360-361).
380 379
188
Eles canalizam uma certa emoo e, assim, deixam o restante da linguagem livre dela. 382
Podemos dizer que o contrrio tambm se aplica: o poder das palavras-tabu existe por estarem fora da cena (ob-scena): ao serem includos nela, na linguagem cotidiana, perdem sua capacidade de produzir efeitos contestatrios da hierarquia lingstica. H uma certa economia entre blasfmia e eufemia, de modo que Benjamin sugere, para no se depreciar o valor desta mercadoria excessivamente, a instaurao de um monoplio estatal da pornografia, a socializao desta no-desconsidervel fonte de poder. 383 As palavras obscenas e blasfmicas, portanto, possuem uma mais-valia que se perde quando so usadas demasiadamente. Ao aparecerem em cena, so, desse modo, eufemizadas, entram no regime de circulao e comunicao gerido pelo poder censrio. Talvez nenhum outro romance tenha captado to bem este processo de eufemizao pelo gasto como 1984. Na distopia de George Orwell, o controle das manifestaes, do mais leve gesto ou olhar central: as teletelas, cmeras de vigilncia remota e difusores das ordens do poder, esto por todo lugar para detectar possveis expresses de crimidias, idias criminosas. O objetivo ltimo do regime a inexistncia mesma de contestao, o que s seria possvel por meio de uma transformao da linguagem: A Revoluo se completar quando a lngua for perfeita 384, diz um dos personagens. A Novilngua do regime desptico visa, com os seus contnuos aperfeioamentos 385,
READ, Allen Walker. An obscenity symbol. p. 267. BENJAMIN, Walter. A state monopoly on pornography. p. 73. 384 ORWELL, George. 1984. p. 53. 385 As constantes reformas da Novilngua serviam tambm para dificultar a memria histrica: Nunca te ocorreu, Winston, pergunta um personagem ao protagonista, que por volta do ano de 2050, o mais tardar, no viver um nico ser humano capaz de compreender esta nossa palestra? (Ibidem, p. 53). De fato, na histria recente, uma reforma ortogrfica serviu de instrumento censrio e de apagamento do passado: a introduo de um novo sistema ortogrfico da lngua indonsia, que entrou em vigor em 1972-73, argumenta Benedict Anderson em um artigo sobre o legado do ditador Hadji Mohamed Suharto, foi justificada oficialmente como necessria para a abertura de um mercado comum com a Malsia na rea editorial. Sua motivao mais profunda, porm, foi estabelecer ntida separao entre o que se escrevia durante a ditadura e tudo o que se escreveu antes dela. Bastava ler o ttulo de um livro, ou de um panfleto, para identificar no ato um esplndido produto dos tempos modernos ou um derrisrio subproduto do sukarnosmo, do constitucionalismo, da revoluo ou
383 382
189
internalizar a censura, estreitando a gama do pensamento, e conseguindo, pelo controle da linguagem, o controle poltico real: No fim, tornaremos a crimidia naturalmente impossvel, porque no haver palavras para express-la. 386 Como se sabe, o lema do regime oligrquico retratado em 1984 Guerra Paz / Liberdade Escravido / Ignorncia Fora, e o Ministrio do Amor o que pratica a tortura. O sentido das palavras se esvazia ao serem referidas a seus antnimos: a eufemizao se realiza pela oximorizao. Em um discurso proferido em 1929, Carl Schmitt descrevia a moderna histria europia como A era das neutralizaes e despolitizaes. O trajeto da Europa poderia ser acompanhado pela mudana do ncleo de sua vida espiritual, que determinaria no apenas o sentido das palavras e dos conceitos, mas tambm da poltica (isto , na teoria poltica schmittiana, em torno do qu se daria o agrupamento amigo-inimigo, a guerra). Os sucessivos ncleos teriam sido o teolgico, o metafsico, o moral e o econmico-tcnico, sendo que a passagem de um centro espiritual a outro implicaria a neutralizao e a despolitizao do anterior (deste modo, por exemplo, quando o teolgico deixa de ser o epicentro espiritual nevrlgico europeu, as guerras religiosas se tornam obsoletas). Este processo da constante neutralizao da vida cultural teria chegado ao fim, diagnosticava Schmitt, porque ele chegou tcnica 387, neutra por si s, puro instrumento. No cabe aqui entrar no valor que o jurista alemo atribui a tal fim de partida, um valor positivo, ao contrrio do que
do perodo colonial. Qualquer interesse por publicaes impressas no antigo sistema se tornava automaticamente suspeito. A mudana foi suficientemente profunda para que a juventude se deixasse convencer de que as velhas publicaes eram de difcil decifrao, portanto, algo com que no valia a pena se ocupar. // O resultado dessa poltica foi uma espcie de obliterao histrica, de forma que as geraes mais jovens passaram a tomar conhecimento da histria de seu pas sobretudo por meio das publicaes do prprio regime, especialmente em livros didticos. Nem preciso dizer que as dcadas de luta contra o colonialismo holands foram quase inteiramente omitidas. A revoluo foi rebatizada de Guerra da Independncia, na qual somente os soldados tiveram papel relevante. O perodo ps-revolucionrio de democracia constitucional foi sumariamente excludo como inveno dos polticos, uma imitao servil de costumes ocidentais e no indonsios (ANDERSON, Benedict. Suharto sai de cena. Obiturio de um tirano medocre. Traduo de Hugo Mader. serrote. n. 1. Mar/2009. pp. 89-121; citao na pgina 115). 386 ORWELL, George. 1984. p. 52. 387 SCHMITT, Carl. O conceito do poltico. p. 119.
190
pareceria primeira vista: na medida em que todas as grandes esferas da vida espiritual foram neutralizadas, o poltico (em sua plenitude e livre da infestao teolgica, metafsica, moral ou econmica) pode, enfim, determinar a definio de quem amigo e quem inimigo um verdadeiro incio de partida. 388 Tampouco o lugar de questionar a neutralidade da tcnica postulada por Schmitt. O que interessa, nessa investigao, salientar que, para Schmitt, a neutralizao chegara at mesmo linguagem: a sugesto de massas da maquinaria psicotcnica teria provocado um nevoeiro dos nomes e das palavras, uma lei secreta (...) [do] vocabulrio: hoje a guerra mais terrvel se realiza somente em nome da paz, a mais medonha opresso se realiza em nome da liberdade e a mais terrvel desumanidade s em nome da humanidade. 389 Porm, o esvaziamento da linguagem (poltica, a levar em conta os exemplos de Schmitt) , de fato, de uma novidade do sculo XX, o sculo da tcnica? Devemos tomar a hiptese com cuidado, dado que para ficar s na modernidade j La Botie ironizava aqueles que hoje [1548] no fazem mal algum, mesmo importante, sem antes fazer passar algumas palavras bonitas sobre o bem pblico e a tranqilidade geral. 390 Com efeito, o ceticismo popular nos ensina, para usar as palavras de Valabrega, que nunca se escutar dizer que uma medida poltica foi tomada para o mal dos povos. Ento, no podemos deixar de notar com pessimismo que um cuidado total e contnuo do bem do povo s se deixa equiparar pela curva, mais ou menos constante ela tambm, de suas infelicidades, problemas e catstrofes. 391 Como vimos, o eufemismo caracteriza a linguagem do poder, e a eufemizao produzida pela censura sempre acarreta um esvaziamento dos significantes. Entretanto, talvez hoje, na medida em que, com os meios tcnicos de comunicao, a esfera da aparncia, dos costumes, tenha se intensificado, e que, por outro lado, tal meio seja regido como se fosse um mercado das idias, este processo esteja se agravando na
388
A tcnica no mais terreno neutro no sentido daquele processo de neutralizao, e toda poltica forte h de se servir dela. S pode ser portanto algo de provisrio, o concebermos o sculo atual num sentido espiritual como o sculo tcnico. O sentido definitivo s se produzir quando se mostrar qual espcie de poltica suficientemente forte para se apoderar da nova tcnica e quais sero os verdadeiros agrupamentos de amigos e inimigos que crescero neste novo terreno (Idem). Sabemos a qual era o sentido definitivo e a qual poltica suficientemente forte Schmitt exortava. 389 Idem. 390 BOTIE, tienne de La. Discurso da servido voluntria. p. 28-29. 391 VALABREGA, Jean-Paul. Fundamento psico-poltico da censura. p. 5.
191
esfera poltica, e, alm disso, transbordando dela. Contemporaneamente, assistimos a uma superproduo semitica 392: quando, na modernidade, a linguagem se torna dinheiro, a circulao excessiva de significantes, usados para denotar de modo equivalente (como as moedas) referncias as mais dspares, esvazia-os de seu valor singular. Tomemos um exemplo relacionado ao que viemos investigando neste captulo. Se verdade que, no plano da teoria poltica, as democracias parecem caminhar para uma indistino com os regimes excepcionais (como demonstrou Agamben), isto no quer dizer que no existam diferenas histricas e concretas entre, por exemplo, as ditaduras latinoamericanas instauradas a partir da dcada de 1960 e as atuais democracias da regio, de modo que chamar o atual governo argentino de intraditadura, isto , o desenvolvimento de um poder ditatorial sobre seus prprios colaboradores dentro e no fora das instituies democrticas 393, ou afirmar que a ditadura brasileira foi uma ditabranda 394, pelo baixo nmero de mortos, constitui um esvaziamento referencial do termo ditadura, bem como a neutralizao de sua eficcia. Neste sentido, a eufemizao atual pelo gasto opera em dois fronts: o eufemismo propriamente dito (ditabranda) e o oxmoro (intraditadura). Se a eufemizao tanto pela proibio quanto pela substituio criavam uma hierarquia e uma separao entre os bons significantes e o bem-dizer, por um lado, e as palavras obscenas e a blasfmia, por outro, a eufemizao contempornea pelo gasto e pelo esvaziamento dele decorrente torna, no limite, todos os significantes iguais, equivalentes. Este processo, porm, no homogneo e total: as diversas formas de eufemizao convivem. No mundo mercantil, em que os significantes, mais do que em qualquer outro campo, so dinheiro, essa concomitncia se deixa ver claramente. De um lado, o uso de eufemismos aparece como uma prtica cada vez mais comum que visa escamotear a hierarquia capitalista da propriedade: o trabalhador chamado de colaborador, o chefe se torna um lder, o treinamento vira
Cf. DURO, Fbio Akcelrud. Da superproduo semitica: caracterizao e implicaes estticas. Em: DURO, Fbio Akcelrud; ZUIN, Antnio; VAZ, Alexandre Fernandes. A indstria cultural hoje. So Paulo: Boitempo, 2008. pp. 39-48. 393 GRONDONA, Mario. Qu es Kirchner, un lder o un dictador?. La Nacin. Buenos Aires, 23 de novembro de 2008. Grondona, no demais lembrar, exerceu o papel de censor. Cf. FERNNDEZ, Oscar. El censor Mariano Grondona. Tiempo Argentino. Buenos Aires, 3 de janeiro de 2011. 394 Limites a Chvez (editorial). Folha de S. Paulo. So Paulo, 17 de fevereiro de 2009.
392
192
um desenvolvimento de pessoas, e as demisses passam a ser uma otimizao dos recursos humanos. De outro lado, a propaganda no cessa de fazer associaes oximricas: um slogan recente da Coca-cola , cinicamente,Viva as diferenas. Um nico produto exibido como se fosse o signo das diferenas. Em um texto da internacional situacionista, lemos que o problema da linguagem o foco de todas as lutas pela abolio ou manuteno da atual alienao 395, e que os conceitos mais corrosivos so (...) esvaziados de seu contedo, reenviados circulao a servio da alienao conservada: dadasmo a contrapelo: Convertem-se em slogans publicitrios. 396 Os donos do mundo se apoderam dos signos, os neutralizam, os invertem. Revoluo a palavra bsica da rotina publicitria. 397 Dito de outro modo: especialmente na propaganda, esse laboratrio da linguagem contempornea, as expresses se eufemizam (tm sua realidade fmica e eficcia smica removidas) pelo gasto, pelo uso excessivo. Possivelmente, como argumentamos, o processo de eufemizao pelo gasto derive do fato de que, no censo moderno em que a expresso se converte em mercadoria, as palavras se tornem moedas, a linguagem se torne dinheiro 398: no designam apenas a si mesmas, mas tambm a equivalncia universal. , portanto, possvel postular que, se houve uma estabilidade maior ou menor no plano da linguagem, como havia em relao ao dinheiro no padro-ouro, hoje, assim como a moeda passou a se volatizar no padro ouro-dlar e se desregrar completamente com o fim do acordo de Breton Woods (o Choque Nixon, em que se ps fim convertibilidade do dlar em ouro), a linguagem passa a girar no vazio, pelo seu gasto excessivo sem lastro. Em 1963, os situacionistas argumentavam que As palavras coexistem com o poder em uma relao anloga quela que o proletariado (...) pode manter com o poder.
internacional situacionista. Textos integrais em castelhano da revista Internationale Situationniste. (1958-1969). v. 2: La supresin de la poltica. Internationale Situationniste #7-10. Traduo ao espanhol por Luis Navarro. Madri: Traficantes de Sueos, 2004. p. 85. 396 Ibidem, p. 216. 397 Ibidem, p. 130. 398 A relao entre linguagem e dinheiro sempre despertou a ateno do pensamento ocidental, a ponto de Marc Shell sugerir que toda teoria da linguagem uma teoria do dinheiro, e vice-versa, e que a filosofia e a cunhagem de moedas nasceram conjuntamente. Cf. SHELL, Marc. The economy of literature; e, do mesmo autor, Money, language and thought: literary and philosophic economies from medieval to the modern era. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
395
193
Empregadas durante quase todo o tempo, utilizados em jornada completa, em todo seu sentido e em todo seu no-sentido, seguem sendo em algum aspecto radicalmente estranhas. Hoje, o diagnstico soa ainda mais atual, ainda que talvez o problema no consista tanto no estranhamento entre as palavras e as coisas, constitutiva linguagem, quanto na forma mercantil pela qual se produz uma identificao (temporria que seja) a partir desse estranhamento, em que a censura parece prescindir de si mesma. A censura, como argumentamos, a medida poltico-moral que estabelece e regula o regime de passagem pelo hiato entre o ser e o aparecer uma ciso que ontolgica, mas que pode ser controlada e vigiada pelo poder. O problema, desse modo, no a ciso em si, mas a forma pela qual ela dirigida: no caso moderno, pela sua converso na diviso privado-pblico, que, ao contrrio de estabelecer uma fronteira ntida entre os dois mbitos, possibilita a passagem regulada de um a outro. A tarefa contempornea no seria, portanto, a de pensar uma forma de conjuno de ambos que dissipasse o estranhamento (algo que todos os censos, mesmo o moderno, propiciam), mas sim a de pensar o que significa experimentar livremente o hiato entre o ser e o aparecer.
194
195
6. Alma exterior
Moral apenas linguagem de signos, sintomatologia (...) As morais no passam de uma semitica dos afetos. (Friedrich Nietzsche)
6.1. Em 1882, Machado de Assis publica um de seus mais densos contos, O espelho, que continha, conforme indicava seu subttulo, o Esboo de uma nova teoria da alma humana. Nele, o protagonista, instado a palpitar em um debate entre alguns amigos sobre a natureza da alma, expe a tese da duplicidade da psique humana: Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro, uma alma interior e outra alma exterior:
A alma exterior pode ser um esprito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operao. H casos, por exemplo, em que um simples boto de camisa a alma exterior de uma pessoa; e assim tambm a polca, o voltarete, um livro, uma mquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Est claro que o ofcio dessa segunda alma transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o homem, que , metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existncia; e casos h, no raros, em que a perda da alma exterior implica a da existncia inteira. (...) Agora, preciso saber que a alma exterior no sempre a mesma... (...); muda de natureza e de estado. No aludo a certas almas absorventes, como a ptria, com a qual disse o Cames que morria, e o poder, que foi a alma exterior de Csar e de Cromwell. So almas enrgicas e exclusivas; mas h outras, embora enrgicas, de natureza mudvel. H cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheo uma senhora, na verdade, gentilssima, que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano.
196
Durante a estao lrica a pera; cessando a estao, a alma exterior substitui-se por outra: um concerto, um baile do Cassino, a rua do Ouvidor, Petrpolis... (...) Essa senhora parenta do diabo, e tem o mesmo nome; chama-se Legio. 399
Ou seja, segundo essa interessante teoria, a alma exterior, como seu nome deixa ver, externa ao sujeito, ainda que sirva para fornecer um sopro de vida essencial sem o qual ele no pode existir. Mas essa exterioridade tambm uma via de mo dupla: por um lado, exerce a funo de prover o alento vital a partir do mundo; e, por outro, consiste no objeto, pessoa, idia pelo qual o sujeito se exterioriza no mundo. A natureza da alma exterior pode ser melhor compreendida se nos atermos ao relato que justifica o ttulo do conto e que diz respeito prpria vida do protagonista. Quando jovem conta aos amigos que debatem foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que despertou a alegria e o orgulho de seus familiares, os quais no mais lhe chamavam pelo nome ou pelo apelido, e sim por senhor alferes. Sua tia, querendo ver-lhe de farda, convidou-o ento para que passasse uns tempos em seu stio, chegando a colocar no quarto que lhe receberia um grande espelho, obra rica e magnfica, que destoava do resto da casa, cuja moblia era modesta e simples 400 e que pertencera gente prxima da famlia real portuguesa. O resultado de tanta bajulao foi que
O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas no tardou que a primitiva cedesse outra; ficou-me uma parte mnima de humanidade. Aconteceu ento que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moas, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapaps da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A nica parte do cidado que ficou comigo foi aquela que entendia com o exerccio da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado (...) ao tempo em que a conscincia do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O espelho. Esboo de uma nova teoria da alma humana. Em: Obra completa. v. II: Conto e Teatro. pp. 345352; citao: p. 294. 400 Ibidem, p. 347.
399
197
As dores humanas, as alegrias humanas, se eram s isso, mal obtinham de mim uma compaixo aptica ou um sorriso de favor. No fim de trs semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. 401
Todavia, essa situao muda quando sua tia tm de se ausentar da fazenda. O protagonista, ento, sente sua alma exterior se reduzir: O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a conscincia mais dbil. A fraqueza se agrava no dia seguinte, com a fuga dos escravos. Sem ningum para lhe chamar de alferes, torna-se um defunto andando, um sonmbulo, um boneco mecnico. 402 Nesse tempo, absteve-se de se olhar no espelho por um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo. Contudo, o protagonista no resiste ao impulso contrrio e decide encarar-se no espelho, confirmando o medo de ver-se cindido: O prprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; no me estampou a figura ntida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. 403 Aqui se mostra claramente a duplicidade da relao entre mundo e alma exterior: de um lado, uma corrente proveniente de fora que anima (e, portanto, enfraquece quando essa fora externa se ausenta: no caso, quando no resta ningum para chamar o protagonista de alferes); de outro, uma corrente que parte de dentro para exteriorizar (e que igualmente desaparece com a desapario do mundo social, no caso). Os dois movimentos, porm, so combinados e co-dependentes: sem o mundo externo que alenta, no possvel projetar uma imagem
401 402
Ibidem, p. 348. Por razes que veremos adiante, interessante notar que o narrador relata que essa falta de vida desaparecia ao sonhar: Dormindo, era outra coisa. O sono dava-me alvio, no pela razo comum de ser irmo da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenmeno: o sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da famlia e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes; vinha um amigo de nossa casa, e prometia-me o posto de tenente, outro o de capito ou major; e tudo isso faziame viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaa-se com o sono a conscincia do meu ser novo e nico porque a alma interior perdia a ao exclusiva, e ficava dependente da outra, que teimava em no tornar (Ibidem, p. 349-350). Apesar de argumentar que o sono dava vazo alma interior mitigando a necessidade da exterior, esta parece continuar agindo, tendo em vista que a posio social de alferes no cessa de se manifestar nos sonhos. 403 Ibidem, p. 350.
198
nele. Podemos dizer, portanto, que, de certa forma, a alma interior equivale, mais ou menos, ao ser, e a exterior, em maior ou menor medida, ao estar-no-mundo, ao aparecer, sublinhando, contudo, a relao dialtica entre ambos, a influncia recproca que exercem, em que o plo que metafisicamente parece mais fraco, a imagem, pode dominar completamente. Alis, tal domnio explicitada pelo protagonista ao narrar a soluo que encontrou para se re-animar: vestir a farda de alferes e olhar-se novamente no espelho. A roupa devolve-lhe no s a imagem, mas tambm o prprio ser:
o vidro reproduziu ento a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do stio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois comea a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas no conhece individualmente uns nem outros; enfim, sabe que este Fulano, aquele Sicrano; aqui est uma cadeira, ali um sof. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. No era mais um autmato, era um ente animado. 404
O espelho, desse modo, o instrumento que afere a passagem do ser ao aparecer, refletindo no o ser como tal, mas a sua alma exterior, conformando o sujeito a uma imagem. Uma chave de leitura possvel de O espelho seria ver nele, como sugere Antonio Candido, um eco do conte philosophique, maneira de Voltaire, com a retomada do tema da velha alegoria da sombra perdida. 405 Porm, ainda que a fico possa pertencer a essa
404 405
Ibidem, p. 351-352. CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis. Em: Vrios escritos. 4. ed. reorganizada pelo autor. Rio de Janeiro; So Paulo: Ouro sobre Azul; Duas Cidades, 2004. pp. 15-32; citao nas pginas 22 e 23. John Gledson afirma que o conto no possibilita s interpretaes psicolgicas, mas talvez a questo da nacionalidade que ele prope no lugar delas no seja a melhor chave de leitura (GLEDSON, John. Por um novo Machado de Assis: ensaios. So Paulo: Cia. das Letras, 2006. p. 74 e ss).
199
tradio, no se deve perder de vista, por um lado, que ela se conecta com a maioria das narrativas machadianas, e, por outro, que estas dialogam com a atmosfera cultural da segunda metade do sculo XIX e comeo do sculo XX, a qual se debruava sobre a dimenso psicopoltica de uma questo metafsica da maior grandeza. Como mostrou Lcia Miguel Pereira, o que est em jogo, no s nesse, mas em vrios contos de Machado de Assis, o contraste entre a substncia e a aparncia, entre os mveis e as aes. 406 A onipresena desse contraste em suas fices no implica, entretanto, uma crtica ideologia por parte de Machado, ou seja, no consiste na tematizao ou formalizao narrativa do topos que Roberto Schwarz chamou de idias fora do lugar: o descompasso tropical entre discurso (aparncia) e realidade social (substncia). 407 Isto porque, para usar a inverso feita por Maria
PEREIRA, Lcia Miguel. Histria da literatura brasileira: prosa de fico: de 1870 a 1920. Belo Horizonte; So Paulo: Itatiaia; EdUSP, 1988. p. 98. 407 Inscritas num sistema que no descrevem nem mesmo em aparncia, as idias da burguesia viam infirmadas j de incio, pela evidncia diria, a sua pretenso de abarcar a natureza humana. Se eram aceitas, eram-no por razes que elas prprias no podiam aceitar. Em lugar de horizonte, apareciam sobre um fundo mais vasto, que as relativiza: as idas e vindas de arbtrio e favor. Abalava-se na base a sua inteno universal. Assim, o que na Europa seria verdadeira faanha da crtica, entre ns podia ser a singela descrena de qualquer pachola, para quem utilitarismo, egosmo, formalismo e o que for, so uma roupa entre outras, muito da poca mas desnecessariamente apertada (SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. 5. ed. So Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2000. p. 27). Um caso em que a inteno universal das idias burguesas foi desmentida o da Revoluo Haitiana (que influiu na redao da dialtica hegeliana do amo e do escravo: cf. BUCK-MORSS, Susan. Hegel and Haiti. Critical Inquiry. v. 26, n.4. Chicago: University of Chicago Press, vero de 2000. pp. 821-865). A leitura adorniana-luckacsiana (com aportes de close reading) de Schwarz possui muitos mritos e est solidamente construda, mas isola Machado de Assis (para coloc-lo numa posio excepcional superior, fundador de uma tradio de grandes escritores brasileiros, a qual se vinculariam os mais recentes Antonio Callado e Chico Buarque, que, como Machado, criticariam formal e tematicamente em seus romances a posio descompassada do intelectual nos trpicos) da mais frutfera linha de reflexo artstica sobre a literatura nos trpicos, em que o erro, o desvio, o fora do lugar aparecem como estratgias poltico-culturais e ganham inclusive contornos metafsicos. Pense-se, por exemplo, na idia de obnubilao braslica de Araripe Jr., ou na sua afirmao de que o realismo de Zola cederia realidade do lirismo ou o lirismo da realidade em Alusio de Azevedo, pois no Estilo Tropical, a incorreo (...) converte-se numa eminente qualidade (ARARIPE Jr., T. A. Araripe Jnior: Teoria, crtica e
406
200
Sylvia de Carvalho Franco ao responder Schwarz, as idias esto no lugar 408: ainda que as fices machadianas por vezes ironizem o
histria literria. Seleo e apresentao de Alfredo Bosi. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos; So Paulo: EdUSP, 1978. p. 124; sobre a obnubilao, cf. as pginas 300 e ss. do mesmo livro e tambm, do mesmo autor: Gregrio de Matos. 2. ed. Paris: Garnier, 1910. p. 37-38). Ou ento, na contribuio milionria de todos os erros preceituada pelo Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Ou ainda, na proposta estticopoltica do Tropicalismo, que Schwarz to ferrenhamente critica como a conjuno esdrxula de arcaico e moderno que a contra-revoluo [leia-se ditadura militar, pois o texto foi escrito em 1969-1970] cristalizou (SCHWARZ, Roberto. O pai de famlia e outros estudos. 2. ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 90). Dito de outro modo: Schwarz situa Machado hierarquicamente acima desta linha poltico-cultural que tem como figuras o jaguno civilizado (Araripe Jr.), o Antropfago ou primitivo tecnizado (Oswald de Andrade), em suma, uma relao brbara com a modernidade e que postula a constitutividade do erro, questionando a posio dependente do acidente em relao essncia, o lugar do fora do lugar. Para fazer uso da distino oriunda de A tempestade, de Shakespeare, Schwarz renega a brutalidade de Caliban, em nome da coerncia e lucidez de Ariel (posio explcita de um intelectual da tradio a que Schwarz pertence: Srgio Buarque de Holanda cf. o seu Ariel. Em: O esprito e a letra. Vol I. So Paulo: Companhia das Letras, 1996), o que, devemos salientar, contraria o prprio Machado, que no poema No alto caracteriza Ariel como Um pensamento vo e quem ajuda o poeta que chegara ao alto da montanha o no-nomeado canibal: Para descer a encosta / O outro lhe deu a mo. 408 Cf. CARVALHO FRANCO, Maria Sylvia de. As idias esto no lugar (entrevista). Caderno de debates. v. 1. So Paulo: 1976. Schwarz se baseia em outro livro de Carvalho Franco, Homens livres na ordem escravocrata (4. ed. So Paulo: Editora da UNESP, 1997), para conceber a tese das idias fora do lugar e amparar sociologicamente a centralidade do favor e do arbtrio, isto , da dominao pessoal, na fico machadiana. A argumentao de Carvalho Franco na sua resposta de que na nova teoria do pensamento brasileiro como idias fora do lugar (...) Ainda (...) reconhecemos uma variante das interpretaes que combinam diferentes modos de produo: a sociedade e a economia brasileiras no sculo XIX aparecem como escravistas e articuladas aos grandes mercados mundiais, estes sim capitalistas, estabelecendo-se relaes entre essas partes heterogneas de um todo que as transcende. (...) Para evitar esse risco, preciso partir de uma teoria que diverge, ponto por ponto, do esquema atrs explicitado: colnia e metrpole no recobrem modos de produo essencialmente diferentes, mas so situaes particulares que se determinam no processo interno de diferenciao do sistema capitalista mundial, no movimento imanente de sua constituio e reproduo (As idias esto no lugar, p. 61-62). Como se ver, no esse o nosso argumento.
201
contraste entre ser e aparncia, elas no constituem necessariamente uma crtica (visando uma reconciliao coerente de ambas), mas buscam lanar luz sobre o seu regime de funcionamento. Dito de outro modo: Machado de Assis sonda o poder dos costumes, das opinies, dos rituais sociais, que operam perfeitamente mesmo quando em flagrante contradio com as condies ditas infra-estruturais. 409 Um conto enuncia bem o projeto de investigao das fices de Machado, o ncleo de seu interesse. Trata-se de uma narrativa que, junto Teoria do Medalho, formaria uma trilogia com O espelho, a saber, O segredo do Bonzo, que trata, como o ttulo aponta, de um dos arcana imperii do poder espiritual, o segredo que o bonzo (monge, sacerdote) expe aos personagens: se uma coisa pode existir na opinio, sem existir na realidade, e existir na realidade, sem existir na opinio, a concluso que das duas existncias paralelas a nica necessria a da opinio, no a da realidade, que apenas conveniente. 410 A curiosa doutrina , a seguir, secularizada pelos protagonistas e em um processo incrivelmente condizente com o percurso da censura moderna transferida, por estes, imprensa: um deles se pe a coloc-la em prtica no rudimentar jornal local, em que inventa relatos fictcios da qualidade de suas alparcatas, lucrando com a operao. O subttulo do conto, Captulo indito de Ferno Mendes Pinto, isto , das famosas Peregrinaes, relato quase fantstico do explorador portugus, no deixa dvidas: em Machado de Assis, como argumentou Ral Antelo, a histria mera exterioridade da fico. 411 Uma leitura ideolgica poderia ver neste conto uma crtica ao carter irreal das narraes de Mendes Pinto, bem como falsificao do discurso religioso e miditico, que so (as trs) aproximadas no relato de Machado. Entretanto, esta perspectiva perderia de vista que a irrealidade da opinio, da fico, da imagem ou do jornal constitui
Se estamos corretos, ento haveria que se questionar a diviso entre o jovem Machado de Assis, concebido como escritor de contos ditos romnticos, agradveis alta sociedade letrada, e o Machado de Assis maduro, suposto autor de romances de forte crtica ideolgica, em que a tematizao da contradio d lugar a um trabalho de formalizao dialtica da mesma. Basta ver, por exemplo, a onipresena da temtica do cime (motivo por excelncia do chamado teatro de costumes, voga ento e por muito tempo depois), presente em todas as fases do autor. 410 MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O segredo do Bonzo. Captulo indito de Ferno Mendes Pinto. Em: Obra completa. v. II: Conto e Teatro. pp. 323-328; citao: p. 325; grifo nosso. 411 ANTELO, Ral. Crtica acfala. Buenos Aires: Grumo, 2008. p. 56.
409
202
(dialeticamente) a prpria realidade que serviria como suposto parmetro de crtica. 412 Alm disso, a reflexo machadiana sobre os costumes, sobre o admirvel poder da opinio e da aparncia, participa, como adiantamos, de uma atmosfera de especulao sobre a temtica, que envolve no s a predominncia do teatro dos costumes, mas tambm parte da filosofia, da etnografia (com seu levantamento dos usos e hbitos de distintos povos), da embrionria sociologia, da psicologia, etc. Assim, por exemplo, Nietzsche enunciaria, em 1886, uma tese semelhante dO espelho: nosso corpo apenas uma estrutura social de muitas almas. 413 E menos de uma dcada depois, Gabriel Tarde definiria a sociedade como a possesso recproca, sob extremamente variadas, de todos por cada um. 414 Ou seja, no final do sculo XIX, fenmenos como as multides, o poder dos jornais, a moda, etc., levam reflexo sobre o poder dos costumes e das opinies sobre as vontades individuais, e sua capacidade de dar forma vida subjetiva e coletiva. E mais: faz-se uso de um vocabulrio comum: alma, exterioridade, possesso, etc. No mesmo ano de Monadologia e sociologia, 1895, aparecem As regras do mtodo sociolgico, de mile Durkheim, o qual, ainda que tenha sido filiado a uma tradio oposta a de Tarde, partilha com este muito do vocabulrio e na abordagem do fenmeno social:
as maneiras coletivas de agir e de pensar tm uma realidade exterior aos indivduos que, a cada momento do tempo, conformam-se a elas. So coisas que tm sua existncia prpria. O o famoso paradoxo em que cai a postulao do marxismo vulgar de que a infra-estrutura scio-econmica determina a super-estrutura, na qual se inserem as opinies e conceitos: a concluso lgica desse postulado que a prpria idia de que a infra-estrutura determina a super-estrutura seria determinada pela infraestrutura. 413 NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal. Preldio a uma filosofia do futuro. Cap. 1: Dos Preconceitos dos Filsofos, 19. p. 25. 414 TARDE, Gabriel. Monadologia e sociologia e outros ensaios. Traduo de Paulo Neves. So Paulo Cosac Naify, 2007. p. 112. A temtica da possesso tambm estava no ar. No conto Decadncia de dois grandes homens, de 1873, Machado narra as desventuras de Jaime, homem tido por louco e que acredita ser, por metempsicose, Marco Bruto, o Brutus (e que seu gato seria a encarnao de Jlio Csar): a vida uma eterna repetio. Todos inventam o inventado. No seu inacabado livro sobre A propriedade, tambm do final do sculo XIX, Jos de Alencar caracteriza o carter de equivalncia da moeda como a metempsicose do dinheiro (ALENCAR, Jos de. A propriedade.).
412
203
indivduo as encontra inteiramente formadas e no pode fazer que elas no existam ou que sejam diferentes do que so; assim ele obrigado a levlas em conta, sendo mais difcil (no dizemos impossvel) modific-las na medida em que elas participam, em graus diversos, da supremacia material e moral que a sociedade exerce sobre seus membros. 415
Alm disso, Durkheim divide com Nietzsche (em contraposio aos resqucios de contratualismo ainda vigentes) a idia de que esta realidade exterior (a qual tem por efeito fixar, instituir fora de ns certas maneiras de agir e certos julgamentos que no dependem de cada vontade particular isoladamente 416 e que no deve ser confundida com suas encarnaes individuais 417) imposta e garantida coercitivamente. Neste sentido, arriscaramos dizer que O espelho consiste, de fato, em uma nova teoria da alma, que, retomando a diviso entre homem interior (indivduo) e homem exterior (sociedade), j presente em Erasmo de Roterd, e dialogando com o vocabulrio e as preocupaes do pensamento e das manifestaes culturais da atmosfera vigente, coloca em primeiro plano a importncia imagtica dos costumes, e um certo poder social contido no espelho de conformar a aparncia a um padro. Para compreend-la melhor, talvez seja til recorrer a outro saber que estava sendo gestado na mesma atmosfera, e que esclareceu muitssimo o funcionamento do poder censrio. 6.2. No prlogo terceira edio inglesa dA interpretao dos sonhos, Sigmund Freud afirma considerar o livro o mais valioso dos [seus] descobrimentos: Um insight como este s entra em nosso quinho uma nica vez na vida. 418 O ncleo de tal insight, o ncleo de sua concepo dos sonhos, como o prprio autor explicitou em uma nota agregada em 1909, seria a reconduo da desfigurao onrica
DURKHEIM, mile. As regras do mtodo sociolgico. 2. ed. Traduo de Paulo Neves. So Paulo: Martins Fontes, 1999. p. XXIX; grifos nossos. 416 Idem. 417 Ibidem, p.7 418 FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 4 (1900): La interpretacin de los sueos (primera parte). Traduo ao castelhano de Jos L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1998. p. 27.
415
204
censura. 419 Como se sabe, na Traumdeutung, o sonho concebido como a realizao de um desejo. Porm, como este desejo provm do inconsciente, muitas vezes se choca com (ou repugna) a parte moral do (...) ser 420, e uma defesa endopsquica 421 impede o seu acesso tal como ele conscincia (que, para Freud, era, poca, um sistema de percepo). Esta defesa desfigura o desejo inconsciente, o qual, desse modo, torna-se consciente s atravs de uma expresso incoerente, dissimulada, ou at mesmo desprazerosa. Onde encontramos na vida social uma desfigurao semelhante de um ato psquico?, pergunta Freud, para logo responder:
Em situao similar encontra-se o publicista poltico que tem de dizer verdades desagradveis aos poderosos. Se as diz sem dissimulao, o dspota suprimir suas manifestaes a posteriori caso se tratem de declaraes verbais, e preventivamente se vo dar-se a conhecer por meio impresso. O publicista tem de temer a censura, e por isso modera e desfigura a expresso de suas opinies. Conforme a fora e a sensibilidade desta censura, ver-se- necessitado a abster-se meramente de certas formas de ataque ou a contentar-se com aluses em lugar de referncias diretas, ou ter que ocultar sua comunicao ofensiva por trs de um disfarce em aparncia inofensivo. Por exemplo, pode contar o que aconteceu entre dois mandarins do Imprio Celeste, quando na verdade tm em vista os funcionrios de sua ptria. Quanto mais estrita reinar a censura, mais extremado ser o disfarce e mais engenhosos, freqentemente, os meios que ho de colocar o leitor no rastro do significado genuno. 422
devido a esse regime de funcionamento comum que Freud chamar a defesa endopsquica de censura, to essencial para
Ibidem, p. 314; grifo nosso. FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 5 (1900-1901): La interpretacin de los sueos (segunda parte); Sobre el sueo. Traduo ao castelhano de Jos L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1998. p. 475. 421 FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 4. p. 314. 422 Ibidem, p. 161.
420 419
205
entender o carter disforme, aparentemente sem sentido, dos sonhos: A desfigurao onrica aparece efetivamente como um ato da censura, o que permite enunciar a frmula destinada a expressar a essncia do sonho: O sonho o cumprimento (disfarado) de um desejo (sufocado, reprimido). 423 Aquilo que se expressa no sonho, o seu contedo manifesto o resultado de uma luta entre o inconsciente e a censura endopsquica, que faz com que o contedo latente, os pensamentos do sonho, s devenha consciente com uma expresso diferente da original. O imprio da censura fora o inconsciente, assim como o censor poltico fora o jornalista, a lanar mo de uma srie de artimanhas para passar por sua barreira. Assim, a censura no s obriga o trabalho do sonho a desfigurar o desejo inconsciente, como tambm torna-o desprazeroso nos chamados sonhos contrrios em que algo que desejamos inconscientemente sonhado de modo lastimoso. Ela tambm provoca a condensao de pensamentos e desejos inconscientes, por meio da criao de semelhanas e congruncias, pelas quais, por exemplo, duas ou mais pessoas aparecem como uma formao mista o que permite a expresso de um desejo relacionado a uma s delas, o qual, se aparecesse como tal, seria barrado pela censura. A desferencializao tambm pode se dar atravs da substituio do objeto de desejo; e o fato de muitas vezes sonharmos com acontecimentos insignificantes seria igualmente o resultado da disputa entre os pensamentos do sonho e a censura: para passar por essa, o trabalho do sonho despoja de intensidade os elementos de alto valor psquico e concede aos de valor nfimo novas valncias por meio de uma sobredeterminao. A intensidade que um detalhe insignificante adquire no sonho a cifra de algo realmente intenso que nos marcou durante o dia. Mas Freud no pra por a. A censura obriga tambm ao sufocamento ou inibio dos afetos, diminuindo seus efeitos, pois no apenas o contedo dos sonhos, mas tambm o seu Stimmung vigiado, na medida em que os afetos so a parte mais resistente censura de resistncia. Alm disso, ela pode cortar o nexo entre dois pensamentos, tornando uma associao delirante, e destitu-la de todo sentido aparente, procedendo de maneira totalmente anloga censura russa dos peridicos na fronteira: velando pelos leitores, s deixa chegar em suas mos os peridicos estrangeiros com trechos suprimidos por riscos pretos. 424 Por fim, a censura exerce sua funo at mesmo de modo meta-onrico. Assim, ela pode deixar passar um desejo inconsciente
423 424
Ibidem, p. 177. FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 5. p. 523.
206
altamente repugnante, sob pretexto de que nem em sonhos desejaramos algo assim, bem como produzir o esquecimento do sonho. E, acima de tudo, ela pode se exercer de modo positivo, por meio da elaborao secundria, tornando coerente um sonho, de modo a apagar as marcas de sua atuao desfiguradora, dissimuladora, sufocadora, etc.; ou ento produzindo um contedo manifesto, quando, por exemplo, sonhamos que percebemos que estamos sonhando: seria a censura dizendo que se trata apenas de um sonho, apenas de uma fico, que no devemos nos preocupar com o desejo nele expressado. O quadro apresentado por Freud, por meio do acento na funo que a censura endopsquica exerce sobre o trabalho do sonho, implica uma bipartio, que j mencionamos, entre contedo manifesto do sonho, isto , o que aparece quando dormimos, o que percebemos, e o contedo latente, os pensamentos inconscientes: duas figuraes do mesmo contedo em duas linguagens diferentes; ou melhor, o contedo do sonho aparece a ns como uma transferncia dos pensamentos do sonho a outro modo de expresso, cujos signos e leis de articulao devemos aprender a discernir por via de comparao entre o original e sua traduo. 425 No se trata de mero jogo de palavras, de mera analogia. Para Freud, o contedo manifesto do sonho aparece na forma de imagens, em uma pictografia, cujos signos devem ser lidos no de acordo com seu valor figural, mas segundo sua referncia signante, convertendo as imagens em palavras. Todavia, esse original no nos acessvel de modo direto, ele s se deixa ver nas entrelinhas do processo censrio: seria a compreenso deste que permitiria passar da pictografia gramtica, atravs de um processo interpretativo. O analista que interpreta os sonhos como o crtico literrio que restitui o sentido original de uma obra censurada ou autocensurada, atentando para as marcas das mudanas induzidas, decifrando, para retomar Leo Strauss, o seu sentido exotrico. 426 Ao compreender o funcionamento da censura, o psicanalista capaz de identificar justamente os lobos em pele de cordeiro 427, os desejos inconscientes travestidos de sonhos inocentes,
FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 4. p. 285. Neste sentido, talvez possamos dizer que os quadros ou a escritura automtica surrealistas, to disformes, desfigurados, incoerentes, no seriam expresso direta do inconsciente, mas da luta deste com a censura, e um psicanalista artstico, atento para o inconsciente esttico, seria capaz de reconstruir seu contedo original. Sobre o inconsciente esttico, em uma perspectiva diferente da nossa, cf. RANCIRE, Jacques. O inconsciente esttico. Traduo de Mnica Costa Netto. So Paulo: Ed. 34, 2009. 427 FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 4. p. 198.
426 425
207
ou desfigurados, apenas alusivos. Contudo, ao contrrio de Bodin, que via como tarefa do censor esta identificao, para Freud exatamente a censura que fora os pensamentos lupinos do sonho a se manifestarem de modo ovino. A censura obriga os lobos a inventarem expedientes cada vez mais ardilosos para se travestirem de ovelhas. Assim, para Freud, caberia ao analista agir ali onde a censura falhou: a psicoterapia no pode empreender outro caminho que o de submeter o Inconsciente ao imprio do Pr-consciente 428, isto , o de aprimorar o trabalho da censura, o guardio de nossa sade mental. 429 Devemos ressaltar que isto que Freud chama de censura opera de modo ainda mais forte durante o dia (enfraquecendo-se ao dormir), pois o sonho possui valor terico como paradigma 430 do funcionamento da psique. Auxiliar o analisando a impedir que o inconsciente impere sobre o pr-consciente e/ou o consciente, reforando os mecanismos censrios apresenta-se, portanto, como uma das funes do analista para Freud (ao menos, cabe sublinhar, poca da Traumdeutung). 6.3. Devido a passagens como estas, e prpria postulao de uma censura interior ao sujeito, alguns crticos da psicanlise a acusaram de produzir a internalizao da censura moral e poltica: por exemplo, para Alessandro Fontana, a censura freudiana no (...) uma metfora, mas a continuao da censura tradicional com outros meios, atravs da interiorizao progressiva das funes desta, processo em que a psicanlise exerceria um papel fundamental, sendo uma espcie de concluso exemplar de todo um saber mdico e penal de controle e regulao censrios. 431 De modo inverso, alguns psicanalistas partiram da concepo freudiana para afirmar que a censura moral e poltica seria uma projeo, no interior do universo da comunicao social, da censura intra ou endopsquica. 432 Entretanto, ambas as posies se equivocam, na medida em que, por um lado, a internalizao da censura no produto da prtica psicanaltica, como se pode ver pela onipresena inclusive pr-freudiana do argumento de que toda censura externa termina por produzir uma auto-censura, e em que, por outro, a censura endopsquica no se projeta para fora, mas resultado de uma introjeo, o que, como veremos, o prprio Freud deixa claro.
428 429
FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 5. p. 569. Ibidem, p. 559. 430 Ibidem, p. 17. 431 FONTANA, Alessandro. Censura. p. 114, 120. 432 VALABREGA, Jean-Paul. Fundamento psico-poltico da censura. p. 8.
208
De fato, retomando a frase de Fontana, a censura freudiana no uma metfora da censura poltica e moral. O uso do termo censura para descrever a defesa endopsquica contra os impulsos inconscientes no tomada por mera analogia, mas se baseia em uma compreenso profunda da censura externa ao sujeito. O prprio Fontana admite que a teoria de Freud sobre a censura (...) revela de forma emblemtica todas as ambigidades (na relao represso-produo) da censura histrica 433, ao que acrescentaramos que ela descreve perfeitamente as vrias estratgias que esta utiliza: a virtualizao da referncia (ou mesmo a desreferencializao), o corte de fragmentos, a produo do esquecimento, a neutralizao dos efeitos por meio da indiferenciao dos afetos, o ato de ressaltar o carter onrico (ficcional) do sonho para melhor isol-lo, e, por fim, o modo como a censura externa se converte em autocensura. Esta ltima no existe per se e desde sempre como uma instncia ou funo psquica; antes, ela resultado de um processo de socializao que implica a interiorizao de uma censura externa. NA interpretao dos sonhos, Freud apenas sugere isso ao afirmar que, na criana, a censura entre inconsciente e pr-consciente ainda est em formao. A sua formulao mais acabada se dar apenas quando Freud identificar o que (ou quem) exerce essa censura interna. At a chamada segunda tpica, com a definio precisa do Eu, do Isso e do Super-eu, no fica claro de onde parte a censura interna. Esta era concebida por meio da imagem do porteiro que vigia a passagem do inconsciente ao pr-consciente (ou mesmo do pr-consciente ao consciente), ou seja, aquele que controla o que pode entrar na percepo, o que pode aparecer. Todavia, Freud hesitava ao determinar a instncia psquica responsvel pela funo de vigia: o pr-consciente ou o consciente (o que implicaria postular que o sistema consciente percebe todos os desejos inconscientes para poder censur-los, uma flagrante contradio, pois a funo da censura endopsquica seria justamente proibir a percepo deles). A partir da Introduo ao narcisismo, tudo comea a ficar mais claro: ali, Freud argumenta que o arrefecimento do narcisismo infantil se d pela formao de um ideal do Eu que reprime os impulsos instintuais da libido (...) quando entram em conflito com as idias morais e culturais do indivduo. 434 Este ideal , por assim dizer, um standard com o qual o Eu constantemente comparado, e se forma
433 434
FONTANA, Alessandro. Censura. p. 114. FREUD, Sigmund. Obras completas, v. 12 (1914-1916): Introduo ao narcisismo; Ensaios de metapsicologia e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 39.
209
na relao do indivduo com o meio social: partiu da influncia crtica dos pais intermediada pela voz, aos quais se juntaram no curso do tempo os educadores, instrutores e, como uma hoste inumervel e indefinvel, todas as demais pessoas do meio (o prximo, a opinio pblica). 435 Dito de outro modo: o ideal do Eu concebido como um construto que est no meio do caminho entre o indivduo e a sociedade, possuindo, alm do seu lado individual, um social, pois tambm o ideal comum de uma famlia, uma classe, uma nao. 436 No entanto, no o prprio Eu que se compara ao ideal do Eu. Freud postula, para esta funo, a existncia de uma instncia psquica especial que observa continuamente o Eu atual, medindo-o pelo ideal do Eu, instncia que corresponde ao que costumeiramente chamamos de nossa conscincia moral. 437 A queixa dos paranicos de que seus atos, falas e mesmo pensamentos esto sempre sendo vigiados por outro uma queixa contra essa instncia, queixa justificada, [pois] ela descreve a verdade; um tal poder, que observa todos os nossos propsitos, inteirando-se deles e os criticando, existe realmente, e existe em todos ns na vida normal (...) A instituio da conscincia moral foi, no fundo, uma corporificao inicialmente da crtica dos pais, depois da crtica da sociedade. 438 A instncia exterior internalizada que nos observa como se fosse de fora seria tambm a que exerce a censura dos sonhos. Assim, Freud ir notar que se, poca da Traumdeutung, no imaginava esta censura como um poder especial, tendo escolhido o termo para designar um lado das tendncias repressoras que dominam o Eu, tornava-se lcito agora reconhecer no ideal do Eu e nas exteriorizaes dinmicas da conscincia tambm o censor do sonho. Estando este censor alerta em alguma medida tambm durante o sono, entenderemos que a premissa de sua atividade, a auto-observao e autocrtica (...) contribui para o contedo do sonho. 439 Dito de outro modo: a conscincia moral censuraria o indivduo tomando como modelo o ideal do Eu.
Ibidem, p. 42; grifo nosso. Ibidem, p. 50. 437 Ibidem, p. 41-42. 438 Ibidem, p. 42-43; grifo nosso. Corporificao do social no sujeito: a semelhana com as encarnaes individuais da realidade exterior da sociedade de que fala Durkheim evidente. 439 Ibidem, p. 44-45. Freud chega a aventar, ainda que negando-se a tomar uma posio definitiva, a possibilidade de que a distino entre a parte do Eu censria e auto-observadora, por um lado, e o resto do Eu, por outro, fosse a expresso psicolgica da diferenciao filosfica entre, respectivamente, autoconscincia e conscincia. A pesquisa interior realizada pela instncia auto436 435
210
Como se sabe, esta conscincia moral receber, em O Eu e o Isso, a sua denominao mais conhecida: Super-eu. 440 Na segunda tpica, o ideal do Eu aparece como um ser superior, um ser elevado que acolhemos dentro de ns, e descrito por Freud como um resultado do complexo de dipo: o ideal internalizado a imagem do Pai. A associao entre formao do ideal do Eu (e do Super-eu) e o complexo de dipo, ainda que possa dar coerncia ao construto freudiano, explicando porque a censura e o sentimento de culpa podem ser inconscientes (como frutos do complexo de dipo, pertencem, como este, ao inconsciente), peca pela fragilidade (para dizer pouco) do edpico como estruturador universal da psique, algo que foi magistralmente demolido por Deleuze e Guattari, e Foucault 441, em um gesto que poderia ser sumarizado na mordaz e deliciosa pergunta aforismtica levantada por Oswald de Andrade: Que sentido teria num matriarcado o complexo de dipo?. 442 Todavia, se retirarmos a
observadora forneceria filosofia o material para suas operaes intelectuais (p. 43). Desse modo, o pensamento filosfico no seria, jamais, totalmente individual, ou melhor, a sua organizao formal replicaria, de algum modo, os influxos crticos e morais da sociedade, na medida em que a conscincia moral que observa o Eu a internalizao da crtica da sociedade. Freud vai ainda mais longe, ao conjecturar que o desenvolvimento e fortalecimento dessa instncia observadora poderia tambm comportar a gnese posterior da memria (subjetiva) e do fator temporal, que no vigora para os processos inconscientes (Idem), de modo que a memria seria sempre um produto social. evidente que ambas as hipteses tm sua dose de plausibilidade, desde que descartemos a viso antropocntrica de sociedade: aquilo que Freud est chamando de conscincia moral no produzida apenas na relao entre indivduo e sujeitos e instituies humanas, mas, de modo geral, na relao entre aquele e o mundo. 440 Didier-Weil, em uma interveno no Seminrio 26 de Lacan afirma que na Traumdeutung encontramos a primeira vez (...) que ele [Freud] introduz o termo censura, que esse antepassado do Super-Eu. 441 Cf. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Flix. O anti-dipo. Capitalismo e esquizofrenia. Traduo de Luiz B. L. Orlandi. So Paulo: Ed. 34, 2010; e FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurdicas. Traduo de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau Editora, 1996. 442 ANDRADE, Oswald. Os dentes do Drago. (entrevistas). 2. ed. Pesquisa, organizao, introduo e notas de Maria Eugenia Boaventura. So Paulo: Globo; Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 52. A invectiva de Oswald apenas uma das muitas que erige contra Freud. No entanto, no h um rechao total da psicanlise de sua parte; ao contrrio, Freud considerado, como Marx, um dos romnticos da Antropofagia: seria necessrio despi-lo do rano
211
essencialidade atribuda por Freud figura paterna, e atentarmos descrio que faz da relao entre ideal do Eu e Super-eu, por um lado, e preceitos sociais, religio e moral, por outro, talvez a natureza e funcionamento daquilo que Machado de Assis chamou de alma exterior e sua relao com a censura (e auto-censura) fique mais clara: No difcil, diz Freud,
mostrar que o ideal do Eu satisfaz tudo o que se espera do algo elevado no ser humano. Como formao substitutiva do anseio pelo pai, contm o grmen a partir do qual se formaram todas as religies. O juzo acerca da prpria insuficincia, ao comparar o Eu com seu ideal, produz o sentimento religioso de humildade [grifo nosso] que o crente invoca ansiosamente. No curso posterior do desenvolvimento, professores e autoridades levam adiante o papel do pai; suas injunes e proibies continuam poderosas no ideal do Eu, e agora exercem a censura moral como conscincia. A tenso entre as expectativas da conscincia e as realizaes do Eu percebida como sentimento de culpa. Os sentimentos sociais repousam em identificaes com outras pessoas, com base no mesmo ideal do Eu [grifo nosso]. Religio, moral e sentimento social os contedos principais do que elevado no ser humano [Deixando aqui de lado a cincia e a
patriarcal que preside muito de suas formulaes (para Oswald, Freud era, ainda, a cara-metade negativa do catolicismo): seria curioso recorrer ao exame dos possveis pathos e fobias do Matriarcado atravs de documentrio e folclore, como da exegese culta (...) Seria necessrio revisar Freud e seus epgonos, despindo-os, em rigorosa psicanlise, dos resduos vigentes da formao crist ocidental de que todos derivaram. (...) Evidentemente, o freudismo se ressente dos resduos de sua formao paternalista. Falta a Freud e seus gloriosos sequazes, a dimenso Bachofen. Eles no viram que suas pesquisas se limitavam e sua interpretao se deformava na pauta histrica do patriarcado (ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofgica. p. 199-200). Nesse sentido, toda uma clnica antropofgica poderia ser desenvolvida, um projeto cujos primeiros passos esto sendo dados por Flvia Cera.
212
arte, acrescenta Freud em uma nota] foram originalmente uma s coisa. 443
O Super-eu seria, assim, a instncia que censura, critica e mede o indivduo de acordo com um ideal que seria mutvel, variando de acordo com as identificaes com diversos exemplos. Ou seja, um dos pr-requisitos para o funcionamento da censura a identificao, caracterizada por Freud como o empenho em configurar o prprio Eu semelhana daquele tomado por modelo 444 Vorbild, uma imagem (Bild) que est diante de (Vor) ns. Quem melhor descreveu o modo, ou melhor, o meio em que se do tais identificaes foi Jacques Lacan em seu clebre texto sobre O estdio do espelho, o qual consistiria no
espetculo cativante de um beb que, diante do espelho, ainda sem ter o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas totalmente estreitado por algum suporte humano ou artificial (o que chamamos, na Frana, um trotte-bb [andador]), supera, numa azfama jubilatria, os entraves desse apoio, para sustentar sua postura numa posio mais ou menos inclinada e resgatar, para fix-lo, um aspecto instantneo da imagem. 445
Lacan frisa que este espetculo cativante no deve ser tomado em sentido historicista; antes, constitui-se como paradigma da relao humana com as imagens exemplares, revelando, assim, uma estrutura ontolgica do mundo humano. Portanto, dever-se-ia compreender o estdio do espelho como uma identificao, no sentido pleno que a anlise atribui a esse termo, ou seja, a transformao produzida no sujeito quando ele assume uma imagem cuja predestinao para esse efeito de fase suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo imago. 446 Segundo Lacan, a imagem de si com que o beb se
443
FREUD, Sigmund. Obras completas, v. 16 (1923-1925): O Eu e o Id; Autobiografia e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 46-47. 444 FREUD, Sigmund. Obras completas, v. 15 (1920-1923): Psicologia das massas e anlise do eu e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 62; grifo nosso. 445 LACAN, Jacques. O estdio do espelho como formador da funo do eu. Em: Escritos. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 97. 446 Idem.
213
identifica a do seu eu ideal (o qual pertenceria, como foi mais tarde formulado, esfera do imaginrio), ou seja, nesta fase no haveria hiato entre o eu e a imagem (tal identificao sem restos constituiria o narcisismo primrio). Seja como for, importa sublinhar que, j na primeira identificao com uma imagem externa (e com a qual o sujeito tenta ou pensa coincidir), o auxlio externo, figurado no suporte humano ou artificial se revela essencial. Como se sabe, mais tarde Lacan sublinhar que uma parte constitutiva do paradigma do estdio do espelho se d pela mediao social externa: o gesto de um Outro (no exemplo do beb, um adulto que esteja prximo) que aprova a identificao, que aponta ou s vezes at mesmo afirma que aquela imago, inicialmente estranha, que aparece no espelho a imagem, o ideal do sujeito. Ou seja, existe algum externo ao indivduo que mede ou fixa a relao entre este e a imagem que ele toma como modelo de si. O estdio do espelho consiste, repitamos, em um paradigma que revela uma estrutura ontolgica do mundo humano, e, como tal, constitui uma situao exemplar, diz Lacan, em que o eu se precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na dialtica da identificao com o outro, isto , antes de se constituir dialeticamente na relao com o ideal do Eu (j, ao contrrio do eu ideal, no registro simblico, segundo a tripartio lacaniana), que a internalizao da imagem de outro como ideal a ser seguido, seja ela dos pais, dos professores, dos sacerdotes, de modelos morais, etc. Para introjetarmos um modelo de conduta vindo de outro, adotando-o como exemplo que devemos seguir, preciso antes que nos estranhemos de ns mesmos, que nos vejamos ontologicamente cindidos entre uma alma interior e uma alma exterior. Esta ciso (que a mesma entre ser e aparecer) no fruto do poder (social ou poltico), mas da condio ontolgica de estar-no-mundo, a essncia imagtica do carter social do homem (ainda que talvez no s dele). Mas isso no quer dizer que ela no seja a fonte do poder, enquanto (tendencialmente) distinto da pura fora fsica, na medida em que, devido a ela, uma instncia externa, social, que podemos chamar de censura, escolhe ou aprova a imagem, o exemplo que devemos seguir, e nos mede de acordo com ela. Ou seja, h uma instncia externa ao sujeito que determina e controla o regime e padro de passagem entre o ser e o aparecer. Se o espelho pode ser visto como cifra da sociedade, que reflete certa imagem de ns com a qual devemos nos guiar, talvez pudssemos dizer que nem sempre, ou melhor, que jamais ele refletir uma imagem autntica, pois o seu funcionamento depende de um grau de refrao da luz, o qual varia de espelho para espelho (no s de sociedade para sociedade, mas entre as
214
diversas instncias ou meios sociais, cada qual com sua prpria etiqueta ou padro de comportamento 447), podendo at mesmo devolver apenas a imagem borrada de ns mesmos, como aconteceu com o personagem de Machado de Assis, que teve de se adaptar para voltar a ver sua imagem, sua alma exterior. Na Traumdeutung, Freud no s faz uso desta imagem da refrao da luz, como a chama exatamente de censura:
Tudo o que pode ser objeto de nossa percepo interior virtual, como a imagem dada no telescpio pela propagao dos raios de luz. Mas estamos justificados a supor (...) os sistemas [inconsciente e pr-consciente] como semelhantes s lentes do telescpio, que projetam a imagem. (...) a censura situada entre dois sistemas corresponderia refrao dos raios na passagem a um meio novo. 448
6.4. A censura, exercida pelo Super-eu, pela sociedade ou pelo censor, depende, portanto, de uma imagem, trabalha sobre imagens, reformando, deformando e escalonando os diversos exemplos. Desse modo, Oscar Masotta, por um lado, acertou ao ressaltar a dimenso esttica do ideal do Eu (o sujeito se identifica com este ideal na medida em que se apropria de emblemas sociais, que so valores com os quais me invisto para vestir-me com eles, por assim dizer), mas, por outro, falhou ao separ-la da moral: A esttica se ope tica, que constitui a propriedade fundamental do Super-eu. 449 Um dos grandes mritos da teoria da censura de Freud foi precisamente estabelecer a inseparabilidade (at mesmo nos exemplos e ilustraes de que lana mo) entre moral e esttica, entre tica e moda, entre ideal do Eu e Super-eu. Se muitas vezes ele no parece diferenci-los tecnicamente, isto no quer dizer que no se possa faz-lo (como de fato a teoria psicanaltica posterior fez), mas sim que sejam co-constitutivos, e que a instncia moral julga e censura de acordo com uma imagem que se
Como vimos, Freud j ressaltava isso: Cada indivduo um componente de muitos grupos, tem mltiplos laos por identificao, e construiu seu ideal do Eu segundo os mais diversos modelos. Assim, cada indivduo participa da alma de muitos grupos, daquela de sua raa, classe, comunidade de f, nacionalidade, etc. (FREUD, Sigmund. Obras completas, v. 15. p. 92). 448 FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 5. p. 599. 449 MASOTTA, Oscar. Lecturas de psicoanlisis. Freud, Lacan. Buenos Aires: Paids, 2008. p. 207; grifo nosso.
447
215
forma com ela: no h moral que no seja uma esttica, e nem esttica que no seja uma moral (com o escalonamento das aparncias, do modo como devem ser formadas e medidas, os critrios de seu julgamento, etc.). Em termos psicanalticos, sem um modelo, um ideal do Eu, no haveria razo de ser do Super-eu. Se o padro moral uma imagem formada na dialtica entre o sujeito e o mundo (especialmente as sociedades humanas), isso implica que no s ele como tambm o Super-eu, formado conjuntamente ao ideal do Eu, modificvel historicamente. Por isso, Lacan poder afirmar que h um Super-eu tpico s sociedades de consumo, que ordena gozar (censurando o sujeito quando este no o faz): o padro esttico-moral contingente e mutvel, como a alma exterior machadiana, e a refrao (censura) do espelho. Porm, a estetizao envolvida na formao da moral no deve nos fazer subestimar a violncia do processo de internalizao do ideal do Eu e do Super-eu. Segundo o correlato filognico do complexo de dipo na biologia darwiniana que Freud adota para elaborar sua Psicologia de Massas (e toda psicologia, para ele, , antes de tudo, psicologia social), a saber, a horda primitiva (composta por um Pai todo-poderoso que domina os filhos e detm o monoplio das relaes sexuais com as fmeas), o primeiro ideal do Eu seria o prprio Pai e no sua imagem: ele, de fato, vigiaria e imporia fisicamente sua dominao. O seu olhar seria to poderoso e temido que possuiria aquela caracterstica popularmente chamada de magnetismo animal e que Freud associa hipnose. A hiptese da horda primitiva fictcia, uma pressuposio 450, e devemos tom-la no como um acontecimento fundador, mas como uma fundao que no cessa de acontecer. A condio (no s) humana marcada pela natalidade, a qual, como demonstrou com maestria Hannah Arendt, indica a irrupo do novo, a possibilidade de (re)comeo histrico: o milagre da liberdade est inserido nesse poder iniciar, que, por sua vez, est inserido no fato de que todo homem, ao nascer, ao aparecer em um mundo que estava a
450
Tambm algo comum atmosfera intelectual da poca, expressado pela Filosofia do como se de Vaihinger, que foi invocada, por exemplo, por Hans Kelsen para postular uma norma fundamental hipottica como fundamento da Teoria Pura do Direito. Cf. VAIHINGER, Hans. A filosofia do como se: sistema das fices tericas, prticas e religiosas da humanidade, na base de um positivismo idealista. Traduo de Johannes Kretschmer. Em: KRETSCHMER, Johannes. O texto do como se. Tese (Doutorado em Letras). Rio de Janeiro: UERJ, 2002.
216
antes dele e que continuar a ser depois dele, , ele mesmo, um novo incio. 451 A histria humana individual no se conforma histria da espcie como um todo ou de um povo, civilizao ou grupo social em particular, sem uma interveno direta e forada. Nenhuma internalizao de ideal do Eu ou de Super-eu acontece sem a presena coativa de um ideal do Eu e de um Super-eu externo. Como dizia Oswald de Andrade, poderamos acreditar num progresso humano se a criana nascesse alfabetizada, mas enquanto ela aparecer no mundo, como nesses ltimos quarenta sculos de crnica conhecida, nasce naturalmente na idade da pedra: E a ficaria, primitiva e nhambiquara, se no a deformasse imediatamente. No h motivos para se ter saudades das idades lticas. Todos os dias nascem milhes de homens pr-histricos. Portanto, a internalizao virtualizante da presena efetiva de vigias externos um processo incessante e cotidiano que foi descrito com perfeio por Gabriel Tarde:
Comeamos, crianas, adolescentes, por sentir vivamente a ao dos olhares de outrem, que se exprime sem sabermos em nossa atitude, em nossos gestos, no curso modificado de nossas idias, na perturbao ou na superexcitao de nossas palavras, em nossos juzos, em nossos atos. E somente aps termos, durante anos, suportado e feito suportar essa ao impressionante do olhar, que nos tornamos capazes de ser impressionados inclusive pelo pensamento do olhar de outrem, pela idia de que somos objeto da ateno de pessoas distantes de ns. Do mesmo modo, aps termos conhecido e praticado por muito tempo o poder sugestivo de uma voz dogmtica e autoritria, ouvida de perto, que a leitura de uma afirmao enrgica basta para nos convencer e que mesmo o simples conhecimento da adeso de um grande nmero de nossos semelhantes a esse julgamento nos dispe a julgar no mesmo sentido. 452
ARENDT, Hannah. A dignidade da poltica: ensaios e conferncias. 2 ed. Traduo de Helena Martins et al. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1993. p. 121. Cf. tambm ARENDT, Hannah. A condio humana. 7 ed. Traduo de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995. 452 TARDE, Gabriel. A opinio e as massas. p. 9.
451
217
por isso que a censura presta tanta ateno juventude, a qual preciso sempre acostumar, j que, afirma Bodin, a criao dos jovens uma das principais incumbncias de uma repblica, pois, como plantas novas devem receber o mximo de cuidado. 453 O poder censrio deve continuamente impor juventude o hbito, mesmo que este seja apertado demais ou que ela rejeite us-lo. O poder censrio, conservador por excelncia, visa conformar o novo de acordo com as imagens da tradio e o regime de tradio das imagens. 6.5. O projeto da genealogia da moral de Nietzsche consistia exatamente em demonstrar a passagem da fora moral, a virtualizao da violncia da autoridade, pela qual esta convertida em um modelo a ser seguido. Como sabemos, a idia nietzschiana de origem (ou nascimento) no pode ser tomada como um acontecimento que se d de uma vez por todas, de modo que o processo que ele descreve se repete incessantemente, ou seja, a fora continua servindo para a manuteno (melhor dito, para a instituio constante) da moral: O essencial e inestimvel em toda moral o fato de ela ser uma demorada coero. 454 Mas, para alm do nexo entre moral e violncia que traz luz, Nietzsche se interessa pelos efeitos dessa passagem:
A primeira condio para que se prepare o terreno de toda moralidade que um indivduo mais forte ou um indivduo coletivo, por exemplo, a sociedade, o Estado, submeta os indivduos (...) e os rena por meio de um lao comum. A moralidade precedida pela coao; muito mais, ela prpria durante algum tempo coao, qual as pessoas se sujeitam para evitar o dissabor. Mais tarde, ela se torna um costume, mais tarde ainda uma obedincia livre, finalmente quase um instinto; ento ela est, como tudo o que h muito tempo habitual e natural, ligada ao prazer e passa a ser chamada virtude. 455
BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Livro VI; Cap. I. A reclamao de que as novas geraes esto corrompendo o corpo poltico to antiga e velha quanto a civilizao ocidental e os espritos que a emitem. 454 NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal. Preldio a uma filosofia do futuro. Cap. 5, 188. p. 87. 455 NIETZSCHE, Friedrich. Humano demasiado humano. 99.
453
218
Ou seja, para o filsofo alemo, que parece ecoar La Botie, a converso da coero em costume, num primeiro momento e, ao final, em virtude, tambm uma converso do medo em obedincia e, depois, em vontade de seguir. Uma das fontes da empreitada nietzschiana Max Stirner, que se ocupa da moral justamente no pargrafo que dedica, em O nico e sua propriedade (obra censurada, vale notar), hierarquia. Nele, a obedincia moral concebida em termos ainda mais fortes que os nietzschianos:
essa influncia moral comea onde principia a humilhao; no mesmo outra coisa seno essa humilhao, que quebra e faz vergar a coragem (Mut), reduzindo-a a humildade (Demut) (...): espera-se que um indivduo concreto se vergue ante vocao do homem, que seja obediente e humilde, que renuncia sua vontade em favor de uma outra que lhe estranha e quer valer como mandamento e lei. Ele debe ento humilhar-se perante algo de superior: auto-humilhao. 456
Mas o que distinguiria a influncia moral das demais? Stirner oferece um exemplo para estabelecer esta diferena: dizer para algum afastar-se de um penhasco que est para ser dinamitado no exercer influncia moral; mas dizer que preciso orar, respeitar o crucifixo, dizer a verdade, porque isso parte da natureza humana e sua vocao, ou mesmo que essa a vontade de Deus, constitui, ao contrrio, uma influncia moral. Ou seja, a moralidade implica uma passagem de eventos atuais para modelos ideais (e, poderamos dizer, o exemplo de conduta ou de vida o operador dessa passagem):
A moralidade a idia do costume moral, o seu poder espiritual, o seu poder sobre as conscincias. (...) Libertos da dependncia da famlia concreta, camos na mais forte dependncia do conceito de famlia: somos dominados pelo esprito da famlia. (...) E esta famlia, assim interiorizada e desmaterializada em idia e representao, agora vista como coisa sagrada, cujo despotismo dez vezes mais
456
STIRNER, Max. O nico e sua propriedade. Traduo de Joo Barrento. Lisboa: Antgona, 2004. p. 70.
219
irritante porque a sua voz ecoa na minha conscincia. (...) No houve grandes escrpulos em virar do avesso o estado vigente, em deitar abaixo as leis em vigor, porque se estava empenhado na libertao do existente e do palpvel. Mas quem ousaria pecar contra o conceito do Estado, no se submeter ao conceito da lei? Assim, mantiveram-se os cidados, legalistas fiis; pensava-se at que se era mais legalista quanto mais racionalista fosse a forma de abolir a lei anterior, deficiente, para servir o esprito da lei. 457
Dito de outro modo: a idealizao, a ascese de uma atualidade ao estatuto de modelo exemplar promove uma obedincia da qual quase impossvel escapar, uma obedincia quase religiosa: a eficcia dos espritos clericais se caracterizaria exatamente pelo exerccio dessa influncia moral. 458 Talvez possamos afirmar que aqui nos deparamos com aquele limiar, o qual sempre intrigou os juristas, onde os costumes se confundem com as leis, em que os tipos legais (e mesmo o tipo do tipo, o arqutipo idealizante) esto prestes a se formar a partir dos usos consuetudinrios, isto , com a zona em que surge o fundamento mstico da autoridade das leis, isto , o fato de se obedecer a elas no por serem justas e sim por serem leis. 459 Como se sabe, os costumes
Ibidem, p. 75, 74. STIRNER, Max. O nico e sua propriedade. p. 70. Por tentar exercer esse tipo de influncia, argumenta Stirner, Robespierre, St. Just, e outros, foram padres at medula (p. 67). 459 MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livro III. Cap XIII; p. 327; traduo modificada. Nesse ensaio dedicado experincia, Montaigne critica a converso desta em tradio, isto , se volta contra a passagem do experimento ao exemplo: Atravs de vrias provas, a experincia cria a arte e o exemplo alheio mostra-nos o caminho, afirma citando Tito Lvio, para, a seguir, introduzir uma ressalva que subsume o raciocnio que desenvolver: Este segundo processo menos seguro do que o primeiro e menos digno (p. 321), pois A diferena introduz-se por si s em nossas obras e nenhuma arte pode chegar similitude (p. 321-322). Desse modo, no por acaso que Montaigne se ocupe, por muitas pginas desse captulo, em questionar o estatuto das leis. O ncleo de sua crtica reside, nada mais nada menos, no fato de que as leis tipificam, convertem em tipos, a diversidade e a variedade das coisas mais semelhantes, sem, contudo, resolver o problema a que se propem, pois pouca relao existe entre nossos atos, sempre em perptua transformao, e as leis que so fixas e estticas: A semelhana no unifica na mesma proporo que
458 457
220
so considerados uma das fontes do Direito, tanto no sentido de origem (histrica pressuposta) das leis, quanto no de suplementao de lacunas legais. Nietzsche argumentava justamente que a grande norma com que tem incio a civilizao seria: qualquer costume melhor do que nenhum costume. 460 Essa fonte originria (que no pra de jorrar) foi muitas vezes chamada de pr-direito e concebida como uma regio em que no existe uma separao entre direito, moral e religio: Originalmente fazia parte do domnio da moralidade toda a educao e os cuidados da sade, o casamento, as artes da cura, a guerra, a agricultura, a fala e o silncio, o relacionamento de uns com os outros e com os deuses (...). Originalmente, portanto, tudo era costume. 461 Mas se era nos costumes que residia o poder dos sacerdotes, como afirma Nietzsche, citando o suposto exemplo dos brmanes da ndia, onde os sacerdotes eram mais poderosos que os deuses 462, ento como conciliar esse poder sacerdotal com o censrio, j que ambos parecem ter o mesmo objeto? Em nossa investigao, nos deparamos seguidamente com a relao entre o controle dos costumes e o poder espiritual, entre o censor e o sacerdote. Assim, Greenidge aventava a hiptese de que grande parte do raio de ao do censor romano abrangia reas antes concernentes aos pontfices, como a punio a quem castigasse por demais o escravo, na medida em que a lei pontificial no tinha, na Repblica, poder para fazer cumprir suas sanes 463, ou, ento, a censura ao perjrio, ao falso testemunho e aos falsos juramentos, antes punidos pela lei religiosa (fas): no passado, os pontfices poderiam (...) t-lo [quem cometera uma dessas ofensas] declarado sacer, caso em que sua vida no seria protegida e seus bens talvez confiscados ao deus que ele ofendera. Depois que as sanes pontifcias se extinguiram, a vingana em tais casos foi deixado aos cus (...) Mas aquilo com o qual a lei civil se
a dessemelhana diversifica. A natureza parece ter-se esforado por no criar duas coisas idnticas (p. 322). A similaridade exemplar ou tipolgica das leis , portanto, um construto mstico, ao qual se obedece por obedecer voluntariamente. 460 NIETZSCHE, Friedrich. Aurora: reflexes sobre os preconceitos morais. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2004. Livro I, 16. p. 23. 461 Ibidem. Livro I, 9; p. 18. 462 Ibidem. Livro I, 96; p. 71. 463 GREENIDGE, Abel H. J. Infamia: its place in Roman public and private Law. p. 64.
221
recusava a lidar, a censura devia punir, e, de fato, punia. 464 Alm disso, como vimos, o poder espiritual cristo se caracterizava como um sistema que convertia o pensamento (e sua expresso) em aes, punveis pela arbitrariedade da pena censria, ltimo elo de uma cadeia que permitia uma censura quase total. No por acaso, quando Bodin reivindica a necessidade da censura para a manuteno da Repblica, deixa em aberto a questo de se melhor dividir a censura temporal da censura eclesistica, ou uni-las. 465 E tambm no parece ser uma coincidncia que os momentos em que se confundem a batalha poltica e a batalha moral, a batalha pelo controle das instituies e a batalha pelo controle dos costumes e da aparncia, tenham sido chamadas de guerras espirituais, nas quais a censura aparece como estratgia imprescindvel. Por fim, cabe retomar a afirmao de Freud de que a idealizao da autoridade exterior, a sua converso em imagem-modelo produz o sentimento religioso de humildade: a religio teria sua origem no ideal do Eu e no Super-eu censor. Essa associao entre poder religioso ou espiritual (ideal) e poder censrio ou sobre os costumes no parece, desse modo, ser em vo. No devemos, porm, tentar identificar um processo de secularizao ou, vice-versa, de teologizao, pois isto implicaria redobrar o processo sobre si mesmo infinitamente, a ponto de termos de pressupor um ou outro (o censor ou o sacerdote) como figura inicial. 466 Talvez o mais
Ibidem, p. 72. BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Livro VI; Cap. I. 466 Na sua genealogia, Nietzsche estipula que esse posto caberia ao homem enquanto animal que mede: Estabelecer preos, medir valores, imaginar equivalncias, trocar isso ocupou de tal maneira o mais antigo pensamento do homem, que num certo sentido constituiu o pensamento: a se cultivou a mais velha perspiccia, a se poderia situar o primeiro impulso do orgulho humano, seu sentimento de primazia diante dos outros animais. Talvez a nossa palavra Mensch (manas) expresse ainda algo deste sentimento de si: o homem [Mensch] designava-se como o ser que mede valores, valora e mede, como o animal avaliador. Comprar e vender, juntamente com seu aparato psicolgico, so mais velhos inclusive do que os comeos de qualquer forma de organizao social ou aliana: foi apenas a partir da forma mais rudimentar de direito pessoal que o germinante sentimento de troca, contrato, dbito, direito, obrigao, compensao, foi transposto para os mais toscos e incipientes complexos sociais (em sua relao com complexos semelhantes), simultaneamente ao hbito de comparar, medir, calcular um poder e outro. O olho estava posicionado nessa perspectiva; e com a rude coerncia peculiar ao pensamento da mais antiga humanidade, pensamento difcil de mover-se, mas inexorvel no caminho escolhido, logo se chegou grande generalizao: cada coisa tem seu
465 464
222
interessante seja ver ambos como exercendo um mesmo poder, que pode ser chamado tanto de censrio quanto de espiritual, e que consiste, antes de tudo, em ordenar, valorar, idealizar e vigiar hierarquicamente os costumes, tornando-os uma morada na qual os sujeitos podem se identificar, uma forma que os abrigue:
Na sua primeira e mais incompreensvel forma, a moralidade apresenta-se como hbito. (...) no h dvida que o homem se defende, pelo hbito, da presso das coisas e do mundo, construindo um mundo prprio no qual est verdadeiramente em casa, isto , no qual pode construir o seu cu. Afinal, o cu no tem outro sentido que no seja o de ser a verdadeira ptria do homem, onde nada de estranho o poder determinar e dominar, onde nenhuma influncia das coisas terrenas o aliena, em suma, onde as escrias deste mundo so deitadas fora e tem um fim a luta contra o mundo, onde, finalmente nada lhe pode ser negado. O cu o fim da renncia, o lugar da livre fruio. A, o homem no tem de renunciar a mais nada, porque nada mais lhe estranho e hostil. Mas o hbito corresponde a uma outra natureza, que separa e liberta o homem da sua natureza primeira e original, ao proteg-lo da arbitrariedade desta. (...) Na escada da cultura ou da civilizao a humanidade sobe, assim, o primeiro degrau apoiando-se no hbito; e como imagina que, ao fazer a escalada da cultura, est tambm a subir ao cu, ao reino da cultura ou da segunda natureza,
preo; tudo pode ser pago o mais velho e ingnuo cnon moral da justia, o comeo de toda bondade, de toda eqidade, toda boa vontade, toda objetividade que existe na terra. Nesse primeiro estgio, justia a boa vontade, entre homens de poder aproximadamente igual, de acomodar-se entre si, de entender-se mediante um compromisso e, com relao aos de menor poder, for-los a um compromisso entre si (NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polmica. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. Segunda Dissertao, 8. p. 59-60). Como insistimos ao longo da tese, a censura implica uma medio e avaliao dos homens, de seus costumes, etc.: sacerdote, censor, avaliador: o controlador dos costumes tem muitas facetas.
223
acaba por subir realmente o primeiro degrau da escada para o cu. 467
Aqui se revela com clareza um motivo profundo da associao entre moralidade, costumes e tradio: a moral e os costumes se fundam na tradio 468 no s no sentido de que esta confere uma autoridade ao que antigo, mas tambm no sentido de que o poder daqueles reside em uma transmisso (traditio), uma passagem a um outro mundo. Podemos, desse
modo, nomear os guardies dessa segunda natureza, ou melhor, os que convertem os costumes em uma segunda natureza por meio de sua idealizao, promovendo a identificao e afastando o estranhamento, de censores ou sacerdotes, os quais constituem, nas palavras de Oswald de Andrade, a classe [que] tem precedido a todos os movimentos da sociedade e da Histria. 469 Se estamos corretos, ento a censura o poder (espiritualizante) que opera a passagem da violncia idealizao, da coero fsica moralidade, da fora valorao imagtica. o poder censrio que garante a eufemizao da hierarquia, sua converso em ascese valorativa, a com-formao dos sujeitos, a sua adaptao (o acostumarse) a uma forma poltico-moral: o poder de idealizar o modelo imposto coercitivamente, o processo de sua converso em imagem e a viglia desta imagem (e ideal). Dito de ainda outro modo: se os costumes so a primeira forma da servido voluntria, e a obedincia a eles, moralidade, uma humilhao voluntria, ento a censura o poder que institui e mantm a servido imaginria, para fazer uso do termo com que Lacan definiu a relao que se estabelece entre o sujeito e sua imagem (alma exterior) no estdio do espelho: o poder que com-forma a
467 468
STIRNER, Max. O nico e sua propriedade. p. 60. O Conceito da moralidade do costume de Nietzsche se fundamenta nesse nexo: a moralidade no outra coisa (e, portanto, no mais!) do que obedincia a costumes, no importa quais sejam: mas costumes so a maneira tradicional de agir e avaliar. Em coisas nas quais nenhuma tradio manda no existe moralidade (...). O que a tradio? Uma autoridade superior, a que se obedece no porque ordena o que nos til, mas porque ordena. O que distingue esse sentimento ante a tradio do sentimento do medo? (NIETZSCHE, Friedrich. Aurora: reflexes sobre os preconceitos morais. Livro I, 9. p. 17, 18). 469 ANDRADE, Oswald de. Esttica e poltica. Organizao e estabelecimento de texto de Maria Eugnia Boaventura. So Paulo: Globo, 1992. p. 236.
224
alma interior a uma alma exterior. Nem totalmente voluntria, nem totalmente coercitiva, ou melhor, as duas ao mesmo tempo, a servido imaginria uma servido voluntarizada fora: o poder censrio se exerce ali onda a esttica se torna uma moral e a violncia do poder ascende para se tornar uma imagem valiosa.
225
7. linha de fuga (ps-texto)
Para um bios, a roupa, literalmente, no seno a sua impossibilidade de existir sem costumes. A moda a impossibilidade de viver sem costumes, uma vez que, na realidade, todos eles esto animados, so roupas animadas (ethos empsychos), so o lugar em que tanto uma vida assume forma quanto as formas do mundo ganham vida. No corpo supranumerrio das roupas, nosso bios se faz costume e nosso ethos se torna a forma de nossa vida, sua figura. (...) O ethos de cada um a frmula dos corpos, das cores e das aparncias de que se precisa para poder fazer aparecer o prprio rosto. Todo costume em seu vis moral, nesse sentido, uma roupa animada, do mesmo modo que uma roupa um costume reduzido a corpo e, por isso mesmo, materialmente transfervel e aproprivel por qualquer um (...). De outra parte, a transmisso dos costumes possvel porque sua natureza moda e no substncia. (Emanuele Coccia) Eu bem sei que existem boas obras, bons autores; entretanto, no ser que essas pessoas de sexo diferente reunidas num apartamento encantador, ornado de pompas mundanas, e tambm esses disfarces pagos, essa maquiagem, essas tochas, essas vozes efeminadas, tudo isso deve acabar gerando certa libertinagem de esprito e dando pensamentos desonestos, tentaes impuras. (Padre Bournisien)
7.1. O que um costume? O que um hbito? Ambos os termos indicam uma prtica freqente, rotineira, usual, que estamos acostumados a fazer, que nos habituamos a fazer. Hbito procede etimologicamente de habitare, habitar, que, por sua vez, deriva de habere, haver, ter. Um hbito algo que se tem, externo a ns, ainda que seja o lugar onde residamos. J costume vem de consuetudo, consigo, com si, a relao que se tem consigo mesmo, o que implica uma exterioridade do sujeito em relao a si prprio, uma exterioridade
226
com a qual deve se ligar. Tambm termos prximos possuem sua origem em um campo semntico semelhante. Desse modo, ethos designa uma estncia, uma casa, uma morada e passa a denominar, na clssica definio aristotlica, uma maneira de ser, um carter. E maneira deriva de manuarius, o que est mo: as nossas maneiras so o modo como manejamos (manere), lidamos com o mundo. Por fim, moral vem de mos, mores, de origem incerta, mas que tem seu timo provvel na mesma raiz de mora, morar (demorar), indicando permanncia, tempo, tradio. Nosso mais prprio (o que temos) tambm exterior a ns (alma exterior), onde habitamos, moramos. Mas costume e hbito podem significar tambm roupa: so como que uma roupa com que nos damos a ver ao mundo. E, alm disso, como as roupas, os costumes so variveis, mutveis, envelhecem, podem ser trocadas ou mesmo servir ocultar-nos, para metamorfosear-nos: em algumas lnguas, como o ingls, costume (custom) significa tambm fantasia, e customizar (customize) indica personalizar. Assim, talvez seja na moda (proveniente de modo, modus, forma, medida), que este estatuto dplice dos costumes se revele em sua inteireza. A moda , argumenta Georg Simmel,
imitao de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio social, conduz o indivduo ao trilho que todos percorrem, fornece um universal, que faz do comportamento de cada indivduo um simples exemplo. E satisfaz igualmente a necessidade de distino, a tendncia para a diferenciao, para mudar e se separar. (...) Unir e diferenciar so as duas funes bsicas que aqui se unem de modo inseparvel, das quais uma, embora constitua ou porque constitui a oposio lgica outra, a condio de sua realizao. 470
Os costumes, hbitos e maneiras parecem, ento, condensar em si, ao mesmo tempo, dois modos arqutipos de se lidar com a ciso ontolgica entre ser e aparecer: a identificao e o estranhamento, a conservao e a metamorfose. Se, seguindo a nossa hiptese, podemos afirmar que o poder censrio designa a fora que conduz identificao, qual seria a contra-fora que instiga o estranhamento? Seria o hbito do monge a nica forma de nos relacionarmos com os costumes?
SIMMEL, George. Filosofia da moda e outros escritos. Traduo, introduo e notas de Artur Moro. Lisboa: Edies Texto & Grafia, 2008. p. 24, 25.
470
227
7.2. A estranheza do ator diante do aparelho [cmera], afirma Walter Benjamin, da mesma espcie que a estranheza do homem (...) diante de sua imagem no espelho. 471 O ator na tradio ocidental sempre foi concebido como uma figura dividida. Uma das palavras gregas para ator hypokrites se refere idia de diviso (hypo: sob; krinein: decidir, julgar, mas tambm separar), o que se reflete hoje no uso que fazemos do termo hipcrita, que no designa exatamente um mentiroso, mas algum que revela uma diviso entre a imagem que projeta de si e suas aes. Por que esta diviso aparece, a nossos olhos, to negativamente, a ponto de hipcrita agora designar algum moralmente desviado, por vezes at mesmo um falso moralista? E o que se apresenta dividido no ator? Os atores da Roma antiga compunham uma sub-classe, e sofriam severas restries de direitos, estando gravados, como as prostitutas, os gladiadores e os caluniadores, com a infamia censoria. As razes para tal capitis deminutio nunca foram inteiramente esclarecidas, mas talvez possamos compreend-las invocando Rousseau, que se amparou nessa excluso a que estavam sujeitos os atores romanos para se voltar contra o teatro em seu tempo. O talento do ator, para ele, consistia na arte de imitar, de adotar um carter diferente do que se tem, de parecer diferente do que se , de se apaixonar com serenidade, de dizer coisas diferentes das que se pensam com tanta naturalidade como se realmente fossem pensadas, e, enfim, de esquecer seu prprio lugar, de tanto tomar o de outro. 472 Assim, na arte, a aparncia se revela totalmente cindida do ser. No teatro, o modo de falar ou de agir de um personagem independe daquilo que o ator que o encena . O ator no encena outros seres, encena outros modos de ser. Pode-se prever as conseqncias polticas diretas desse estranhamento: o ator, prossegue Rousseau, pode indiferentemente desempenhar o papel de um homem ou de uma mulher, do mesmo modo que pode encenar de modo belo pssimos costumes, o que poderia produzir efeitos polticos nefastos se tais costumes provocassem um contgio, uma imitao fora do palco. Se possvel encenar de maneira bela um pssimo costume, se possvel se afeminar ouvindo poesia, ento os costumes e a virilidade (e mesmo as
471
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade tcnica. p. 180. 472 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. p. 92.
228
instituies polticas) so apenas imagens, com as quais podemos ter outra relao que aquela moral de identificao. 473 Esta outra relao que a arte apresenta , antes de tudo, de noconformao, estranheza, estranhamento com a imagem devolvida pelo espelho (ou seja, pela censura). Em um de seus mais belos textos, Ortega y Gasset caracterizou a metfora como a bomba atmica mental: duas realidades, ao serem identificadas na metfora, chocamse uma com a outra, se anulam reciprocamente, se neutralizam, se desmaterializam. 474 O teatro, metamorfose, prodigiosa transfigurao 475 seria, nesse sentido, uma metfora corporificada, porque no apresenta o ser como tal ou o ser tal como , mas o ser como:
Pois bem, o mesmo acontece no teatro, que o como se e a metfora corporificada portanto, uma realidade ambivalente que consiste em duas realidades a do ator e a da personagem do drama que mutuamente se negam. preciso que o ator deixe durante um momento de ser o homem real que conhecemos e preciso tambm que Hamlet no seja efetivamente o homem real que foi. mister que nem um nem outro sejam reais e que incessantemente se estejam desrealizando, neutralizando para que s fique o irreal como tal, o imaginrio, a pura fantasmagoria. 476 evidente que no podemos absolutizar aqui uma diviso binria entre censura como identificao e arte como estranhamento. As duas foras, como vimos, por exemplo, na reivindicao do discurso censrio por artistas, podem interagir: para ficar na argumentao de Rousseau, os atores podem provocar o estranhamento com os costumes vigentes atravs da identificao com os costumes encenados. Talvez por isso, nem todos os atores da Roma antiga eram considerados infames, mas s os profissionais, ou seja, aqueles que viviam sob diviso, cuja vida era habitualmente a diviso entre o ser e o aparecer, que tinham como modo de ser a encenao de outros modos de ser. O poder de estranhamento artstico pode ser suportado desde que mantido em uma esfera isolada, temporria, precria, da qual o poder censrio de identificao pode fazer uso quando necessrio. Mas o que no se pode suportar que esse estranhamento seja vital, como era o do Dom Quixote. A questo, portanto, no a pureza de uma fora ou outra, mas a sua intensidade. 474 ORTEGA Y GASSET, Jos. A idia do teatro. Traduo de J. Guinsburg. So Paulo: Perspectiva, 1991. p. 38. 475 Ibidem, p. 36. 476 Ibidem, p. 39
473
229
Nesta quase-realidade, o ator experimenta a si mesmo experimentando outro costume, e esta no-coincidncia consigo mesmo que contagia o auditrio no se serve imagem, mas se a experimenta. No se trata somente de uma experincia da linguagem, mas tambm de uma experincia poltico-metafsica que contrasta com o teatro das relaes sociais. Se a censura visa com-formar o ser a um aparecer e tornar o aparecer digno do ser, criando uma identificao entre os plos, na arte, em contrapartida, a aparncia de-forma o ser, que se torna um como-ser, um quase-ser e passa a aparecer na quaseforma da irrealidade como tal 477, isenta de toda autenticidade. Talvez possamos nomear esta estranha experincia de estranhamento que tem seu paradigma na arte com uma palavra to desgastada e esvaziada hoje em dia: liberdade. Ou simplesmente cham-la de loucura. Tanto faz: a inservido imaginria, como os demnios, possui muitos nomes.
477
Ibidem, p. 38.
230
231
Bibliografia ABREU, Caio Fernando. Teatro completo. Organizao de Lus Artur Nunes e Marcos Breda. Rio de Janeiro: Agir, 2009. ADORNO, Theodor. Teoria esttica. Traduo de Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 2008. AGAMBEN, Giorgio. Altissima povert. Regole monastiche e forma de vita. (Homo sacer, IV, I). Veneza: Neri Pozza, 2011. _________________. Homo sacer I. O poder soberano e a vida nua. Traduo de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. _________________. Il regno e la gloria: per una genealogia teologica delleconomia e del governo. (Homo sacer v. II, t. 2). Vicenza: Neri Pozza, 2007. _________________. Stato di eccezione. Turim: Bollati Boringhieri, 2003. AGUILAR, Gonzalo. Por una cincia del vestigio errtico. Seguido de La nica ley del mundo (de Alexandre Nodari). Buenos Aires: Grumo, 2010. ALENCAR, Jos de. A propriedade. Edio fac-similar. Braslia: Senado Federal; Superior Tribunal de Justia, 2004. ANDERSON, Benedict. Suharto sai de cena. Obiturio de um tirano medocre. Traduo de Hugo Mader. serrote. n. 1. Mar/2009. pp. 89121. ANDRADE, Mrio. Msica doce msica. So Paulo: Martins, 1963. ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofgica. 2. ed. So Paulo: Globo, Secretaria da Cultura do Estado de So Paulo, 1995. ___________________. Esttica e poltica. Organizao e estabelecimento de texto de Maria Eugnia Boaventura. So Paulo: Globo; Secretaria da Cultura do Estado de So Paulo, 1992. ___________________. O Rei da Vela. So Paulo: Globo, 2004.
232
___________________. Os dentes do Drago. (entrevistas). 2. ed. Pesquisa, organizao, introduo e notas de Maria Eugenia Boaventura. So Paulo: Globo; Secretaria de Estado da Cultura, 1990. ___________________. Panorama do fascismo. O homem e o cavalo. A morta. So Paulo: Globo, 2005. ___________________. Serafim Ponte Grande. 9. ed. Estabelecimento de texto de Maria Augusta Fonseca. So Paulo: Globo, 2007. ANTELO, Ral. Crtica acfala. Buenos Aires: Grumo, 2008. _____________. Prefcio. Em: ANTELO, Raul (ed.). Crtica e fico, ainda. Florianpolis: Pallotti, 2006. pp. 5-6. ARARIPE Jr., T. A. Araripe Jnior: Teoria, crtica e histria literria. Seleo e apresentao de Alfredo Bosi. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos; So Paulo: EdUSP, 1978. ________________. Gregrio de Matos. 2. ed. Paris: Garnier, 1910. ARENDT, Hannah. A condio humana. 7 ed. Traduo de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995. _______________. A dignidade da poltica: ensaios e conferncias. 2 ed. Traduo de Helena Martins et al. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1993. _______________. Crises of the republic. Nova Iorque: Harcourt Brace, 1974. _______________. On revolution. Nova Iorque: Penguin Books, 2006. ASTRADA, Carlos. Poesa y filosofa. Disponvel em: http://migre.me/7nSRB Ata da quadragsima segunda sesso do Conselho de Segurana Nacional. 22 de agosto de 1968. Disponvel em http://www.arquivonacional.gov.br AUDEN, W. H. O poeta e a cidade. Traduo de Carlos Felipe Moiss. So Paulo; Rio de Janeiro: Espectro Editorial, 2009. AUERBACH, Erich. Figura. Traduo de Modesto Carone. So Paulo: tica, 1997.
233
AVERRIS [ABU-L-WALID IBN RUSD]. Discurso decisivo. Introduo de Alain de Libera. Traduo de Ainda Ramez Hanania. So Paulo: Martins Fontes, 2005. ___________________________________. Exposicin de la Repblica de Platn. 5. ed. Estudo preliminar, traduo ao espanhol e notas de Miguel Cruz Hernndez. Madri: Tecnos, 1998. ___________________________________. Sobre el intelecto. Edio e introduo de Andrs Martnez Lorca. Madri: Trotta, 2004. BADIOU, Alain. Teses sobre a arte contempornea. Traduo de Leonardo Dvila de Oliveira. Sopro. n. 14. Jul/2009. p. 1. BARBOSA, Rui. A imprensa e o dever da verdade. 3. ed., atualizada e revista. So Paulo: Com-Arte; EdUSP, 1990. BARTHES, Roland. Aula. 11. ed. Traduo e posfcio de Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Cultrix, 2000. BAYLE, Pierre. Dissertation sur les libelles diffamatoires. Em: Dictionairre historique et critique. Tomo XV. Paris: Desoer, 1820. pp. 148-189. BAUDOIN, Franois. Ad leges de famosis libellis et de calumniatoribus commentarius. Paris: 1562. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade tcnica (primeira verso). Em: Magia e tcnica, arte e poltica. (Obras escolhidas, vol. I). Traduo de Srgio Paulo Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1985. ________________. A state monopoly on pornography. Em: Selected writings. v. 2, parte 1 (1927-1930). Editado por Michael W. Jennings. Traduo ao ingls por Rodney Livingstone et al. Cambridge: Harvard University Press, 1999. ________________. Crtica da violncia/Crtica do Poder. Traduo de Willi Bolle. Em: Documentos de cultura/Documentos de Barbrie: escritos escolhidos. So Paulo: Cultrix/Edusp, 1986. pp. 160-175. ________________. Krisis des darwinismus? Zu einem Vortrag von Prof. Edgar Dacque in der Lessing-Hochschule. Em: Gesammelte Schriften. vol IV. Editado por Rolf Tiedemann. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1972. pp.534-536.
234
________________. Origem do drama trgico alemo. Traduo de Joo Barrento. Belo Horizonte: Autntica, 2011. BENVENISTE, mile. A blasfemia e a eufemia. Em: Problemas de lingstica geral, II. Traduo de Eduardo Guimares et. al. Campinas: Pontes, 1989. pp. 259-262. __________________. Eufemismos antigos e modernos. Em: Problemas de lingstica geral, I. 2. ed. Traduo de Maria da Glria Novak e Maria Luiza Neri. Campinas: Pontes; Editora da UNICAMP, 1988. pp. 340-347. __________________. O vocabulrio das instituies indo-europeias. v. II: Poder, Direito, Religio. Traduo de Denise Bottmann e Eleonora Botmann. Campinas: UNICAMP, 1995. BERNI, Francesco. Opere. vol. I. Milo: G. Daelli e C. Editori, 1864. BETTINI, Maurizio. Weighty words, suspect speech: Fari in Roman culture. Arethusa 41. 2008. pp. 313-375. BIANCHIN, Lucia. Dove non arriva la legge: dottrine della censura nella prima et moderna. Bolonha: Il Mulino, 2005. BODIN, Jean. Les six livres de la republique. Lyon: Jean de Tournes, 1579. BOTIE, tienne de La. Discurso da servido voluntria. Edio bilnge, com comentrios de Claude Lefort, Pierre Clastres e Marilena Chau. Traduo de Laymert Garcia dos Santos. So Paulo: Brasiliense, 1982. BORGES, Jorge Luis; GUERRERO Margarita. Manual de zoologia fantstica. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1998. BROSSA, Joan. Nove poemas [de Joan Brossa]. Seleo de Victor da Rosa. Sopro. n. 10. Mai/2009. p. 4. BUCK-MORSS, Susan. Hegel and Haiti. Critical Inquiry. v. 26, n.4. Chicago: University of Chicago Press, vero de 2000. pp. 821-865.
235
BUCK-MORSS, Susan. Esttica e anesttica: o ensaio sobre a obra de arte de Walter Benjamin revisitado. Traduo de Rafael Lopes Azize. Travessia revista de literatura. n. 33. Florianpolis: EdUFSC, ago-dez 1996. p. 11-41. CALLADO, Antonio. Censura e outros problemas dos escritores latinoamericanos. Traduo (do original em ingls) de Cludio Figueiredo. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 2006. CALVINO, Italo. Assunto encerrado: discursos sobre literatura e sociedade. Traduo de Roberta Barni. So Paulo: Companhia das Letras, 2009. CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis. Em: Vrios escritos. 4. ed. reorganizada pelo autor. Rio de Janeiro; So Paulo: Ouro sobre Azul; Duas Cidades, 2004. pp. 15-32. CANETTI, Elias. Massa e poder. Traduo de Srgio Tellaroli. So Paulo: Companhia das Letras, 1995. CAROCHA, Maika Lois. A censura musical durante o regime militar (1964-1985). Histria: questes e debates. n. 44. Curitiba: Editora UFPR, 2006. pp. 189-211. CARVALHO, Flvio de. Os ossos do mundo. So Paulo: Antiqua, 2005. CARVALHO FRANCO, Maria Sylvia de. As idias esto no lugar (entrevista). Caderno de debates. v. 1. So Paulo: 1976. _________________________________. Homens livres na ordem escravocrata. 4. ed. So Paulo: Editora da UNESP, 1997. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. 44. ed. Madri: Espasa Calpe, 1997. CHARTIER, Roger. La construccin esttica de la realidad. Vagabundos y pcaros en la Edad Moderna. Tiempos modernos. v. 3, n. 7 (2002). pp. 1-15. CLASTRES, Pierre. Liberdade, Mau Encontro, Inominvel. Em: BOTIE, Etienne de la. Discurso da servido voluntria.pp. 109-123.
236
COCCIA, Emanuele. A vida sensvel. Traduo de Diego Cervelin. Desterro: Cultura e Barbrie, 2010. _________________. El mito de la biografa, o sobre la imposibilidad de toda teologa poltica. Revista Plyade, n. 8, prevista para abril de 2012. _________________. Filosofa de la imaginacin. Averroes y el averrosmo. Traduo de Mara Teresa DMeza. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008. COETZEE, J. M. Giving offense: essays on censorship. Chicago: Chicago University Press, 1996. CORTI, Eugenio. Catn el Viejo. Traduo ao espanhol de Fidel Argudo Snchez. Salamanca: Sgueme, 2008. COSTA, Cristina. Censura em cena: teatro e censura no Brasil: Arquivo Miroel Silveira. So Paulo: EdUSP; FAPESP; Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, 2007. COSTA LIMA, Luiz. Trilogia do controle: O controle do imaginrio, Sociedade e discurso ficcional, O fingidor e o censor. 3. ed. revista. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. CULIANU, Ioan Petru. Eros et magie la Renaissance, 1484. Paris: Flammarion, 1984. DARNTON, Robert. O significado cultural da censura: a Frana de 1789 e a Alemanha Oriental de 1989. Traduo de Beatriz Rezende. Revista Brasileira de Cincias Sociais. Ano 7, n. 18. So Paulo: fevereiro de 1992. DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Londres: Penguin Books, 1994. DE LOLME, Jean Louis. The Constitution of England or an account of the English government in which it is compared both with the republican form of government and the other monarchies in Europe. Edio com biografia e notas por John MacGregor. Londres: Henry G. Bohn, 1853.
237
DEBORD, Guy. A sociedade do espetculo. Traduo de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Flix. O anti-dipo. Capitalismo e esquizofrenia. Traduo de Luiz B. L. Orlandi. So Paulo: Ed. 34, 2010. DERRIDA, Jacques. A farmcia de Plato. 3. ed. revista. Traduo de Rogrio Costa. So Paulo: Iluminuras, 2005. ________________. Economimesis. Traduo ao ingls de R. Klein. Diacritics. v. 11; n. 2. Vero de 1981. pp. 2-25. ________________. Fora de lei: o fundamento mstico da autoridade. Traduo de Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Martins Fontes, 2007. ___________________. Gramatologia. 2. ed. 2. reimpresso. Traduo de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. So Paulo: Perspectiva, 2006. ________________. Limited Inc. Traduo de Constana Marcondes Cesar. Campinas: Papirus, 1991. ________________. Sminaire. La bte et le souverain. 2 vols. Paris: Galile, 2008. DUMZIL, Georges. Servius et la fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blme et sur les lments indo-europens du cens romain. Paris: Gallimard, 1943. DUMZIL, Georges. Ides romains. Remarques prliminaires sur la diginit et lantiquit de la pense romaine. Paris: Gallimard, 1969. DURO, Fbio Akcelrud. Da superproduo semitica: caracterizao e implicaes estticas. Em: DURO, Fbio Akcelrud; ZUIN, Antnio; VAZ, Alexandre Fernandes. A indstria cultural hoje. So Paulo: Boitempo, 2008. pp. 39-48. DURKHEIM, mile. As regras do mtodo sociolgico. 2. ed. Traduo de Paulo Neves. So Paulo: Martins Fontes, 1999. El origen del narrador: actas completas de los juicios a Flaubert y Baudelaire. Traduo ao castelhano de Luciana Bata. Buenos Aires: Mardulce, 2011.
238
EYMERIC, Nicolau; PEA, Francisco. Directorium Inquisitorum cum commentariis. Veneza: 1607. FEITLOWITZ, Marguerite. A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999. FERNNDEZ, Oscar. El censor Mariano Grondona. Tiempo Argentino. Buenos Aires, 3 de janeiro de 2011. FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrneos da ditadura militar espionagem e polcia poltica. Rio de Janeiro: Record, 2001. ___________. Prezada censura: cartas ao regime militar. Topoi Revista de Histria (UFRJ). n. 5. Rio de Janeiro: dez/2002. pp. 251-286. FINLEY, Moses I. A censura na antiguidade clssica. Em: Democracia antiga e moderna. Ed. revista. Traduo de Walda Barcellos e Sandra Bedran. Rio de Janeiro: Graal, 1988. FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary: costumes de provincia. Traduo de Mario Laranjeira. So Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011. FLUSSER, Vilm. A escrita: h futuro para a escrita? Traduo de Murilo Jardelino da Costa. So Paulo: Annablume, 2010. FONTANA, Alessandro. Censura. Traduo de Antnio Barbosa. Enciclopdia Einaudi. v. 23: Inconsciente Normal/anormal. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1994. pp. 95-122. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das cincias humanas. 8. ed. Traduo de Salma Tannus Muchail. So Paulo: Martins Fontes, 1999. _________________. A verdade e as formas jurdicas. Traduo de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau Editora, 1996. _________________. Em defesa da sociedade: curso no Collge de France (1975-1976). Traduo de Maria Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 2002. _________________. O que a crtica? [Crtica e Aufklrung] (Conferncia proferida em 27 de maio de 1978). Traduo de Gabriela
239
Lafet Borges. Publicado em Espao Michel Foucault. Disponvel em: http://filoesco.unb.br/foucault/critica.pdf. _________________. O que um autor. Em: Ditos e escritos. v. 3: Esttica: literatura e pintura, msica e cinema. 2. ed. Organizao e seleo de textos por Manoel Barros da Mota. Traduo de Ins Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2006. _________________. Vigiar e punir: nascimento da priso. 25. ed. Traduo de Raquel Ramalhete. Petrpolis: Vozes, 2002. FRANKLIN, Benjamin. Apology for printers. Publicado originalmente na The Pennsylvania Gazzete, 27 de maio de 1731. Disponvel em http://www.jprof.com/history/franklin-apologia.html FREUD, Sigmund. Obras Completas, v. 4 (1900): La interpretacin de los sueos (primera parte). Traduo ao castelhano de Jos L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1998. _______________. Obras Completas, v. 5 (1900-1901): La interpretacin de los sueos (segunda parte); Sobre el sueo. Traduo ao castelhano de Jos L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu, 1998. _______________. Obras completas, v. 12 (1914-1916): Introduo ao narcisismo; Ensaios de metapsicologia e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2010. _______________. Obras completas, v. 15 (1920-1923): Psicologia das massas e anlise do eu e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2011. _______________. Obras completas, v. 16 (1923-1925): O Eu e o Id; Autobiografia e outros textos. Traduo e notas de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2011. FUENTES, Carlos. Cervantes o la crtica de la lectura. Mxico: Joaquin Motriz, 1976. GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo. 3. ed. Madri: Alianza, 2007. GLEDSON, John. Por um novo Machado de Assis: ensaios. So Paulo: Cia. das Letras, 2006.
240
GONZAGA, Toms Antnio. Obras completas. v. I: Poesias; Cartas Chilenas. Edio crtica de Manuel Rodrigues Lapa. Rio de Janeiro: MEC/INL, 1957. GORDON, Thomas. Catos Letters, n. 15: Of Freedom of Speech: That the same is inseparable from publick Liberty. Publicado originalmente em 4 de fevereiro de 1720. Disponvel em http://classicliberal.tripod.com/cato/letter015.html GRAMSCI, Antonio. Si domanda la censura. Avanti!, ano XXI, n. 318. 16 de novembro de 1917. GREENIDGE, Abel H. J. Infamia: its place in Roman public and private Law. [1894]. Edio facsimilar digitalizada e reproduzida pela Cornell University Library Digital Collections. taca: Cornell University Press, 2009. GRONDONA, Mario. Qu es Kirchner, un lder o un dictador?. La Nacin. Buenos Aires, 23 de novembro de 2008. GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz. 2 volumes. Traduo de Ciro Moranza. Iju: Editora da Uniju, 2004. GROYS, Boris. The communist postscript. Traduo ao ingls de Thomas H. Ford. Londres, Nova Iorque: Verso, 2009. HABERMAS, Jrgen. Habermas sociologia. Organizao de Barbara Freitag e Srgio Paulo Rouanet. So Paulo: tica, 1990. __________________. O discurso filosfico da modernidade. Traduo de Manuel Jos Simes Loureiro et. al. Lisboa: Dom Quixote, 1990. __________________. Mudana estrutural da esfera pblica: investigaes quanto a uma categoria da sociedade burguesa. 2. ed. Traduo de Flvio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. HELLER-ROAZEN, Daniel. Philosophy before the Law: Averross Decisive Treatise. Critical Inquiry. v. 32. Chicago: University of Chicago Press, primavera de 2006. pp. 412-442. __________________._________. The Enemy of All. Piracy and the Law of Nations. Nova Iorque: Zone Books, 2009.
241
HITLER, Adolf. Discurso de inaugurao da Grande Exposio de Arte Alem, 1937. Traduo de Joo Azenha Jr. Em: CHIPP, Herschel B (org.). Teorias da arte moderna. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1996. pp. 481-490. HOBBES, Thomas. Leviat, ou matria, forma e poder de uma repblica eclesistica e civil. Organizao de Richard Tuck. Edio brasileira supervisionada por Eunice Ostrensky. Traduo de Joo Paulo Monteiro, Maria Beatriz Nizza da Silva, Claudia Berliner. So Paulo: Martins Fontes, 2003. HOLANDA, Srgio Buarque de. Ariel. Em: O esprito e a letra. Vol I. So Paulo: Companhia das Letras, 1996. internacional situacionista. Textos integrais em castelhano da revista Internationale Situationniste. (1958-1969). v. 2: La supresin de la poltica. Internationale Situationniste #7-10. Traduo ao espanhol por Luis Navarro. Madri: Traficantes de Sueos, 2004. JANSEN, Sue Curry. Censorship: the knot that binds power and knowledge. Nova Iorque: Oxford University Press, 1991. KAFKA, Franz. O Veredicto e Na Colnia Penal. Traduo de Modesto Carone. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. KANT, Immanuel. Crtica da Faculdade do juzo. Traduo de Valerio Rohden e Antnio Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2010. KOSELLECK, Reinhart. Crtica e crise: uma contribuio patognese do mundo burgus. Traduo de Luciana Villas-Boas Castelo-Branco. Rio de Janeiro: EdUERJ; Contraponto, 1999. KUNDERA, Milan. A arte do romance (ensaio). Traduo de Teresa Bulhes C. da Fonseca e Vera Mouro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. KUSHNIR, Beatriz. Ces de guarda jornalistas e censores do AI-5 Constituio de 1988. So Paulo: Boitempo; FAPESP, 2004.
242
LACAN, Jacques. O estdio do espelho como formador da funo do eu. Em: Escritos. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. ______________. Seminrio, livro 2: o eu na teoria de Freud e na tcnica da psicanlise. Texto estabelecido por Jacques Alain-Miller (verso brasileira de Marie Christine Laznik Pento com a colaborao de Antonio Luiz Quinet de Andrade). 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. LANDI, Sandro. Il governo delle opinioni: censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento. Bolonha: Il Mulino, 2000. LAPORTE, Dominique. History of Shit. Traduo para o ingls de Nadia Benabid e Rodolphe el-Khoury. Cambridge: MIT Press, 2000. LAWRENCE, D. H. Amor. Traduo de Alexandre Nodari. Sopro. n. 53. jun/2011. pp. 2-6. ________________. Sex, Literature and Censorship. (ensaios editados por Harry T. Moore). Nova Iorque: Twayne Publishers, 1953. LEGENDRE, Pierre. O amor do censor: ensaio sobre a ordem dogmtica. Traduo de Alusio Pereira de Menezes, M. D. Magno e Potiguara Mendes da Silveira Jr. Rio de Janeiro: Forense Universitria; Colgio Freudiano, 1983. LEMINSKI, Paulo. Poesia: a paixo da linguagem. Em: CARDOSO, Srgio (et. al.). Os sentidos da paixo. [Curso promovido pelo ncleo de Estudos e Pesquisas da Fundao Nacional de Arte, em 1986]. So Paulo: Companhia das Letras, 1987. pp. 283-291. LVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Traduo de Tnia Pellegrini. Campinas: Papirus, 1989. LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Dirio do hospcio; O cemitrio dos vivos. Prefcio de Alfredo Bosi. Organizao e notas de Augusto Massi e Murilo Marcondes de Moura. So Paulo: Cosac Naify, 2010. _________________________________. Recordaes do escrivo Isaas Caminha. 7. ed. (Obras de Lima Barreto, I Coleo organizada sob a direo de Francisco de Assis Barbosa). So Paulo: Brasiliense, 1978.
243
Limites a Chvez (editorial). Folha de S. Paulo. So Paulo, 17 de fevereiro de 2009. LINK, Daniel. Juicio al autor. Perfil. Buenos Aires, 28 de agosto de 2011. Disponvel em: http://migre.me/7o3Aj LITTLE, Charles. The authenticity and form of Catos saying Carthago delenda est. Classical Journal, v. 29, n.6. mar/1934. pp. 429-435. LOCKE, John. An essay concerning human understanding. Edio e introduo de Peter H. Nidditch. Nova Iorque: Oxford University Press, 1979. ___________. Ensaio sobre o entendimento humano. v. I: Livros I e II. Introduo, notas e coordenao da traduo por Eduardo Abranches de Soveral. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1999. LWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incndio. Uma leitura das teses Sobre o conceito de histria. So Paulo: Boitempo, 2005. LUDUEA ROMANDINI, Fabin. A comunidade dos espectros. I. Antropotecnia. Traduo de Alexandre Nodari e Leonardo Dvila. Desterro: Cultura e Barbrie, 2012. MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Obra completa. v. II: Conto e Teatro. Organizao de Afrnio Coutinho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. MAGALDI, Sbato. Teatro da ruptura: Oswald de Andrade. So Paulo: Global, 2004. MARTINEZ CORRA, Jos Celso. Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958-1974). Seleo, organizao e notas de Ana Helena Camargo de Staal. So Paulo: Ed. 34, 1998. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada famlia ou A crtica da Crtica crtica contra Bruno Bauer e consortes. Traduo e notas de Marcelo Backes. So Paulo: Boitempo, 2003.
244
MARX, Karl. Liberdade de imprensa. Traduo de Cludia Schilling e Jos Fonseca. Porto Alegre: L&PM, 2009. MASOTTA, Oscar. Lecturas de psicoanlisis. Freud, Lacan. Buenos Aires: Paids, 2008. MASSERA, Emilio E. El camino a la democracia. Caracas: El Cid editor, 1979. McLUHAN, Marshall. A galxia de Gutenberg: a formao do homem tipogrfico. Traduo de Lenidas Gontijo de Carvalho e Ansio Teixeira. So Paulo: Editora Nacional, 1977. _________________. Os meios de comunicao como extenses do homem (Understanding Media: The Extensions of Man). Traduo de Dcio Pignatari. So Paulo: Cultrix, 1971. MILTON, John. Areopagtica discurso pela liberdade de imprensa ao Parlamento da Inglaterra. Ed. bilnge. Prefcio e edio por Felipe Fortuna; traduo e notas por Raul de S Barbosa. Rio de Janeiro: TopBooks, 1999. MINNIS, Alastair. Medieval Theory of Authorship. Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. 2. ed. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. MOMMSEN, Theodor. Rmisches Staatsrecht. vol II. Leipzig: von S. Hirzel, 1877. MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Livros I e III. Traduo, prefcio e notas lingsticas e interpretativas de Srgio Milliet. Porto Alegre: Editora Globo, 1961. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do esprito das leis. Traduo de Fernando Henrique Cardoso e Leoncio Martins Rodrigues. So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1973. ________________________________________. Do esprito das leis. Com as anotaes de Voltaire, de Crvier, de Mably, de la Harpe, etc. Primeiro volume. Traduo de Gabriela de A.D. Barbosa. So Paulo: Edies Brasil Editora, 1960.
245
________________________________________. O gosto. Traduo e posfcio de Teixeira Coelho. So Paulo: Iluminuras, 2005. MOORE, Harry T. D.H. Lawrence and the censor-morons. Em: LAWRENCE, D. H. Sex, Literature and Censorship. pp. 9-32 MORDENTI, Raul. Riflessioni sul concetto di censura (a partire dalla controriforma). Em: GOLDONI, Annalisa; MARTINEZ, Carlo (orgs.). Le lettere rubate: forme, funzioni e ragioni della censura. Npoles: Liguori Editore, 2001. pp. 21-34. MORETTI, Franco (org.). O romance, 1: A cultura do romance. Traduo de Denise Bottmann. So Paulo: Cosac & Naify, 2009. MORINI, Massimiliano; ZACCHI, Romana (orgs.). Forme della censura. Npoles: Liguori Editore, 2006. NANCY, Jean-Luc. Ser singular plural. Traduo para o espanhol de Antonio Tudela Sancho. Madri: Arena Libros, 2006. NIETZSCHE, Friedrich. A gaia cincia. Traduo de Mrcio Pugliesi, Edson Bini, Norberto de Paula Lima. So Paulo: Hemus, 1981. ___________________. Alm do bem e do mal. Preldio a uma filosofia do futuro. 2. ed. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1992. ___________________. Aurora: reflexes sobre os preconceitos morais. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2004. ___________________. Genealogia da moral: uma polmica. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. NODARI, Alexandre. A fabricao do humano. Sopro. n. 50. Mai/2011. pp. 2-10. __________________. Lei do homem. Lei do Antropofgo: o Direito Antropofgico como Direito sonmbulo. Anais do I Simpsio de Direito & Literatura. Florianpolis: Fundao Boiteux, 2011. v. 1; pp. 125-145.
246
O rei da vela e a revoluo social. Luz & Ao: jornal da Cooperativa Brasileira de Cinema. s/d. p. 5. O rei da vela: opinies do pblico sbre o espetculo. So Paulo: Teatro Oficina, novembro de 1967. (datilografado). OLIVEIRA, Leonardo Dvila de. Poesia e imantao. Trabalho apresentado no XII Congresso Internacional da ABRALIC (Curitiba, julho de 2011). Disponvel em: http://migre.me/7nSSJ ORTEGA Y GASSET, Jos. A idia do teatro. Traduo de J. Guinsburg. So Paulo: Perspectiva, 1991. ______________________. Meditaciones del Quijote e Ideas sobre la novela. 9. ed. Madri: Revista de Occidente, 1975. ORWELL, George. 1984. 12. ed. Traduo de Wilson Velloso. So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979. Para comprender la censura. Literal. n. 2/3. Buenos Aires, mai/1975. pp. 15-22 (usamos a verso recentemente compilada em: Literal (edio fac-similar). Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2011). PATTERSON, Annabel. Censorship and Interpretation. The conditions of writing and reading in early modern England. Madison: University of Winsconsin Press, 1991. PEREIRA, Lcia Miguel. Histria da literatura brasileira: prosa de fico: de 1870 a 1920. Belo Horizonte; So Paulo: Itatiaia; EdUSP, 1988. PIMENTA, Alberto. Liberdade e aceitabilidade da obra de arte literria. Colquio Letras. n. 32. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, julho de 1976. pp. 5-14. PRADO Jr., Bento. Gnese e estrutura dos espetculos. (Notas sobre a Lettre dAlembert de Jean-Jacques Rousseau). Estudos CEBRAP. n. 14. So Paulo: outubro de 1975. pp. 3-34.
247
PROSPERI, Adriano. Censurar as fbulas. O protorromance e a Europa catlica. Em: MORETTI, Franco (org.). O romance, 1: A cultura do romance. pp. 97-138. PUTNAM, George Haven. The censorship of the Church of Rome. And its influence upon the production and distribution of literature. A study of the history of the prohibitory and expurgatory indexes, together with some consideration of the effects of Protestant censorship and censorship by the State. Vol. I. Nova Iorque; Londres: The Knickerbocker Press, 1906. RANCIRE, Jacques. A partilha do sensvel: esttica e poltica. Traduo de Mnica Costa Netto. So Paulo: EXO experimental.org; Ed. 34, 2005. _________________. O desentendimento. Poltica e filosofia. Traduo de ngela Leite Lopes. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. p. 42-43. _________________. O inconsciente esttico. Traduo de Mnica Costa Netto. So Paulo: Ed. 34, 2009. _________________. Polticas da escrita. Traduo de Raquel Ramalhete (et. al.) Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. READ, Allen Walker. An obscenity symbol. American Speech. v. 9, n. 4. Dez/1934. pp. 264-278. ROBERT, Marthe. Romance das origens, origens do romance. Traduo de Andr Telles. So Paulo: Cosac Naify, 2007. ROBESPIERRE, Maximilien. Virtude e terror. Apresentao de Slavoj Zizek; seleo e comentrios dos textos por Jean Ducange; traduo de Jos Maurcio Gradel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a DAlembert. Traduo de Roberto Leal Ferreira. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. ______________________. Do contrato social e Discurso sobre a economia poltica. Traduo de Mrcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. So Paulo: Hemus, 1981. ______________________. Do contrato social; Ensaio sobre a origem das lnguas; Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Discurso sobre as cincias e as artes. 2. ed. Traduo de Lourdes Santos Machado. Introduo e notas de Paulo Arbousse-
248
Bastide e Lourival Gomes Machado. So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1978. SAER, Juan Jos. O conceito de fico. Traduo de Joca Wolff. Sopro. n. 15. Ago/2009. pp. 1-4. SAINT-JUST, Louis Antoine de. Oeuvres. Paris: Prvot, 1834. SANTIAGO, Silviano. A vida como literatura. O amanuense Belmiro. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006. SATTA, Salvatore. Il mistero del processo. Milo: Adelphi, 1994. _______________. Poesia e verdade na vida do notrio. Traduo de Diego Cervelin. Sopro. n. 17. Dez/2009. SCHEIBE, Fernando. Coisa nenhuma: ensaio sobre literatura e soberania (na obra de Georges Bataille. Tese (Doutorado em Literatura). Florianpolis: CPGL/UFSC, 2004. SCHMITT, Carl. Constitutional Theory. Editado e traduzido ao ingles por Jeffrey Seitzer. Durham: Duke University Press, 2008. _____________. La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberana hasta la lucha de clases proletaria. Traduzido para o espanhol por Jos Daz Garca. Madri: Recista de Occidente, 1968. _____________. O conceito do poltico. Traduo de lvaro L. M. Valls. Petrpolis: Vozes, 1992. SCHWARZ, Roberto. O pai de famlia e outros estudos. 2. ed. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. _________________. Ao vencedor as batatas. 5. ed. So Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2000. SERRANO GONZLEZ, Antonio. Como lobo entre ovejas: soberanos y marginados en Bodin, Shakespeare, Vives. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
249
SHELL, Marc. Money, language and thought: literary and philosophic economies from medieval to the modern era. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993. ___________. The economy of literature. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993. SILVA, Alexandre. O escravo que Machado de Assis censurou & outros pareceres do Conservatrio Dramtico Brasileiro. Verso enviada pelo autor; no prelo para publicao pela Afro-Hispanic Review, publicao da Vanderbilt University, de Nashville. SILVA, Deonsio da. Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e represso ps-64. 2. ed. Barueri: Manole, 2010. SIMMEL, George. Filosofia da moda e outros escritos. Traduo, introduo e notas de Artur Moro. Lisboa: Edies Texto & Grafia, 2008. SOUZA, Miliandre Garcia de Souza. Ou vocs mudam ou acabam: aspectos polticos da censura teatral (1964-1985). Topoi Revista de Histria (UFRJ). v. 11, n. 21. Rio de Janeiro: jul-dez/2010. pp. 235-259. SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta carta de Heidegger sobre o humanismo. Traduo de Jos Oscar de Almeida Marques. So Paulo: Estao Liberdade, 2000. STIRNER, Max. O nico e sua propriedade. Traduo de Joo Barrento. Lisboa: Antgona, 2004. STRAUSS, Leo. Persecution and the art of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1988. TARDE, Gabriel. A opinio e as massas. Traduo de Eduardo Brando. So Paulo: Martins Fontes, 2005. _____________. Monadologia e sociologia e outros ensaios. Traduo de Paulo Neves. So Paulo Cosac Naify, 2007. THOMAS, Yan. Cato e seus filhos. Traduo de Felipe Vicari de Carli. Sopro. n. 66. Mar/2012.
250
_____________. Imago Naturae. Nota sobre la institucionalidad de la naturaleza en Roma. Em: Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano. Traduo ao castelhano de Silvia de Billerbeck. Buenos Aires: Eudeba, 1999. pp 15-36. Tiqqun. Organe de liason au sein du Parti Imaginaire. Zone dOpacit Offensive. Paris: Belles-Letres, 2001. TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na Amrica. 2. ed. Traduo e notas de Neil Ribeiro da Silva. Belo Horizonte; So Paulo: Itatiaia; EdUSP, 1987. TORPEY, John. The invention of the passport: Surveillance, Citizenship and the State. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. VAIHINGER, Hans. A filosofia do como se: sistema das fices tericas, prticas e religiosas da humanidade, na base de um positivismo idealista. Traduo de Johannes Kretschmer. Em: KRETSCHMER, Johannes. O texto do como se. Tese (Doutorado em Letras). Rio de Janeiro: UERJ, 2002. VALABREGA, Jean-Paul. Fundamento psico-poltico da censura (1967). Traduo de Luiza Ribas. Sopro. n. 65. Fev/2012. pp. 2-13. VALRY, Paul. Estudios filosficos. Traduo ao espanhol por Carmen Santos. Madri: Visor, 1993. VELOSO, Caetano. Verdade tropical. So Paulo: Companhia das Letras, 2008. VIAS, David. Censura en Buenos Aires?. Em: Menemato y otros suburbios. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2000. pp. 143-145. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstncia da alma selvagem. So Paulo: Cosac & Naify, 2002. VIVES, Juan Luis. De institutione feminae christianae. Livro I. Edio bilnge (latim/ingls), editada por C. Fantazzi (tradutor ao ingls) e C. Matheeusen. Leiden: E.J. Brill, 1996.
251
VOLOKH, Eugene. Speech as Conduct: Generally Applicable Laws, Illegal Courses of Conduct, Situation-Altering Utterances, and the Uncharted Zones. Cornell Law Review. v. 90, n. 5. Jul/2005. VOLTAIRE, Franois Marie Arouet de. Dicionrio filosfico. Em: Cartas inglesas; Tratado de metafsica; Dicionrio filosfico; O filsofo ignorante. 2. ed. Seleo de textos de Marilena Chau; traduo de Marilena Chau (et al). So Paulo: Abril Cultural (Col. Os Pensadores), 1978. pp. 85-295. WEBER, Max. A objetividade do conhecimento na cincia social e na cincia poltica. Em: Metodologia das cincias sociais. Parte I. 2. ed. Traduo de Augustin Wernet; introduo edio brasileira de Maurcio Tragtenberg. So Paulo; Campinas: Cortez; Editora da UNICAMP, 1993. pp. 107-154. ___________. Sociologia da imprensa: um programa de pesquisa. Traduo de Encarnacin Moya. Lua nova revista de cultura e poltica. n. 55-56. So Paulo: Centro de Estudos de Cultura Contempornea, 2002. pp. 185-194. WILDE, Oscar. A alma do homem sob o socialismo. Traduo de Heitor Ferreira da Costa. Porto Alegre: L&PM, 2003. ____________. The Decay of Lying. Em: The collected works of Oscar Wilde. Hertfordshire: Woodsworth Editions, 2007. pp. 919-944.
252
Você também pode gostar
- Revista Cult (N) Dossiê Sobre Jean-Paul SartreDocumento13 páginasRevista Cult (N) Dossiê Sobre Jean-Paul SartreFernando FerreiraAinda não há avaliações
- O Fornovo 01Documento14 páginasO Fornovo 01Adriano PedrosoAinda não há avaliações
- Autoidentificação SeriexológicaDocumento4 páginasAutoidentificação SeriexológicaAdriano PedrosoAinda não há avaliações
- A Revolução Industrial e o UrbanismoDocumento7 páginasA Revolução Industrial e o UrbanismoAdriano PedrosoAinda não há avaliações
- Biologia Do ToDocumento994 páginasBiologia Do ToPruliPluly100% (1)
- Unidade Na IgrejaDocumento2 páginasUnidade Na IgrejaMarcosAinda não há avaliações
- SEQUENCIA DIDATICA CONTOS DE MISTERIO AtualDocumento47 páginasSEQUENCIA DIDATICA CONTOS DE MISTERIO AtualDébora BessaAinda não há avaliações
- O Livro Juvenil Aula 3Documento42 páginasO Livro Juvenil Aula 3Binho FerreiraAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Letras Programa de Pós-Graduação em LetrasDocumento269 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Letras Programa de Pós-Graduação em LetrasWanessa DamascenoAinda não há avaliações
- Em Fervente OraçãoDocumento2 páginasEm Fervente OraçãoPaulo HenriqueAinda não há avaliações
- GramticaLatinaParaOGinsio TextDocumento208 páginasGramticaLatinaParaOGinsio TextRenato Felipe100% (1)
- Hermenêuticas de Narrativas ClássicasDocumento158 páginasHermenêuticas de Narrativas ClássicasEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- "Dança" Litúrgica - A Liturgia "Dançada"Documento2 páginas"Dança" Litúrgica - A Liturgia "Dançada"mayro christyanAinda não há avaliações
- A Imprensa Nos Países Africanos de Língua PortuguesaDocumento7 páginasA Imprensa Nos Países Africanos de Língua Portuguesarogerio sanferAinda não há avaliações
- Mitologia OrientalDocumento2 páginasMitologia Orientalac7672662Ainda não há avaliações
- Jogral - 2022Documento4 páginasJogral - 2022Willames DelzuiteAinda não há avaliações
- Bateria de Exercícios 550 Com GabaritoDocumento38 páginasBateria de Exercícios 550 Com GabaritoClaudiano Barbosa da Silva100% (1)
- Logica AvalDocumento13 páginasLogica AvalgxepasAinda não há avaliações
- Angeologia Doutrina Dos AnjosDocumento3 páginasAngeologia Doutrina Dos Anjosmemeka6953Ainda não há avaliações
- Figuras de Linguagem AnotaçõesDocumento11 páginasFiguras de Linguagem AnotaçõesTainaAinda não há avaliações
- Semana 7 - LPTDocumento4 páginasSemana 7 - LPTLuis FranciscoAinda não há avaliações
- Atividade Sobre PredicadoDocumento7 páginasAtividade Sobre PredicadoAntonia Pereira de SouzaAinda não há avaliações
- E-Book - Curso GCDocumento16 páginasE-Book - Curso GCMisael Schrederhof JuniorAinda não há avaliações
- Marinha - Simulado - RM2Documento7 páginasMarinha - Simulado - RM2Mariana RibeiroAinda não há avaliações
- Registro em CDocumento2 páginasRegistro em CJúlio CésarAinda não há avaliações
- Os Nomes de Cristo - BerkhofDocumento4 páginasOs Nomes de Cristo - BerkhofdortbooksAinda não há avaliações
- Atividade - Anunciação - Aula 03Documento2 páginasAtividade - Anunciação - Aula 03Ana Paula DaniloAinda não há avaliações
- Espiritualidade Do Sagrado Coração de JesusDocumento2 páginasEspiritualidade Do Sagrado Coração de JesusPe. José Valdinã Santos de Jesus, SCJAinda não há avaliações
- Modelo Do TCCDocumento12 páginasModelo Do TCCJAIR JOSÉ APC FERREIRAAinda não há avaliações
- Fichamento - Modelo PreenchidoDocumento2 páginasFichamento - Modelo PreenchidoAndré LimaAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 08.05 A 12.05 - 2º AnoDocumento9 páginasPlano de Aula - 08.05 A 12.05 - 2º AnoSamara VieiraAinda não há avaliações
- VOD - Português - Funções Sintáticas Do Pronome Relativo - 2021Documento8 páginasVOD - Português - Funções Sintáticas Do Pronome Relativo - 2021Josy FrançaAinda não há avaliações
- O Delta Literário de Macau031717 PDFDocumento577 páginasO Delta Literário de Macau031717 PDFAntonio MendesAinda não há avaliações
- 14.vicios Da-Vontade Caso 1 ErroDocumento7 páginas14.vicios Da-Vontade Caso 1 ErroJoão PereiraAinda não há avaliações
- Unidade 1 (Nascimento Da Filosofia)Documento20 páginasUnidade 1 (Nascimento Da Filosofia)Ademar Ramos100% (1)