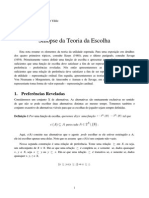Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pr251finaldraft PDF
Enviado por
adppaulaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pr251finaldraft PDF
Enviado por
adppaulaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
CURSO DE LAW & ECONOMICS
Armando Castelar Pinheiro
Jairo Saddi
Ed. Campus
1 Uma introduo a Law & Economics
1.1 A importncia do estudo conjunto do Direito e da Economia
1.2 O papel do Direito na Economia
1.3 Porque um advogado precisa entender de economia ?
1.4 Pequeno histrico: a Escola de Law & Economics
1.5 Alicerces tericos de Law & Economics
1.6 Plano da obra e plano de estudos
1.7 Linha geral da obra: A eficincia versus a distribuio, a importncia da lei
como instrumento de reduo de risco
2 Como o Direito funciona ?
2.1 Direito Romano, Direito Anglo Saxnico, Histria e fundamentos do
Direito Brasileiro e dicotomia entre o Direito Privado e Direito Pblico
no Brasil
2.2 Instrumentos e instituies de direito. Principais conceitos para os no-
advogados
2.3 Constituio e Direito. Princpios do sistema jurdico
2.4 Institucionalidade do sistema legal no Brasil: o papel do Poder Judicirio,
do Legislativo e do Poder Executivo
2.5 O Poder Judicirio como uma instituio econmica
2.6 Resumo do Captulo
2.7 Glossrio
2.8 Sugesto de leituras
2.9 Exerccios
3 Firmas, consumidores, e mercados: Os fundamentos microeconmicos
3.1 Teoria da Firma
3.2 Teoria do Consumidor
3.3 Estruturas de Mercado
3.4 Teoria dos Jogos e Direito
3.5 A Economia dos Custos de Transao
2
4 Uma Teoria Econmica do Direito: Principais conceitos e fundamentos
4.1 Teoria econmica e desenvolvimento: o papel do Direito. Evidncia
Emprica
5 Contratos (JS)
5.1 Estudo de casos.
5.2 Resumo do Captulo
5.3 Glossrio
5.4 Sugesto de leituras
5.5 Exerccios
6 Direitos de Propriedade (JS)
6.1 Estudo de casos
6.2 Resumo do Captulo
6.3 Glossrio
6.4 Sugesto de leituras
6.5 Exerccios
7 Crime e Law & Economics
7.1 Estudo de casos.
7.2 Resumo do Captulo
7.3 Glossrio
7.4 Sugesto de leituras
7.5 Exerccios
8 Tributos
8.1 Estudo de casos.
8.2 Resumo do Captulo
8.3 Glossrio
8.4 Sugesto de leituras
8.5 Exerccios
3
9 A regulao dos servios pblicos
9.1 Porque o setor de servios pblicos precisa ser regulado?
9.2 Uma descrio dos servios pblicos no Brasil nos vrios nveis (privado /
pblico federal / estadual, municipal, cobertura e custos.
9.3 Direito e instituies regulando os servios pblicos no Brasil
9.4 Estudo de casos
9.5 Resumo do Captulo
9.6 Glossrio
9.7 Sugesto de leituras
9.8 Exerccios
10 A Regulao Setorial na Infra-Estrutura
10.1 Telecomunicaes
10.2 Setor Eltrico
10.3 Transportes
10.4 gua e Saneamento
10.5 Glossrio
10.6 Sugestes de leituras
11 Concorrncia
11.1 Porque a concorrncia boa e porque a aplicao das leis
anticoncorrenciais necessria?
11.2 Polticas econmicas que facilitam ou atrasam o desenvolvimento
econmico
11.3 A legislao brasileira sobre concorrncia e o sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrncia
11.4 Crticas ao atual sistema de concorrncia ?
11.5 Estudo de Casos
11.6 Resumo do Captulo
11.7 Glossrio
11.8 Sugesto de leituras
11.9 Exerccios
4
12 A regulao dos mercados financeiros
12.1 Justificativas para regular os mercados financeiros
12.2 Alguns nmeros: Uma descrio do setor financeiro no Brasil
(profundidade, crescimento, estabilidade, riscos, concorrncia, oferta de
crdito, etc.
12.3 Direito e instituies dos mercados financeiros: a oferta de crdito
12.4 Garantias bancrias
12.5 Insolvncia e crdito
12.6 Estudo de casos
12.7 Resumo do Captulo
12.8 Glossrio
12.9 Sugesto de leituras
12.10 Exerccios
13 Mercado de Trabalho no Brasil
13.1 As polticas legais e pblicas do mercado de trabalho
13.2 A evoluo do Direito do Trabalho: A era Vargas
13.3 Principais linhas e princpios constitucionais do Direito do Trabalho
13.4 Por que reformar?
13.5 Emprego e empregabilidade: os principais desafios.
13.6 Resumo do Captulo
13.7 Glossrio
13.8 Sugesto de leituras
13.9 Exerccios
14 Tpicos em Law & Economics
14.1 Proteo ao Direito do Consumidor
14.2 Direito da propriedade intelectual
14.3 Proteo ambiental
14.4 Resumo do Captulo
14.5 Glossrio
14.6 Sugesto de leituras
14.7 Exerccios
1
CAPTULO I: UMA INTRODUO A LAW & ECONOMICS
1.1 A importncia do estudo conjunto de Direito e da Economia.
1.2 O papel do Direito na Economia
1.3 Porque um advogado precisa entender de economia?
1.4 Pequeno histrico: a Escola de Law & Economics
1.5 Alicerces tericos de Law & Economics
1.6 Plano da obra e plano de estudos
2
1.1 - A importncia do Estudo conjunto do Direito e da Economia.
As relaes entre economistas e juristas sempre foram marcadas por diferenas no
raro intransponveis. conhecida, por exemplo, a averso que John Maynard
Keynes tinha por advogados: certa vez, durante a reunio de Bretton-Woods, o
ilustre economista britnico teria afirmado que os advogados eram os nicos na face
da terra que transformavam a poesia em prosa e a prosa em jargo ! Em outra
ocasio, afirmou que o Mayfair (o navio que trouxe os pioneiros colonizadores ao
Novo Mundo) deveria ter atracado packed with lawyers, numa referncia muito
pouco elogiosa quantidade de advogados existentes naquele pas. Mesmo assim,
curiosamente, o pai dos economistas liberais, Adam Smith, foi professor de
Jurisprudence , tradicional matria de Direito, ainda que ele tambm no tivesse uma
opinio muito enaltecedora da profisso.
1
Entre ns, igualmente tormentosa foi a relao entre juristas e economistas.
Alis, a quantidade de piadas sobre advogados que proliferam no apenas nos
Estados Unidos, - que distorcendo a imagem do profissional do direito --, tem certa
origem histrica e pode no ter nascido com os economistas, mas em funo do
prprio status quo do profissional: em geral, membro da nobreza. Shakespeare,
aparentemente, tambm tinha pouco apreo pela categoria. Na pea, Henrique VI,
um dos rebeldes, Dick, o Aogueiro, sugere que sejam liquidados todos os
advogados! Menos radical, mas ainda no sculo passado, uma charge no New York
Times mostrava a seguinte justificativa dada por um deles: sou um membro da
profisso legal, mas no uma advogado no sentido pejorativo. Em defesa da
categoria, mas ainda em tom de ironia, por sua vez, Doris Lessing sugere que a
1
Mary Ann GLENDON. A nation under lawyers. Cambrige, Mass : Harvard University Press, 1994. pg. 21
3
nica coisa que no se ensina na Faculdade de Direito a tolerar os tolos.
2
Todos
conhecemos outras piadas com evidente sentido de comdia. O aparente conflito,
contudo, srio e merece reflexo.
certo, todavia, que, na opinio dos juristas, foram os economistas (e na opinio
dos economistas, os juristas) quem alargaram as divises e diferenas entre as duas
profisses. George Stigler, por sua vez, observou o cerne do debate que havia uma
verdadeira dificuldade de comunicao entre as duas profisses: Enquanto a eficincia
constitui-se no problema fundamental dos economistas, a justia o tema que norteia os professores
de direito (...) profunda a diferena entre uma disciplina que procura explicar a vida econmica (e,
de fato, toda a ao racional) e outra que pretende alcanar a justia como elemento regulador de
todos os aspectos da conduta humana. Esta diferena significa, basicamente, que o economista e o
advogado vivem em mundos diferentes e falam diferentes lnguas.
3
Mais recentemente, foram os planos de estabilizao econmica, que acabaram por
aumentar ainda mais a fossa entre advogados e economistas, j que corrente a
crtica de que, alguns economistas trabalharam para Governos que, nos seus
diferentes planos de estabilizao da moeda e programas de desenvolvimento,
sistematicamente desprezarem as liberdades pblicas e os direitos individuais.
4
O embate entre direito e economia cresceu na dcada de 80 com a avalanche de
planos econmicos e com a Constituio de 1988 que deu ao Poder Judicirio novas
(e importantes fronteiras). Alm disso, pela prpria natureza do Direito, alguns
dispositivos abertos, no sentido de vagueza e abrangncia foram celebrados na
nova Carta tornando a sua interpretao cada vez mais ampla. O resultado da
conjuno entre dispositivos abertos e a crescente hegemonia do Poder Executivo
resultou no que h de mais nefasto no sistema moderno: um enorme dficit nas
2
Idem, ibedem.
3
George STIGLER. Law or Economics ? The Journal of Law and Economics. Vol. 35, n. 2, out. 1992. pg.
462-3.
4
Jos Eduardo FARIA. Direito e Economia na democratizao brasileira. So Paulo : Malheiros, Editores, 1993,
pg. 9.
4
contas pblicas, tanto interno quanto externo, sem a contrapartida do crescimento
econmico. Jos Eduardo Faria resume as diferenas num paradoxo complexo e
quase insolvel: Na realidade, para neutralizar o risco de crises de governabilidade no cabe ao
sistema judicial pr objetivos como disciplina fiscal acima da ordem jurdica. Zelar pela estabilidade
monetria funo do sistema econmico. Como o papel do sistema judicial aplicar o direito, ele s
est preparado para decidir entre o legal e o ilegal. Evidentemente, o sistema judicial no pode ser
insensvel ao que ocorre no sistema econmico. Mas s pode traduzir essa sensibilidade nos limites
de sua capacidade operativa. Quando acionado, o mximo que pode fazer julgar se decises
econmicas so legalmente vlidas. Se for alm disso, a Justia exorbitar, justificando retaliaes
que ameaam sua autonomia. Como os juzes podero preserv-la, se abandonarem os limites da
ordem jurdica? Por isso, quando os tribunais incorporam elementos estranhos ao direito, eles
rompem sua lgica operativa e comprometem os marcos legais para o funcionamento da prpria
economia.
5
Alm disso, no se pode ignorar que todo sistema jurdico ou econmico est
umbilicalmente ligado ao sistema poltico. E o nosso sistema poltico privilegiou a
confuso reinante entre direito e economia. Por exemplo, at por considerar os
nossos tribunais superiores no como Cortes da federao com a funo de
controlar o sistema constitucional, mas como simples tribunais de justia de terceira
ou quarta instncia s partes, o sistema judicial brasileiro apresenta uma disfuno
intrnseca grave. Num sistema democrtico, resolver (e reformar) tal estrutura de
soluo de conflitos imperativo e urgente. No entanto, passados anos de debate
sobre a reforma do Poder Judicirio, reina a inao na poltica quanto ao tema.
Se o Judicirio tem o condo de aumentar custos do Estado, em especial quando
julga sem considerar a extenso de suas decises no plano econmico, tal situao,
em especial no Supremo Tribunal Federal se agigantou. O problema insolvel
porque por um lado se preciso garantir que a justia seja feita no plano individual,
por outro no se pode chegar ao ponto de falir o Estado (e a sociedade) para tanto.
5
Jos Eduardo FARIA. A justia e os argumentos de ordem fiscal. O Estado de S.Paulo. 29/06/2004. pg. A-2
5
O mesmo Prof. Jos Eduardo Faria aquilata: Por isso, tendo em vista a segurana do
direito, no se pode cobrar economicamente da Justia aquilo a que ela no tem condies de atender
juridicamente. Insistir em argumentos de ordem fiscal em detrimento de argumentos jurdicos, como
tem feito o governo para pressionar o STF, complicar as coisas. O que os responsveis por essas
presses tm de entender que crises de governabilidade no surgem apenas quando os tribunais
agem sem realismo econmico. Elas tambm irrompem quando a Justia, ao abandonar a lgica
do legal versus ilegal, abre caminho para a justaposio de suas esferas de competncias com as dos
sistemas econmico e poltico. Como verso e reverso de uma mesma moeda, a eroso da certeza
jurdica decorrente dessa indiferenciao entre os Poderes a negao aos mercados da segurana
legal que tanto reivindicam.
6
Seja qual for a origem histrica de tais desavenas, inegvel que hoje se
compreende a necessidade de ampliar as fronteiras entre uma e outra cincia
humana como ponto de partida para encaminhar o debate.
7
Seja pela necessidade de
estabilidade econmica, hoje reconhecida como necessria a um sistema legal
eficiente, seja por meio da estabilidade das normas, igualmente reconhecida como
imprescindvel ao desenvolvimento econmico, preciso por mos obra e
aproximar as duas reas. Por bvio, ainda restam muitas arrestas a ser aparadas, e as
dificuldades de comunicao a que se referem Stigler, igualmente mostram a
extrema dificuldade com que os significados e institutos jurdicos e os conceitos da
teoria econmica confluem.
Est claro que para os juristas o mundo mudou e muito. Alm disso, confirma-se a
impresso comum que aos advogados no exercem mais o papel que antes lhes era
reservado. Desde que Bolimbroke criou, e Montesquieu sistematizou, a tripartio
dos poderes, a administrao da Justia passou a ser funo do juiz que julga, do
6
Idem, ibedem.
7
Esta diferena e sua explanao j eram compreendidas pelo Juiz Oliver Holmes, da Suprema Corte dos
EUA. No final do Sculo passado, ele, muito originalmente, afirmou que: para o estudo racional da lei, o
homem das letras pode ser o homem do presente, mas o homem do futuro o homem das estatsticas e o
senhor da economia. Oliver Wendall HOLMES. The path of law. 10 Harvard Law Review, 457, 469 e 474
(1897).
6
promotor que representa a sociedade e do advogado que defende os interesses de
seus clientes. Por certo, este modelo no pode mais se aplicar nos dias de hoje.
8
Ao menos quanto se refere ao advogado, garantiu-se a ele, no passado, o papel de
intrprete da lei, dos direitos e dos deveres. A figura incontrastvel do bom orador e
do hbil e negociador perdurou por pelo menos quinze sculos e est
definitivamente superada. Reconhece-se, contudo que o advogado imprescindvel
para garantir que os interesses de seus clientes no sero lesados, defend-los se
houver prejuzos e servir como intermedirio em negociaes mais difceis.
Hollywood imortalizou as sintticas frases talk to my lawyer ou ainda see you in
court, como sinnimos da importncia instrumental do advogado, -- mesmo num
pas hostil a sua funo --, mas essencial para a preservao de direitos fundamentais
objetivos e subjetivos como um dos elementos mais importantes da democracia.
No entanto, ao optar por trabalhar em hipteses tericas e condicionais que quase
nunca se materializam, o advogado era visto at ontem como uma espcie de chato
necessrio. E mesmo que pudesse ter razo em situaes mais extremadas, seu papel
na comunidade empresarial no era considerado como construtivo. Sempre
engasgava com detalhes e com questes menores, era geralmente moroso no que
fazia e sua contribuio, no mnimo, modesta. Sendo assim, na opinio de muitos,
era uma das funes que mereciam ser urgentemente terceirizadas.
Essas vises, se representavam a imagem geralmente aceita do advogado, se
provaram completamente equivocadas e distorcidas da realidade e da realidade atual
que se impe aos negcios. Como em tudo, a sociedade est em constante mutao
e no poderia ser diferente para os advogados. Por um lado, no mais ele quem
8
Diz Marcos F. GONALVES da SILVA: Est na hora de investir no desenvolvimento de uma viso
integrada na formao do profissional de empresa. Existe uma confuso em relao aos papis que advogados
e, principalmente, economistas desempenham dentro da estrutura de gesto e governana das organizaes
em geral, sejam pblicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. O grande desafio para a gesto moderna
integrar, de forma dinmica. Os responsveis pela formulao de cenrios econmicos aos que avaliam as
restries legais implcitas s decises empresariais junto com os gestores.. A interelao entre o Direito e a
Economia. Valor Econmico. 13-06-2003. pg. B-2.
7
administra o monoplio do acesso da Justia, nem pode ser ele considerado como
um elemento causador de tumultos, ganancioso e pernstico. Seu papel mudou
radicalmente para a sociedade e para as empresas. Muito mais do que um
formalizador de decises ex-ante, o advogado fundamental para agregar valor ao
acionista e evitar riscos que possam colocar em xeque o negcio em si. Parte destes
riscos est exatamente no Poder Judicirio, ou o que Bacha, Arida e Rezende
denominam de risco jurisdicional, transformando o panorama dado como sendo ainda
mais agudo com a to propalada crise da justia e do Judicirio.
9
O Poder Judicirio acabou se tornando uma alternativa ainda mais distante para
soluo dos conflitos. Emerge deste fato como principal causa o descolamento da
lei para com a sociedade. Se por um lado o contrato quem define regras entre as
partes, (a Lei somente prevalece naquilo que conflitar com os contratos), no mundo
atual dos negcios, so os Tribunais Arbitrais que passam, potencialmente, a
substituir o Judicirio como arena para soluo de conflitos. Ou seja, as empresas
vislumbram o Poder Judicirio, em geral, como uma alternativa pouco eficiente
dotada de uma relao custo-benefcio desequilibrada, para ser acionada apenas em
ltimo caso. morosa, extremamente ritualizada, imprevisvel e cara. Sem contar
que muitas vezes quem ganha no leva.
Se o fato concreto resume-se a constatao de que ir aos tribunais tornou-se um
caminho espinhoso e cheio de riscos para os agentes econmicos, acelerou-se, com
isso, o processo de transformao da formao do advogado, seja ele o executivo da
empresa que responsvel pela rea jurdica, seja o profissional liberal que lhe presta
assessoria.
Alm disso, deixou de existir uma rgida diviso entre a cincia do Direito a e cincia
da Economia. Como no, h nem nunca houve, um Direito que no fosse
econmico, no dizer de Fbio Nusdeo, a aplicao do direito se transformou
9
Edmar BACHA. Prsio ARIDA. Andr Lara REZENDE. High interest rates in Brazil : conjecture on the
jurisdictional uncertainty. NUPE/CdG. Maro 2004, mimeo.
8
inteiramente.
10
O campo de atuao do jurista passou a estar constitudo
eminentemente por dispositivos de cunho gerencial, de matrias que envolvem
interesses econmicos. Ora, o Direito no pode deixar de perceber que o seu papel
e por conseqncia, o do advogado, por si s, nada serve seno para criar regras de
comportamentos que tutelam a atividade humana, que tenham, em algum momento,
valor moral e valor econmico. Por outro lado, como apontam Werin e Wijkander,
a teoria econmica ignorou os contratos e os efeitos microeconmico dos contratos
por muitos anos.
11
S com o trabalho pioneiro do Ronald Coase a cincia
econmica passou a entender que transaes humanas, comerciais e de trocas so
reguladas no exclusivamente pelo sistema de preos, mas tambm pelos contratos,
em especial quando Coase mostrou que a firma como ns a conhecemos hoje, nada
mais do que um conjunto (ou um feixe, como se prefere dizer) de contratos.
Do ponto de vista contemporneo, os escndalos corporativos das grandes
empresas como Enron, MCI, Parmalat, mostram tambm que h um certo
endereamento pessoal e moral que deve fazer com que o advogado possa adquirir
mltipla capacidade no apenas tcnica ou de planejamento mas aquela de longo
prazo, que inclua a de responsabilidade social com o foco de curto prazo na defesa
de seu constituinte.
No por outra razo, a sabedoria prtica, a tcnica e o conhecimento jurdico
precisam estar aliados aos efeitos de uma poltica corporativa que tenha em mente o
longo prazo, a responsabilidade social e a credibilidade. Assim sendo o advogado
deveria pensar e agir como uma espcie de reserva moral para questes pblicas que
pudessem afetar a reputao e o negcio em si; significa ir mais longe: significa agir
tambm como policial vigilante de polticas arriscadas e potencialmente
devastadoras no longo prazo.
10
Fbio NUSDEO. Curso de Direito Econmico. So Paulo : Ed. Revista dos Tribunais. 2000, pg. 73.
11
WERIN L. & E WIJKANDER. H. Contract Economics. Blackwell Publishers, 1992. 359
9
til uma reviso do que aconteceu na chamada crise tica no mundo corporativo
atual. Como alguns importantes Diretores Jurdicos foram implicados em tais
escndalos, seja por prtica irresponsvel da profisso, seja por fraude mesmo,
preciso que sejam investigadas a natureza e a causa da postura do advogado no caso.
Se um dos importantes papis do advogado exatamente ser o conselheiro-
preventivo, porque ele no funcionou? A resposta est em parte no resgate dessa
dimenso moral que deveria fazer parte da carreira jurdica. E curiosamente,
exatamente tais eventos mostraram a importncia de se entender direito e economia
na mesma sintonia, dentro de um espectro maior de tica.
12
Curiosamente, a origem destas transformaes no nova. Alis, est no Direito
Romano, quando, atravs da evoluo da conscincia social e de circunstncias de
fato, criou-se uma atividade voltada para a interpretao das normas de direito,
desenvolvendo e adaptando o direito existente s necessidades sociais. Assim, na
Roma Antiga, haviam os prudentes, aqueles que podiam agir, (no propriamente a
defesa em juzo, esta confiada aos advogados) mas a indicao das formas; os
juriconsultos, que monopolizavam a atividade consistente em dar pareceres e solues
de questes (a atividade de respondere, seja por escrito, scribere, a pedido dos
magistrados ou particulares, ou decidir controversias, iudices) e os pretores, que
administravam a justia com poderes jurisdicionais.
13
Law & Economics nasce como uma resposta essas (e outras mudanas).
Inicialmente como uma disciplina das faculdades de economia, o mundo do direito
(se bem que, h de se dizer, o mundo da common law) percebe os imensos benefcios
que uma teoria de economia poderia trazer ao mundo dos advogados, e em especial,
respostas a um advogado que rapidamente passa a mudar de perfil.
14
12
Segundo Trevor S. HARRIS, em entrevista a Revista Business Week, a preocupao maior que as
demonstraes financeiras das empresas esto sempre incompletas e inconsistentes, ou simplesmente
pouco claras, tornando um pesadelo diferenciar os fatos da fantasia. preciso mais clareza no apenas
nas demonstraes financeiras mas nas leis que as disciplinam. 14-out-2004.
13
Alexandre CORREA. Curso de Direito Romano. So Paulo : Saraiva, 1964.
14
Bruce ACKERMAN, da Yale Law School afirma: a abordagem econmica do Direito o mais importante
desenvolvimento no estudo jurdico do Sculo XX.
10
O presente livro didtico de Law & Economics pretende, de forma sinttica,
despretensiosa e sem esgotar o assunto, reduzir a distncia entre os conceitos e a
aplicao dos institutos jurdicos teoria econmica, ou, como preferimos, ocupar-
se em alargar a fronteira entre as cincias do direito e da economia dentro de uma
nova viso funcional do advogado na sociedade e na empresa.
15
1.2 O papel do Direito na Economia
Apesar de todas as diferenas, o papel do direito no crescimento econmico fator
determinante para quase todos os economistas. North e Olson apontam o Direito e
as instituies legais como o fator mais importante (junto com as polticas
econmicas adotadas) de sucesso de um pis. Segundo Olson, qualquer pas pobre
que implemente polticas econmicas e instituies relativamente adequadas
experimenta uma rpida retomada do crescimento.
16
Scully indica que pases com
boas instituies so duas vezes mais eficientes e crescem trs vezes mais rpido, do
que pases com ambiente legal fraco.
17
Neste sentido, instituies legais (aqui
entendias como o sistema de normas e o sistema Judicirio) ocupam um papel
predominante.
Num sentido estrito, h trs tipos de regras: regras de conduta, regras de
organizao e regras que induzem os agentes a um dado programa, (a que se
denominam regras programticas). Para Norberto Bobbio, h trs funes
fundamentais da linguagem (que por sua vez expressa regras de conduta,
organizao e regras programticas): a linguagem pode ter funo descritiva,
15
Vide de Jairo SADDI, Contribuio e crtica a Law & Economics. Valor Econmico. 04/02/2003. pg. E-2
16
Mancur OLSON. Distinguished lecture on Economics in Government. Big bills left on the sidewalk: Why some nations are
rich, and others poor. Journal of Economic Perspectives vol. 10. n. 2 spring, 1996.
17
Gerald W. Scully. The institutional framework and economic development. Journal of Political Economy. Vol. 96, n.
3, 1988.
11
expressiva e prescritiva.
18
Toda lei em si contm um elemento de prescrio; um
conjunto de normas que visa determinar a conduta a organizao ou o programa de
um grupo de agentes econmicos deve estar suportada pela sano do Estado, ou o
que se conhece como eficcia da norma. Tais noes de teoria geral de direito so
importantes para compreender porque preciso migrar mais para o sentido mais
econmico do direito que entende que as leis so comandos de autoridade que
impem custos ou benefcios nos participantes de uma dada transao e que sofrem
incentivos (positivos ou negativos) no processo de seu cumprimento. Neste
sentido, law matters.
19
A importncia de um sistema judicirio que proteja contratos e garanta os direitos
de propriedade baseado num sistema de normas coerentes vinculam a justia e o
desenvolvimento econmico de modo umbilical. Douglass North, prmio Nobel de
Economia que entendeu melhor esta ligao resume: De fato, a dificuldade em se
criar um sistema judicial dotado de relativa imparcialidade, que garanta o
cumprimento dos acordos, tem-se mostrado um impedimento crtico no caminho
do desenvolvimento econmico. No mundo ocidental, a evoluo dos tribunais, dos
sistemas legais e de um sistema judicial relativamente imparcial tem desempenhado
um papel preponderante no desenvolvimento de um complexo sistema de contratos
capaz de se estender no tempo e no espao, um requisito essencial para a
especializao econmica.
20
Para os economistas, segundo Stigler existem trs maneiras que os economistas
podem interagir. Primeiro, podem ajudar aos Tribunais e advogados como peritos e
assistentes tcnicos. Por exemplo, casos de direito da concorrncia, de comrcio
exterior ou de discusses societrias podem necessitar do expertise do analista
econmico. Alm disso, economistas podem ajudar a entender o litgio judicial, os
incentivos aos conflito e os custos e recompensas envolvidas nas disputas judiciais
18
Norberto BOBBIO. P. 77. Teoria da Norma Jurdica
19
O direito relevante. Werner HIRSCH. Law & Economics. An introductory analysis.
20
Douglass NORTH. Structure and Change in Economic History. New York : New York, WW Norton, 1981.
12
numa pesquisa econmica aplicada. Mas da terceira forma que esta compreenso
da inter-relao entre direito e economia se d com maior intensidade: quais so os
mritos e demritos de um sistema judicial e de um sistema legal numa economia?
21
Quais so os seus impactos distributivos? Como reformar o sistema judicial em
economias em desenvolvimento para que se possa propiciar maior crescimento
econmico? Como escreveu Haussman, cada vez mais amplo o consenso sobre a
vinculao entre justia e desenvolvimento econmico.
22
. Hay, Shleifer e Vishny,
afirmam na mesma toada o primado do Direito significa em parte que as pessoas
usam o sistema legal para estruturarem suas atividades econmicas e resolverem
suas contendas. Isso significa, entre outras coisas, que os indivduos devem aprender
o que dizem as regras legais, estruturar suas respectivas transaes econmicas
utilizando essas regras, procurar punir ou obter compensaes daqueles que
quebram as regras e voltar-se a instncias pblicas, como os tribunais e a polcia,
para a aplicao dessas mesmas regras.
23
As leis relacionadas atividade econmica desempenham quatro funes bsicas:
protegem os direitos de propriedade privados, estabelecem regras para a negociao
e alienao desses direitos, entre agentes privados e entre eles e o Estado. Depois, o
direito tem um papel fundamental para definir regras de acesso e de sada dos
mercados. Finalmente, promovem a competio e regulam a conduta nos setores
onde h monoplio ou baixa concorrncia. Sherwood, Shepherd and Souza por sua
vez atestam: Em sistemas de mercado, a estrutura legal (idealmente pelo menos)
estabelcer direitos de propriedade duradouros os quais dificilmente sero
alienados de forma arbitrria e fornecer os meios para que esses direitos
permeiem e se faam valer ao longo de toda a estrutura dos meios de propriedade:
permitir um nvel substancial de atividade e garantir liberdade o suficiente para
associao no que diz respeito formao de empresas e, considerando e definindo
o carter limitado de responsabilidade das partes, ir encorajar o crescimento do
21
George STIGLER. op. cit. pg. 463
22
Ricardo HAUSMANN. La politica de la reforma juidicial en America Latina. mimeo, 1966, pg. 41
23
Jonathan HAY, Andrei SHLEIFER e Robert VISHNY. Toward a theory of legal reform. European Economic
Review. Vol. 40, n. 3-5, abr.1996. pg. 559
13
capital, estabelecendo as bases para a dissoluo ordenada de associaes, firmas,
joint-ventures e assim por diante.
24
Como indicado tambm por Summers e Vinod: o estabelecimento de um sistema
legal e judicirio que funcione adequadamente e que garanta direitos de propriedade
essencial como complemento s reformas econmicas.
25
Willig anota ainda que
aps o sistema de privatizaes passou a ser necessrio um conjunto de instituies
e um regime legal e judicial dentro de uma estratgia voltada s circunstncias de
cada pis.
26
Em sntese, por seu turno, o Direito afeta de forma dramtica a economia no
apenas na determinao dos direitos de propriedade ou no direito dos contratos,
mas por meio de sua correta aplicao pelo Poder Judicirio. E entre elas, o
Direito que explica melhor a diferena entre pases desenvolvidos e no-
desenvolvidos, o respeito aos contratos e propriedade privada o maior benefcio
para a economia de um sistema legal crvel. Portanto, Direito fundamental para a
economia !
1.3 Porque um advogado precisa entender de economia ?
Por que os operadores de direito deveriam estudar Law & Economics ? Cooter e Ulen
avaliam que a anlise econmica do direito matria interdisciplinar que traz as duas
reas de estudo para uma mesma arena e facilita o entendimento de ambas.
27
A
economia contribui para que possamos perceber o Direito numa nova dimenso
que extremamente til na compreenso da formulao de polticas pblicas.
24
Robert M. SHERWOOD, Geoffrey SHEPHERD, Celso Marcos de SOUZA. Judicial systems and economic
performance. The Quarterly Review of Economics and Finance. vol. 34, summer 1999.
25
Lawrence SUMMERS, Thomas VINOD. Recent lessons of development. The World Bank Research Observer,
vol. 8. n. 2, jul., 1993. pg. 249.
26
Robert D. WILLIG. Public versus regulated private enterprises. Proceedings of the World Bank Annual
Conference on Development 1993. World Bank, 1994. pg. 156
27
Robert COOTER e Thomas ULEN. Law & Economics. Reading : Addison, Wesley, Longman, 3 ed. 2000.
pg. 3
14
Afastando-se da premissa universal do direito como instrumento de justia o que
amplamente contestado na prtica e na doutrina mesmo que muitos ainda possam
consider-lo como formulador ou instrumento de soluo de conflitos a maior
parte do movimento de Law & Economics v o direito como um conjunto de
incentivos para determinar o comportamento humano por meio do sistema de
preos. Ou seja, supondo em larga medida o ser humano como um ser racional (se
bem que tal premissa tambm possa ser contestada in totum), o comportamento
humano reage estmulos pecunirios, j que a premissa que, em sendo os
recursos econmicos escassos, a deciso ser aquela que melhor otimize a sua
necessidade frente aos recursos que dispe. Isso faz do Direito um importante
instrumento para certas polticas pblicas, em especial aquelas que dependem de seu
cumprimento para serem eficazes ou ainda, por meio dos mecanismos que garantam
certa segurana e estabilidade ao sistema.
O jurista no pode, em s conscincia, desprezar o imenso ferramental das outras
cincias que lhe possibilita compreender melhor a conduta humana. O Direito por
excelncia um indutor de condutas; assim, a interseo entre os fenmenos
econmicos e jurdicos deve perseguir o mesmo ideal de todas as reas do
conhecimento, qual seja promover a justia e a eqidade do sistema social como um
todo.
1.4 Pequeno histrico: a Escola de Law & Economics (JS)
A teoria de Law & Economics cuida da aplicao de determinados princpios
econmicos como os da racionalidade e da eficincia alocativa com vistas a
explicar a conduta humana e como a legislao estimula ou no tais
comportamentos na formao, estrutura e processos das relaes sociais. Cuida
15
ainda de entender qual o impacto econmico no Direito e nas instituies legais e
o impacto do Direito na economia.
28
Como se afirmou, a linha de pensamento da Law & Economics, concebida a princpio
como uma veia das escolas econmicas mais liberais, foi rapidamente abarcada pelas
faculdades de Direito.
29
Seus enunciados no surgem num vcuo terico pouco
aplicvel; antes, passam a entender o Direito como um sistema multifragmentado e
multifacetado, desconexo e prolixo, que deve e pode ser analisado luz de
um conceito econmico preciso, o da eficincia e o da racionalidade humana. No
menos importante, Law & Economics se detm nas relaes legais que regem a
sociedade, no que consiste a contribuio do Direito matria.
O movimento de Law & Economics sempre foi considerado um movimento
americano; isto no exatamente correto. Suas origens so mais internacionais.
Economistas clssicos como Adam Smith e Jeremy Bentham, e mais tarde, Pigou,
Hayek, Leoni e Coase tiveram uma participao dominante, assim como teve
tambm participao doutrinria outros, como por exemplo, Max Weber
(curiosamente tambm um advogado e economista!).
30
certo que o
desenvolvimento nas comunicaes e a rpida propagao do ingls como lngua
internacional permitiu uma maior identificao do movimento com os americanos;
mas certo que estudos comparativos entre as vrias jurisdies permitem entender
melhor a natureza econmica de certos fenmenos e suas conseqncias jurdicas.
Segundo Posner, um de seus expoentes, pouco provvel que possamos
compreender o sistema adversarial anglo-americano sem compar-lo com o sistema
inquisitorial oriundo do direito romano vigente hoje na Europa Continental. por
esta razo que Law & Economics no hoje um fenmeno puramente anglo-
28
Nicholas MERCURO e Steven G. MEDEMA. Economics and the law. Pricenton : Pricenton University Press,
p.3
29
Dois artigos so usualmente citados como o marco inicial do movimento de Law & Economics: De Ronald
H. COASE. The problems of social cost. 3 Journal of Law & Economy 1 (1960) e de Guido CALABRESI. Some
thoughts on risk distribution and the law of torts. 70 Yale Law Journal. 499 (1961)
30
Richard POSNER. Preface. The Encyclopaedia of Law & Economics. Kluwer, 2000.
16
americano e uma arrematada tolice consider-lo como fruto da globalizao ou
coisa do gnero. Mesmo que os sistemas jurisdicionais sejam essencialmente
distintos e o so como se ver neste livro no se pode compreender, por
exemplo, o regime de direitos de propriedade sem analis-lo luz, por exemplo, do
que aconteceu recentemente com o Leste Europeu os pases egressos do regime
sovitico.
31
Com a internacionalizao do conhecimento jurdico, abre-se campo
para Law & Economics de forma radical: se quase todas as reas do conhecimento
podem ser estudadas luz da cincia econmica, ainda mais, o direito. Inicialmente,
reas diretamente relacionadas, tais como concorrncia, regulao dos mercados
financeiros, matria tributria e assim por diante se ofereciam como campos frteis
para Law & Economics, hoje, o movimento se expande para reas tradicionalmente
reservada aos juristas, como por exemplo, Direito de Famlia, Direito Ambiental e
assim por diante.
O assunto no novo bom enfatizar : desde a dcada de 1960, pelo menos,
discute-se a aplicao prtica de Law & Economics ao Direito. Nova , contudo, a
popularizao de sua leitura no Brasil e o seu ensino. Por muitos anos, os
operadores do Direito enxergaram o sistema jurdico como um mero sistema de
punio e coao, sem compreender todo o arsenal de subsdios que a teoria
econmica poderia fornecer a tal conjunto de normas postas (ou no). Hoje,
felizmente, entende-se que mesmo com premissas conceituais to distintas
(eqidade versus eficincia) h mais semelhanas do que divergncias.
A definio de Law & Economics acima, mesmo comum e geralmente aceita
traduzida de forma muito diferente dentro do prprio movimento pelos diversos
autores que se debruaram em deline-lo nos ltimos 50 anos. Ou seja, o
movimento de Law & Economics tem diversas correntes de interpretao, apesar de
ser uma nica escola. O que difere nos estudos dos diversos autores o ponto de
partida para a aplicao de certos princpios nos muitos aspectos da vida econmica.
31
Idem, ibedem.
17
Assim, h a Escola de Chicago, a Escola da Public Choice, os Institucionalistas e os
Neo-Institucionalistas, o Movimento dos Estudos Crticos, apenas para citar alguns.
So perspectivas que competem entre si na abordagem e na interpretao da
formulao dos preceitos e de sua inter-relao com o processo legal e econmico.
Por exemplo, para a Escola de Chicago, o agente econmico est sempre
maximizando a sua satisfao num processo racional, enquanto na Escola da Public
Choice, o objeto sempre maximizar a sua reputao h inmeros pontos de
correlao, mas um s instrumental (econmico) utilizado.
Pode-se afirmar inicialmente que o fenmeno do Direito (e por conseqncia, o da
justia) segundo Packer e Erlich multidimensional no sentido de que tem
ingerncia de fundamentos histricos, filosficos, psicolgicos, sociais, polticos,
econmicos e religiosos.
32
No entanto, a maneira em que se v o Direito,
tradicionalmente, sempre por meio instrumental, ou seja, o Direito uma das
formas para que, se adotadas certas premissas, se possa promover a igualdade, a
justia e a eqidade numa dada sociedade.
33
Ora, no mbito do Estado Moderno tal
viso instrumental est muito distorcida e divorciada da realidade: alm de no
poder ser entendido apenas por seu papel dogmtico, o Direito fruto de uma dada
poca histrica que tem, principalmente, determinantes econmicos.
mais fcil compreender as duas reas, direito e economia juntas, do que separadas.
Ou em outras palavras, como funcionam todas as relaes legais que governam a
sociedade e qual a influncia do Direito na economia e por seu turno, a influncia
da economia no Direito ?
Inicialmente, a interpretao do Direito foi profundamente influenciada por
consideraes teolgicas j que entendido como a revelao divina, o Direito vinha
de Deus. Depois, com a transformao da sociedade e no tempo do renascimento, o
Direito se torna menos secular e passa a se basear mais em certos princpios
32
Hebert PACKER e Thomas ERLICH. New Directions in legal education. NY, McGraw Hill, 1973)
33
Lewis KORNHAUSER. The great image of authority. Stanford Law Review, 36, jan. 1984, pg.1984.
18
imutveis e existentes, como a natureza, balizando o que se conheceu como Direito
Natural. J no incio do Sculo XIX o Direito passa a ser considerado como
cientfico e formalmente organizado, influenciado pela filosofia do positivismo em
larga medida. Aproximando-o das cincias naturais, portanto longe do divino ou do
natural, mas como um conjunto de princpios e normas, coerentes e harmnicas
entre si, at hoje o Direito intensamente influenciado por essa viso orgnica e
hierrquica. A pretensa construo cientfica do Direito a cincia do Direito
est edificada num conjunto de normas e regras que se aplicam ao caso concreto,
seja inspirado numa lei ou num precedente. Na definio de Julius Stone, o Direito
Positivo a anlise dos termos legais e a investigao das inter-relaes lgicas de
certas proposies legais.
34
Como ser descrito no decorrer deste livro, seja por
meio da aplicao da lei, seja por meio da deciso baseada num caso precedente, o
sistema do direito positivo est baseado em certos axiomas que podem (ou no) ser
teis, mas que, partem de premissas do sculo passado. Por funcionar quase que
geometricamente na soluo de conflitos numa sociedade primria, certamente no
consegue nem sequer explicar (e muito menos apresentar alternativas plausveis)
para a mirade de problemas de uma sociedade complexa.
No mbito do Direito Positivo, vrias correntes se distinguiram. Veio o que se
conheceu como o Movimento da Jurisprudncia Sociolgica, onde a nfase no
Direito passou a estar na sintonia com certas inspiraes de cunho social. Um juiz
deveria, segundo esta corrente, conhecer as condies econmicas e sociais que
afetam o caminho do Direito e fazer sua deciso resultar no no frio processo legal
ou nos valores positivados, mas igualmente em certos pressupostos sociais e
morais.
35
Oliver Holmes, por exemplo, indicou que se o Direito serve para certas
finalidades sociais, importante tambm entender as condies sociais onde se ele
aplicado.
36
Desnecessrio dizer que tanto as transformaes no campo da ideologia
34
Julius STONE. The province and the function of law. Cambridge, Mass : Harvard University Press. 1950. pg. 31
35
Veja que essa inspirao se traduz nos dias de hoje como princpios de eticidade e sociabilidade que regem
diversas de nossas leis, como por exemplo, o Cdigo Civil de 2002 em institutos como a probidade e a boa
f (Art. 422) ou mesmo a funo social do contrato (Art. 421).
36
Oliver W. HOLMES Jr. The path of Law. Harvard Law Review. 10, mar. 1897, pg. 458
19
quanto da prpria noo e elasticidade conceitual do que seja social acabou por
enfraquecer o movimento.
A resposta veio numa corrente que se denominou como realismo legal. Mesmo
adotando a inspirao social como eixo, o movimento passou a se valer de um foco
mais emprico, mais experimental e relativo na sua atitude ao Direito. Sem deixar de
atender aos clamores sociais, o Juiz no pode, segundo seus autores, se ater a
direitos puramente objetivos e incontestveis, classificaes e categorias rgidas, nem
a preceitos abertos e com grande dificuldade de definio (como o que seja social)
mas a sua convico se forma tambm pelo seu passado e pela formao dele Juiz (e
estes devem estar baseados numa ampla gama de valores e num rgido processo de
seleo). Ou seja, o Direito no um conjunto de regras, mas aquilo que o Juiz
decide. Da a viso do movimento realista de que, inevitavelmente, h certas
escolhas subjetivas (baseadas em iguais valores subjetivos) que buscam o certo ou o
errado. Claramente h influncias sociais, polticas e econmicas em jogo nesta
deciso.
Mas a partir do movimento realista, que pensadores como Samuel Herman, ainda
em 1937, primeiro soube compreender que o Direito de um Estado nunca pode se
sobrepor sua economia e que um sistema judicial disciplinado em valores
econmicos pode ser um instrumento temperado para resolver as questes maiores
do nosso tempo.
37
Havia sido dado um passo inicial, mas certeiro, para a mudana do pensamento legal
vigente. Ao entender que, em funo de idias e condies econmicas, muitas
vezes se geram certas demandas legais que por sua vez influenciam a economia,
ficou patente que o Direito precisa interagir com a economia e que o Direito no
apenas o que o Juiz decide.
37
Samuel HERMAN. Economic predilection and the Law. American Political Science Review 31 (Oct. 1937). pg.
821.
20
Assim como os realistas encontraram teis instrumentos da analise marginal de
Thornstein Weblen ou John Commons, os seus excessos doutrinais no permitiram
que a viso dominante do Direito, o positivismo jurdico iniciado do sculo XIX,
fosse solapada de vez. No entanto, pode-se afirmar que foram os realistas que
criaram um ambiente de maior receptividade ao movimento de Law & Economics.
Enquanto os fundamentos tericos da escola de Law & Economics podem ser
identificados, como se afirmou, a partir de Adam Smith ou de Jeremy Bentham, foi
somente na dcada de 1960 que o interesse da aplicao de conceitos da teoria
econmica ao Direito se consolidou. Graas aos estudos de Ronald Coase, Guido
Calabresi, Henry Manne, Gary Becker e Richard Posner, entre tantos outros, Law &
Economics se tornou uma disciplina acadmica autnoma com muitos seguidores pelo
mundo.
38
De todos eles, contudo, o movimento deve mais a Richard Posner, no porque ele
tenha rejeitado a idia do Direito como um ideal pblico ou recusado a compactuar
com a viso do Direito como uma mera adjudicao do processo como meio de
interpretar a lei e resolver conflito individual. Posner traduziu de fato, numa
laboriosa obra, os princpios de Law & Economics e deu base metodolgica a ela.
A habilidade do jurista de resolver os problemas dos agentes econmicos passou a
depender de novas ferramentas para interpretar normas, fatos e documentos legais;
conseqentemente a noo da autonomia do Direito decaiu especialmente pela
necessidade de se socorrer do conhecimento em outras reas, em especial, a
economia. O Direito no pode mais ser considerado por si s, como o gerador de
resultados que constituem uma verdade objetiva; antes Law & Economics questionou
(e venceu) ao menos o consenso universal de que s o Direito se vale de meios para
atingir a dadas solues legais: este consenso desapareceu por completo.
39
38
Importante o trabalho da American Law & Economics Society (www.alea.org) e da International Society
of Neoinstitutional Economics. (www.isnie.org).
39
Nicholas MERCURO e Steven G. MEDEMA. op. cit. pg. 13
21
Law & Economics tem muito a contribuir em quase todas as reas do direito: a
relevncia potencial do tema, seja aos advogados, seja aos juristas, seja aos
economistas, seduziu todos e se no incio, os conceitos cabiam num nico livro,
hoje virtualmente impossvel se deter a todos os mltiplos aspectos do tema.
1.5 Alicerces tericos de Law & Economics
Isto posto, necessrio avanar um pouco mais e desde j estabelecer quais so os
alicerces tericos de Law & Economics e como ele incorpora instrumentos de anlise
econmica. O termo se refere mtodos de economia para resolver problemas
legais e inversamente, como o direito e regras legais impacta a economia e o seu
desenvolvimento. Pode-se afirmar que existem entre o sistema legal e o sistema
poltico algumas reas lindeiras que afetam tanto a economia quanto e cincia
poltica que nos do o ambiente onde surge o direito. Uma boa parte do trabalho
acadmico de Law & Economics se originou na tradio econmica neoclssica e
guarda as mesmas indagaes centrais (se bem que enveredando por respostas
radicalmente diferentes) da escola marxista ou da escola crtica de Frankfurt.
A anlise econmica do direito pode ento ser dividida em duas grandes searas, que
vamos chamar de correntes: uma corrente positivista e uma normativista. A primeira
prediz os efeitos das vrias regras legais; por exemplo, como o agente econmicos
pode vai reagir s mudanas no Direito, uma anlise econmica positivista de
indenizaes, em matria de responsabilidade civil, deve poder predizer os efeitos
das normas de responsabilidade objetiva e subjetiva em oposio s condutas (ou
comportamentos) de negligncia. J a corrente normativista vai adiante e procura
estabelecer recomendaes de polticas e regras legais baseadas nas vrias
conseqncias econmicas caso sejam adotadas. No por outra razo, a corrente
normativista estabelece como dogma o uso da expresso eficincia
extensivamente usada neste livro e que tem duas conotaes importantes, tambm
22
discutidas adiante: a eficincia de Pareto, aquela na qual a posio de A melhora sem
prejuzo da de B, e a chamada eficincia de Kaldor-Hicks, na qual o produto da
vitria de A excede os prejuzos da derrota de B.
No entanto, as premissas fundamentais para a abordagem so mais ou menos
universais e se baseiam na aplicao linear de uma anlise microeconmica ao
Direito.
So trs as premissas que norteiam o movimento:
1. existe maximizao racional das necessidades humanas;
2. os indivduos obedecem a incentivos de preos para conseguir balizar o seu
comportamento racional;
3. regras legais podem ser avaliadas com base na eficincia de sua aplicao,
com a conseqente mxima de que prescries normativas devem promover
a eficincia do sistema social.
A primeira tem como pressuposto que agentes econmicos so maximizadores
racionais de satisfao ou seja, para suas escolhas, sempre iro se basear na
adequao racional e eficiente dos fins aos meios. Esta premissa leva inevitvel
concluso de que indivduos s se engajaro conscientemente em unidades
adicionais de atividade (seja de consumo, de produo, de oferta de trabalho ou
qualquer outra natureza) se o benefcio auferido por aquele mesmo indivduo for
maior que o custo despendido para obt-lo. Isso significa que, aplicada ao universo
do Direito, a deciso de rescindir um contrato, de engajar-se em atividades
originalmente no previstas, ou qualquer outro comportamento ilcito, faz com que,
racionalmente, se comparem benefcios com custos marginais para optar-se por
aquela ao. Por exemplo, o custo dos acidentes. O condutor do veculo s respeita
a norma de parar em sinal vermelho porque mais econmica tal atitude do que
receber uma multa de trnsito. Aqueles que violam a lei ou os contratos, com base
nessa premissa conceitual, percebem benefcios a seu favor quando estabelecem
23
uma comparao com custos de oportunidade que possam justificar o seu
comportamento ilegal, com o objetivo de maximizar a sua satisfao lquida.
A segunda premissa resultante da primeira. Se os indivduos maximizam suas
satisfaes racionalmente, h sempre e em qualquer lugar uma resposta ao sistema
de incentivos de preos, ou seja, o sistema de preos que baliza o comportamento
humano. Na rea legal, a norma estabelece preos (sanes pecunirias) tais como
multas, servios comunitrios ou mesmo recluso/deteno penal para os vrios
tipos de comportamento ilegal. A escolha de cada opo analisada em face dos
benefcios auferidos por meio de uma comparao qualitativa, vale dizer, monetria.
No toa que, segundo Posner, um dos expoentes do movimento de Law &
Economics, a funo bsica do Direito, numa perspectiva econmica, seja manipular
corretamente os incentivos.
A terceira das premissas que definem a abordagem de Law & Economics consiste no
conceito de eficincia, ou seja, a maximizao da riqueza tendo em vista os
escassos bens existentes. Para os seguidores de Law & Economics, o segundo
significado de justia eficincia. Por exemplo, se uma indstria acionada
judicialmente por danos ambientais, e o valor da ao de R$ 1 milho, e supondo-
se o custo adicional de R$ 700 mil referente instalao de filtros antipoluidores, a
medida deve ser julgada procedente porque h um ganho de eficincia,
mensurvel em R$ 300 mil. Por oposio, se o autor da suposta ao puder resolver
a questo ambiental por R$ 200 mil, a ao deve ser julgada improcedente, visto
que, em termos mais amplos da sociedade, independentemente de quem tem razo,
no houve igual ganho de eficincia. Dito de outra forma, assim se configura o
clebre teorema de Coase, segundo o qual se direitos de propriedade foram
devidamente assinalados e se o custo de transao for igual a zero, as partes vo
sempre obter um resultado eficiente, a despeito dos direitos de propriedade
inicialmente estabelecidos.
40
40
Ronald COASE. The firm, the market and the law. Chicago : The University of Chicago Press, 1988.
24
Para encerrar esta introduo, necessrio tambm afirmar que o movimento de
Law & Economics no est isento de crticas, surgidas ao longo do desenvolvimento
da teoria. Em especial a corrente normativa de Law & Economics sofre o mesmo tipo
de crtica que sofre a escola econmica neoclssica. Podem ser divididas em quatro
grandes grupos: metodologia, conceituao, abrangncia e historicidade. As crticas,
resumidas a proposies simplificadoras e pouco realistas da natureza humana
referem-se s suas concluses, no ao mtodo e em nenhum momento negam as
influncias da economia ou de seus princpios bsicos, at porque foram os prprios
acadmicos do movimento que elaboraram tais crticas.
Em primeiro lugar, falemos da metodologia. Segundo Patrcia Danzon, muitos dos
critrios de Law & Economics no so cientficos, uma vez que no se tenta criar uma
teoria, question-la, para assim depreender concluses; antes, verificam-se alguns
parmetros e, a partir desse procedimento, busca-se comprovar o que parece
metodologicamente no comprovado. Da a afirmao de que muitas das
proposies so irredutveis simplesmente porque no podem ser mensurveis;
porm, em muitos casos a metodologia de Law & Economics metafsica, ou seja,
muito mais uma forma de observar como funciona o mundo com base em
premissas especficas. correta, pois, a observao de Frank Stephen: A
aceitabilidade da teoria depende ento da aceitabilidade de suas premissas. No
entanto, as premissas da escola de fato oferecem uma contribuio relevante
anlise jurdica ao agregar ao vetusto mundo do jurista conceitos econmicos.
Um segundo grupo de crticos, entre os quais est Victor Goldberg, entende que
existem problemas srios de conceituao sobre a prpria noo de eficincia: a idia
de eficincia no absoluta, determinada de acordo com certos contextos sociais,
histricos e mesmo de distribuio de renda. Uma avaliao de eficincia, ademais,
nunca ser neutra, tendo em vista que depende de uma ideologia vigente que a
condiciona e a induz.
25
A terceira crtica diz respeito abrangncia. Gordon Tullock argumenta que o direito
pode ser eficiente no sentido ex ante do ponto de vista geral, mas no se considerado
individualmente e analisado detalhadamente. Por exemplo, muitas vezes a justia
no depende de eficincia, e sim de procedimento e de bons advogados. Para
Tullock, a abrangncia dos princpios de Law & Economics foi longe demais e
necessrio estabelecer certos limites para sua aplicao. Naturalmente, no uma
crtica s premissas, mas aplicao dos conceitos.
A ltima bateria de crticas se refere ao que pode ser denominado historicidade.
Conceitos como os de racionalidade e eficincia foram formulados no sculo XIX,
sob a gide da orientao liberal, ainda sob a influncia de uma revoluo industrial,
em um mundo muito diferente daquele globalizado em que vivemos hoje. H quem
force a idia de que, na busca pela eficincia do sistema, o movimento de Law &
Economics desprezaria argumentos de natureza mais tica ou mesmo social, o que
tambm pode ser considerado uma veia estreita da prpria histria, tendo em vista
que a preocupao da doutrina econmica liberal no era nem tica, tampouco
social. Na mesma toada, para alguns, o movimento no captura a importncia de
Direitos Humanos e mesmo justia distributiva.
Certamente algumas dessas crticas tm razo de ser, mas outras evidentemente
exageram em argumentos pouco convincentes. Enquanto no vem a talho debater
as justificativas por meio das quais seria possvel defender tais crticas, importante
lembrar que o que se pretende uma leitura diferente do Direito e do sistema
jurdico, valendo-se de regras e princpios econmicos.
Em resumo, Law & Economics procura trazer algumas novas respostas aos mesmos
clssicos problemas: quo eficiente o sistema de normas para induzir certos
comportamentos e como uma sano legal afeta este comportamento. As respostas
26
que o movimento aponta, mesmo no isento de crticas est baseado, em sua
totalidade, nos princpios de eficincia e racionalidade que apontamos acima.
Keynes, economista, foi quem melhor formulou as habilidades que parecem
adequadas para concluir esta breve introduo a este livro, no sem antes enfatizar a
necessidade de pesquisa adicional em Law & Economics que se espera abrir de forma
permanente. Para Keynes, os economistas (e, ouso acrescentar, os juristas) deveriam
entender smbolos, mas falar em palavras. Devem contemplar o particular em
termos do geral mas tocar o abstrato e o concreto no mesmo limiar de pensamento.
Devem estudar o presente luz do passado para explicar o futuro
41
1.6 - Plano da obra e plano de estudos
Primeiro uma nota sobre o uso da prpria expresso Law & Economics em
portugus. Sua traduo mais literal Direito e Economia. Claramente a
expresso em portugus apesar de sua traduo fiel no denota o mesmo sentido da
segunda expresso, que Anlise Econmica do Direito. Alguns autores
brasileiros preferem o uso do termo Economia do Direito (Dcio Zylberstazjn)
enquanto outros preferem mesmo Direito na Economia. No h, evidentemente,
expresso melhor ou pior; certamente equivocada a expresso Direito
Econmico como conceituada nas faculdades de direito, primeiro porque esta
cuida da intreveno do Estado na Economia, da matria de leis que se aplicam a
concorrncia, eventualmente regulao, moeda ou ao crdito. Economia do
Direito parece uma boa opo, mas h, nas escolas americanas uma disciplina
denominada de Economics of the Law (na verdade o ttulo de um livro de
Thomas J. Miceli, publicado em 1997), e sinto que a expresso trai os juristas, j que
seria um captulo especial da economia. Por tais razes, prefiro a expresso no
original: Law & Economics. Mesmo incorrendo o pecado do anglicismo, que por si s
41
John Maynard KEYNES.
27
detestvel, me curvo falta de opes mais plausveis. Expresses como
accountability e dry run so vrias que no encontram na rica lngua portuguesa
uma traduo altura.
Feito este prembulo guisa de introduo, passamos a apresentar o plano da obra.
O presente livro se divide em outros oito captulos. O primeiro cuida do
funcionamento do Direito. Partindo de princpios do Direito Romano, Direito
Anglo Saxnico, como base para discutir um pouco da histria e dos fundamentos
do Direito Brasileiro e tambm quanto dicotomia entre o Direito Privado e
Direito Pblico no Brasil o captulo se prope a lanar as bases para compreender
Law & Economics, mas do ponto de vista do Direito. Segue-se uma descrio dos
principais instrumentos e instituies de direito e quais so os principais conceitos
jurdicos para os no-juristas. Ainda como forma de introduzir conceitos jurdicos
ao livro, o captulo cuida da Teoria da Constituio e do Direito e procura alinhavar
quais so os princpios constitucionais ao sistema jurdico. Por fim, o captulo cuida
da institucionalidade do sistema legal no Brasil, do papel do Poder Judicirio (aqui
referido como uma instituio econmica), do Legislativo e do Poder Executivo.
A cada captulo, neste trabalho, seguir um resumo do captulo, dos principais
conceitos apresentados, um glossrio, sugesto de leituras e alguns exerccios que
sero apresentados aos alunos. Enquanto o objetivo de um livro didtico procurar
transmitir certos conceitos, o que se espera aqui, alm disso, poder subsidiar toda a
discusso apresentada para posterior reflexo ou para trabalho em grupo. Valendo-
se de textos esparsos, de discusses que foram tangenciadas no captulo em tela, o
resumo, o glossrio e os exerccios devem ser considerados como uma forma de
complementar a compreenso do que j foi apresentado.
O segundo captulo cuida dos consumidores, de firmas e de mercados: procura
alinhavar os fundamentos microeconmicos de Law & Economics. Tais fundamentos
so essenciais para a correta compreenso do pressuposto bsico da escola: a
28
eficincia econmica til para analisar regras legais e instituies e entender quais
so as suas causas e quais as suas conseqncias. Aqui, temas como maximizao,
equilbrio e eficincia so inseridos nas vrias teorias microeconmicas da oferta e
da procura. Enquanto importante alguma matematizao e grficos o leitor
jurdico no deve se intimidar com elas, j que o intuito simplesmente valer deste
tipo de anlise para a compreenso instrumental do direito.
Segue-se um terceiro captulo sobre Teoria Econmica do Direito, de seus
principais conceitos e fundamentos. Alm disso, este terceiro captulo tambm cuida
de uma teoria econmica do desenvolvimento: o papel do Direito no crescimento
da economia e do desenvolvimento da sociedade. Buscando retratar alguma
evidncia emprica, e dos mais importantes institutos analisados no curso: contratos
e Direitos de Propriedade, o captulo procura responder a uma indagao chave: de
que maneira o comportamento dos agentes econmicos afetado por problemas
oriundos do sistema legal ?. Outros temas recorrentes tambm so abordados no
livro: crime (Direito Penal) e tributos (Direito Tributrio) com o mesmo enfoque de
Law & Economics. O captulo encerra com uma proposta de estudo de casos.
O quarto captulo cuida de concorrncia. Ao procurar responder a uma indagao
clssica, porque a concorrncia boa e porque a aplicao das leis
anticoncorrenciais necessria, esta incurso no Direito Concorrencial necessria
para compreender no apenas os conceitos de concorrncia, mas tambm o impacto
de tais polticas que facilitam ou atrasam o desenvolvimento econmico. Depois, o
captulo cuida ainda do funcionamento da legislao brasileira sobre concorrncia e
sobre o sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia. Finaliza indicando quais so
as crticas ao atual sistema de concorrncia ? Seguem-se estudo de alguns casos.
O quinto captulo se ocupa da regulao dos servios pblicos. A primeira
indagao bsica porque o setor de servios pblicos precisa ser regulado? Segue-
se uma descrio dos servios pblicos no Brasil nos vrios nveis (privado /
29
pblico federal / estadual, municipal, cobertura e custos. Depois, o captulo passa a
analisar o Direito e instituies regulando os servios pblicos no Brasil.
O sexto captulo trata da regulao dos mercados financeiros e quais as justificativas
para regular os mercados financeiros. Apresentam-se alguns dados para exemplificar
a importncia do tema ao lado de uma descrio do setor financeiro no Brasil
(profundidade, crescimento, estabilidade, riscos, concorrncia, oferta de crdito, etc.
Segue-se ainda uma descrio do Direito nas instituies dos mercados financeiros e
sua mais importante agenda: o aumento da oferta de crdito como premissa para o
crescimento econmico. Aqui, enfatiza-se a questo das garantias bancrias na
precificao dos juros e da questo maior da insolvncia e crdito no Brasil.
Um stimo captulo trata do Mercado de Trabalho no Brasil. As polticas legais e
pblicas do mercado de trabalho so detalhadas desde a evoluo do Direito do
Trabalho na era Vargas. Depois, alinhava-se quais as principais linhas e princpios
que o Direito do Trabalho invoca e protege. Num tom mais provocativo, o captulo
procura questionar as razes do por qu reformar e qual ser o impacto no emprego
e na empregabilidade, um dos mais importantes temas de nossas pocas.
Finalmente so analisados no oitavo e ltimo captulo cinco tpicos instigantes em
Law & Economics: a proteo ao Direito do Consumidor, o Direito da propriedade
intelectual e a proteo ambiental.
Muitos so os credores do presente ensaio a quem os autores devem agradecer.
Primeiro, ao apoio financeiro do BID no mbito do projeto Livros Textos de
Economia e aos comentrios sempre oportunos de ..... Devemos agradecer tambm
a Cludio Haddad, do Ibmec que apoiou entusiasticamente desde o incio o projeto.
Do ponto de vista pessoal, pelas horas subtradas do convvio familiar, a Fabiana,
esposa e companheira. (COMPLETAR)
30
No existe entre ns, lamentavelmente, material sobre o tema. A maior parte da
literatura sobre o assunto desconsidera as particularidades de um sistema legal como
o brasileiro. Mesmo o movimento do Law & Economics, consagrado nos Estados
Unidos e Europa, sempre sofreu grande resistncia no Brasil, em especial pela falta
de compreenso de alguns paradigmas bsicos. Por seu turno, o abismo entre os
operadores de Direito e os economistas sempre foi incentivado pela cenrio voltil
existente (por exemplo, a contestao dos planos econmicos na Justia) ou pela
falta de crena do sistema legal na estabilidade dos contratos. hora de aproximar
as duas reas, seja trazendo o debate para uma mesma arena, seja encorajando
produo acadmica como esta que agora se prope.
Com isso, espera-se til o presente trabalho tanto aos economistas quanto aos
operadores de direito.
Armando Castelar Pinheiro
Jairo Saddi
Dezembro, 2004.
CAPTULO II: COMO O DIREITO FUNCIONA ?
1.1 Direito Romano, Direito Anglo Saxnico, Histria e fundamentos do
Direito Brasileiro e dicotomia entre o Direito Privado e Direito
Pblico no Brasil (JS)
1.2 Instrumentos e instituies de direito. Principais conceitos para os no-
advogados. (JS)
1.3 Constituio e Direito. Princpios do sistema jurdico.
O grande Presidente Americano, Abraham Lincoln (1809-1865) certa vez afirmou
que "o que justo do ponto de vista legal pode no s-lo do ponto de vista moral."
Apesar de singela (e, aparentemente, bvia) a afirmao por exemplo o Direito
Nazista h uma certa confuso dos termos justia, direito e moral. A justia , em
geral, um princpio moral falamos de uma situao como sendo justa ou injusta de
acordo com nosso princpio moral; o Direito, enquanto conjunto de regras postas
pelo Estado o que se realiza no convvio social. O jusfilsofo, N. Hartmann,
props que a justia moral individual e a justia jurdica social, como sendo um
conceito maior (e mais amplo) do que o Direito. Da mesma forma, Frankena, em
1963, se perguntava: "Quais so os critrios ou princpios de justia ? Estamos
falando de justia distributiva, justia na distribuio do bem e do mal. (...) A justia
distributiva uma questo de tratamento comparativo de indivduos. Teramos o
padro de injustia, se ele existe, num caso em que havendo dois indivduos
semelhantes, em condies semelhantes, o tratamento dado a um fosse pior ou
melhor do que o dado ao outro.(...) O problema por solucionar saber quais as
regras de distribuio ou de tratamento comparativo em que devemos apoiar nosso
agir. Numerosos critrios foram propostos, tais como: a justia considera, nas
pessoas, as virtudes ou mritos; a justia trata os seres humanos como iguais, no
sentido de distribuir igualmente entre eles, o bem e o mal, exceto, talvez, nos casos
de punio; trata as pessoas de acordo com suas necessidades, suas capacidades ou
tomando em considerao tanto umas quanto outras."
1
Uma segunda forma de entender a questo de justia, no sentido de 'distribuio
justa' ou 'o que merecido'. Uma injustia ocorre quando um benefcio que uma
pessoa merece negado sem uma boa razo, ou quando algum encargo lhe
imposto indevidamente. Ou seja, a concepo de que os iguais devem ser tratados
igualmente. Entretanto esta proposio necessita um certo alargamento. O Relatrio
Belmont, proposto em 1978, trazia alguma destas indagaes: Quem igual e quem
no-igual ? Quais consideraes justificam afastar-se da distribuio igual ? (...)
Existem muitas formulaes amplamente aceitas de como distribuir os benefcios e
os encargos. Cada uma delas faz aluso a algumas propriedades relevantes sobre as
quais os benefcios e encargos devam ser distribudos. Tais como as propostas de
diviso, baseado nos seguintes critrios:
a cada pessoa uma parte igual;
a cada pessoa de acordo com a sua necessidade;
a cada pessoa de acordo com o seu esforo individual;
1
Frankena WK. tica.Rio de Janeiro: Zahar, 1981:61-2.
a cada pessoa de acordo com a sua contribuio sociedade;
a cada pessoa de acordo com o seu mrito.
2
No entanto, a lista pode ser infinita, com inmeros outros critrios, critrios estes
que podem ser aleatrios. H, contudo, um conceito aceito (mesmo que
incompleto) de justia distributiva como sendo a distribuio justa, equitativa e
apropriada na sociedade, de acordo com normas que estruturam os termos da
cooperao social. Uma situao de justia, de acordo com esta perspectiva, estar
presente sempre que uma pessoa receber benefcios ou encargos devidos s suas
propriedades ou circunstncias particulares. Aristteles props a justia formal,
afirmando que os iguais devem ser tratados de forma igual e os diferentes devem ser
tratados de forma diferente.
3
H muito que se escreve sobre o tema. Epicuro (341-270 aC), propunha que as leis
existissem para os sbios, no para impedir que cometam, mas para impedir que
recebam injustia. (...) A justia no tem existncia por si prpria, mas sempre se
encontra nas relaes recprocas, em qualquer tempo e lugar em que exista um pacto
de no produzir nem sofrer dano". Ora, aqui se inclui um novo conceito noo de
justia que a possibilidade de se infligir um dano, um prejuzo algum.
Do direito romano influncia no surgimento da civil law
Sobre a influncia do direito romano no direito dos pases latinos, entende Ren
David (Trait lm. de Droit Civ. Compare, Paris, 1950, p. 232) o que essencial nesta
matria e permite dizer se serem todos os nossos direitos fundados no Direito
Romano, a seguinte considerao de ordem cientifica e no de ordem legislativa:
em certa poca, varivel em cada pais e independente de qualquer denominao
2
The Belmont Report: Ethical Guidelines for the Protection of Human Subjects. Washington:
DHEW Publications (OS) 78-0012, 1978
3
Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Bioemdical Ethics. 4ed. New York: Oxford, 1994:326-329.
fsica romana, nossos juristas acolheram a cincia jurdica romana e consideraram
que esta cincia, magnificamente desenvolvida pelos juristas de Roma, revestia-se de
valor universal, e, mais, que as regras de todos os direitos dessa poca, sem se
identificarem com as do direito romano, deviam ser organizadas, classificadas e
sistematizadas nos quadros criados pelos jurisconsultos de Roma.
4
Apesar de Ren David afirmar contrariamente, bem verdade que o Direito
Romano teve influncia legislativa tambm, bastando analisar os textos legais de
vrios pases da Europa Continental no somente os latinos -, especialmente o
Cdigo Civil Francs de 1804, cujas diretrizes foram buscadas naquele direito,
servindo este cdigo como inspirao para as legislaes de diversos outros pases
da Europa, moldando cada pas conforme as tradies e condies especificas da
sociedade local. Z. Crome acentuou que entre os povos das raas romanas, reina
uma uniformidade jurdica edificada sobre O Cdigo Civil francs.
5
Pode-se dizer
que nessa esteira surgiu o sistema conhecido como romano-germnico (ou civil law),
com a compilao e codificao do Cdigo Romano, tendo tambm como fontes o
Cdigo de 1804, o Cdigo Civil Austraco de 1812, o Cdigo Federal Suo das
Obrigaes de 1883, o direito prussiano, o ensaio de codificao (Projeto de Dresde
1866) e outros cdigos regionais (v.g. Saxe) que consagram o direito costumeiro,
sistematizando em seus textos os costumes, as normas escritas, as jurisprudncias e
as doutrinas, sendo este o sistema ao qual se filiou o Direito brasileiro.
Feitas estas consideraes iniciais, vamos passar a definir outros conceitos
relevantes numa introduo. Primeiro, o que um sistema jurdico?
Um sistema um conjunto de preceitos que devem ser agrupados, tal qual um
organismo vivo funcionando. Sempre houve uma preocupao sobre a
sistematizao dos princpios gerais em detrimento de particularismos: a ordem
4
Vicente RAO. O Direito e a Vida dos Direitos. 5 ediao. pp. 102 e 103.
5
Z. Crome, Ls Similitudes du Code Civil Allemand et du Code Civil Franais, in L Livre du Centenaire, II,
p. 587, apud Vicente RAO, op. cit., p.106.
racional dos conceitos deveria se sobressair ordem casustica dos jurisconsultos
romanos. Para os liberais, o Judicirio um poder que tem atributos dos mais
amplos, no sendo controlado por nenhum dos outros dois poderes (Executivo e
Legislativo), mas no tem iniciativa e seu poder limitado pela res judicata;
generalizaes a partir de casos julgados s na matria sub judice e sem qualquer
possibilidade de criar precedentes, ou seja, de imporem-se a casos semelhantes no
futuro, pela sua prpria efetividade. No entanto, o Judicirio s funciona baseado
num sistema de leis, num conjunto orgnico de leis e regulamentos.
As crticas que imperam sobre este sistema fundamenta-se sobre o culto ilimitado
lgica formal e racionalidade da construo dedutiva, tida como vlida por seu
prprio rigor arquitetural, porque racional e coerente dentro do raciocnio abstrato,
porm desprezando-se os resultados na vida cotidiana, tornando a efetividade uma
preocupao secundria. No entanto o prprio sistema lembra que a lei no deve
nunca ser injusta, e que o equilbrio do julgamento encontra sua pedra basilar na
aplicao justa da lei, realizando os valores transcendentais da justia (suum cuique
tribuere), harmonizando-se a aplicao da lei s conseqncias por ela trazidas.
Importante frisar que tambm nunca so desconsideradas no sistema romano-
germnico as jurisprudncias, sendo as mesmas aplicadas, tanto pelos julgadores
para formarem sua opinio e fundamentarem suas decises, quanto pelos advogados
na defesa dos interesses de seus clientes. H dois sistemas jurdicos preponderantes:
o common law e o sistema jurdico de Direito Romano.
Direito anglo-saxnico e Commom Law
O significado da palavra Common Law pode variar muito em relao ao uso e ao
contexto prprio em que est inserida, mas em geral quer dizer que foram derivados
da grande famlia do direito britnico. Quando se fala no sistema do common law,
pretende-se dizer que um determinado ordenamento encontra seus fundamentos e
origens na tradio que se formou na regio da atual Gr-Bretanha e no no direito
continental europeu, que se formava sob as bases romano-germnicas.
Existe uma diferena sutil entre direito anglo-saxnico e commom law. Enquanto
aquele constitudo de direitos locais e costumeiros de cada tribo dos primitivos
povos da Inglaterra, que somente deixaram alguns traos para direitos locais
ingleses, sendo portanto considerado um direito das tribos e dos reinos da Inglaterra
antes da ocupao normanda em 1066, o commom law, que pouco influencia teve do
direito anglo-saxonico, se formou a partir do jus scriptum e do direito jurisprudencial
posterior quela conquista normanda.
Os direitos das tribos, aplicados pelas County Courts, passaram a sofrer oposio
pelas sentenas proferidas pelos Tribunais de Westminster, a partir de 1066, criando
assim, o direito denominado commom law, tendo como principio a distribuio da
justia como prerrogativa do Rei, atravs de seus prepostos (judges), que
identificavam o problema de cada queixoso fornecendo-lhes um writ, que era uma
ao nominada e com frmulas fixadas pelos costumes, que correspondia
obteno de um remdio adequado situao. No havendo o writ no haveria a
possibilidade de dizer-se o direito, e, assim, criava-se uma denegao da justia para
aquela pessoa e seu caso.
A Especialidade do Direito Escocs dentro da Common Law
A peculiaridade do ordenamento jurdico escocs s poder ser avaliado por quem
com conhea muito exatamente a situao.Ela resulta da autonomia desde cedo
conquistada pelo pas e das estreitas ligaes entre a Igreja presbiteriana escocesa e o
calvinismo da Europa ocidental, das quais resultou que a formao, durante cerca de
um sculo, das novas geraes de juristas, ocorreu primeiro na Frana e mais tarde
na Holanda. Ao direito romano (civil law) e da cincia jurdica do direito comum,
que talvez correspondessem mais francamente ao carter escocs, mais interessado
do que o britnico na metodologia e nas questes tericas. Hoje, a completa
integrao do direito escocs no direito ingls no talvez seno uma completa
integrao de tempo. Por razes diferentes, o direito romano conservou ainda aqui
por influncia da jurisprudncia holandesa, uma forte presena, na frica do Sul.
Fonte: SKIN, Legal Thought in Eighteenth Century Scotland The Juridical Review.
Edinburg, 1957.pp. 1 e ss
Assim de fcil percepo que tal sistema no poderia sobreviver sem qualquer
alterao, uma vez que se criavam injustias. Criaram-se recursos que eram levados
ao Rei que os decidia pela sua conscincia e no mais somente pelas regras da
commom law. Tambm, diversos procedimentos excepcionais passaram a ser
concedidos pelo Chanceler (the keeper of the kings conscience), um eclesistico, quando
no houvesse um writ da commom law para o caso especifico, fazendo surgir um
tribunal paralelo s Courts of Westminster, com decises e precedentes prprios: as
Courts of Chancery, cujas normas, apoiadas no Direito Cannico, eram mais
evoludas e racionais que o casusmo dos procedimentos da Commom Law. Estas
normas eram a Equity, direito aplicado pelos Tribunais do Chanceler do Rei,
originado de uma necessidade de temperar o rigor do sistema e de atender a
questes de equidade. No entanto, a Equity passou a apresentar o mesmo
formalismo e rigidez da Commom Law (regra do stare decisis coisa julgada) e, em
1873 e 1875, aquelas cortes foram suprimidas com os Judicature Acts ingleses,
passando ambos os direitos, Equity e Commom Law, para a competncia dos
tribunais comuns da Inglaterra.
Commom Law & Equity Law
Atualmente, as questes disputadas que pertencem equidade (equitable issues) so
julgadas pelo juiz togado, e as questes que pertencem Commom Law (legal issues)
so julgadas pelo jri. Para se determinar se uma questo de Equity ou de Commom
Law resolve-se como um equitable issue, ou seja, pelo juiz, sem a participao do jri.
No se pode afirmar que todos os pases de lngua inglesa so de Common Law. O
Common Law no um direito puramente baseado em decises judiciais, mas em
toda um conjunto de tradio, de usos e costumes; sua fonte principal no o
sistema dos precedentes (rules of precedents), mas conta com a existncia de inmeras
leis escritas e no escritas. Tanto assim que a grande parte das decises
jurisprudenciais nos Estados Unidos tratam de interpretaes de definies contidas
em leis (como as nossas !) que esto em determinados diplomas legais.
Os writs na Common Law
Qualquer pessoa que quisesse pedir justia ao rei podia enderear-lhe um pedido. O
Chanceler, um dos principais colaboradores do rei, examinava o pedido e, se o
considerasse fundamentado, enviava uma ordem, chamada writ (em latim: breve, em
francs: bref), a um xerife (agente local do rei) ou a um senhor para ordenar ao
demandado que desse satisfao ao demandante; o facto de no dar esta satisfao
era uma desobedincia a uma ordem real; mas o eu podia vir a explicar a um dos
Tribunais reais por que razo considerava no obedecer injuno recebida.
O sistema dos writs data do sculo XII, sobretudo no reinado de Henrique II (1154-
1189). Se, na origem, os writs eram adaptados caso a caso, tornam-se rapidamente
frmulas estereotipadas que o Chanceler utiliza aps pagamento, sem exame
aprofundado prvio (de cursu); encontra ai, sobretudo, o meio de atrair o maior
nmero de litgios para as jurisdies reais. Os senhores feudais bem tentam lutar
contra o desenvolvimento dos writs; pela Magna Carta de 1215, conseguem pr
freio s limitaes das jurisdies reais a dos bares ou grandes vassalos; pelas
Provises de Oxford, em 1258, obtm a proibio de criar novos writs; mas o
Statute of Westminster II (1285) documento capital na histria do Common Law,
concilia os interesses do rei com o dos bares impondo o status quo: o Chanceler
no pode criar novos writs, mas pode passar writs em casos similares (in consimili
casu).
Estas disposies permaneceram em vigor at o sculo XIX (pelo menos at 1832).
A lista dos writs ficou limitada que existia em meados do sculo XIII, mas
introduziram-se numerosos casos no quadro tradicional dos writs existentes por
aplicao do princpio da semelhana admitido pelo Statute of Westminster II.
O direito desenvolveu-se na Inglaterra desde o sculo XIII, com base nesta lista de
writs, isto , das acoes judiciais sob a forma de ordens do rei. Em caso de litgio,
era (e continua a ser) essencial encontrar o writ adequado ao caso concreto: o
processo assim aqui mais importante que as regras do direito positivo: remedies
procede rights. O common law elaborou-se com base num nmero limitado de
formas processuais e no sobre regras relativas ao fundo do direito. por isso que a
estrutura do common law fundamentalmente diferente da dos direitos dos pases
do continente europeu.
Fonte: John GILLISSEN. Introduo Histrica ao Direito. 4 edio. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian. 2003. Pg. 210-211
Commom Law & Statute Law
Existe e sempre existiu no direito americano uma influncia muito grande dos statute
sobre a produo normativa e aplicao do Direito pelos tribunais. Cdigos
especficos federais proliferaram nos ltimos cinqenta anos, especialmente nas
reas relativas uniformizao de certas disciplinas, como aqueles relativos s
agncias reguladoras independentes (Vide captulo da Regulao) como no processo
civil norte-americano, a arbitragem. So conjuntos normativos organizados por
assuntos especficos, como o United States Code, que traz uma compilao oficial
de leis federais.
6
A Statute Law ope-se Commom Law , sendo aquela tida como o direito resultante
dos enactments os legislature (tratados internacionais, constituies federal e estaduais,
leis ordinrias federais e estaduais, regulamentos administrativos, etc). importante
frisar que na Commom Law o case servir de norte para as decises, sendo esta a regra,
e na constatao de lacunas, busca-se a lei escrita (statute), excepcionalmente.
Constata-se, assim, uma diferena muito clara entre o Direito ingls e o norte-
americano: a Inglaterra, proprietria de uma Commom Law pura, desconhece a
primazia desconhece a primazia de uma constituio escrita e que se coloca numa
organizao jurdica piramidal, mas tem idia da primazia dos statutes . Nos EUA os
precedentes judicirios segundo os case laws dos Estados so a regra e as decises
com base na lei federal so aquelas intersticiais, caracterizando um sistema misto
entre a Commom Law e Civil Law: o judge-made law.
Tanto nos EUA como na Inglaterra o sistema dos precedentes (rules of precedents)
importante fonte, ditadas pelos tribunais superiores sempre. Uma deciso que se
6
Vale lembrar que a expresso code conforme concebida no direito norte-americano pode levar ao
equivoco de se associar ao cdigo da tradio do Civil Law que diz respeito ao conjunto de normas
sistematizadas em um documento escrito. Nos pases de tradio em Common Law, possvel que esse code
represente uma simples coletnea de leis que foram elaboradas e sancionadas em um dado perodo de tempo.
tenha tornado importante regra, denominada leading case, que passa a ser caso de
estudo e referncia para outros casos que envolvam questes e discusses
semelhantes.
Uma sensvel diferena entre a commom law e o sistema romano-germnico que
naquele direito a judicial decision (sentena ou acrdo quando se trata de precedente)
gera um efeito alm das partes ou da questo envolvida, pois cria precedente com
fora obrigatria para casos futuros.
O que so princpios de direito ?
O direito no tem fundamento ultimo na lei ou no contrato. O direito
fundamentalmente o justo. o que devido a cada um, segundo um principio
fundamental de igualdade. A lei um instrumento para a realizao desse direito.
Ela deve servir de guia ao jurista e ser interpretada sempre em funo de seu
objetivo essencial, que o de assegurar a cada um o direito a ele pertencente: jus
suum cuique tribuere.
O direito (lei, jurisprudncia, costumes, etc) composto de normas jurdicas que
constituem as regras de conduta social. Seu objetivo regular a atividade dos
homens em suas relaes sociais.
Quando, na falta dessas normas jurdicas, o juiz se depara com um caso sem
precedentes (jurisprudncia) ou falta de disposio na legislao vigente, direta ou
indireta, por meio da analogia, deve buscar os princpios gerais de direito para
decidir a questo (art. 4
o
do Cdigo Civil), adquirindo estes fora normativa, para a
soluo das controvrsias levadas ao Poder Judicirio.
Refere-se a normas e princpios constitucionais, de aplicao direta na relao
jurdica que envolve matria de direito civil constitucional, eis que modernamente o
pice do direito civil, notadamente aps a promulgao da Constituio Federal de
05 de outubro de 1988, com a incessante exuberncia de leis especiais e
extravagantes que vieram ao mundo jurdico dar sustentao aos princpios
constitucionais antes referenciados, conflitam com o sistema para qual foi editado
Cdigo Civil, em 1916, idealizado numa poca em que predominava o excessivo
rigor do patrimnio fundado unicamente no poder econmico capitalista, quela
altura, o patrimnio era compreendido simplesmente pelo o ter material, negava-se
valor ao ser humano como pessoa detentora de outros valores, como os ticos, que
se inserem tambm ao patrimnio. Assim, chamada de defensora da cidadania, a
Constituio mediante os seus princpios e normas, no nosso caso de direito civil,
passou a proteger direitos e garantias individuais de todos os cidados, sem distino
de qualquer natureza, atribuindo mais valor ao homem verdadeiramente como
pessoa humana, mesmo quando no dotado do referido patrimnio material. O
patrimnio, passou a ser um conceito que qualquer pessoa humana possui. Mesmo
que completamente destituda de bens materiais toda pessoa humana tem um
patrimnio que deve ser preservado e defendido quando no respeitado por outrem,
seja quem for : a dignidade, a honra, a boa reputao, a privacidade, o direito
sade, igualdade, liberdade, segurana, o direito indenizao pelo dano moral
ou material decorrente de sua violao, e tantos outros. E isso, na verdade foi uma
revoluo de cunho jurdico devastador para o nosso velho Cdigo Civil, feito para
uma poca to distante, que no resistiu a tamanho impacto.
A doutrina no define com preciso o que so princpios e normas constitucionais.
Os dicionrios da nossa lngua limitam a definir princpio e norma, sem no entanto
estabelecer uma definio aplicvel ao campo jurdico. No poderia, pois, ser
diferente, porquanto exigir daqueles sem afinidade com as cincias jurdicas uma
definio de assunto no afeto sua rea, seria um contra-senso. Dentre os
princpios fundamentais, os mais importantes, por escolha do constituinte, esto os
previstos no ttulo I da Constituio, que englobam os seus quatros artigos iniciais.
De toda forma, princpios so as normas elementares ou os requisitos primordiais institudos
como base, como alicerce de alguma coisa. E, assim, princpios revelam o conjunto de
regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espcie de ao
jurdica, traando, assim, a conduta a ser tido em qualquer operao jurdica. Desse
modo, exprimem sentido mais relevante que o da prpria razo fundamental de ser
das coisas jurdicas, convertendo-as em perfeitos axiomas.
Princpios jurdicos, sem dvida, significam os pontos bsicos, que servem de ponto
de partida ou de elementos vitais do prprio Direito. Vamos discutir alguns deles
adiante, visando ilustrar o conceito.
princpio da supremacia;
princpio da finalidade;
princpio da resultante social;
princpio da proporcionalidade; e,
princpio da razoabilidade.
O primeiro, estabelece a posio superior no que toca aos ditames normativos, por
constituir o seu fundamento essencial. Significa que est acima de tudo e de todos.
O segundo, impe ao Direito guiar-se sem desvio pelo fim pretendido pela norma,
que determina qual finalidade a ser seguida na interpretao jurdica. J o terceiro,
tem a norma finalidade ltima de alcanar a justia material, que se traduz como
necessidade social de uma democracia. O quarto princpio tem duplo aspecto, sendo
que esclarece a sua aplicao protegidos pelos princpios constitucionais, analisando
de forma equnime os valores; mas tambm, para a sua efetivao, considera a
existncia de hierarquia entre os princpios constitucionais e a sua complementao
e condio de mutuar.
Destaque-se, por conseguinte, o quinto princpio, o da razoabilidade, que dita a
existncia de sincronismo entre o que colocado na norma e o que dela realizado
na prtica vivida da poltica social.
Nesses mtodos de interpretao da Constituio destaca-se o princpio da
proporcionalidade, como parmetro de controle da constitucionalidade das leis e
demais atos judiciais e administrativos, porquanto o princpio decomposto e
examinado sob o prisma de seus trs elementos ou sub-princpios, que so: a
adequao, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, se a
norma no preencher qualquer desses trs elementos ou no se conformando com
eles o ato administrativo ou judicial produzido pela respectiva autoridade, devero
ser considerados inconstitucionais, por violao ao princpio da proporcionalidade.
Vamos exemplificar, a aplicao do princpio da proporcionalidade. Nesse sentido
Nelson Nery Jnior, com autoridade, descreve: "Se o direito inviolabilidade da
intimidade (art. 5., X, CF) e das comunicaes telefnicas (art.5., XII, CF) so
garantidos pela Constituio Federal, no menos verdade que existem outros
direitos igualmente tutelados pelo texto constitucional, como, por exemplo, o direito
vida e liberdade, mencionados como bens jurdicos de extrema importncia, j que
vm no prprio caput do art. 5. da CF, antes, portanto, da enumerao dos demais
direitos fundamentais.
Como no pode haver incompatibilidade entre preceitos constitucionais, preciso
que direitos constitucionais aparentemente em conflito ou antagnicos, sejam
harmonizados e incompatibilizados entre si pelo intrprete e aplicador da norma.
Assim, se a vida estiver sendo ameaada por telefonemas, o direito intimidade e da
inviolabilidade da comunicao telefnica daquele que vem praticando a ameaa
vida de algum deve ser sacrificado em favor do direito vida. A justificativa
decorre do sistema constitucional, no qual encontra-se inserido o princpio da
proporcionalidade, como corolrio do estado de direito e do princpio do devido
processo legal em sentido substancial (substantive due process clause)."
No Brasil o princpio da proporcionalidade passou a ter aplicao mais eficaz, aps a
promulgao da Carta Magna de 05 de outubro de 1988, quando o Supremo
Tribunal Federal passou a usar com mais freqncia, o critrio da razoabilidade na
soluo de questes de ordem constitucional envolvendo direitos fundamentais,
tendo por espelho e inspirao a jurisprudncia norte-americana do devido processo
legal substantivo.
Ressaltamos o princpio da proporcionalidade como mais um principio de
interpretao, de significado maior para as normas e princpios de direito civil na
Constituio. Entretanto, a proporcionalidade ou razoabilidade no pode significar a
concesso de uma perigosa prerrogativa ao juiz de decidir a causa baseado
exclusivamente na sua prpria noo subjetiva de justia. Deve, ao contrrio, ser um
princpio cientificamente definido, que orientar o magistrado na soluo do
conflito, em consonncia com o prprio ordenamento constitucional.
O devido processo legal, como princpio constitucional, significa o conjunto de
garantias de ordem constitucional, que de um lado asseguram s partes o exerccio
de suas faculdades e poderes de natureza processual e, de outro, legitimam a prpria
funo jurisdicional. assim possvel notar que o mais importante dos princpios
o do devido processo legal, j que assegurando este, estar-se- garantindo os demais
princpios elencados na Constituio Federal.
Um outro princpio o princpio da igualdade. A igualdade das partes advm da
garantia constitucional da qual goza todo cidado que a igualdade de tratamento de
todos perante a lei. O caput do art. 5 da Constituio Federal de 1988 menciona
que: Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a inviolabilidade do seu
direito vida, liberdade, igualdade, segurana e propriedade.
O art. 5 da Constituio Federal, no s declara a igualdade de todos perante a lei,
como tambm garante essa igualdade atravs de outros princpios contidos no
prprio artigo. A ttulo de exemplo, pode-se mencionar:
a. Princpio do devido processo legal (CF, art. 5
, LIV);
b. Princpio da motivao das decises (CF, art. 93, IX);
c. Princpio da publicidade dos atos processuais (CF, art. 5
, LX);
d. Princpio da proibio da prova ilcita (CF, art. 5
, LVI);
e. Princpio da presuno da inocncia (CF, art. 5
, LVII);
Enfim, a prpria Constituio Federal criou mecanismos que visam assegurar a
igualdade das pessoas perante a lei, conforme se pode constar dos seus incisos.
Porm, tocando no ponto que desperta maior interesse, pode-se dizer que do
princpio da igualdade, insculpido no caput do artigo 5 da Constituio Federal,
que deriva o princpio da igualdade das partes no processo.
Um segundo princpio o da isonomia processual .Tal como ocorre na vida
cotidiana, o mesmo deve ocorrer no processo civil, ou seja, as pessoas tambm
possuem o direito e devem ser tratadas de forma igual perante a lei. Da que deriva o
que se chama de princpio da isonomia processual.
Menciona NELSON NERY JNIOR que o princpio da isonomia processual o
direito que tem os litigantes de receberem idntico tratamento pelo juiz. Alis,
conforme se observa do art. 125, inciso I, do Cdigo de Processo Civil, a igualdade
de tratamento das partes um dever do juiz e no uma faculdade. As partes e os
seus procuradores devem merecer tratamento igual, com ampla possibilidade e
oportunidade de fazer valer em juzo as suas alegaes.
Mas, o que significa dar tratamento isonmico s partes? Em sua lio, NELSON
NERY JNIOR afirma que dar tratamento isonmico s partes significa tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas
desigualdades.
Porm, o que se busca a efetiva igualdade entre as partes, aquela de fato. Busca-se
a denominada igualdade real ou substancial, onde se proporcionam as mesmas
oportunidades s partes.
Para CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, a igualdade jurdica no pode
eliminar a desigualdade econmica, por essa razo que na conceituao realista de
isonomia, busca-se a igualdade proporcional. Em sntese, essa igualdade
proporcional o tratamento igual aos substancialmente iguais.
Segundo a lio de JOS CARLOS BARBOSA MOREIRA, existem diversos
institutos no Cdigo de Processo Civil, que visam garantir a isonomia das partes.
Um dos exemplos so as regras no que tange exceo de suspeio e
incompetncia do juiz, a fim de evitar que um dos litigantes, presumivelmente, tenha
favorecimento por parte do rgo jurisdicional.
Porm, h de se mencionar que o princpio da igualdade das partes no assegura ao
juiz igualar as partes quando a prpria lei estabelece a desigualdade.
No que tange s desigualdades criadas pela prpria lei, a ttulo de exemplo, pode-se
mencionar aquele tratamento dado no direito do consumidor: onde o art. 4
reconhece a fragilidade ou a desigualdade do consumidor perante o fornecedor,
estabelecendo a inverso do nus da prova, face maior possibilidade do
fornecedor produzir a prova.
Um outro princpio de direito o princpio do contraditrio e ampla defesa. Ttrata-
se de princpio insculpido de forma expressa na Constituio Federal, podendo ser
encontrado no artigo 5 inciso LV. Vejamos: art. 5
(...) LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral so assegurados o
contraditrio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
COMPLETAR
Princpios e Aplicao de Princpios
O Juiz, face ao seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as partes, mas de forma
eqidistante a elas, quando ouve uma, necessariamente deve ouvir a outra, somente
assim se dar a ambas a possibilidade de expor as suas razes, de apresentar as suas
provas, de influir sobre o convencimento do juiz.
Somente pela poro de parcialidade das partes, uma apresentando a tese e outra a
anttese, que o juiz pode fazer a sntese. Este procedimento seria estabelecer o
contraditrio entre as partes.
Neste sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI faz as seguintes consideraes
acerca do princpio do contraditrio:O princpio do contraditrio, na atualidade, deve ser
desenhado com base no princpio da igualdade substancial, j que no pode se desligar das
diferenas sociais e econmicas que impedem a todos de participar efetivamente do processo.
Em relao ao princpio do contraditrio, ENRICO TULLIO LIEBMAN tece o
seguinte comentrio: A garantia fundamental da Justia e regra essencial do
processo o princpio do contraditrio, segundo este princpio, todas as partes
devem ser postas em posio de expor ao juiz as suas razes antes que ele profira a
deciso. As partes devem poder desenvolver suas defesas de maneira plena e sem
limitaes arbitrrias, qualquer disposio legal que contraste com essa regra deve
ser considerada inconstitucional e por isso invlida.
Segundo NELSON NERY JNIOR, quando a lei garante aos litigantes o
contraditrio e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ao, quanto o
direito de defesa so manifestaes do princpio do contraditrio.
O princpio do contraditrio a perfeita combinao entre o princpio da ampla
defesa e princpio da igualdade das partes. SANSEVERINO menciona que:
O princpio constitucional da igualdade jurdica, do qual um dos desdobramentos
o direito de defesa para o ru, contraposto ao direito de ao para o autor, est
intimamente ligado a uma regra eminentemente processual: o princpio da
bilateralidade da ao, surgindo, da composio de ambos, o princpio da
bilateralidade da audincia.
O princpio da igualdade das partes impe a bilateralidade da audincia, j que a
possibilidade de reao de qualquer das partes em relao pretenso da outra,
depende sempre da informao do ato praticado. Da o fundamento da citao da
parte contrria, quando vlida, estabelecendo a relao jurdica processual.
Em consonncia com tal definio, CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO
afirmam que imprescindvel que se conhea os atos praticados pela parte contrria
e pelo juiz, para que se possa estabelecer o contraditrio. O contraditrio
constitudo por dois elementos:
1. informao parte contrria;
2. a possibilidade da reao pretenso deduzida;
Em Teoria Geral do Processo, os mesmos autores mencionam que at mesmo
quando o juiz se depara com o periculum in mora, provendo a medida inaudita
altera pars, o demandado poder exercer a sua atividade processual plena, antes do
provimento definitivo. Inexistem excees ao princpio do contraditrio.
Diante destas consideraes, possvel notar que, para que a parte possa estabelecer
o contraditrio e exercitar a ampla defesa, necessrio que esta tenha cincia dos
atos praticados pela parte contrria e pelo juiz da causa.
Um outro princpio o do Juiz Natural. Segundo a doutrina dominante, o princpio
do juiz natural pode ser encontrado na constituio nos seguintes artigos: Art. 5
:
(...)XXXVII - no haver juzo ou tribunal de exceo; LIII - ningum ser
processado nem sentenciado seno pela autoridade competente;
Assim, localizados dentro da Constituio Federal os incisos do artigo 5
que
prevem o princpio do juiz natural, passa-se doravante a tratar acerca do significado
do referido princpio.
O princpio do juiz natural pode ser encontrado na doutrina sob as mais diversas
denominaes, dentre as quais, pode-se mencionar o princpio do juzo legal, o
princpio do juiz constitucional e o princpio da naturalidade do juiz.
O inciso XXXVII, do artigo 5 da Constituio Federal, onde h a primeira tratativa
acerca do princpio do juiz natural, prev a vedao criao de tribunais de
exceo.
Na expresso tribunais de exceo, compreende-se tanto a impossibilidade de
criao de tribunais extraordinrios aps a ocorrncia de fato objeto de julgamento,
como a consagrao constitucional de que s juiz o rgo investido de jurisdio.
Tribunal de exceo aquele designado ou criado por deliberao legislativa ou no,
para julgar determinado caso, tenha ele j ocorrido ou no, irrelevante a j existncia
do tribunal.
O princpio do juiz natural, especialmente no que tange a este primeiro aspecto, visa
coibir a criao de tribunais de exceo ou de juzos ad hoc, ou seja, a vedao de
constituir juzes para julgar casos especficos, sendo que, provavelmente, tero a
incumbncia de julgar, com discriminao, indivduos ou coletividades.
Entende MANOEL ANTNIO TEIXEIRA FILHO entende que o princpio do
juiz natural redemocratizou a vida do pas, na poca, por ocasio da sua insero no
artigo 141, pargrafo 26, da Constituio Federal de 1946.
JOS FREDERICO MARQUES menciona que ser inconstitucional o rgo
criado por lei infraconstitucional, ao qual se venha atribuir competncia, subtraindo-
a do rgo constitucionalmente previsto.
Por fim, DJANIRA MARIA RADAMS DE S, sinteticamente, menciona que,
neste primeiro aspecto, o princpio do juiz natural protege a coletividade contra a
criao de tribunais que no so investidos constitucionalmente para julgar,
especialmente no que tange a fatos especiais ou pessoas determinadas, sob pena de
julgamento sob aspecto poltico ou sociolgico.
O segundo aspecto do princpio do juiz natural aquele contido no inciso LIII, do
artigo 5 da Constituio Federal, onde prev a garantia de julgamento por
autoridade competente.
Este aspecto do princpio do princpio do juiz natural est intimamente ligado
previso de inexistncia de criao de tribunais de exceo. Acerca disso TUCCI,
menciona que:
O princpio est calcado na exigncia de preconstituio do rgo jurisdicional
competente, entendendo-se este como o agente do Poder Judicirio, poltica,
financeira e juridicamente independente, cuja competncia esteja previamente
delimitada pela legislao em vigor.
O inciso LIII do artigo 5 da Constituio Federal desdobra-se numa garantia
ampla, j que a se veda, tanto o processar como o sentenciar. Com isso, exprime-se
a garantia constitucional de que os jurisdicionados sero processados e julgados por
algum legitimamente integrante do Poder Judicirio.
Menciona ANGLICA ARRUDA ALVIM que somente so efetivamente Juzos e
Tribunais, aqueles constitucionalmente previstos, ou, ento, os que estejam
previstos a partir e com raiz no Texto Constitucional.
H de se mencionar, ainda, que os integrantes desses Juzos ou Tribunais, devam ter
se juzes de uma forma legtima, ou seja, na forma da Constituio Federal e das leis
infraconstitucionais complementares desta.
Portanto, em sntese, o princpio do juiz natural prev a impossibilidade de criao
dos tribunais de exceo, sendo que o indivduo somente poder ser julgado por
rgo preexistente e por membros deste rgo, devidamente investido de jurisdio.
A inafastabilidade da jurisdio tambm poder ser encontrada sob a denominao
princpio do direito de ao por alguns autores, por outros, pode ser encontrada por
princpio do acesso justia.
Confira-se onde est situado o princpio da inafastabilidade da jurisdio dentro da
Constituio Federal: Art. 5
:
(...) XXXV - a lei no excluir da apreciao do Poder
Judicirio leso ou ameaa a direito.
Com a contemplao do princpio da inafastabilidade da jurisdio, a Constituio
garante a necessria tutela estatal aos conflitos ocorrentes na vida em sociedade.
Enfim, a garantia ao direito de ao.
No entanto, no h que se estabelecer confuso entre o direito de ao e o direito de
petio assegurado na Constituio Federal, j que o primeiro visa a proteo de
direitos contra ameaa ou leso, ao passo que o segundo, assegura, de certa forma, a
participao poltica, independente da existncia de leso ao direito do peticionrio.
O direito de ao um direito pblico subjetivo exercitvel at mesmo contra o
Estado, que no pode recusar-se a prestar a tutela jurisdicional. O Estado-juiz no
est obrigado, no entanto, a decidir em favor do autor, devendo aplicar o direito a
cada caso que lhe foi trazido. O dever de o magistrado fazer atuar a jurisdio de
tal modo rigoroso que sua omisso configura causas de responsabilidade judicial.
Menciona MANOEL ANTNIO TEIXEIRA FILHO que o princpio da
inafastabilidade da jurisdio possui profundas razes histricas e representa uma
espcie de contrapartida estatal ao veto realizao, pelos indivduos, de justia por
mos prprias (exerccio arbitrrio das prprias razes, na peculiar dico do
Cdigo Penal - art. 345); mais do que isso, ela uma pilastra de sustentao do
Estado de Direito.
O direito de ao, que se efetiva atravs do processo, nico meio de aplicao do
direito a casos ocorrentes, por obra dos rgos jurisdicionais, e complemento
inarredvel do preceito constitucional que o inspira, garantia concreta de sua
realizao.
O poder de agir um direito subjetivo pblico consistente na faculdade do
particular fundada em norma de direito pblico.
Como j feito anteriormente, a fim de prosseguir neste estudo dos princpios
inseridos no texto constitucional, deve-se demonstrar o fundamento legal: Art. 93
(...) IX - todos os julgamentos dos rgos do Poder Judicirio sero pblicos, e
fundamentadas todas as decises, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse
pblico o exigir, limitar a presena, em determinados atos, s prprias partes e seus
advogados, ou somente a estes
Tambm, pode-se encontrar o referido princpio contido no artigo 5, inciso LX da
Constituio Federal. Confira-se: Art. 5
. (...) LX - a lei s poder restringir a
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social
o exigirem.
A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 93, inciso IX, traz expressamente a
determinao de que todos os julgamentos dos rgos do Poder Judicirio sero
pblicos, sob pena de nulidade.
TUCCI e CRUZ E TUCCI mencionam que a garantia da publicidade no se traduz
na exigncia da efetiva presena do pblico e/ou dos meios de comunicao aos
atos que o procedimento se desenrola, no obstante reclame mais do que uma
simples potencialidade abstrata (como quando, por exemplo no se tem
conhecimento da data, horrio e do local da realizao de determinado ato: a
publicidade deste reduz-se, ento, a um nvel meramente terico).
ARRUDA ALVIM qualifica o princpio da publicidade dos atos no processo, antes
de mais nada como um princpio tico, mencionando que: a publicidade garantia
para o povo de uma justia justa, que nada tem a esconder; e, por outro lado,
tambm garantia para a prpria Magistratura diante do povo, pois agindo
publicamente, permite a verificao de seus atos.
O artigo 155 do Cdigo de Processo Civil est em perfeita consonncia com a
disposio trazida pela Constituio Federal, determinando, expressamente, quais
so os casos que correm em segredo de justia, sendo que tal procedimento no
viola, em hiptese alguma, a norma constitucional.
Os atos processuais so pblicos. Correm, todavia, em segredo de justia (...): A
publicidade dos atos processuais est elencada como direito fundamental do
cidado, mas a prpria Constituio Federal faz referncia aos casos em que a lei
admitir o sigilo e a realizao do ato em segredo de justia. A lei enumera os casos,
nada impedindo que o juiz confira a outros, ao seu critrio, em virtude de interesse
pblico, processamento em segredo de justia, hiptese em que dever justificar o
seu proceder.
Na verdade, o princpio da publicidade obrigatria do processo poder ser resumido
no direito discusso ampla das provas, na obrigatoriedade de motivao da
sentena, bem como na faculdade de interveno das partes e seus procuradores em
todas as fases do processo.
O princpio da motivao das decises est expressamente previsto no artigo 93,
inciso IX da Constituio Federal de 1988. Confira-se: Art. 93. (...) IX - todos os
julgamentos dos rgos do Poder Judicirio sero pblicos, e fundamentadas todas
as decises, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse pblico o exigir,
limitar a presena, em determinados atos, s prprias partes e seus advogados, ou
somente a estes;"
Diante disso, passa a verificar os aspectos atinentes ao princpio constitucional da
motivao das decises proferidas pelos rgos do Poder Judicirio.
A fundamentao da sentena sem dvida uma grande garantia da justia quando
consegue reproduzir exatamente, como num levantamento topogrfico, o itinerrio
lgico que o juiz percorreu para chegar sua concluso, pois se esta errada, pode
facilmente encontra-se, atravs dos fundamentos, em que altura do caminho o
magistrado se desorientou.
importante mencionar que o texto constitucional no apenas exige a
fundamentao das decises proferidas pelos rgos do Poder Judicirio, como as
declara nulas se desatenderem a esse comando.
Menciona DJANIRA MARIA RADAMS DE S que garante tal princpio a
inviolabilidade dos direitos em face do arbtrio, posto que os rgos jurisdicionais
tem de motivar, sob pena de nulidade, o dispositivo contido na sentena.
Porm, o que significa motivar as decises judiciais?
Motivar todas as decises significa fundament-las, explicar as razes de fato e de
direito que implicam no convencimento do juiz, devendo esta fundamentao ser
substancial e no meramente formal.
TERESA ARRUDA ALVIM menciona que ato de inteligncia e de vontade, no se
pode confundir sentena com um ato de imposio pura e imotivada de vontade.
Da a necessidade de que venha expressa sua fundamentao (CF, art. 93, IX). Diz
mais a referida autora que fundamentao deficiente, para todos os efeitos, equivale
falta de fundamentao.
A motivao da sentena, tambm, faz-se til para enriquecer e uniformizar a
jurisprudncia, servindo como valioso subsdio queles que contribuem para o
aprimoramento e aplicao do direito.
Em suma, a deciso motivada aponta o entendimento das razes do juiz, que
imparcial, e assim torna essa deciso, sendo que se constitui tal princpio em
verdadeira garantia inerente ao Estado de Direito.
Princpio do duplo grau de jurisdio: O duplo grau de jurisdio na Constituio
Federal um dos princpios da democracia.
A doutrina diverge em considerar o duplo grau de jurisdio como um princpio de
processo inserido na Constituio Federal, j que inexiste a sua previso expressa no
texto constitucional. Dentre os autores que no a admitem, pode-se mencionar
MANOEL ANTNIO TEIXEIRA FILHO, ARRUDA ALVIM, TUCCI e CRUZ
E TUCCI, dentre outros.
De outro lado existem autores tais como HUMBERTO THEODORO JNIOR e
NELSON NERY JNIO que admitem o duplo grau de jurisdio, como princpio
de processo inserido na Constituio Federal.
Aqueles que acreditam que o duplo grau de jurisdio um princpio processual
constitucional, inclusive de processo civil, fundamentam a sua posio, na
competncia recursal estabelecida na Constituio Federal.
Confira-se alguns exemplos desta previso implcita do duplo grau de jurisdio
inserido na Constituio Federal de 1988: Art. 5
(...) LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral so assegurados o
contraditrio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Ainda, neste sentido, confira-se mais: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal
Federal, precipuamente, a guarda da Constituio, cabendo-lhe: (...) II - julgar, em
recurso ordinrio: III - julgar, mediante recurso extraordinrio (...);
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justia: (...) II - julgar, em recurso
ordinrio; III - julgar, em recurso especial;
Diante disso, em que pese no traga de forma expressa, pode-se dizer que o duplo
grau de jurisdio ou garantia de reexame das decises proferidas pelo Poder
Judicirio, pode ser includo no estudo acerca dos princpios de processo civil na
Constituio Federal.
O princpio do duplo grau de jurisdio visa assegurar ao litigante vencido, total ou
parcialmente, o direito de submeter a matria decidida a uma nova apreciao
jurisdicional, no mesmo processo, desde que atendidos determinados pressupostos
especficos, previstos em lei
Menciona HUMBERTO THEODORO JNIOR que os recursos, todavia, devem
acomodar-se s formas e oportunidades previstas em lei, para no tumultuar o
processo e frustrar o objetivo da tutela jurisdicional em manobras caprichosas e de
m-f.
Portanto, o princpio constitucional do duplo grau de jurisdio, ainda que de forma
implcita naquele texto, garante ao litigante a possibilidade de submeter ao reexame
das decises proferidas em primeiro grau, desde que atendidos os requisitos
previstos em lei.
Provas Ilcitas: A Constituio Federal expressamente prev a vedao da utilizao
de provas ilcitas no processo, seja o civil ou penal, conforme norma contida no
artigo 5 inciso LVI. LVI - so inadmissveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilcitos;
Note-se, portanto, que a Constituio Federal, de forma expressa, probe a utilizao
no processo de provas obtidas por meios ilcitos.
Para MANOEL ANTNIO TEIXEIRA FILHO, a prova, do ponto de vista
processual, como a demonstrao, segundo as normas legais especficas, da verdade
dos fatos relevantes e controvertidos na ao.
s partes cabe o nus de produzir as provas, na exata medida dos interesses que
estejam a defender na causa; precisamente com vistas ao exerccio dessa atividade
que assume especial importncia o princpio da liceidade dos meios de prova.
O artigo 332 do Cdigo de Processo Civil menciona qual o tipo de prova admitido
no processo:Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legtimos,
ainda que no especificados neste cdigo, so hbeis para provar a verdade dos
fatos, em que se funda a ao e a defesa.
Menciona DJANIRA MARIA RADAMS DE S que por prova lcita deve
entender-se aquela derivada de um ato que esteja em consonncia com o direito ou
decorrente da forma legtima pela qual produzida.
A ttulo de ilustrao, ANGLICA ARRUDA ALVIM afirma que se a prova for
obtida por meio ilcito no crime, poder ser usada como prova emprestada no cvel.
Para caber a prova emprestada, sem violao ao contraditrio, a parte contra quem
vai ser produzida, h de Ter participado no processo originrio.
O juiz no pode levar em considerao uma prova ilcita, seja nas sentenas/
acrdos, seja nos despachos ou no momento de inquirir testemunhas, embora
convenha deix-la nos autos, a fim de que a todo momento a parte prejudicada
possa tom-la em considerao para vigiar o convencimento do juiz.
Portanto, o princpio em comento prev a inadmissibilidade da utilizao de provas,
no processo civil ou penal, obtidas por meios ilcitos ou moralmente ilegtimos,
conforme dispe o art. 5, inciso LVI da Constituio Federal e artigo 332 do
Cdigo de Processo Civil.
1
CAPTULO III: FIRMAS, CONSUMIDORES E MERCADOS: OS FUNDAMENTOS
MICROECONMICOS
3.1 Teoria da Firma
3.2 Teoria do Consumidor
3.3 Estruturas de Mercado
3.4 Teoria dos Jogos e Direito
3.5 A Economia dos Custos de Transao
2
3.4 Teoria dos Jogos e Direito
Quando dois (ou mais) indivduos interagem e suas respectivas aes se baseiam
naquilo que os outros esperam ou desejam, existe o que se denominou, h muito,
um certo comportamento estratgico. Os juristas de Law & Economics procuraram
entender como normas legais interferem nesse comportamento estratgico, valendo-
se de um instrumental econmico conhecido como teoria dos jogos.
A teoria dos jogos estuda o comportamento e a interao entre os indivduos quanto
expectativa que um tem em relao ao outro. No entanto, nesse processo de
interao, um desconhece o que o outro est fazendo: no tem idia dos recursos de
que o outro dispe, nem muito menos qual a sua expectativa de resultado.
A atribuio dos prmios Nobel da Economia de 1994 e de 1996 a alguns dos
expoentes da Teoria dos Jogos (em 1996 o prmio foi atribudo a James A Mirrlees
e William Vickery, por sua contribuio com a teoria dos incentivos sob a regra da
assimetria das informaes; em 1994, o prmio foi atribudo a John C. Harsanyi,
John Nash e Reinhard Selten, pelo desenvolvimento pioneiro da teoria do equilbrio
em jogos no-cooperativos) veio reacender o interesse nesta rea do conhecimento.
Contudo, os interessados no assunto se limitavam a ser matemticos ou
econometristas; juristas vidos por expandir conhecimentos nesta rea pouco
dispunham de material de pesquisa e estudo: ora confrontavam-se com uma opo
entre obras muito tcnicas, impenetrveis para quem no possusse formao
avanada em matemtica ou ento, somente em obras generalistas de divulgao dos
conceitos bsicos. A primeira exceo foi o livro Game Theory and the Law , de um
grupo de professores de Chicago, Douglas G. Baird, Robert H. Gertner e e Randal
C. Picker, publicado pela Harvard University Press.
O objeto da Teoria dos Jogos em Direito portanto, a anlise do comportamento
estratgico enquanto componente ftico do estudo do jurdico. Para os autores de
Game Theory and the Law, ainda que "a doutrina jurdica reconhecesse desde h muito
3
a necessidade de ter em conta o comportamento estratgico (...) demasiadas vezes,
porm, ela no tem tirado partido das tcnicas formais da Teoria dos Jogos para
analisar o comportamento estratgico, seno para invocar um jogo simples como o
dilema do prisioneiro enquanto metfora de um problema de ao coletiva. (...) esta
incapacidade de dar melhor uso Teoria dos Jogos lamentvel, dado que a
moderna Teoria dos Jogos suficientemente poderosa para iluminar o modo como
as normas jurdicas afetam o comportamento das pessoas. O desafio colocado o
aplicar as suas tcnicas altamente especializadas, muitas das quais desenvolvidas
apenas na ltima dcada, a um novo objeto"
Aplicando-se a teoria dos jogos ao Direito, e ainda do ponto de vista da escola do
Law & Economics, grandes so as diferenas em relao nossa formao
romanstica. Tome-se, por exemplo, a tradio clssica da legalidade. Para o jurista,
o prprio princpio da legalidade estabelece qual o alcance dado pela lei, que por sua
vez obedece a determinados limites, conjugando os meios aos fins, e que deve ser
respeitado por todos. Pela teoria dos jogos, os comportamentos, por no serem
previsveis, no estabelecem limites sua atuao; por isso a lei deveria muito mais
servir de condio bsica, especialmente se considerarmos que o fenmeno jurdico
sempre mais amplo e abrangente do que a mera letra da norma. Por ser o Direito
parte da estrutura social e, condio necessria para que o jogo normativo se opere
com regras claras, a teoria dos jogos, aqui muito superficialmente lanada, trata o
sistema jurdico como um sistema que requer equilbrio, mais do que um conjunto
isolado de leis, normas e regulamentos.
So trs os elementos constitutivos daquilo que se denominou jogo legal, a saber os
participantes do jogo; as estratgias disponveis a cada um deles e as vantagens e/ou
desvantagens quanto combinao estratgica das alternativas existentes.
Por exemplo, aplicado teoria da regulao, e considerando que existam apenas dois
jogadores, o regulador e o regulado. As estratgias das partes podem no estar
4
facilmente demonstrveis, mesmo que os objetivos do regulador e do regulado
estejam definidos e cada posio, mais ou menos marcada. O regulador tem uma
determinada agenda, por exemplo, persegue o interesse pblico. J o regulado, num
sistema capitalista quer aumentar sua fatia de mercado com o objetivo do lucro
onde todo o arsenal legal e regulatrio representa um conjunto de informaes
importantes para o desempenho das atividades do regulado no mercado. Diz-se,
ento, que se trata de jogo de informao completa mas imperfeita. E assim
porque, no obstante se conheam de antemo os objetivos dados, no se conhece
o comportamento previsvel de cada um.
Uma segunda dificuldade configurada pela inexistncia da racionalidade absoluta
no processo de deciso. Os comportamentos humanos no so guiados unicamente
pela razo: a ela se juntam a emoo e a percepo. Da a expresso irracionalidade
imperfeita para indicar o resultado da ausncia de informaes num ambiente no
inteiramente racional, exemplificado pelo comportamento de investidores em
pnico, ou o comportamento de hordas (herd behaviour), quando os investidores,
seguindo o exemplo de algum formador de mercado, retiram-se abrupta e
insensatamente do mercado, vendendo suas posies (ou sacando seus recursos) a
qualquer custo ou amargando qualquer prejuzo.
A expresso jogo bayeasiano utilizada para ilustrar tais expectativas na teoria dos
jogos. Cada agente econmico atualiza as suas expectativas tendo em vista uma nova
informao por exemplo, o comportamento a ser induzido aps a ao de
outrem. O legislador pode agir por delegao, na deciso de determinar nova lei; ou por
revelao, quando o cidado quem reporta ao seu representante na Cmara
informaes sobre uma situao. Somente aps a coleta e a anlise dessas
informaes que o legislador definir o tipo de estratgia regulamentar a ser
seguida.
5
Outro foro de anlise na teoria dos jogos concentra-se nos mecanismos de soluo,
aqueles que permitem identificar as estratgias mais provveis a serem adotadas
pelos participantes, bem como a combinao de seus diversos tipos. Baird, Gertner
e Picker notam que, quanto maiores a racionalidade e a informao, maior a
tendncia vertente ao equilbrio, ou ao que se denomina princpio de equilbrio de
Nash (o mesmo que teve sua vida retratada no filme Mentes que brilham, (Beautiful
Minds) dirigido por Ron Howard e estrelado por Russell Crowe (Universal, 2001),
definido como a combinao das estratgias de ambos os jogadores que podem
jogar, sabendo-se que nenhum dos dois poderia ter escolhido uma estratgia
diferente, dada a estratgia que o outro escolheu. Logo, a estratgia de cada jogador
a melhor resposta estratgia do outro.
A teoria dos jogos coloca ento o desafio de problematizar as expectativas e o faz
como os primeiros passos para que dele se possa extrair e obter certas respostas
para a doutrina jurdica. Com efeito, a obra da Teoria dos Jogos apresenta um
repositrio das tcnicas, por vezes complexas, da matemtica, tendo como base o
estudo de problemas jurdicos. No entanto no necessrio conhecer matemtica
para operar a teoria dos jogos, ao menos do ponto de vista jurdico. O ferramental
est disposio de qualquer jurista que se disponha a fazer um ligeiro esforo
inicial de compreenso dos rudimentos algbricos necessrios para acompanhar suas
principais idias.
Em sntese, as tcnicas da Teoria dos Jogos permitem modelar as interaes entre
indivduos em que levantam problemas estratgicos e que possam envolver decises.
Com isso, a teoria dos jogos aplicada ao Direito pretende discernir qual o papel que
desempenham as normas jurdicas vigentes e quais os resultados de uma alterao
do quadro jurdico em que operam. Isto no significa, porm, que a anlise jurdica
do comportamento estratgico se limite mera definio de "regras de jogo" para
enquadrar a satisfao do interesse individual. A dimenso valorativa ou normativa
do jurdico um requisito bsico, um prius. Definir quais os resultados que
6
pretendemos atingir por meio do Direito uma segunda contribuio da Teoria dos
Jogos. Assim, a Teoria dos Jogos visa esclarecer, dados certos pressupostos relativos
ao comportamento dos agentes envolvidos, quais os resultados de optarmos por um
dos modelos normativos nossa disposio. Este aspecto suscita-nos algumas
breves observaes sobre as crticas e objees contra Teoria dos Jogos e em
especial ao movimento de Law & Economics em geral.
A forma da Teoria dos Jogos de equacionar problemas jurdicos parecer a muitos
uma excessiva simplificao do objeto complexo e multiforme da cincia jurdica.
Mas se o modelo econmico no pretende ser uma representao perfeita e acabada
da realidade, para Baird, Gertner e Picker "a aceitao de um modelo depende de
ele contribuir ou no para aguar a nossa intuio pelo esclarecimento das foras
bsicas em ao que no so visveis quando consideramos um caso real em toda a
sua complexidade" (Game Theory & The Law, op. cit. pg. 7). Ou em outras palavras,
o objetivo deste tipo de anlise (da Teoria dos Jogos) consiste na definio "do jogo
com menos elementos que melhor capta a essncia do problema. O uso do
vocbulo `jogo' adequado pois podemos reduzir os elementos fundamentais de
interaes scio-econmicas complexas a representaes que se assemelham a jogos
de salo" (id.)
Um dos pressupostos em que assenta a Teoria dos Jogos o da racionalidade dos
agentes econmicos: "Os indivduos so racionais no sentido de que preferem
constantemente solues com maiores recompensas a solues em que estas so
inferiores. O pressuposto de base no centro deste tipo de anlise no o de que os
indivduos sejam maximizadores egostas de lucros ou que apenas se preocupem
com dinheiro, mas antes o de que eles agem de um modo que razovel para si
mesmos dados os seus prprios gostos e preferncias. Este pressuposto pode no se
verificar num caso isolado, pois as pessoas muitas vezes comportam-se de maneira
incoerente ou auto-destrutiva. Em geral, contudo, as pessoas tomam as melhores
7
decises que podem, dada a sua convico quanto ao comportamento das outras"
(op. cit. pg. 11).
este pressuposto de racionalidade que nos fornece os instrumentos necessrios
soluo dos "jogos", patente em especial no conceito de equilbrio de Nash ou no
equilbrio Bayesiano. Os conceitos de soluo como o equilbrio de Nash, partem
de um problema simples: como formular uma soluo completa com um numero
arbitrrio de jogadores que possuem preferncias igualmente arbitrrias ? Todas as
expectativas dos jogadores, no Equilbrio de Nash devem ser atendidas porque eles
j escolheram estratgias timas; Nash prope duas interpretaes do conceito de
equilbrio: uma baseada na racionalidade e outra, naquilo que ele denomina
populao estatstica. De acordo com a interpretao racional, os jogadores so
compreendidos como sendo inteiramente racionais por conhecerem a estrutura do
jogo, as preferncias de cada um o resultado de cada jogada, aonde a informao
de domnio comum. Em razo dos jogadores terem a informao completa, sobre a
estratgia e sobre as alternativas e as preferncias de cada um, eles podem tambm
computar nas suas estratgias pessoais, as expectativas dos outros. Se todos tm
buscam o mesmo equilbrio e esto satisfeitos, no h nenhum incentivo para que
alterem a sua estratgia original; da o conceito de equilbrio. Na segunda
interpretao de Nash, a da populao estatstica, a anlise til nos jogos chamados
jogos evolucionrios. Este tipo de anlise de jogo se desenvolveu na biologia
baseado nos princpios da seleo natural que ocorrem entres as espcies. Nash
demonstra assim que em cada jogo, h um nmero finito de jogadores que adotam
sempre existem estratgias mistas com o objetivo de sobreviver.
Outros dos jogos mais conhecidos e que envolvem problemas de coordenao entre
indivduos so: o dilema dos prisioneiros, stag hunt e matching pennies. Estes jogos
demonstram como as regras jurdicas podem afetar o resultado modificando as
conseqncias da adoo de estratgias oportunistas.
8
Depois, a Teoria dos Jogos tambm cuida de um elemento dinmico, o jogo de
forma extensiva, que permite modelar as interaes estratgicas em que ocorrem em
momentos diferentes. O exemplo jurdico escolhido para ilustrar este problema o
do contrato de mtuo. Para que o mtuo possa ocorrer, necessrio que o muturio
e o mutuante consigam criar um mecanismo que garanta o cumprimento da
obrigao de reembolso. Sem essa garantia, o mutuante no arriscar o seu capital.
Este exemplo procura ilustrar a importncia do direito das obrigaes na
conformao ex ante dos incentivos que o mutuante enfrenta no perodo em que o
reembolso deve ocorrer devido fora jurdica que empresta ao compromisso do
muturio.
H ainda, na Teoria de Jogos, captulo sobre as diversas formas de auto-vinculao
que modificam voluntariamente os incentivos de um perodo temporal subsequente
permitindo optar no presente por um comportamento que maximiza as vantagens
das partes envolvidas. A importncia da prioridade entre os jogadores igualmente
destacada com o caso das propostas negociais irrevogveis.
O aspecto essencial do comportamento estratgico a existncia de situaes de
informao incompleta. "Configurar leis que criem um incentivo para que as partes
atuem de modo a que todos os interessados fiquem em melhor situao uma
questo simples desde que todas as partes e aqueles que elaboram e aplicam a norma
jurdica disponham de informao suficiente. As complicaes surgem, no entanto,
quando a informao necessria no conhecida ou, hiptese mais comum,
conhecida mas no est disponvel para todas as partes ou para o tribunal" (Op. cit.
pg. 2)
Finalmente, Teoria dos Jogos se ocupa ainda do efeito da repetio das interaes
estratgicas nos incentivos das partes. Numa interao que dificilmente voltar a ser
repetida, o incentivo para que cada uma das partes adote um comportamento
oportunista muito elevado. Mas se as partes devem interagir num nmero
9
indefinido de ocasies ou se a criao de reputao importante para o
desenvolvimento de interaes com outras partes, os incentivos para que elas
colaborem aumentam drasticamente. Este problema demonstrado sobretudo no
contexto do direito da concorrncia a propsito dos comportamentos abusivos
entre oligopolistas e das prticas predatrias por empresas que participam em
diversos mercados.
Os problemas de ao coletiva (resultantes do desencontro dos incentivos
individuais em relao ao comportamento que mais favorece o conjunto de pessoas
envolvidas) no contexto de jogos mais amplos so o objeto de estudo.
Metodologicamente, este uma das mais importantes reas de estudo, pois aponta
os perigos de equacionar um problema estratgico sem olhar para o contexto mais
amplo em que uma interao simples se insere. Por outras palavras, a anlise
estratgica exige a considerao da profundidade adequada em que deve ser
analisado o comportamento estratgico.
As concluses desta breve explanao de teoria dos jogos no podem deixar de
desiludir aqueles que procurem nesta teoria um critrio mecanicista de avaliao das
solues legais. As insuficincias da Teoria dos Jogos no lhe permitem prever os
efeitos de uma determinada regra jurdica, por todas as razes expostas em captulos
precedentes deste livro.
Essencialmente, a contribuio da Teoria dos Jogos para o estudo do direito
consiste na compreenso das motivaes estratgicas que inspiram os sujeitos de
direito e nas conseqncias das normas jurdicas no seu comportamento. E este no
deixa de ser uma importante contribuio at agora desprezada pelos juristas. Como
demonstrado na obra de Baird, Gertner e Picker, j exaustivamente citada, logo no
primeiro captulo do livro, "devemos olhar no s para as conseqncias que as
normas jurdicas fazem corresponder s aes adotadas pelas partes, como tambm
10
para as conseqncias que as regras jurdicas impem a aes que as partes podem
nunca adotar na ausncia daquelas regras" (p. 268).
A teoria dos jogos expe a fraqueza de uma cincia jurdica demasiado centrada em
preocupaes formalistas e alheia ao contexto em que se desenvolve o
comportamento humano e s suas motivaes. Outra fraqueza exposta a
considerao do problema da informao, a que muitas vezes o direito alheio,
pressupondo que as partes e os aplicadores do direito dispem de informao
adequada, quando tal no corresponde realidade. Se a informao o problema
central da anlise do comportamento estratgico, ela igualmente problemtica para
a cincia jurdica pois evidencia os seus limites.
11
Uma aplicao da Teoria dos Jogos:
Texto: Os cartis, a licitao e a teoria dos jogos
Por: Gustavo Pamplona (Ps-graduado em Controle Externo do TCMG)
Nem todos os bens consumidos pelo Estado so fornecidos por empresas que atuam em mercados
de concorrncia perfeita. Mesmo que o processo licitatrio seja precedido de ampla divulgao,
inclusive internacional, h riscos de que as empresas habilitadas sejam parte de um cartel. Pela tica
econmica e financeira, no h muita diferena entre monoplio, oligoplio e cartel
1
. No tocante ao
cartel a diferena reside em que este constitui-se em um acordo comercial (coalizo) entre empresas
do mesmo ramo, as quais, embora conservem a autonomia interna, organizam-se com o escopo de
praticar uma poltica de preos elevados e de restrio de mercado a novos concorrentes.
O risco da Administrao Pblica demandar bens ou servios de setores cartelizados a
contratao por preos superfaturados. Despesas em valores excedentes, sem contraprestao, so
verdadeiros prejuzos, caracterizando-se como despesas sem amparo legal processadas pela
Administrao. dever indeclinvel contratar a preos de mercado.
A Administrao Pblica, por vezes, torna-se refm dos cartis, os quais alm de obrig-la a
comprar acima do preo de mercado, resultando na dilapidao dos minguados cofres pblicos,
acaba por ainda ferir o Estado Democrtico de Direito e a Constituio da Repblica que preconiza
a livre concorrncia como um dos Princpios Gerais da Atividade Econmica do Brasil, na
dimenso do artigo 170 inciso IV. Os malefcios dos cartis so notrios tanto jurdica quanto
economicamente.
Todavia, a Administrao Pblica possui remdios jurdicos dentro da Lei de Licitaes e
econmicos face a esta distoro de mercado.
O primeiro ponto a ser atacado pela Administrao Pblica instrumentalizar o processo de
compra com uma confivel estimativa de valor de mercado para o bem ou servio a ser adquirido
ou da planilha de custos, quando for o caso, na forma do art. 40, 2
da Lei 8.666/93. Uma cotao
de mercado sria o primeiro obstculo que se constri face aos cartis. Somente com a estimativa
de preo corrente a Administrao poder comparar os valores ofertados com a realidade do
mercado. O prximo passo est no mbito da Comisso de Licitao.
Uma vez abertas as propostas dos licitantes e caso a Comisso de Licitao se depare com ofertas
supervalorizadas em relao ao preo de mercado, possivelmente viciadas por cartelizao dever,
alm dos dispositivos de carter exclusivamente penal, utilizar do artigo 48, inciso II conjugado
com o seu 3, que, dispem:
Art. 48. Sero desclassificadas:
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido (superfaturada) (...).
3 Quando (...) todas as propostas forem desclassificadas, a Administrao poder fixar aos
licitantes o prazo de oito dias teis para a apresentao de (...) outras propostas(...)
O disposto no artigo citado no constitui mera faculdade para a Administrao, quando presentes
indcios de caracterizao de cartel, entretanto, verdadeiro ato administrativo vinculado. Nas
palavras do reconhecido Toshio Mukai, a razo do dispositivo impedir que, em conluio, os
licitantes imponham preos excessivos Administrao Pblica.
Quando todas as propostas so declaradas superfaturadas, o acordo do cartel posto em xeque. O
odioso arranjo prvio entre os licitantes no logra xito, pois a nenhum ser adjudicado o objeto
licitado. Inicia-se um novo momento na licitao, a reapresentao de propostas. Todavia, com um
fator novo, vez que todos os licitantes sabem dos preos praticados por seu concorrente. Este
12
conhecimento indito acrescenta novas variveis na disputa pelas empresas, conforme discutiremos
adiante.
Poder-se-ia perguntar, qual a garantia de que as propostas no permanecero inalteradas? A
primeira assertiva de que no interessante para os licitantes arriscarem permitir que a
Administrao Pblica contrate diretamente pelo preo de mercado com outro fornecedor (art. 24,
VII da Lei 8.666/93) ou, at mesmo, inicie um novo processo licitatrio desde a habilitao.
Segundo, a manuteno dos valores das propostas no a melhor soluo dentro do modelo de
anlise da Teoria dos Jogos.
Mister se faz explicar minimamente a Teoria dos Jogos. Trata-se de um conjunto de modelos
tericos muito utilizado na cincia poltica e na economia como instrumento de auxlio na anlise
de escolhas dos agentes econmicos. No problema entre licitao e cartis, utilizaremos um dos
modelos da Teoria dos Jogos, chamado de dilema dos prisioneiros adaptado para o caso em tela.
Suponhamos que numa licitao os trs licitantes habilitados A, B, empresas j consolidadas no
setor e cartelizadas, e C, empresa pequena que deseja entrar no mercado e que no pertena ao
cartel, so desclassificadas por apresentarem propostas superfaturadas, conforme art. 48, inciso II, e
devero apresentar novas propostas em conformidade com o preo de mercado. A e B
manteriam o acordo do cartel e persistiriam nos mesmos preos ou no arriscariam diante da
possvel contratao direta e reduziriam suas ofertas? Seno vejamos.
A e B poderiam manter os mesmos preos ofertados inicialmente, entretanto, correriam o risco da
Administrao Pblica contratar diretamente outro licitante, conforme art. 24, VII da Lei 8.666/93,
logo esta no a melhor escolha para A e B, pois as empresas do cartel estariam excludas do
certame.
Caso as Comisses de Licitaes adotem sempre a estratgia da desclassificao, indubitavelmente
gerar um insegurana para os licitantes quanto aos deslanches das prximas licitaes, logo a
segurana do acordo do cartel ficar arranhada, pois os obrigar a reduzir seus preos.
Consequentemente, com a reduo real de lucratividade abusiva das empresas do cartel, a longo
prazo ficar mais difcil manter o acordo de cartelizao entre as empresas devido a reduo de
ganho de algumas que so ineficientes e possuem custos ainda elevados. Para estas ltimas o
impacto de uma licitao frustada possui uma repercusso maior, pois deixar de ganhar muito pode
significar, por causa da baixa competitividade fora do cartel, a sua possvel retirada do mercado.
O dilema do prisioneiro torna-se evidente, pois, se na primeira licitao, A no reduz a sua
proposta supervalorizada e permite que B ganhe, qual a garantia de A que este acordo de cartel
persistir numa segunda concorrncia, se no primeiro contrato B pratica preo de mercado e com
lucratividade menor? Nenhuma, talvez B tambm queira ganhar a prxima licitao, pois
necessita de um novo contrato para manter o mesmo faturamento quando praticava preos
superfaturados. Se uma firma pratica preos elevados ento financeiramente interessante para a
outra empresa diminuir um pouco os seus preos, capturar o mercado da companheira e obter
lucros ainda maiores. Qualquer que seja o preo que a outra cobre, sempre ser a melhor escolha
reduzir o seu preo.
O dilema dos cartelizados : Num jogo de sempre ter que reduzir as ofertas superfaturadas, sob
pena de perder totalmente a licitao, caso o jogo de reduo da oferta se proceda em infinitas
licitaes, um licitante diminuir seu preo numa licitao e o outro cartelizado, na prxima.
Entretanto, nem sempre isto ser verificado, conforme explicamos no pargrafo anterior. Se cada
licitante sabe que o outro est jogando bate-e-rebate, ento cada empresa teria receio de diminuir
o seu preo e iniciar uma guerra de preos. A ameaa implcita no bate-e-rebate pode permitir s
firmas manterem seus preos altos. Entretanto, a realidade no a de infinitas licitaes. O Estado
possui um nmero fixo de concorrncias, logo coloca-se em disputa entre os cartelizados os
13
melhores contratos, que representam a mais alta lucratividade, sempre almejada num cenrio de
preos de mercado.
J no curto prazo, a Administrao conta com empresas que esto excludas do mercado
cartelizado, no possuem grandes margens competitivas e nem ganho de escala, contudo, tm o
interesse de fornecer para o Estado, suponhamos no caso a empresa C. Quando a Comisso de
Licitao divulga as propostas de todos os licitantes e abre prazo para a apresentao de novas
ofertas, possibilita empresa C analisar sua proposta frente de seus concorrentes e cotao de
mercado, detendo assim uma posio privilegiada de informaes e a possibilidade de competir
isonomicamente com empresas que at ento dominam o mercado. A simples presena de uma
empresa no integrada ao cartel, j uma ameaa potencial hegemonia das empresas dominantes,
principalmente num cenrio de divulgao e de reapresentao de propostas.
A estratgia da desclassificao e a lgica da Teoria dos Jogos so poderosas armas para que a
Administrao Pblica, em sede de licitao, se imponha sobre os cartis. Esta exegese se ajusta ao
escopo do cenrio sob comento, o qual tem por objetivo o interesse jurdico de que a
Administrao Pblica no se submeta ao abuso do poder econmico. Em ltima instncia, dever
do Estado dar combate a essa irregularidade e defender o Princpio Constitucional da Livre
Concorrncia.
Nota:
1. Vide: Introduo anlise econmica. Volume I. Samuelson, Paul A. 6 ed. pg.: 134.
Bibliografia:
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. A licitao e os Cartis. In www.escritorioonline.com.br em
16 de Janeiro de 2001.
SAMUELSON, Paul A. Introduo anlise econmica. Rio de Janeiro. Ed. Livraria Agir editora.
Volume I. 6 ed., 1966.
VARIAN, Hal R.. Microeconomia Princpios Bsicos. 2 Edio americana: Editora Campus. 2
Reimpresso 1997.
BRASIL. LEI N. 8.666/93, com a redao dada pela Lei n. 8.883/94 Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituio da Repblica, institui normas para licitaes e contratos da
Administrao Pblica e d outras providncias.
1
CAPITULO V: CONTRATOS
Introduo: A importncia dos contratos
Numa economia moderna, todos os agentes continuamente fazem promessas das
mais variadas formas. Vendedores prometem felicidade; amantes prometem
casamento, generais prometem vitria, e crianas prometem se comportar.
1
Interessa
ao sistema legal no apenas a formalizao dessas promessas em instrumentos
conhecidos como contratos, mas tambm a garantia de que tais direitos podero ser
plenamente exercidos. Por exemplo, um sujeito promete vender a outro um
aparelho de som por R$ 100. O negcio feito e quando o comprador chega em
casa, ele descobre que o aparelho de som no funciona com a TV, nem d a
sensao de estar num verdadeiro cinema. Furioso, exige o seu dinheiro de volta e
quer devolver o aparelho de som. O vendedor se espanta com o comprador por
achar que por R$ 100 ele realmente acreditava estar adquirindo um som Dolby Pr-
Logic de 4
a
gerao. Num outro exemplo, um pai promete a sua filha uma
maravilhosa festa de 15 anos. No entanto, ele entra em falncia e no pode cumprir
a sua promessa. A me e tambm ex-mulher resolve process-lo. Ou ainda, uma
senhora resolve adquirir via correio um mtodo de emagrecimento por R$ 1.000.
Quando chega a encomenda do correio, ela descobre que o mtodo nada mais era
do que um rolo de esparadrapo com as seguintes instrues: feche a boca!
Nos exemplos acima, adaptados do texto de Cooter & Ullen, temos trs hipteses
distintas. Primeiro, o que se conhece como dissonncia cognitiva, uma situao de
frustrao recprocas de expectativas; no h necessariamente m f, mas apenas
uma comunicao equivocada e mesclada com uma dupla confuso daquilo que era
esperado tanto do vendedor quanto do comprador. No segundo caso, no h um
contrato, mas uma promessa, j que o pai nada receber em troca, e no se
comprometeu numa obrigao de fazer. Ele apenas empenhou-se num plano futuro;
assim mesmo se viu surpreendido por circunstncias muito diferentes daquela em
1
Robert COOTER e Thomas ULEN. Law & Economics. op.cit. pg. 177
2
que ele se encontrava quando a promessa foi realizada: a falncia , at mesmo nos
termos legais, uma notria mudana de estado. No terceiro exemplo que demos,
do mtodo do regime, aqui h propaganda enganosa; a consumidora esperava
muito mais do que recebeu, e claramente o artifcio empregado tem o intuito de
obter vantagem para o vendedor, empenhado em enganar a consumidora. Ora, nos
trs casos, como que se materializam no futuro tais promessas e como o sistema
jurdico e judicial pode garantir de que tais direitos podero ser plenamente
exercidos ?
Apesar de parecer banal, os trs exemplos acima so fatos claros do que pode
acontecer rotineiramente. E em muitos casos da realidade diria ocorre dissonncia
cognitiva, promessas no materializadas ou mesmo promessas ardilosas seduzidas
por propaganda enganosa. E nos trs casos acima, temos claramente exemplos de
contratos. O que materializa tais promessas este instrumento chamado contrato,
seja escrito e formal, seja no-escrito e informal. Como fazer cumprir o contrato
depende do sistema judicial de uma sociedade. No entanto, o debate sobre contratos
muito mais amplo do que pode parecer e com isso que vamos nos ocupar agora.
Primeiro, como garantir com que as promessas sejam cumpridas ? Por um lado, isso
depende do ambiente institucional vigente; por outro, contudo, depende de como
esse ambiente encara os contratos. Os contratos so os meios pelos quais os
direitos so estabelecidos, transferidos, outorgados ou cedidos. H, portanto
duas indagaes fundamentais: quais so estes direitos que podem ser estabelecidos,
transferidos, outorgados ou cedidos, (j que claramente h algumas promessas que
no se caracterizam como sendo direitos) e em segundo lugar, como lidar com as
promessas no cumpridas, ou seja, como indenizar (ou melhor, ressarcir) a
transgresso de direitos que foram transferidos, outorgados ou cedidos ?
Na tradio jurdica do sculo XVIII, firmou-se que o contrato um acordo de
vontades entre duas ou mais pessoas que transferem entre si algum direito ou que se
3
sujeitam a alguma obrigao. Trata-se de definio clssica adequada para aquela
poca, mas um pouco simplria num mundo em que a informao o principal
ativo e em que as mudanas imperam numa velocidade mpar, transformando a
realidade numa complexa e intrincada teia de relaes jurdicas e econmicas.
A Histria do Contrato
O direito romano conheceu certamente uma reflexo sobre os contratos. O sentido
dos contratos, porm, no equivalia ao nosso. Na verdade, os contratos que
passaram a ser protegidos pela ao do pretor eram uma inovao em contraste com
os negcios tradicionais do direito antigo e ritual (sponsio e stipulatio). Os quatro
novos contratos da vida comercial, j conhecidos e praticados no Mediterrneo,
inclusive pelos gregos, tornaram-se tipos novos, desenvolvidos, fundados na boa f: a
compra e venda (emptio venditio), a locao (locatio conductio, dividido em trs subtipos:
locatio rei, operarum ou operios faciendi), o mandato e a sociedade. So os contratos
nascidos do consenso, ditos obrigaes consensuais. Outras aes vieram proteger
tipos no derivados dos ritos da stipulatio, ou seja, da obrigao nascida do uso das
palavras sacramentais (obrigaes verbais). Foram aes que garantiram devoluo de
coisas (depsitos, mtuos, portanto ditas obrigaes reais); que se provavam pelos
escritos dos pais de famlia, ditas obrigaes literais ou por escrito (litteris).
Admite-se hoje que os contratos no direito romano eram verdadeiras fontes de
obrigao. A fonte do vnculo era o contrato e no a vontade das partes. Da a
convico de que os pactos puros e simples no geravam ao (ex nunc pacto actio non
oritur). De qualquer maneira, para o jurista romano o que interessava no era uma
teoria geral do contrato, pois todo o direito romano estava construdo sobre as
defesas e aes possveis (actio ou remedy, do direito ingls) e no sobre um conceito
substantivo de direito ou contrato. Assim, ou um ato solene gerava uma ao (os
negcios da stipulatio, por exemplo) ou a ao se estendia a certas interaes por
meio da interpretao bona fidei. No se esperava uma teoria geral dos contratos, mas
da ao.
A idia, de que os contratos, e no somente a vontade das partes geram a obrigao,
dominou tambm boa parte do direito medieval acadmico e letardo, conhecido
como ius commune. Havia dois pressupostos na teoria contratual do sculo XII ao
sculo XVII: a) que os contratos eram tipos definidos, com finalidades especficas,
aos quais as partes aderiam quando desejavam certas conseqncias jurdicas; b) que
o fundamento ltimo dos contratos era realizar a justia entre as partes, ou realizar a
liberalidade, isto , trocar igualmente entre iguais ou trocar porque um dos sujeitos
desejava realizar uma liberalidade, aquela virtude que est entre a avareza e a
prodigalidade e que consiste em doar segundo o mrito e a convenincia de cada
um, e que permite ao homem alegrar-se ou entristecer-se com as aquisies e perdas
4
na medida certa. (Aristtoles). Ao trocar de forma justa as partes do-se
reciprocamente o que de cada um (pois a justia consiste em dar a cada um o que
seu). Ao realizar a liberalidade, as partes do do que seu, e no o que do outro,
vo alm do devido num sistema de trocas ou retribuio.
(Extrado de Jos Reinaldo de Lima LOPES. O Direito na Histria. Lies Introdutrias.
So Paulo : Max Limonad, pg. 391
A acepo moderna e mais clssica o contrato encontrada no Code Civil de
Napoleo, de 1804 e resume com preciso lapidar o que os liberais entendiam por
contrato: uma conveno pela qual uma ou vrias pessoas se comprometem em
relao a uma ou a vrias outras a dar, a fazer, ou a no fazer, alguma coisa.
2
Ele
pode ser bilateral (quando houver dois contratantes) ou multilateral (mais do que
dois) e contm obrigaes e direitos recprocos. H ainda, uma transferncia desta
noo de contrato privado para o campo da sociologia poltica; quando se fala em
contrato social, se est referindo ao tipo de vida em sociedade que se almeja.
Rousseau, por exemplo, em seu clssico Du contrat social forMul o seguinte
enunciado: cada um de ns pe em comum a sua pessoa e toda a sua potncia
sobre a suprema direo da vontade geral; e recebemos em bloco cada membro
como parte indivisvel do todo.
3
Mas, para a finalidade deste captulo, o contrato
instrumento individual baseado no acordo de vontades.
A noo do contrato como um acordo de vontades tem sua acepo econmica em
trs processos diferentes: a oferta e a contrapartida da oferta, a aceitao da oferta e
da contrapartida e a liquidao da promessa. Vamos exemplificar cada uma destas
trs fases.
Um vendedor faz uma oferta da venda de um imvel de praia (vendo um
apartamento no Guaruj (SP) por R$ 50 mil vista). Trata-se de uma oferta (venda
de um tipo de imvel que o apartamento com todos os seus atributos fsicos e
como contrapartida desta oferta o vendedor espera receber R$ 50 mil vista, ou
2
Code Civil Franais, Ttulo III, 1101.
3
Jean Jacques Rosseau. Du Contrat Social. I, 6. Gallimard, Paris, 1972.
5
seja, no momento em que o ttulo de propriedade (a escritura) for outorgada. O
comprador depois de avali-lo e examin-lo, decide aceitar pagando o preo pedido.
aqui o momento da aceitao tanto da oferta (do apartamento no estado em que
ele se encontra) como da contrapartida (do preo pedido e nas condies exigidas,
ou seja, vista. o momento do fechar o negcio. Vejam que at aqui realmente
a vontade de cada um que imperou; um quer vender e o outro quer comprar. O
ltimo momento do nosso exemplo refere-se liquidao (ou em termos jurdicos, a
tradio) quando o comprador d ao vendedor a motivao para entregar o
imvel, ou simplesmente quando ele paga o preo combinado. Quando o vendedor
recebe o dinheiro e outorga a escritura e registra aquele documento pblico no
Cartrio de Registro de Imveis o negcio se encerra.
So dois aspectos que valem ressaltar neste nosso singelo e corriqueiro exemplo.
Primeiro, pode-se dizer que o contrato incompleto at o momento em que o
promitente comprador paga ao promitente vendedor. Depois, o contrato se
aperfeioou quando o vendedor recebeu em dinheiro o valor que estava exigindo
pelo imvel. Ou seja, a liquidao da obrigao (ou da promessa) o que completa o
contrato. No entanto, o segundo aspecto igualmente importante: a contrapartida
do contrato.
A contrapartida (ou em termos contratuais, o preo o que define a entrega do
objeto. No haveria promessa a ser cumprida se no existisse o recebimento da
contrapartida, que no caso o preo. Poderia ser, contudo, por exemplo, um
automvel ou mesmo uma prestao de determinado servio, por meio de
recebimento do imvel em dao em pagamento. Podemos assim alargar a
expresso deste acordo de vontades como sendo um processo de oferta, de
contrapartida, de aceitao e liquidao de direitos que so estabelecidos,
transferidos, outorgados ou cedidos. Isso o que de fato, um contrato.
6
Apenas por meio dos contratos que se podem realizar investimentos com vistas a
reduzir riscos no futuro, tema que vamos nos ocupar mais adiante. A natureza do
contrato a promessa de cumprimento recproco prometer vem do latim
promittere, que significa atirar longe, obrigar-se verbalmente ou por escrito a fazer
ou dar. S h eficincia em uma economia quando possvel assegurar que tais
promessas sero cumpridas. Ou seja, nos exemplos acima, s valeriam como
verdadeiros contratos se pudessem ser de alguma forma liquidados ou em oposio,
se no houvesse o cumprimento da promessa algo pudesse ser feito para induzir
aquele que prometeu a cumprir a sua palavra. No primeiro exemplo, h oferta, aceite
e liquidao, logo no h o que se discutir. J no segundo, no h qualquer tipo de
liquidao; mais um presente que o pai se compromete em dar, do que um
contrato. No h contrapartida pelo cumprimento desta promessa, nem qualquer
sano por seu descumprimento, logo no um contrato. J no terceiro, a oferta
enganosa, leva a consumidora, na verdade, a aceitar uma oferta que de fato no
aquela que originalmente foi feita; houve uma contrapartida que foi cumprida (a
consumidora pagou pela promessa) h liquidao e h prejuzo. Cabe portanto,
neste caso, sano. So os tribunais que podem coagir (no sentido de definir ou de
forar) a empresa a indenizar a consumidora.
Ento, em resumo, pode-se afirmar ento que contrato a promessa
institucionalizada pelo sistema jurdico, sujeita que est coero, mas que
, sobretudo, estabelecida por mecanismos de incentivos entre agentes
econmicos.
No entanto, pode-se argumentar que uma parte no cumpriu a sua promessa,
mesmo tendo celebrado-a anteriormente porque tal contrato (ou as condies que
tal contrato impunha) eram injustas. A primeira noo que precisamos discutir
exatamente o conceito de justo ou injusto.
7
O conceito do justo contratual
Remete-se noo corrente de justia (da qual deriva o conceito de justo) a idia de
que algo (uma coisa ou uma situao) est conforme um direito aqui, num sentido
amplo e genrico, seja um direito positivo ou um direito natural o justo aquilo
que vem do Direito. No toa que o vocbulo justus vem de jus, que significa direito.
Mas h um segundo sentido corrente que define justo: tudo aquilo que de certa
forma exato, rigoroso e preciso. Andr Lalande d ainda um terceiro conceito de
justo: que julga acerca das suas relaes com outrem como julgaria acerca da
relao entre duas pessoas estranhas; e que, quando julga entre vrios outros, no se
deixa guiar por qualquer favor nem qualquer rancor preexistente. Ser justo, neste
sentido, , pois, uma qualidade essencialmente formal que consiste em se abster de
procedimentos egostas e juzos parciais.
4
Finalmente o ltimo conceito que
podemos expor um sentido mais geral de justo: aquele que possui um bom juzo
moral ou que sua vontade se conforma no respeito aos demais, nas suas idias, nos
seus sentimentos, na sua liberdade, na sua relao patrimonial e em especial em
proibir ou admitir certos atos. O justo acima de tudo um homem de bemaquele
cuja vontade conforme a lei moral.
5
Um segundo aspecto de justia refere-se ao preo justo: evidente que do ponto de
vista de uma teoria mais liberal, o preo justo aquele que as partes entenderam ser
justo. Ora, h muito que se sabe que este tipo de concepo ideolgica apresenta
diversos problemas num mercado imperfeito, onde o sistema de precificao de um
ativo, de um bem ou de servio est sempre referido algum outro ativo. Portanto,
a prpria lei e doutrina estabelecem critrios do que est acima ou abaixo do preo
considerado como sendo justo. Tal o conceito de preo predatrio, por meio do
4
Andr LALANDE. Vocabulrio Tcnico e Crtico da Filosofia. P. 603
5
Idem, ibedem.
8
qual o fornecedor vende seus produtos, ativos ou servios por preo baixo com o
objetivo de conquistar monoplio; prtica anticompetitiva e o prprio CADE,
tribunal administrativo que cuida da concorrncia no Brasil (vide captulo sobre
Concorrncia) j entendeu que inexiste ofensa ordem econmica na venda de
produto a preo inferior ao da concorrncia, mxime quando consistente com os
custos de produo. De igual modo, no h infrao contra a concorrncia na
doao de produtos, em um nico dia, guisa de promoo.
6
Da mesma forma, h
tambm preo abusivo, derivado de aumento abusivo de preos, reajustes ou
imposio de preos com margens de lucros abusivas, ou seja, em mercados pouco
competitivos ou pouco lquido, onde h, por parte do fornecedor, vendedor do
ativo ou do servio, imposio de preo elevado em relao aos custos. No ,
claramente, matria fcil, at porque ajustado o mercado naturalmente ao nvel da
demanda, no h como falar em preo abusivo. Na interpretao do prprio rgo
da concorrncia quando deparado com tais questes no h como falar em
aumento abusivo de preos no repasse de majorao de custos de matria prima ou
em decorrncia de outra circunstncia mercadolgica.
7
Entende-se ainda que a
infrao primria ordem econmica no o preo abusivo, mas o cartel, o
monoplio, enfim a estrutura que permite cobrar preos acima do mercado.
Preo justo ou injusto ?
Corre a verso histrica de que a ilha de Manhattam foi comprada por 24 dlares.
Aparentemente a histria representa um tpico caso de desequilbrio contratual. A
baa de Manhattan foi descoberta em 1524 pelo italiano Giovanni da Verrazano, que
estava a servio do rei Francisco I, mas somente em 1625 os holandeses ali se
estabeleceram, dando ilha o nome de Nova Amsterdam. No ano seguinte, em
1626, o holands Peter Minuit, representando o governo de seu pas, comprou dos
6
Voto na Averiguao Preliminar n
o
08000.016380/94-60, de 16 de outubro de 1996. Representante:
Sindicato de Panificao e Confeitaria do Estado de Mato Grosso, Representante: Supermercados Big Lar de
Vrzea Grande.. in: D.O.U de 24 de outubro de 1996, seo 1, pg. 21777. Apud Jos Incio G.
FRANCESCHINI. Lei da Concorrncia conforme interpretada pelo CADE. So Paulo, Ed. Singular.
7
Voto na Averiguao Preliminar n
o
08000.001248/95-80, de 3 de setembro de 1997. Representante:
Pensamento Nacional de Bases Empresariais - PNBE, Representante: Royalplas Indstria e Comrcio Ltda..
in: D.O.U de 19 de setembro de 1997, seo 1, pg. 21777. Apud Jos Incio G. FRANCESCHINI. Lei da
Concorrncia conforme interpretada pelo CADE. So Paulo, Ed. Singular.
9
ndios canarsee a ilha de Manhattan, onde hoje est situada a cidade de Nova York,
pela mdica quantia de 24 dlares (cerca de 60 florins holandeses). Seguindo a
tradio dos comerciantes europeus, Minuit pagou os canarsee com os badulaques
usuais nas trocas entre brancos e ndios - espelhos, tintas, panos e s no incluiu
radinhos de pilha no negcio porque estes no haviam sido inventados. Em 1664 os
ingleses tomaram posse da ilha e a chamaram de New York, em homenagem ao
Duque de York. Em 1667, entretanto, diante do argumento irrespondvel dos
canhes da armada inglesa, os holandeses aceitaram trocar Manhattan pela Guiana,
que se passou a chamar Guiana Holandesa e, posteriormente, Suriname, nome atual.
No se pode dizer que a troca representou um negcio da China para os holandeses,
mas, afinal, a ento Guiana valia mais de 24 dlares, mesmo em moeda e no em
quinquilharias. Para os ndios, certamente os badulaques recebidos deveriam ter
mais valor do que uma ilha, a meio a tantas outras....
(Fonte: Calvino Escobar; www. exclusivaup.com.br
Na filosofia grega, Plato (Repblica, Livro I) ou Aristteles (tica a Nicmaco) a
justia (no sentido de ser caracterstica do que justo) est celebrada como uma das
quatro virtudes cardeais: a prudncia, a coragem, a temperana e a justia. Para tais
filsofos, a virtude resume a disposio permanente para cumprir e querer cumprir
toda espcie de atos morais. Da o fato de que o jus tem originalmente, sentido
religioso; este sentido ser alargado com a histria para o sentido do Direito.
Ora, a noo de troca justa o que embasa o contrato. O ditado de que o que
combinado no caro resume a sabedoria popular de que, numa promessa, aquilo
que justo, acordado entre cada uma das partes de uma negociao, deve ser
cumprido. No entanto, se o valor do contrapartida num contrato acordado num
instante de tempo, no outro, pode no mais ser vlido, seja porque se alteraram as
condies originalmente combinadas, seja porque uma das partes no quer mais
cumprir o contrato, seja porque o que era justo no momento da contratao no
mais na liquidao.
Evidente, o conceito de justia e do que justo extremamente fludo e impreciso.
Podemos dizer que o valor justo de um contrato aquele que as partes se
10
empenham em cumprir ? E isso tautolgico, j que estamos definindo o conceito
por ele mesmo. claro que fcil observar e entender situaes limite de injustia:
uma delas, da compra da Ilha de Manhattan (vide Box acima) ou na histria bblica
de quando Esa promete ceder seus direitos hereditrios a Jac por um prato de
sopa. Mas mesmo em tais casos, para os ndios, a ilha valia muito pouco, ou para
Esa, bens materiais para ele nada representavam. Em resumo, o que um contrato
justo ? Como medir justia contratual neste sentido ? Ou como tais contratos
deveriam ser preenchidos ? No so conceitos fceis nem h um nico modelo que
sirva a todos os casos. Mas, como certeza, o que justo tem alguma conotao com
o que de direito, mas tambm com o que eficiente.
Um segundo conceito importante o de equilbrio contratual. Segundo Arnoldo
Wald, trata-se de, num contrato bilateral, a noo de resguardar, de um lado, o
valor real das prestaes, que no pode ser esvaziado pela inflao, e, de outro, o
equilbrio contratual inicial que deve ser mantido durante toda a execuo do acordo
firmado pelas partes. Trata-se de dar ao contrato um carter dinmico que se
justifica pela fase de instabilidade e de mudanas rpidas que o Brasil e o mundo
atravessam. Em vez de considerar as prestaes das partes numa viso esttica e
literal, que pode ensejar iniqidades, devemos garantir o equilbrio das situaes dos
contratantes de modo que o vnculo entre eles existente no momento em que o
acordo das partes foi celebrado. O equilbrio contratual, alm de refletir a
preservao do preo contrato no tempo tem uma segunda funo: refletir o tipo de
compromisso que foi combinado entre as partes para que nenhuma das duas
obtenha vantagens no previamente acordadas.
Do conceito de Justia
Na Antiguidade Clssica, o direito (jus) era um fenmeno de ordem sagrada. Em
Roma, foi uma ocorrncia imanente a sua fundao, ato considerado miticamente
como decisivo e marcante na configurao de sua cultura, por tornar-se uma espcie
de projeto a ser aumentado e engrandecido no tempo e no espao. Foi esta idia,
11
transmitida de gerao em gerao, por meio da tradio, que delineou sua expanso
na forma de um imprio, nico em suas caractersticas em toda a Antiguidade.
Assim, o direito, forma cultura sagrada, era o exerccio de uma atividade tica, a
prudncia, virtude moral do equilbrio e da ponderao nos atos de julgar. Neste
quadro, a prudncia ganhou uma relevncia especial, recebendo a qualificao
particular de Jurisprudentia.
A jurisprudncia romana se desenvolveu numa ordem jurdica, que, na prtica,
correspondia apenas a um quadro regulativo geral. A legislao restringia-se, por seu
lado, tanto na poca da repblica, quanto na do Principado, regulao de matrias
muito especiais, assim o Direito Pretoriano no era algo completo, uma vez que, de
modo semelhante equidade no Direito Anglo-Saxo, representava apenas uma
forma supletiva da ordem jurdica vigente: era criado adjuvandi vel suplendi vel corrigendi
iuris civilis gratia. (para ajudar ou suprir ou corrigir o Direito Civil). Alm disso, no
era apresentado na forma de proposies jurdicas materiais. O edito do Pretor, no
qual o Direito Pretoriano estava contido, por exemplo, consistia em esquemas de
ao para determinados fatos-tipos e em frmulas para conduo de processos. Por
isso, no apenas faltavam certas regras (como as de preenchimento de contratos)
mas, quando elas apareciam sob a forma de frmulas (no caso de contratos de
compra e venda), estas freqentemente eram apenas molduras que deveriam, ento,
ser preenchidas para uma aplicao prtica. Com isto, a prtica de constituir uma
espcie de conjunto terico capaz de preencher estes claros no foi possvel de ser
executada no perodo clssico, mesmo porque, a esta altura, a Jurisprudncia era
exercida por jurados, em geral leigos.
Trcio Sampaio Ferraz Jr. Introduo ao Estudo do Direito. Tcnica, deciso, dominao.
Atlas, 2 ed. pg. 57, 1994.
Na leitura de Law & Economics vamos ver que para autores como Richard Posner a
distribuio de justia medida de eficincia econmica, j que o direito
restabeleceria os princpios da eficincia econmica. Posner escreveu: Um segundo
significado para justia, e o mais comum, eu argumentaria, simplesmente
eficincia. Quando descrevemos injusta uma condenao sem provas, uma tomada
de propriedade sem justa compensao, ou quando se falha em responsabilizar um
motorista descuidado em responder vtima pelos danos causados por sua
negligncia, podemos interpretar simplesmente que a conduta ou prtica em questo
desperdiou recursos.
8
Ou seja, para Posner a justia contratual est baseada em
8
No original: Posner, p. 777: A second meaning of justice and the most common, I would argue, is simply
efficiency. When we describe as unjust convicting a person without a trial, taking property without just
12
eficincia. O conceito de eficincia vamos ver mais adiante. Por ora, o que
precisamos entender que s existem contratos eficientes e justos quando houver
contratos exeqveis, ou seja, cobrados que possam ser executados se algo der
errado.
O que faz um contrato exeqvel? Se por meio da liquidao do que est ali
pactuado que qualquer contrato se realiza, com a extino das obrigaes a quem
derem origem, um contrato pode dar errado por vrias razes. Sem entrar nas
vrias modalidades de erro que sero tratadas mais adiante um contrato pode,
primeiramente, dar errado, ou no ser exeqvel pela possibilidade de no ter
previsto uma condio ex ante na sua elaborao. Por isso podemos afirmar que
todos os contratos so incompletos. o que veremos agora.
Contratos Incompletos
No entanto, necessrio ressaltar um aspecto fundamental sobre qualquer contrato,
seja oneroso ou no: eles so sempre incompletos, imperfeitos, passveis de
alterao pelos eventos e pelas intempries da natureza. Tambm podem ser
alterados, na sua execuo, simplesmente pela mudana da vontade dos agentes
contratantes ou em face de estes desconhecerem algum dado no momento de sua
celebrao, ou porque algum fato novo impediu a adeso deles ao que fora
previamente combinado. Em ambos os casos tal comportamento leva ao
questionamento do contrato.
impossvel pressupor todos os acontecimentos ou fatos que podero ter lugar
entre os seres humanos, em especial no futuro. Essas lacunas sero preenchidas ex-
post, uma vez iniciado o cumprimento (ou no) do contrato. Somente possvel
alocar o risco com mais eficincia mediante a criao de incentivos ou de sanes no
desenho do contrato se as partes conseguirem incluir clusulas capazes de
compensation, or failing to require a negligent automobile driver to answer damages to the victim of his
carelessness, we can be interpreted as meaning simply that the conduct or practice in question wastes resources
13
maximizar os respectivos benefcios e se forem bem-sucedidas em prever que, na
execuo do contrato, tais clusulas sero validadas.
O nosso sistema jurdico, apenas para darmos um exemplo, e em particular o
Novo Cdigo Civil esgotou em dois ou trs institutos a hiptese do
preenchimento dos contratos incompletos: a impreviso (art. 317), a onerosidade
excessiva (art. 478) e a leso grave (art. 157), todos tendo como pressuposto a boa-
f objetiva.
9
O que se pretende oferecer a possibilidade de remediar a previso
defeituosa com a correo de qualquer evento externo economia do contrato. J se
pode perceber que a certeza contratual fundamental para viabilizar qualquer
investimento de longo prazo. Embora isso no seja novidade j nos contratos
internacionais antigos se previa a clusula de hardship, dos eventos de fora maior ou
mesmo de mudanas nas condies originalmente pactuadas , a compreenso dos
contratos incompletos precisa ser alargada. Grassa nos nossos tribunais o
preenchimento equivocado das lacunas dos contratos incompletos, por meio de
institutos que muitas vezes no podem ser aplicados ao caso concreto, ou da tutela
sobre quem no deve ser protegido.
Apesar de estarem consagrados cultura jurdica, a presena de alguns desses
institutos positivados no sistema jurdico no resolve os problemas potenciais dos
contratos incompletos. Por exemplo, a teoria da impreviso ou a onerosidade
excessiva no se constituem em mtodos adequados para identificar contratos com
essa caracterstica. Mais do que isso, no apresentam formas de superar a
incompletude contratual sem ter que renegociar ou discuti-lo ad initio. Em outras
palavras, como lidar com contratos incompletos sem ter que arcar com todos os
custos da novao ou da renegociao?
9
Diz o NCC: Art. 317:: Quando, por motivos imprevisveis, sobrevier desproporo manifesta entre o valor
da prestao devida e o do momento de sua execuo, poder o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo
que assegure, quanto possvel, o valor real da prestao. Art. 478: Nos contratos de execuo continuada ou
diferida, se a prestao de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinrios e imprevisveis, poder o devedor pedir a resoluo do
contrato. Os efeitos da sentena que a decretar retroagiro data da citao. Art. 157: Ocorre a leso
quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperincia, se obriga a prestao manifestamente
desproporcional ao valor da prestao oposta.
14
Trata-se de uma indagao-chave, o que pode ser verificado quando se discutem
concesses, parcerias pblico-privadas e tantas outras inovaes que o Estado
brasileiro pretende no mbito administrativo. Por exemplo, quando se faz um
contrato de longo prazo natural que as partes contratantes esperem que no
possam existir modificaes nas condies originalmente pactuadas. Suponha uma
concesso de uma rodovia, onde o parceiro privado far investimentos de melhoria
na rodovia e receber o direito de explorao do pedgio. Tal anlise de
investimento implica em conhecer o fluxo de veculos e o custo do pedgio. Ora, se
o Poder Pblico, por qualquer razo decidir reduzir drasticamente o preo do
pedgio a ser pago pelo usurio, todo o retorno do investimento poder ser
comprometido.
Tradicionalmente, o Direito apresenta trs instrumentos para lidar com os contratos
incompletos: a hermenutica contratual (que busca interpretar o contrato por sua
finalidade, ou o que se entende como a finalidade do negcio jurdico); a Lei (e a lei,
ou suas normas positivadas, como aqui se afirmou, esparsa e prolixa); e os usos e
costumes, que tratam as lacunas contratuais valendo-se das analogias com
experincias similares. Esses instrumentos tampouco resolvem satisfatoriamente os
riscos contratuais, mas, entre ns, seria bom haver maior harmonia entre eles; o
apaziguamento de doutrinas j testadas pelos tribunais superiores, por exemplo, s
atestaria que, ao preencher as lacunas dos contratos incompletos, os tribunais
aumentariam a previsibilidade das solues.
Os contratos so promessas que contm um componente do ambiente institucional
para aplicar sano na hiptese de descumprimento.
10
So contratos apenas aquelas
relaes humanas que o sistema jurisdicional (Poder Judicirio e Leis) entendem e
possam aplicar como sano.
10
Masten S E 1998. Contratual Choice. Encyclopaedia of Law & Economics. Ed. Boukaert B e Geest G,
Edward Elgar Publishing Co.
15
Dizem alguns que a incompletude dos contratos apenas d incio a um processo
mais oneroso de negociao, o qual, porm, se mostra mais eficiente. Victor
Goldberg celebra a teoria dos contratos relacionais aqueles que enfatizam o
processo dos acordos em substituio ao detalhamento dos mesmos , e insiste
em formas e tcnicas de governana como meio de assegurar o cumprimento
contratual. Para ele, os contratos comunicam determinados objetivos aos seus
destinatrios com a inteno de alcanar resultados especficos, mas deve-se estar
ciente de que conflitos, em decorrncia da incompletude, podem surgir. Tome-se
por exemplo uma relao bancria entre uma instituio e um cliente. Quando um
cliente assina um contrato de abertura de conta-corrente (nos termos da Resoluo
2.025), ele est, na verdade, se comprometendo muito mais do que depositar e sacar
certos montantes; h entre eles uma relao de fidcia, de confiana. Esta relao vai
muito alm do simples contrato (irregular) de depsito, implica em certos outros
servios (por exemplo, sustar ordens de pagamento, obter um dado financiamento,
etc) mas no est necessariamente descrito e estabelecido naquele instrumento nem
ir deslanchar-se no primeiro instante. Um outro exemplo a relao entre
franqueador e franqueado: uma circular de oferta de franquia no contempla todas
as relaes legais possveis entre um e outro; no apenas as responsabilidades,
direitos e deveres so mais amplos do que o texto contratual, mas tambm os
contratos se relacionam com a negociao e adaptao futura dos mesmos. E a os
custos do aprendizado so inevitveis. Segundo Goldberg, o processo longo e
contnuo at que se atinja o ponto de uma relao duradoura e de confiana
recproca. Ora, os contratos relacionais, corrente inaugurada por Victor Goldberg e
I. R. Macneil, enfatizam exatamente o ajuste de tais acordos no tempo, por meio do
processo de negociao dos mesmos. Klein (1981) entende que contratos ao aquelas
promessas que engajam em ao, mesmo se no forem passveis da proteo
jurisidicional. Contratos relacionais so aqueles que as promessas baseadas em
salvaguardas so ditadas pelos mecanismos reputacionais, pelas sanes informais,
por aquilo que se conhece como soft law, o direito que no direito, mas que
muitas vezes funciona melhor que a prpria lei. Por exemplo, o prprio papel da
16
imprensa e da credibilidade dos agentes envolvidos numa notcia e na fora
sancionatria que tais mecanismos tem.
Os contratos existem para comunicar condies de cumprimentos dos objetivos do
contrato por um longo perodo de tempo. Regras formais no podem controlar as
relaes humanas; da a importncia de certos tipos de mecanismos que operam fora
do contrato e exigem, como j se afirmou, negociao.
Para que os mercados funcionem adequadamente at l, e considerando que o
contrato s existe porque h riscos imprevisveis na data de sua assinatura, o Estado
de direito prev mecanismos de soluo de disputas ou controvrsias o Poder
Judicirio, por exemplo. Em face das regras estabelecidas, desenham-se contratos
cuja funo criar mecanismos de salvaguarda para as partes se algo no futuro no
resultar conforme o planejado. A arbitragem tambm desponta como eficiente meio
de soluo de controvrsia nos contratos incompletos.
Da a necessidade de tribunais e rbitros eficientes, preparados e especializados,
habilitados a contribuir para que as partes contratantes transformem conflitos em
solues cooperativas, ou seja, disputas judiciais em proviso de justia. O papel da
justia ou da arbitragem passa a ser a garantia do cumprimento das promessas
mediante a criao de incentivos para uma cooperao eficiente, com mais e
melhores benefcios econmicos na soluo das controvrsias.
Finalmente, h o que se conhece como paradigma de Arrod-Debrew, segundo o
qual os contratos emergem entre as partes com base na existncia de uma espcie de
leiloeiro que ser um facilitador, algum que passar as informaes de consumo e
de produo como se fosse num mundo ideal com informao perfeita. O leiloeiro
trar todas as informaes relevantes para a tomada de decises sem que exista
qualquer outro tipo de conflito contratual. O modelo usado para definio do que
uma relao ideal. Esta teoria contratual semelhante a teoria econmica do
17
equilbrio, onde se supem que os agentes possam redigir e formalizar contratos a
custo zero, sem qualquer tipo de negociao, buscando sempre posies de
equilbrio. Existir acordo sempre que houver negociao dos direitos de
propriedade com a compensao das perdas e a melhoria das posies dos
contratantes. Segundo Dcio Zylberstzajn, os conceitos de curva de contrato surge
na anlise de equilbrio como sendo um conjunto de pontos associados a escolhas
dos agentes que representam pontos do equilbrio de Pareto.
Eficincia contratual
Tendo explicado at aqui fundamentos dos contratos, a teoria dos contratos
incompletos, importante agora voltar ao conceito de eficincia como
contraposio ao conceito de equidade (como aquilo que justo). O que eficincia
? Em termos estritamente econmicos eficincia se refere relao entre os
benefcios agregados determinada situao.
11
Um conceito mais definido o
chamado conceito da eficincia de Pareto, ou o timo de Pareto, relacionado ao
economista italiano Vilfredo Pareto. O timo de Pareto aquela situao em que
no h mudana quanto a atuao de um agente que se torna melhor sem piorar a
situao de qualquer outro. Um dado problema no eficiente, neste sentido se por
definio, os benefcios do vencedor so gerado em prejuzo ao perdedor.
H um segundo princpio de eficincia, na mesma linha de melhorar os resultados
do mercado, alocando recursos de tal modo que o resultado seja timo para toda a
sua sociedade. Dito de outra forma, trata-se o princpio de Kaldor-Hicks, pelo qual
o ganho dos ganhadores excede o prejuzo dos perdedores.
12
Isso diferente do
timo de Pareto, pelo qual os recursos econmicos somente podem ser alocados
11
Michael A POLINSKY. Na introductioin to Law & Economics. Aspen Law, 1989.
12
H alguns autores que a isto se referem como welfare economics.
18
para melhorar a situao individual desde que no haja piora na situao de
outrem.
13
a situao de maximizao da riqueza, na expresso de Posner, pois todos estaro
em posio melhor sem necessariamente piorar a situao individual de algum. A
eficincia de Kaldor-Hicks se baseia no princpio da compensao em que os
custos com o pagamento do prmio so inferiores aos benefcios gerados, o que
explica, em parte, porque todos se encontram em melhor posio.
14
Os ganhos
potenciais (destinados a remunerar os perdedores e ainda permitir um adicional de
ganho a quem paga a compensao) far com que toda a sociedade consiga atingir
um ponto de equilbrio timo, situao muito diversa da proposta pelo princpio de
Pareto, segundo o qual h a possibilidade mas no a necessidade de
maximizar os ganhos para a sociedade.
15
Em matria de contratos, tpico mecanismo
de distribuio de risco, a eficincia um dos principais objetivos a ser atingido:
melhorar a situao individual dos contratantes sem risco de inexeqibilidade.
Mas o conceito de eficincia contratual mais antigo. Uma definio filosfica de
eficincia resume a a qualidade de um conjunto de elementos que dependem reciprocamente um
dos outros e que obedecem a um todo organizado.
16
Depreende-se, assim, que se trata de
uma caracterstica prpria de um sistema maduro e comprometido com sua
manuteno, no qual regras gerais, usos e costumes j esto suficientemente
sedimentados para garantir que, mesmo com a ocorrncia de adversidades graves
no sero internalizadas nem causaro movimentos de ruptura.
17
Por eficincia,
sempre se est entendendo a adequao dos meios aos fins., Eficincia a causa que
produz o seu efeito sem nada perder ou dispensar de si mesma, escreveu o filsofo
13
MERCURO, Nicholas e MEDEMA, Steven. Economics and the law. New Jersey: Princeton University Press,
1997.
14
POSNER, Richard. Introduction to the philosophy of law. New Haven: Yale University Press, 1954.
15
Argumenta-se que tal necessidade advm de decises polticas. Vide de MERCURO, op.cit.
16
LALANDE, Andr. op. cit. p. 1034.
17
NORTH, Douglass. Institutions, institutional.... op. cit.
19
Malerbranche.
18
. Para Aristotles, a causa efficiens fenmeno que produz outro
fenmeno, que passa a ter ao.
19
Em termos econmicos, representa o uso racional
dos recursos, maximizando seu resultado e transformando suas causas em ganhos.
20
Eqidade tem uma disposio distinta e muito mais abstrata consiste na
disposio de reconhecer igualmente o direito de cada um. Implica o tratamento
igualitrio para todos os agentes no que se refere capacidade de absoro de regras
genricas. Para outros, como Posner, o conceito de eqidade se confunde com o de
eficincia. A dimenso moral da eqidade fundamental para essa prtica. De
acordo com James Lynch, essa dimenso cifra-se no conjunto de valores que
governam o comportamento daqueles que esto engajados no oferecimento de
quaisquer servios e produtos no mercado. A responsabilidade (seja a do acionista
controlador, seja a dos empregados que com ele trabalham) um dos componentes
dessa dimenso moral, se bem que possam existir outros.
21
Citam-se dois tipos de
eqidade na literatura. H a eqidade horizontal, concernente ao tratamento
igualitrio de todos os agentes econmicos, e a eqidade vertical, relativa ao
tratamento proporcional ao tamanho do agente. Enquanto eficincia diz respeito ao
relao entre os benefcios agregados determinada situao, aos ganhos de um ou
de outro, equidade em geral mais compreendido como a distribuio igual de
renda entre os indivduos.
Vamos citar um exemplo prtico que ilustra bem o que eficincia e equidade
contratual. Vamos supor que eu tenho um terreno contguo ao um exatamente igual,
que pertence ao meu vizinho. H uma faixa de grama entre os dois terrenos, de uso
comum. Por ser terreno arenoso, preciso de irrigao constante, e s ns dois
seremos beneficiados por uma grama mais verde. Suponha ainda que a minha renda
18
Apud LALANDE, Andr. op. cit. p. 1037.
19
Idem, op. cit. p. 1038.
20
DIVER, C. S.. The optimal precision of administrative rules. In: BALDWIN, Robert. (Coord.). A reader...
op. cit.
21
LYNCH, James J. Banking and finance: managing the moral dimension. Londres: Gresham Books, 1994.
20
mensal de R$ 3.500 e do meu vizinho, R$ 6.500. O total da renda disponvel
portanto, de R$ 10.000, ou seja, a somatria da minha renda e da do meu vizinho. O
tratamento de irrigao da nossa grama custar R$ 3.000, mas corretores do local
estimam que haver valorizao de nossos terrenos em valor superior a R$ 3.000, do
investimento na irrigao; vamos supor que a valorizao seja de R$ 4.000 para os
dois proprietrios. claro que do ponto de vista de eficincia econmica, o
benefcio supera o custo; vamos investir R$ 3.000 e gerar um benefcio de R$ 1.000
(R$ 4.000 de valorizao menos o investimento de R$ 3.000). Mas quem far o
investimento ? O primeiro senso comum simplesmente dividir o investimento por
dois: eu arco com R$ 1.500 e meu vizinho, com os outros R$ 1.500. No entanto,
isso pode no ser uma situao to simples. Para mim, este investimento de 43%
da minha renda, enquanto para o meu vizinho de apenas 23%. Ou em outras
palavras, menos oneroso para ele do que para mim. Por sua vez, considerar que
eu fao todo o investimento, significa que meu vizinho ter renda de R$ 8.500 (R$
6,500 mais R$ 2.000 de benefcio, metade da valorizao) e eu de R$ 2.500 (R$ 3.500
menos o investimento de R$ 3.000 mais R$ 2.000, metade da valorizao). Ou seja,
estou em situao pior a que eu estava antes de iniciar o contrato. Por sua vez, se
formos considerar o investimento como sendo exclusivo de meu vizinho, ele ter
R$ 6.500 de renda menos R$ 3.000 do investimento mais R$ 2.000 de metade do
benefcio, o que gera um resultado de R$ 5.500, enquanto eu ficarei com R$ 3.500
mais R$ 2.000, ou seja, os mesmos R$ 5.500. Ora, do ponto de vista de equidade,
prefervel que ele mesmo arque com o investimento do sistema de irrigao. Claro
que o dilema relativo e depende do que se considera como justo e como se quer
priorizar as necessidades de investimento de um e de outro caso. No entanto, se o
investimento e o benefcio for distribudo de forma diferente, e de acordo com a
renda, por exemplo, 60% da valorizao for para meu vizinho e 40% para mim, os
resultados sero de R$ 1.800 e R$ 1.200 de investimento para cada um com
resultados de R$ 2.400 e R$ 1.600, respectivamente de valorizao.
21
A eficincia econmica depende ento se uma promessa possa ser cobrada e
cumprida. Ora, isso s relevante em contratos de execuo diferida, aqueles que
avanam no tempo. Trocas imediatas, ou seja, aquelas que se do
concomitantemente entrega do objeto, representam tradio e no necessitam de
contratos por no envolverem maiores riscos. Por exemplo, quando vou a padaria
comprar po, o padeiro me entrega o po e eu o dinheiro. Isto diferente, por
exemplo, daquilo que envolve execuo diferida: o pagamento antecipado para
posterior entrega; a entrega do bem e o pagamento posterior; ou ainda a entrega do
bem no futuro contra pagamento tambm no futuro.
A disciplina jurdica da compra e venda do po a da tradio; ou seja, se a venda
perfeita e a entrega do produto comprado se d no prazo determinado, segundo o
que se estipulou no contrato, consoante o artigo 491 e 492 do Novo Cdigo Civil.
22
A compra e venda ato jurdico perfeito a ttulo oneroso, que se opera por meio da
tradio. Alexandre Correa define a origem da traditio como ato material da entrega de
coisa (...) e portanto na sua tomada de posse, com a inteno de transferi-la e respectivamente de lhe
adquirir a propriedade, em virtude duma causa hbil a transferir-lhe o domnio (iusta causa
traditionis).
23
Ele ainda relata que, para os romanos, havia modos distintos de
tradio, e a mais conhecida era a traditio ficta, mas se distinguiam vrias espcies e
modos de tradio, entre elas a traditio simbolica, que vem a ser a que ocorre quando
se entrega apenas um smbolo uma chave, por exemplo, -- como instrumento da
propriedade (conhecido como o traditio instrumentorum).
24
Quando h execuo no tempo entrega ou pagamento no futuro, h implcita a
noo de risco. Vamos ater a este conceito agora.
22
Art. 491. No sendo a venda a crdito, o vendedor no obrigado a entregar a coisa antes de receber o
preo. Art. 492: At o momento da tradio, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preo
por conta do comprador
23
CORREA, Alexandre. Manual de Direito Romano. So Paulo: Saraiva, 1961. p. 180.
24
Idem, op. cit. p. 180 e ss.
22
Noo de risco
Pelo senso comum, risco aquilo que pode representar perigo ou possibilidade de
perigo ou ainda impreciso, incerto e que traz dvidas. Trata-se de uma palavra que
advm do baixo-latim risicu, riscu, este provavelmente tambm do latim resecare, que
significa cortar, ou do espanhol antigo risco, que quer dizer penhasco alto e
escarpado. Num sentido econmico ou financeiro, o risco a probabilidade de
lucro ou de prejuzo financeiro. Num sentido jurdico mais amplo, pode significar
mais precisamente a possibilidade de perda (ou ganho), ou, ainda, a probabilidade de
se inculcar responsabilidade pelo dano causado a outrem. Um segundo sinnimo de
risco lea, que, do mesmo modo, tem sua origem no latim alea, mas que naquela
lngua tem, como substantivo, um significado preciso um dado de jogar.
25
Um bom resumo da noo de risco est exatamente na noo do jogo no jogos
de azar, mas simplesmente jogo: h, em igualdade de condies e com o
cumprimento de regras determinadas, a probabilidade da perda concomitante
probabilidade de ganho. Risco , portanto, lea, ou seja, aquilo que traz, ao mesmo
tempo, a chance de prejuzo e a hiptese de lucro. Mas, acima de tudo, risco
lanar-se sobre o desconhecido.
Todos os agentes econmicos no mercado, sempre esto exercendo suas atividades
econmicas com o fito de obter lucros e portanto, correndo os correspondentes
riscos. J dizia o Poeta Vincius de Moraes que so muitos os perigos desta vida;
no h ganhos sem risco e no h promessa no futuro que no invada o futuro, por
definio, imprevisvel. H uma diferena entre risco e incerteza. Risco parte do jogo,
probabilstica, e estatisticamente mensurvel, enquanto incerteza no uma
varivel quantificvel. Por exemplo, o prprio conceito de volatilidade uma
medida de risco. J incerto algo que no pode ser predito, no h nem mesmo uma
25
EHRLICH, Eugene. A dictionary of latin. Nova York: Harper & Row, 1985.
23
chance de projeo ou de estimativa; o incerto est ligado ao futuro e como se diz
no ditado popular, ao futuro a Deus pertence !
Ora, todas esta variveis se relacionam diretamente performance do contrato. Para
efeitos desta anlise, a incerteza contratual uma varivel no passvel de descrio;
por exemplo, no sei se posso ou no confiar no meu vizinho e na sua honradez de
cumprir tudo aquilo que prometeu, porque no o conheo. J no que diz respeito ao
risco de uma operao que estou correndo com o mesmo vizinho, a varivel pode
ser medida: posso inclusive incluir uma garantia contratual para mitigar minha
chance de prejuzo, posso ainda incluir uma obrigao de fazer por inexecuo, ou
seja, se no puder receber aquilo que me foi prometido, posso cobrar no mesmo
contrato certas penalidades; por oposio posso no entregar o que prometi se no
receber, e assim por diante.
Teoria Econmica do Contrato
Vimos que a eficincia de qualquer contrato requer poder fazer cumprir qualquer
promessa se tanto o promitente (aquele que promete, que contrata) quanto o
prometido (a quem se promete, o contratado) desejarem o cumprimento pleno do
contrato. Enquanto a eqidade fundamental ao equilbrio do contrato, o conceito
de dar a cada um o justo difcil de precisar; logo, por se tratar de menos descritivo,
optou-se por descrever a teoria econmica do contrato apenas pelo prisma da
eficincia.
H trs indagaes fundamentais as quais so necessrias para entender melhor o
tema da teoria econmica do contrato. Vamos a elas:
1) Quais so as promessas que podem ser exigidas ?
2) Quais so as alternativas se uma das partes descumprir o contrato ?
3) Como garantir resilincia tima ?
24
A primeira pergunta bsica, quais so os tipos de promessas devem valer ? Vimos
que uma proposta que exigida instantnea e simultaneamente no necessita de
contrato; trata-se de tradio e envolve apenas tempo para a sua completude, por
exemplo, o padeiro pegar o po e receber o dinheiro pela venda da mercadoria. No
entanto, naquelas promessas que alm do tempo, h incerteza aquelas que
remetem ao futuro o seu cumprimento aqui, temos a necessidade de contrato. E
incerteza envolve o conceito de risco, como vimos acima. No entanto, h um
segundo conceito que relevante e que diz respeito no mais a risco, mas
cooperao.
Noo de Cooperao
Cooperao est baseada na certeza firme e suficiente para a ao. Mas no ao
humana de todo rigorosa ou inflexvel, seja porque repousa somente sobre certas
probabilidades (inerentes negociao) seja porque repousa sobre uma mistura de
outras aes baseadas em sentimentos ou emoes fortes. Por exemplo, num ato
cooperativo, exige-se ao prtica, mas no se sabe se o outro deseja igual ao; da
o conceito de probabilidade (ao e reao) de certas proposies. Claro, podem
estar influenciadas por outros fatores, como desconfiana, por exemplo.
Vamos ilustrar os exemplos agora com algo rotineiro, com a compra de um carro
usado. S consigo fechar qualquer negcio se tiver informao (veremos adiante a
importncia de informao para o contrato). Mas preciso cooperar, no sentido de
agir, para poder negociar. Preciso me sentar com o vendedor do automvel e buscar
uma soluo para o negcio, seja quanto preo, entrega, financiamento, seja
quanto certos opcionais que ficam ou no no carro. Neste sentido, a cooperao
se estabelece por conveno, uma tpica prtica humana que determina qualquer
tipo de tora monetria. Ou seja, enquanto comprador necessrio que se
estabelea um enunciado para que se possa criar uma circunstncia em comum: a
25
circunstncia da compra e da venda. Alm disso, esta circunstncia por si s de nada
adianta, preciso que haja nela algum tipo de causa ou o efeito: um querer comprar
e o outro querer vender. A definio mais filosfica deste tipo de cooperao est
em J. S. Mill, e baseada no que ele denomina de mtodo da concordncia: se
dois ou vrios casos do fenmeno que se estuda possui uma circunstncia comum, e
esta a nica pela qual todos os outros casos semelhantes so dados pelo mesmo
fenmeno. Parece complicado ? Mas no . A circunstncia um querer comprar e
o outro, vender. Os casos semelhantes, a tradio de entrega de um bem contra o
respectivo pagamento, que o mesmo fenmeno meu, enquanto comprador e do
outro, como vendedor.
Informao e Assimetria Informacional
Vamos tomar o exemplo da compra de um carro usado, o mesmo que George
Akerlof usou em seu clebre artigo A Market for Lemons(Lemons, nos Estados
Unidos so carros usados). Como os potenciais compradores no tem condies de
avaliar de forma mais apurada ou precisa a qualidade e o histrico do carro (se j foi
batido, se o motor est batendo pino, etc) ocorre um fenmeno que se conhece
como assimetria. Simetria (e seu antnimo, assimetria) vem da geomnetria. a
caracterstica de duas figuras geomtricas que podem ser colocadas de um modo tal
que cada ponto de uma corresponda um ponto da outra; assimetria o oposto. No
caso, o vendedor conhece muito mais sobre o carro do que o comprador. E levado
este mesmo raciocnio adiante, o comprador est em clara desvantagem, j que ele
no dispe de informao. A restam sempre duas conseqncias desta assimetria:
primeiro, nesta hiptese, h a necessidade de regulao, ou seja, o suprimento e a
superao desta deficincia informacional, por meio do Estado (vide capitulo sobre
Direito do Consumidor); e em segundo lugar, um certo monitoramento ps-
contrato, como por exemplo, estabelecer uma garantia de uso ps-venda.
Mas, cooperar implica tambm em transigir, em ponderar propostas divergentes e
em aceitar; pode-se entender, neste sentido, ainda cooperao como convergncia
de interesses. Convergncia um termo da fsica, a caracterstica de duas ou mais
trajetrias que se renem num s ponto; na tica, a convergncia de raios se d num
nico ponto. Ou seja, no sentido figurado, a idia de cooperao atingir um s
resultado. A convergncia dos resultados experimentais obtidas por mtodos
26
diferentes pode implicar tambm em resultados, mas preciso que nossas aes se
transformem. Neste sentido um conjunto de transformaes que tem por objetivo
produzir um acordo, um resultado que seja satisfatrio a ambos; assim, a
cooperao semelhante a uma caracterstica de ao onde os elementos se
transformam.
Vamos ilustrar ento este exemplo quando uma promessa pode no ser cumprida.
Um vendedor de um certo automvel pede ao seu comprador que pague agora
retirar o veculo no futuro, seja porque ele pretende adquirir um outro carro e no
pode ficar a p, seja porque ele quer dar uma ltima voltinha com seu veculo por
razes afetivas. Este tipo de promessa envolve um risco real, onde o vendedor do
carro pode no entregar o carro como prometido. O comprador pode ser recusar a
pagar em dinheiro por no conhecer o vendedor, ou pode simplesmente no
concordar com esta condio por ser uma promessa que pode no ser exigida no
futuro. Supomos que esta transao de compra e venda de carros se d no meio da
Guerra do Iraque, e estou exatamente contratando com um Mul corrupto local a
entrega do meu nico bem que meu carro. Est evidente que por mais corajoso
que eu seja, h uma evidente reticncia em entregar o bem contra o pagamento no
futuro.
Mesmo que seja um exemplo extremado, qualquer comprador cauteloso quer mais
do que uma simples e mera obrigao moral de entregar a coisa no futuro (da
porque envolve risco). Mas, por outro lado, posso estar disposto a pagar por uma
promessa que poder ser exigida no futuro. Por exemplo, posso contratar neste
caso, o auxlio das foras americanas que se comprometem a estourar o Mul se este
no pagar. Mas isto pode me custar algo, dinheiro ou outro favor. De todo modo, se
o Mul sabe que tenho fora coercitiva para fazer valer nosso contrato, pode haver
assim, maior cooperao entre ns.
27
E por isso que podemos afirmar que a possibilidade de cumprimento encoraja a
troca e a cooperao. O papel da qualquer Tribunal exatamente este: garantir o
cumprimento da promessa original; tal instituio incentiva a reduo do risco
(supondo o Tribunal eficiente e justo).
No por outra razo, Cooter afirma que um contrato que pode ser exigido um
jogo de soluo no-cooperativa que se transforma em soluo cooperativa. No
nosso caso, se o Mul quiser o meu carro, mas no entreg-lo, aceito correr o risco
com o apoio do Exrcito americano; fechamos o negcio e estou (relativamente)
seguro que as promessas sero mantidas.
O mesmo Cooter ento d a resposta primeira pergunta de quais so as promessas
que podem ser exigidas : a primeira razo da economia dos contrato poder dar a
chance de transformar aes das partes, seja porque h um desempenho previsvel
seja porque, se o investimento est ligado a uma combinao ex-ante, que garante o
cumprimento contratual. Neste caso, ambas as nossas escolhas representam
caminhos que podem maximizar o benefcio dos contratantes. Lgico que h outros
fatores em jogo e que me conduzem ao de colaborao. Caso no estejam
presentes tais requisitos bsicos, h assim a possibilidade de no contratar, ou seja, a
no celebrao do negcio. Mas no contratar, pode em si, ser uma soluo
ineficiente. Ou seja, apenas a crena no contrato (e nas instituies) permite e
possibilita que as pessoas transformem jogos com solues ineficiente s em solues
eficientes. Numa outra (e mais simples) explanao: os contratos que podem ser
exigidos promovem a cooperao e esta implica num compromisso.
O compromisso o resultado de promessas que podem ser exigidas e que se
transformam em obrigaes. Que tipo de promessas pode se tornar obrigaes ?
So aquelas promessas que as partes desejam que sejam cumprida, e que esto
dispostas a pagar (e incorrer em custos de transao) por isso. Somente o
compromisso crvel permite que o contrato seja eficiente.
28
Vamos voltar ao exemplo da compra e venda de um certo veculo usado. Suponha
(de forma to pouco realista quanto o meu exemplo do Mul !) que queira a todo
custo comprar uma Maserati amarela usada. Como no disponho de todos os
recursos para tanto, preciso vender certos ativos (como meu apartamento) para
obter dinheiro vivo (liquidez) para tanto. Por sua vez, o vendedor da Maserati deseja
viajar o mundo com o dinheiro da venda de seu carro. Para que isso se concretize
ele precisa gastar em certos preparativos, comprar malas, botas especiais para o
rtico, etc. Mas, ele relutante em utilizar a sua prpria poupana para tanto, j que
sem a venda da Maserati no poder nem pagar a passagem e estar com uma tralha
intil. Conseqentemente, ele quer que a promessa possa ser exigida assim como
quando for celebrada. Por sua vez, tambm no preciso vender meu apartamento se
no for comprar o carro. Ou seja, tambm quero que a promessa do vendedor seja
mantida. Desta forma, a possibilidade que ambas promessas sejam cumpridas se
materializa na formalizao de um contrato que permite que cada um de ns possa
agir; seja em vender o meu apartamento, seja em comprar utenslios de viagem.
Veja-se que apesar de parecer trivial, quando se trata de relaes humanas, nada
to bvio. No nosso outro exemplo inicial, da venda de um som onde o comprador
acredita que est comprando um som de ultima gerao, ocorrem entre comprador e
vendedor promessas diferentes: Cooter bem lembra que cada um tinha em mente
diferentes expectativas, mesmo tendo firmado a mesma promessa; mas no houve
um acordo de entendimentos sobre o que exatamente seria um som a ser vendido.
Isto to verdadeiro que no direito norte-americano h desde h muito, definies
contratuais. Por exemplo, em qualquer prembulo, se definem termos que para
muitos so bvios, o claro intuito de tais definies no restar qualquer dvida
sobre o tipo de promessa que se est se engajando. Por exemplo, num contrato de
financiamento bancrio estaria claramente definido o que o financiamento, o que
se entende por carteira hipotecria, como se definem os juros e assim por diante.
29
No terceiro exemplo que demos no incio deste captulo, da dieta do esparadrapo, a
inteno clara a de lesar, de enganar, de usar a boa f da compradora, e aqui se
trata de induzir a erro a compradora. claro que ai o sistema jurdico no se oferece
qualquer apoio ou est afastada qualquer noo de cooperao; mas mesmo assim,
para que possa ser cumprida, o vendedor poderia induzir a erro a hora que a
promessa fosse feita com a expresso satisfao garantida ou o seu direito de
volta, numa manifestao de proteo e respeito ao direito de arrependimento, que
claro no seria cumprido.
Aqui, importante uma noo adicional sobre partes contratantes e que envolve um
conceito que no econmico, nem jurdico, mas moral. No pode ser definido
como tangvel ou facilmente conquistvel. fruto e resultado de um longo, penoso
esforo aliado a experincia necessria dos anos. Trata-se da confiana, ou em
outras palavras, da credibilidade. A credibilidade, como comumente se afirma,
difcil de se ganhar, mas faclima de se perder.
Credibilidade pode ser definida como qualidade daquilo que se pode crer ou se toma
como verdade, implicando julgamentos de confiana e segurana. Uma parte
contratante que no goze de credibilidade faz com que os agentes econmicos
sobreestimem preos em funo do risco. Por exemplo, quanto menos crvel for o
histrico de um devedor, maior ser a taxa de juros oferecida ao mercado para que
seus ttulos sejam detidos, sob o risco de no obter qualquer emprstimo.
Podemos agora passar a um segundo problema, que o que fazer quando as
promessas no forem efetivamente cumpridas ? No ingls, a expresso remdio a
resposta para a inadimplncia contratual. Pode-se entender o sentido de remdio, de
algo que cura, mas a melhor expresso em portugus mesmo penalidade, ou a
imposio de sanes pelo no cumprimento contratual.
30
Quais so os tipos de penalidades que podem existir para promessas no cumpridas
? Primeiro, no se pode considerar a penalidade como algo normal e previsvel. No
, e deve ser vista como uma punio, ou seja, um castigo mesmo. O conceito de
penalidade advm de pena, da noo de que a sociedade impe uma correo a fim
de reprimir uma contraveno ou um crime. Mas, em Law & Economics, se considera
no como uma sano, mas como um tipo de preo a ser pago. Este preo
acertado, ex-ante, por aquele que prometeu, e uma tpica hiptese contratual. O
preo a ser pago por no cumprir o seu contrato fruto da cooperao e do
compromisso e visa criar mecanismos de incentivo ao correto cumprimento do
contrato. Como em qualquer mecanismo econmico de preo, quanto maior ele for,
maior ser o engajamento (ou ao menos deveria ser) para o compromisso de quem
prometeu desempenhar aquela determinada promessa. Isto nos leva a um segundo
objetivo da economia dos contratos, que exatamente assegurar o compromisso
timo. Ele fundamental para garantir o desempenho como veremos adiante.
As partes celebram um contrato considerando sempre o seu auto-interesse; o ser
humano hedonista no sentido de que pretende maximizar o seu benefcio e a sua
satisfao. Num regime capitalista, o objetivo o maior lucro possvel, e se
considerarmos que o agente econmico racional (o que nem sempre verdade),
em determinados contratos, a garantia de que a promessa feita ser mantida e
cumprida s se pode dar por meio das penalidades contratuais. Neste sentido, as
multas por ruptura contratual ou por inexecuo (quando algum deixa de fazer
aquilo que deveria fazer) representam uma forma expressa de incentivo.
Para entender a resposta segunda indagao (formulada por Cooter) de quias
alternativas se uma das partes descumprir o contrato, precisamos analisar a
responsabilidade pela inadimplncia.
Responsabilidade pela inadimplncia
31
Primeiro necessrio melhor definir inadimplncia. Inadimplncia simplesmente
deixar de cumprir uma obrigao; talvez em termos mais jurdicos, aquele ato que
falta a uma obrigao convencionada no prazo estipulado. Neste sentido,
necessrio responsabilizar a parte contratante por sua falta.
Na viso tradicional, a responsabilidade assumir os atos praticados e a
possibilidade de ter que responder por dano, desde que o dano seja causado por ato
culposo ou doloso. Na dico do Novo Cdigo Civil Brasileira, o conceito de
responsabilidade vem inscrito no captulo dos atos ilcitos. o art. 186 que define o
que se conhece por responsabilidade subjetiva: aquele que, por ao ou omisso
voluntria, negligncia ou imprudncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilcito. O artigo seguinte, complementa o conceito de
responsabilidade com a introduo de um componente social: Art. 187. Tambm
comete ato ilcito o titular de um direito que, ao exerc-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econmico ou social, pela boa-f ou pelos bons costumes. Esta nova redao
manteve os mesmos requisitos clssicos e necessrios obrigao de indenizar (fato
lesivo, dano e nexo causal). Foi introduzida na lei a possibilidade de reparao do
dano moral puro, o que no existia no Cdigo Civil de 1916, em consonncia com o
que j estava consolidado pela doutrina e jurisprudncia, com a substituio do
termo prejuzo por dano trazendo um significado mais amplo a tal conceito.
No entanto, a verso que pretendemos expor outra. Aqui, a responsabilidade
vista como uma forma pela qual posso incorrer em menores ou maiores custos de
acordo com minhas escolhas. A diferena ento se exclui aspectos morais e se
consideram apenas comportamentos oportunistas. A ruptura ou inadimplncia
contratual depende do tipo de penalidade (e do custo que isto implica) seja do
promitente em desempenhar a sua promessa seja do prometido em fazer a sua parte.
Claro que existem outros elementos em casos mais especficos (como por exemplo,
manter a tradio ou a credibilidade do contratante), mas apenas num modelo
simplificado, ilustrado por Cooter temos:
32
Custo do Promitente em cumprir o seu contrato responsabilidade contratual por
inadimplncia => ruptura
Custo do Promitente em cumprir o seu contrato responsabilidade contratual por
inadimplncia => cumprir o contrato
Do ponto de vista ideal, se voltarmos ao conceito de eficincia, quanto maior for o
benefcio de adimplir (ou de honrar o contrato), melhor ser o cumprimento desta
promessa. Em oposio, quanto menor for a penalidade, menos eficiente ser o
desempenho do referido contrato. Ou seja, a responsabilidade pela inadimplncia
funciona como um incentivo ao bom desempenho. Vamos supor que na mesma
compra e venda de carro eu saia por a, sem dinheiro, comprando Maseratis a prazo.
Se no h nenhum tipo de penalidade, os nicos prejudicado sero os vendedores
que acreditaram em mim. Representa portanto, o tipo de comportamento que no
se quer e que no timo. Por sua vez, se as multas forem elevadas, qualquer
vendedor que no entregue o bem tambm ter um forte incentivo para cumprir o
contrato. A frmula proposta por Cooter resume bem estes fatos:
Custo do Promitente em cumprir o seu contrato custo do prometido em cumprir
o contrato => incentivo ruptura
Custo do Promitente em cumprir o seu contrato custo do prometido em cumprir
o contrato => incentivo ao desempenho
Se ns compararmos estas duas frmulas apontadas por Cooter, aquelas que
promovem a eficincia a cumprir o contrato ou a romp-lo, podemos concluir de
que h certos incentivos eficientes para um ou outro resultado, quando a
responsabilidade for igual aos benefcios que se possa obter da promessa. Podemos
ainda descrever esta proposio de uma outra forma. O benefcio de um (seja do
33
promitente ou do prometido) equivale responsabilidade do outro desde que haja o
que poderia se denominar de internalizao dos custos desta responsabilidade,
conseqentemente o prometido ter incentivos eficientes a desempenhar o contrato
desde que tais custos estejam devidamente cobertos.
O sistema jurdico criou uma figura de responsabilidade por inadimplncia que vai
alm daquilo que est simplesmente contratado. Isto porque, diferente de compra e
venda de veculos, algumas transaes dizem respeito a atividades muito mais
complexas e com riscos muitos maiores. Trata-se do conceito de lucro cessante,
aquilo que se deixa de ganhar em funo da inadimplncia contratual. O lucro
cessante tem uma caracterstica diferente: uma indenizao que se d ao que sofreu
o prejuzo potencial (e no apenas o prejuzo real) do que poderia ser ganho, mas
no foi.
Por exemplo, no art. 389 do Novo Cdigo Civil, a previso de lucro cessante
entendida como perdas e danos. (No cumprida a obrigao, responde o
devedor por perdas e danos, mais juros e atualizao monetria segundo ndices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorrios de advogado.). J no art. 949 e
950, a previso de lucro cessante expressa: (No caso de leso ou outra ofensa
sade, o ofensor indenizar o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros
cessantes at ao fim da convalescena, alm de algum outro prejuzo que o ofendido
prove haver sofrido e se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido no possa
exercer o seu ofcio ou profisso, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenizao, alm das despesas do tratamento e lucros cessantes at ao fim da
convalescena, incluir penso correspondente importncia do trabalho para que
se inabilitou, ou da depreciao que ele sofreu.
Ora, o que se deseja conduzir aqui para um segundo ponto: h um ponto timo
no qual, s vezes, cumprir o contrato mais eficiente do que rompe-lo, mas por
outras vezes, mais eficiente rompe-lo do que cumpri-lo. Isto porque, como afirma
34
Cooter, a promessa sempre precede a performance, eu primeiro me comprometo
com um promessa e depois vou cumprir ou no aquilo que me comprometi.
Evidente que o lapso temporal pode criar incertezas sobre o custo deste
desempenho. Vamos supor que um professor carioca tenha se comprometido a
ministrar uma palestra em Manaus por R$ 1.000. No entanto, e de forma repentina,
surge uma necessidade de consultoria no Rio de Janeiro em que ele pode ganhar R$
10.000. O custo de desempenhar a promessa original de dar a palestra em Manaus
extremamente elevado (R$ 9.000). Porque o custo alto, pode-se optar em no
cumprir o contrato. Nestas circunstncias, o custo de executar o contrato conforme
prometido excede os benefcios.
A ltima das perguntas da teoria econmica dos contratos era como garantir
resilincia tima ? Segundo o Dicionrio Houaiss, resilincia, em fsica, a
propriedade que alguns corpos apresentam de retornar forma original aps terem
sido submetidos a uma deformao elstica. Resiliente o mateial, como o elstico,
que pode ser impelido a voltar a ser o que era, a encolher-se, a diminuir. Igualmente,
h um outro conceito que o conceito de sinalagma, ou de um contrato
sinalagmatico. Sinalagma a mtua dependncia de obrigaes num contrato; so as
relaes de negcio que estabelecem por meio do pacto, contrato ou o sinal que
impe a obrigao recproca s partes. Sinalagma gentico aquilo que foi avenado
no momento de sua celebrao.
Com estes conceitos em mente, resilncia contratual a mudana da posio de um
dado promitente em virtude da promessa realizada. Por exemplo, se compro uma
garrafa de vinho, a promessa de realizar uma festa de arromba me ser mais cara, ou
seja, quanto mais valioso for para mim a promessa, mais caro ser o meu custo de
inadimplncia. A resilincia assim uma aposta que o promitente ganhar mais em
ver a promessa cumprida do que o inverso. Assim, um dos papis fundamentais do
contrato garantir que a promessa seja cumprida, ou garantir a resilincia tima, no
sentido de que ser um incentivo adicional ao cumprimento contratual. Numa
35
equa singela, podemos afirmar que o ganho esperado por uma resilincia adicional
equivale ao valor da execuo contratual multiplicado pela probabilidade da
performance deste contrato.
evidente que a resilincia em excesso a noo de tudo no poder evoluir e as
penalidades serem to excessivas para desencorajar o descumprimento do contrato
que se cria uma situao oposta. O contrato no cumprido exatamente por no ser
eficiente; lgico que a lei e as cortes podem limitar indenizaes ou prejuzos, mas
suponha-se a questo das indenizaes morais: h um limite que melhor
simplesmente no contratar ou se contratar, simplesmente doar todo o meu
patrimnio aos meus filhos e assim me tornar inexecutvel. Ou seja, o Judicirio
deve compensar o ru exatamente no limite de seu prejuzo e responsabilizar o autor
por sua aes e no ilimitadamente.
Neste ponto podemos unir a teoria econmica dos contratos aos contratos
incompletos. Como exatamente preencher os contratos incompletos sem incidir nos
problemas acima referidos ? A resposta direta o Judicirio e o processo de
julgamento que preenche tais lacunas.
Claramente, preencher uma lacuna no contrato envolve determinados custos de
transao: se quero detalhar mais um contrato, exigir certos tipos de garantias
adicionais, enfim, quanto mais preencher um contrato, mais caro (e oneroso o seu
cumprimento) ele se tornar. Assim, devo medir o que preencho contratualmente
com o tipo de risco que desejo assumir. E o tipo de risco que desejo assumir est
intrinsicamente vinculado ao tipo de prejuzo que desejo (ou que posso) assumir.
Ora, se a possibilidade de deixar ou no uma lacuna contratual depende de risco e
de custo, claro que muitas vezes posso optar por preferir deixar esta lacuna
contratual. Vamos supor que conhea o contratante por longos anos, claro que o
contrato, exatamente em funo desta credibilidade, ser mais amplo no sentido de
36
ser mais simples. Prefiro simplesmente deixar uma lacuna contratual, exatamente
por saber que o Judicirio em caso de disputa, ir preench-la.
A primeira indagao sobre fatos que podem mudar ao longo da execuo do
contrato e outros fatos no previsveis no momento de sua celebrao. A isto se
conhece como teoria da impreviso.
Uma breve nota sobre impreviso, tpico elemento que mostra que os contratos so
incompletos. Caio Mrio da Silva Pereira lista quatro elementos imprescindveis
teoria da impreviso, assim sumarizados abaixo:
a) A vigncia de um contrato de execuo diferida ou sucessiva;
b) Alterao radical das condies econmicas objetivas no momento da
execuo, em confronto com o ambiente objetivo no momento da
celebrao;
c) Onerosidade excessiva para um dos contratantes em benefcio exagerado
para o outro;
d) A imprevisibilidade daquela modificao.
26
Como identificar uma situao de impreviso contratual ento ? Segundo Enzo
Roppo, o desequilbrio entre prestao e contraprestao deve superar as oscilaes
normais de mercado dos valores trocados, ou seja, se tais oscilaes imprevistas
permanecerem dentro dos nveis normais, no h razo para modific-las. Diz ele
que A lgica, em suma, esta: cada contrato comporta, para quem o faz, riscos
mais ou menos elevados; a lei tutela o contraente face aos riscos anormais, que
nenhum clculo racional econmico persistiria considerar, mas deixa a seu cargo os
riscos tipicamente conexos com a operao, que se inserem no andamento mdio
daquele mercado.
27
26
Caio MRIO DA SILVA PEREIRA. Instituies de direito civil, vol. 3, p. 145.
27
Enzo ROPPO. O contrato. VERIFICAR CIDADE, EDITORA E ANO.p. 262.
37
Enzo Roppo assevera ainda que o ordenamento jurdico somente deve intervir para
controlar o quadro externo das circunstncias, dentro das quais aquelas opes e
decises, quaisquer que sejam, forem assumidas ou devem ser executadas; ou seja,
a correo formal das modalidades externas atravs das quais as trocas so decididas
e realizadas.
Andr de Laubadre, por sua vez, acerca do equilbrio na teoria da impreviso para
contratos administrativos pontifica que em nosso critrio, uma clusula assim seria
sem valor. A aplicao da teoria da impreviso deve ser considerada como uma
regra de ordem pblica pela razo de que ela no constitui somente uma vantagem
pecuniria para o contratante, seno primeiramente, um meio de assegurar, no
interesse geral, a continuidade do funcionamento do servio pblico.
28
Logo,
podemos afirmar que se h enriquecimento e portanto desequilbrio poderia se
invocar a teoria da impreviso.
De igual forma, nosso Cdigo Civil (art. 156) celebra tanto o instituto do estado de
perigo como o de leso como sendo invocados formas de desequilbrio contratual,
concomitantemente e sempre com base na teoria da impreviso.
O que isso tem a ver com eficincia ? Ora, na medida em que a eficincia requer
mais resilincia (com o objetivo de cumprir o contrato), pode-se afirmar que se o
ganho esperado do contrato exceder os prejuzos imaginados no momento inicial da
contratao, h um ganho de eficincia. Uma vez vistos os conceitos principais da
chamada economia do contrato, podemos passar agora Teoria da Firma, outro
importante meio de entender direitos contratuais.
Teoria da Firma
28
Citado por Agustn GORDILLO. Mayores costos, imprevsion, indexacin. In: Rodolfo C. BARRA et al.
Contratos administrativos, t. I, Buenos Aires: Astrea, 1982.
38
Para Coase, a firma is an economic institution which performs multiple functions by
implementing different mechanisms which interact in complex, sometimes conflicting and still largely
unexplored, ways.
29
Um desses mecanismos o sistema de preos. De acordo com
Coase, para cada relao de troca, haver, pelo mecanismo do preo acertado, a
negociao de um contrato com a conseqente transferncia de direitos.
30
Assim,
como Langlois e Foss demonstraram, a teoria da firma nada mais do que uma
simplificao dos movimentos de coordenao econmica: a firma um feixe de
contratos que tem como objetivo reduzir os custos de transao, atravs da
coordenao qualitativa num mundo de incertezas.
31
A firma, por sua vez, opera no mercado, para Coase, uma estrutura que existe para
facilitar as negociaes ou as trocas econmicas, que servem apenas para diminuir o
custo de transao dos agentes econmicos racionais. o mercado que possibilita
que cada agente econmico consiga, cada um com sua forma especfica, viabilizar
tanto a satisfao de suas necessidades com os recursos escassos, como a
maximizao de seu bem-estar.
32
Existem maneiras onde a lei, os direitos contratuais e de propriedade servem como
regras para a minimizao de tais custos de transao, e que esto relacionadas ao
tipo especfico da atividade em pauta. Na seara comercial, Posner identifica duas
maneiras que isto pode ocorrer: The first is to reduce the complexity and hence the cost of
transactions by supplying a set of normal terms that, in the absence of a law of contracts, the parties
would have to negotiate explicitly. This function of the law is similar to that performed by a
standard form or contract. The second function is to furnish prospective transacting parties with
information concerning the many contingencies that may defeat an exchange sensibly.
33
29
Ronald COASE. op. cit. pg.
30
Idem, ibedem.
31
Langlois e Foss. Cit.
32
Ronald COASE. op. cit. pg.
33
Richard POSNER. op. cit. pg.
39
Se a reduo da complexidade na teia contratual e o fornecimento de informaes s
partes, para facilitar as trocas reduzem, por meio do direito, os custos de transao,
pode-se estabelecer, igualmente uma analogia com a regulao bancria, que neste
caso, diferente de um objetivo protetivo, visto anteriormente, busca simplesmente
suprir uma importante lacuna tanto de representao como de aproximao e
operao, ao tentar reduzir os custos de transao entre os agentes econmicos e
permitir a obteno do mximo bem estar por cada indivduo.
No trabalho de Coase, ele primeiro indaga porque as firmas existem. Afinal, poderia
haver outro tipo de organizao numa economia de trocas. Os indivduos poderiam
se reunir de forma diversa do que em pessoa ou estabelecimento comercial ou
industrial onde se executam todos os negcios inerentes ao seu contrato social.
Nossa Lei ptria tem viso radicalmente distinta. Para o Novo Cdigo Civil, no seu
art. 966, considera-se empresrio aquele que exerce profissionalmente atividade
econmica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios. O
novo Cdigo Civil adota a teoria da empresa e inspira-se no Codice Civile italiano, de
1942, que unificou a matria civil, comercial e a trabalhista. A teoria da empresa
valoriza a atividade econmica em sentido amplo e no apenas a mercancia ou os
atos de comrcio, mas ao mesmo tempo no segue a escola Coaseana da Teoria da
Firma, da entidade empresarial que visa reduzir custos de transao, por meio dos
contratos. Partindo do pressuposto que todo contrato deve ser oneroso, o nosso
Direito segue o Cdigo Comercial no modelo francs (Code de Commerce), de
dicotomia do direito privado. Embora com atraso, o novo Cdigo Civil alinha-se ao
atual sistema de tratamento das relaes entre particulares, no mbito da atividade
de fins econmicos, mas no contratuais. No entanto, no se trata de novidade no
direito brasileiro. Antes dele, a teoria da empresa foi adotada pelo Cdigo de Defesa
do Consumidor, de 1990, que trata os fornecedores como empresrios,
independentemente da natureza jurdica de suas atividades (imobiliria, industrial, de
prestao de servios, bancria, comercial, securitria etc), para o fim de proteger o
40
consumidor. Tambm a Lei 8.934/94 adotou a mesma teoria ao denominar de
Registro de Empresas e Atividades Afins o antigo e restrito registro de comrcio.
Segundo Fbio Ulhoa Coelho, cada vez mais dispensvel discernir a natureza civil
ou empresarial do exercente de atividade econmica, para aplicar o direito em vigor
no Brasil (Curso de Direito Comercial, vol.1, Saraiva, 6
a
. edio de 2002). O art. 966
reflete, pois, a adoo dessa teoria ao chamar de empresrio aquele que exerce
profissionalmente atividade econmica organizada para a produo ou a circulao
de bens ou de servios. Note-se, ainda, que a matrcula/inscrio do empresrio no
Registro de Comrcio no essencial para a sua caracterizao como no modelo do
Cdigo Comercial, mas ato obrigatrio para o exerccio regular da atividade
(art.967).
No pargrafo nico do mesmo artigo, nossa Lei define o que no empresrio:
No se considera empresrio quem exerce profisso intelectual, de natureza
cientfica, literria ou artstica, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exerccio da profisso constituir elemento de empresa. Esse dispositivo
parece voltado ao profissional liberal, como o advogado, mdico, psiclogo etc, que
no ser submetido ao regime geral da atividade econmica se o exerccio da
profisso no for elemento de empresa. E isso uma equvoco, j que, todas
profisses podem tambm se organizar no modelo de firma coaseano. A empresa
pode ser explorada por uma pessoa fsica ou jurdica. No primeiro caso, o exercente da atividade
econmica se chama empresrio individual; no segundo, sociedade empresria. Como a pessoa
jurdica que explora a atividade empresarial, no correto chamar de empresrioo scio da
sociedade empresria. (do mesmo autor e obra, pg.64). Concluo, pois, que o advogado,
enquanto em seu escritrio, assim como o mdico em seu consultrio, mesmo com
empregados, no sero considerados empresrios. Mas as sociedades de advogados
e mdicos, cada qual organizada para prestao de servios especficos, podero ser
empresas, tendo por empresrios os respectivos profissionais.
41
Segundo De Martini, os requisitos ou elementos qualificativos e distintivos do
empresrio (que o distinguem de uma firma) so os seguintes:
a) Exerccio de uma atividade
b) Natureza econmica da atividade
c) Organizao da ataividade
d) Profissionalidade do exercico de uma atividade
e) Finalidade da produo ou troca de bens ou servios
Ascarelli j havia escrito que o termo atividade econmica refere-se a atividade
criadora de riqueza, e portanto de bens que so assim compreendidos na sua
definio, a includos os servios. Galgano acresenta, segundo Verosa, que o
conceito bastante amplo, correspondente a toda espcie de produtores
profissionais, desde que produzam bens ou servios. Empresrio ou empresa,
portanto, so aqueles que, enquanto exercem atividade econmica, exercem-na de
forma organizada. Esta organizao o que Coase se refere como contratos, ou seja,
a forma organizada da empresa por meio dos contratos, consoante a Teoria da
Firma. Esta organizao no se refere ao simples uso de bens econmicos. Segundo
Verosa, no se trata de uma atividade passiva do titular, notando-se um aspecto
profundamente dinmico no papel do empresrio. Por sua vez as atividades
econmicas podem ser exercidas como meio ou como finalidade. No primeiro caso,
o resultado positivo alcanado, que o lucro, dever reverter integralmente em
benefcio da prpria atividade, no podendo ser distribudo aos seus titulares. o
caso das associaes beneficentes, que exploram algum ramo de comrcio, por
exemplo, a fabricao de gelias naturais para venda cujo produto dever ser
utilizado na sua finalidade. A este respeito, o NCC em seu artigo 53, resolvendo
antiga pendncia doutrinria, estabeleceu que as associaes sero constitudas pelas
associaes de pessoas que se organizem para fins no-econmicos.
Teoria Contratual, Teoria da Firma e Eficincia Econmica
42
At aqui definimos que a lei til para fazer valer qualquer contrato, mas isso
depende tambm de instituies que contribuem decisivamente no desenho e na
implantao do contrato, j que ele por definio incompleto. Vimos, nesta rpida
explanao da firma que ela , em si, um feixe de contratos. J tentamos definir o
que so contrato acima, mas importante quando se discute a natureza da firma
entender que do ponto de vista econmico, como afirma Dcio Zylberstzajn e
Rachel Sztajn, so os contratos que permitem que os indivduos realizem
investimentos e faam surgir o pleno potencial das trocas, atravs da reduo nos
custos associados a riscos futuros. Vistas como um conjunto de contratos as firmas
representam arranjos institucionais que so desenhados de modo a coordenar
(governar) tal conjunto de contratos envolvendo diferentes atores. Assim, so
considerados arranjos contratuais aqueles internos s firmas que definem as relaes
entre agentes especializados na produo, bem como os arranjos externos s firmas
que regulam as transaes entre firmas independentes. E ainda: um contrato
significa uma maneira de coordenar as transaes, provendo incentivos para os
agentes atuarem de maneira coordenada na produo que permite o planejamento
de longo prazo. A teoria prev que os contratos podero variar em termos de
eficincia, conforme o seu desenho defina incentivos para os agentes operarem.
A funo dos contratos na teoria da firma so trs, segundo Masten:
a) Prover a alocao eficiente do risco (teoria do agente)
b) Prover incentivos eficientes
c) Economizar em custos de transao (em especial ex-post).
A teoria da agncia (Theory of Agency) foi mais bem descrita por Berle e Means em
1933.
34
Em sntese, o problema da agncia se resume existncia de um principal e
de um agente que, como entidades (pessoas fsicas ou jurdicas) distintas, no
34
BERLE, Adolf; MEANS, Gardiner C. The modern corporation and private property. Nova York: Macmillan,
1933.
43
possuem os mesmos objetivos.
35
O principal deseja induzir o agente a agir com base
no seu interesse particular, mas no possui informaes completas nem sobre as
diversas variveis que afetam o negcio nem sobre a possibilidade real de dirigir o
comportamento do agente.
Como conseqncia dessas duas observaes concretas, enfrenta imensas
dificuldades de monitoramento. Com as restries existentes de informao, no h
possibilidade de previsibilidade da ao do agente, impedindo o principal de dirigir com
sucesso a conduta do agente.
36
Existem quatro aspectos caractersticos da relao entre principal e agente, descritos
com xito por Richard Stone. Primeiro, sempre h algum valor econmico criado
pelo agente, ou porque ele detm algum tipo de conhecimento tcnico especial, ou
porque possui mais informao, ou ainda porque conta com mais tempo, fatores
que lhe permite realizar a tarefa a um menor custo que o principal. Segundo, os
interesses do principal e os do agente so diferentes e distintos cada um visa
maximizar seus prprios interesses e recompensas, obtendo o maior retorno possvel pelos
seus atos. Terceiro, o agente pode tomar algumas medidas que desenvolvam seus
interesses particulares custa do principal. Finalmente, tem-se o quarto aspecto,
segundo o qual difcil (e dispendioso) monitorar ou verificar o comportamento do
agente. Mesmo que o principal possa controlar, intermitentemente, o que o agente est
fazendo, a avaliao do que deveria ter sido feito para atender aos anseios do
principal complexa.
37
35
Utilizou-se o vernculo em portugus, mesmo que a traduo de agent para agente possa ter conotaes
distintas. No direito ingls, h uma quase-disciplina autnoma do Direito Comercial Law of Agent , j
que extrapola os limites daquela matria. Ver STONE, Richard. Law of agency. Londres: Cavendish Publishing,
1995.
36
BAMBERG, Gnter; SPREMANN, Klaus. (Org.). Agency theory, information and incentives. Berlim: Springer-
Verlag, 1987. Para uma viso mais voltada sociologia, ver BARNES, Barry. Understanding agency: social theory
and responsible action. Londres: Sage, 2000.
37
STONE, Richard. op. cit. p. 13.
44
O problema que aflige a relao entre principal e agente cuida de dotar um sistema de
informaes ao principal, mas tambm de prover o agente com esquemas de
incentivos, de modo que, ainda que seus objetivos pessoais no coincidam, haja pelo
menos o mesmo interesse na conduo da suas atividades. No entanto, a resoluo do
problema envolve duas restries bsicas, quais sejam: primeiro, qualquer que seja o
incentivo dado, como ir se comportar o agente? Se pensarmos que ele sempre agir
no seu prprio interesse, o incentivo se constituir na mais importante prioridade, e
assim se tornar suficientemente atrativo para induzir o agente a relacionar-se com o
principal. Da a dvida: qual deve ser o grau de atratividade ideal para incentivar o
agente sem aumentar os custos de transao na economia nem impor um padro
rgido de sancionamento? Uma das idias, na tentativa de responder a essa questo,
seria o estabelecimento de um contrato entre o principal e o agente.
38
A introduo de informao assimtrica e risco moral permite que se parta do
pressuposto fundamental do comportamento maximizador beningo e se insira a
possibilidade de existirem fenmenos no observveis que afetam a deciso dos
agentes, e portanto a performance dos contratos. A teoria do agente-principal
assume que em um dado contrato tpico, o estado da natureza e o esforo da parte
contratada
O segundo aspecto, diz respeito aos incentivos e ao seu papel no desenho dos
contratos.
conhecida a experincia pavloviana do co provocado por um sino e a observao
de seu comportamento a partir desse estmulo. O Direito prescritivo, uma vez que
estabelece normas de conduta que devem ser seguidas por todos e se vale de
38
J se quis comparar a regulao a um contrato. BHATTACHARYA, S.; THAKOR, A. Contemporary
banking theory. Journal of Financial Intermediation, New York, v. 3, n. 1, p. 212, 1993. A contract determines
the actions to be taken by each party agreeing to it, and, possibly, the measures to be imposed on other
parties who fail to undertake the agreed-upon actions. Traduo do Autor: Um contrato determina as aes
a ser tomadas por cada parte que est de acordo com ele, e, possivelmente, as medidas a ser impostas quelas
partes que falharam em comprometer-se com as aes consensadas.
45
mecanismos de coao e sano no seu descumprimento. O que estamos discutindo
em Law & Economics pode resumir-se seguinte indagao: se queremos eficincia e
cumprimento dos contratos no sistema econmico, qual deve ser o padro de
incentivos ao correto cumprimento das normas ?
Ronald Dworkin contesta tal viso, alegando que o Direito antes um meio poltico
em que a comunidade atua e interage de forma a manter coesos todos os princpios
sociais; que existe livre-arbtrio, igualdade material e igualdade formal na Lei, que
garante, mais do que a maximizao da riqueza, a existncia da prpria sociedade.
Dworkin alega ainda que, muitas vezes, as decises individuais no se harmonizam
necessariamente com os objetivos sociais, e a estrutura legal deve existir para
incentivar comportamentos baseados no apenas na racionalidade econmica, mas
tambm em outros princpios no racionais, como a distribuio de renda e
objetivos, ou a reduo das desigualdades sociais.
O argumento dos incentivos ao comportamento, entretanto, continua muito forte.
As partes podem ter incentivos diversos para litigar: algumas tm interesses a longo
prazo, outras, a curto prazo. H ainda menor ou maior interesse patrimonial no
conflito e na sua soluo. O argumento de Paul Rubin que, se o sistema jurdico
for eficiente, no haver incentivo em desafiar as leis e os procedimentos que o
definem. Se, por outro lado, as partes se beneficiarem das ineficincias como
acontece no Brasil , tais leis ou normas sero contestadas a todo instante. Aqui, os
incentivos so reforados pelos precedentes, tendo em vista que, quando possvel,
no sistema jurdico racional, os juzes seguem decises anlogas tomadas em casos
passados. No entanto, pode-se supor que as partes tambm tm percepes diversas
sobre as decises judiciais precedentes. Por exemplo, se uma empresa em atividade
contnua est constantemente envolvida em questes de igual teor (por exemplo, os
bancos e o direito do consumidor), h um incentivo implcito para que antecedentes
jurisprudenciais sejam observados. Por oposio, o caso isolado de um indivduo
pode no ser pautado pelo precedente.
46
Por fim, o incentivo deve mesmo ser financeiro monetrio, de preferncia.
Schopenhauer definia motivao como a relao de um ato com outros que o
justificam e explicam. Incentivos e desincentivos pecunirios continuam sendo a
melhor orientao para o comportamento correto do cidado.
Por fim, vamos cuidar da economia dos custos de transao. Vimos no captulo
anterior, o conceito de custos de transao. Se houvesse uma economia simples,
sem qualquer custo de transao. Todos querem assim reduzir os seus custos de
negociar, formalizar e realizar direitos. H, primeiro, assimetria de informaes
como vimos, aqueles fenmenos que no foram ainda revelados, e que referem-se
aes no observveis. Se a teoria do agente considera aspectos ps-contratuais, a
reduo dos custos de transao referem-se a fenmenos pr-contratuais. Evitar
promessas que no possam ser cumpridas ou formalizar a entrega de bens ou
direitos no futuro claro meio de reduzir custos de transao.
O desenho ou a escolha dos termos dos contratos ser funo das regras legais, da
capacidade de coero das cortes de justia e do surgimento de mecanismos
privados de salvaguardas para os agentes envolvidos com os contratos. Sendo as
firmas vistas como arranjos alternativos depender de razes de eficincia sendo
superiores aqueles que oferecerem incentivos e mecanismos de soluo de disputas
mais eficientes.
Cooter e Ullen assim alinham as duas teorias contratuais, a dos contratos e a da
firma, como sendo (p./ 222) garantindo o cumprimento das promessas, as cortes
criam os incentivos para cooperao eficiente.
47
Apndice : Teoria do Contrato Viso Jurdica
Requisitos do contrato
A doutrina estabelece os requisitos para a validade do contrato, subdividindo-os em
extrnsecos e intrnsecos. Aqueles se classificam como pressupostos e estes como
elementos. Citando Carnelutti, o Prof. Vicente Ro ensina que o jurista adota trs
termos: pressupostos, elementos e circunstncias: Os pressupostos representam o que deve
existir antes do ato na pessoa de quem age, ou na coisa sobre a qual se age, a fim de que o ato
possa produzir efeitos jurdicos; os elementos significam aquilo que deve existir no ato, para este
poder realizar a sua juridicidade; as circunstncias dizem respeito ao que deve existir fora do ato,
isto , fora da pessoa e da coisa, para que efeitos jurdicos possam advir... Os pressupostos, dentro
desse critrio, se distinguem em trs espcies: a capacidade, a legitimao e a idoneidade do objeto.
Em trs espcies tambm se distinguem os elementos: forma, inteno igual a vontade e causa igual
a fim. Ainda em trs espcies se distinguem as circunstncias: lugar, tempo e condio.
39
Os elementos so considerados a base do sistema de classificao dos atos jurdicos,
podendo ser conceituados como as partes que em seu todo formam ou constituem
as coisas materiais, aplicando essa noo analogicamente imateriais. Os elementos se
distinguem em essenciais (genricos e especficos), naturais e acidentais. Os elementos
essenciais dos atos jurdicos so aqueles que os compem, qualificam e distinguem
dos demais atos e elementos, sem os quais aqueles atos no se formam ou se
aperfeioam. Os elementos naturais so aqueles disciplinados pelo ordenamento
jurdico para prevalecer no silncio das partes (por exemplo, a garantia da evico a
cargo do vendedor), podendo ser modificados ou excludos, como a lei o permitir.
Os acidentais so os elementos cuja incluso nos atos jurdicos suscetveis de recebe-
los s da vontade dos que dispem ou contratam depende, como a condio, o
39
RO, Vicente. Ato jurdico. 4 ed., 2 tiragem, So Paulo, RT, 1998, pp. 90/91 (explica que Carnelutti estuda
minuciosamente os requisitos do ato jurdico em sua Teoria Generale Del Diritto (3 ed., 1951, v. I, ns. 301 e ss., p. 235
e ss.) e distino adotada se reporta no n. 315, p. 306, de suas Istituzioni Del Nuovo Processo Civile Italiano, 4 ed.,
1951.)
48
termo, o modo, a clausula penal e mais clusulas que, assim criadas, nos atos
jurdicos se integram.
40
Para fins do presente estudo, adotaremos a norma do art. 104 do Novo Cdigo
Civil, a qual apresenta os elementos essenciais e imprescindveis do negcio jurdico:
agente capaz, objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel; e forma prescrita
ou no defesa em lei, sem os quais (ou se algum dos quais) o ato jurdico no se
constitui, no se compe, podendo, assim, o contrato pode ser considerado nulo ou
anulvel.
Dos elementos essenciais do contrato
Agente capaz
lvaro Villaa Azevedo comentando o artigo supra, explica a diferena entre
capacidade e legitimidade. A incapacidade absoluta do agente torna nulo o ato de
vontade, enquanto a incapacidade relativa torna anulvel este ato. O Codex Civilista
elenca as incapacidades absolutas e relativas nos artigos 3 e 4, onde esses agentes
so representados ou assistidos para atuar na vida civil.
41
Enquanto por vezes o agente capaz para um ato, pode no ser legtimo. O Cdigo
Civil contm inmeros exemplos: o artigo 497, que trata da compra e venda de bens
em hasta pblica; o artigo 496 que impede a venda de bens de patrimnio sem
concordncia dos filhos; ainda, o artigo 544, quando considera adiantamento de
legitima uma doao de ascendentes para descendentes ou de um cnjuge a outro; e,
por fim, o artigo 548, o qual declara nula a doao de bens quando o doador no
reserva para si parte desses bens ou rendimentos suficientes sua prpria
subsistncia.
40
Idem, pp. 89/90
41
Cdigo civil comentado, vol. II, So Paulo, Atlas, 2003, p. 46.
49
Nesses casos, digamos que a lei no procurou restringir a capacidade de contratar,
mas, resguardando certos princpios, inibir essa capacidade geral de atuao ante a
um bem maior previsto e entendido como tal pelo legislador. Seria como se, capaz o
agente, estivesse ilegitimado ao negocio, no autorizado pela lei a pratic-lo.
42
Objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel
Na mesma obra, continua ensinando o mestre, que: Quanto licitude e possibilidade do
objeto, existe o grande tronco de impossibilidade, que as faz nascer. Isso porque, quando a
impossibilidade jurdica, o objeto ilcito, pois contraria a lei, sendo nulo, por isso, de pleno
direito, o negcio jurdico com esse objeto.
43
Caso o objeto no seja determinado ou determinvel, a insegurana contratual
patente, pois no h como se cumprir um acordo quando no se aponta o seu
objeto. Certamente uma das partes restaria prejudicada, o que no admite o Direito,
tornando-se nulo o contrato estabelecido.
A forma
Reza o artigo 107 do Novo Cdigo Civil que a validade da declarao de vontade
no depender de forma especial, seno quando a lei expressamente a exigir.
Assim, entende-se que o elemento forma prescrita ou no defesa em lei no
essencial validade de todos os negcios jurdicos, seno daqueles que a lei
expressamente o determinar.
Neste sentido, o artigo 108 do Cdigo civilista, que exige a escritura pblica
registrada para validar a constituio, transferncia, modificao ou renncia de
42
AZEVEDO, lvaro Villaa. Cdigo civil comentado, vol. II, So Paulo, Atlas, 2003, p. 47.
43
Idem, p. 48.
50
direitos reais sobre imveis; a exigncia da escritura pblica para a constituio das
fundaes e feitio de testamento no artigo 62 do mesmo diploma legal; e, por fim, o
artigo 1.653, tambm do novo Cdigo, que determina que o pacto antenupcial
dever ser formalizado por escritura pblica, sob pena de nulidade; dentre outros.
Valores e princpios inerentes ao direito contratual
O vocbulo princpio tem para o direito uma significao prpria. H, portanto, um
sentido jurdico que, na lio de De Plcido e Silva: quer significar as normas elementares
ou os requisitos primordiais institudos como base, como alicerce de alguma coisa. E, assim,
princpios revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda
espcie de ao jurdica, traando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operao jurdica.
44
J. Franklin Alves Felipe elenca os princpios contratuais como sendo princpios
contratuais universalmente aceitos o da autonomia da vontade, com as limitaes
das leis de ordem pblica e dos bons costumes e o da fora vinculante dos
contratos, o pacta sunt servanda, que s excepcionalmente pode ser quebrado.
45
Princpio da autonomia da vontade
Maria Helena Diniz discorre sobre o conceito de princpio da autonomia da vontade
como sendo o princpio: no qual se funda a liberdade contratual, como melhor lhes convier,
mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem
jurdica, envolvendo, alm da liberdade de criao do contrato, a liberdade de contratar ou no
contratar, de escolher o outro contraente e de fixar o contedo do contrato, limitadas pelas normas
de ordem publica, pelos bons costumes e pela reviso judicial do contrato.
46
44
De Plcido e Silva. Vocabulrio jurdico, v. 3 e 4, p. 447.
45
FELIPE, J. Franklin Alves. Contratos Bancrios em Juzo, 2 ed., Ed. Forense, RJ, 1999, p.5
46
DINIZ, Maria Helena, op. Cit., p. 69 e 75.
51
A base da teoria dos vcios do consentimento, presente nos art. 138 a 165 do
Cdigo Civil de 2002, encontra-se no dogma da autonomia da vontade, de onde
retiramos o postulado que s a vontade livre e consciente, manifestada sem
influncias externas coatoras, dever ser considerada pelo direito.
47
E apesar de o
consentimento no estar expresso no artigo 104 do Cdigo Civil, a doutrina entende
que o mesmo elemento substancial validez de todos os negcios jurdicos, nos dizeres de
lvaro V. Azevedo
48
, ressaltando, outrossim, que viciado o negcio pelo
consentimento, este mesmo negcio poder ser anulado, nos termos dos artigos 145
e 171 novo Cdigo Civil, ou se for o caso, impe-se a sua nulidade ante os artigos
147 e 166 do mesmo Codex.
Citando Silvio Rodrigues, relata J. Franklin Alves Felipe
49
: Discorrendo sobre as
restries impostas ao princpio da autonomia da vontade ensina SILVIO RODRIGUES:
Ora, o princpio da autonomia da vontade esbarra sempre na limitao criada por lei de ordem
publica. Esbarra, igualmente, na noo de bons costumes, ou seja, naquelas regras morais no
reduzidas a escrito, mas aceitas pelo grupo social e que constituem o substrato ideolgico inspirador
do sistema jurdico (Direito Civil, 17 ed., Saraiva, vol. 3, p. 17).
E ao falar da ordem pblica constante inerente aos contratos ensina que A
interveno estatal nos contratos conhecida por dirigismo estatal. Exemplificando, o Cdigo de
Defesa do Consumidor probe, nas relaes jurdicas a ele submetidas, a clusula de no indenizar
(art. 51, I). Logo, no podem as partes pactuar contra essa norma de ordem pblica, estabelecendo,
em relao de consumo, a inexistncia do dever de indenizar em determinadas situaes.
47
MARQUES, Claudia Lima. Contratos do cdigo de defesa do consumidor. So Paulo: RT, 2002, p. 50.
48
AZEVEDO, lvaro Villaa, op. cit., p. 49/50
49
FELIPE, J. Franklin Alves, op. cit., p. 5
52
Tese esta reforada pela Prof. Maria Helena Diniz, ao tratar com zelo do assunto:
preciso no olvidar que a liberdade de contratar no absoluta, pois est limitada pela
supremacia da ordem pblica, que veda convenes que lhe sejam contrrias e aos bons costumes, de
forma que a vontade dos contraentes est subordinada ao interesse coletivo. Pelo Cdigo Civil, art.
421, a liberdade de contratar ser exercida em razo e nos limites da funo social do contrato.
50
O comando do artigo 5, XXXV, da Constituio Federal, no sentido de que,
sendo o contrato um ato jurdico perfeito, o mesmo no pode ser afetado por leis
posteriores:
art. 5 ... XXXV - A Lei no prejudicar o direito adquirido, o ato jurdico perfeito e
a coisa julgada.
Registra CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, citado por J Franklin Alves Felipe:
Mas, quando o principio da no-retroatividade dirigido ao prprio legislador, marcando os
confins da atividade legislativa, atentatrio da Constituio a lei que venha a ferir direitos
adquiridos, ainda que sob a inspirao da ordem pblica. (Instituies de Direito Civil, 3 ed,
Forense, vol I, p. 110)
51
J. Franklin explica que todo contrato tem seu incio com a manifestao de vontade
das partes, respeitadas as normas de interveno estatal vigentes por ocasio do
pacto. E ainda que as regras ajustadas tem fora de lei e devem ser cumpridas tal
como as partes se obrigaram (pacta sunt servanda), assegurando-se s partes o direito
de reviso das condies pactuadas, como ocorre, por exemplo, em razo de fatos
supervenientes e imprevisveis que torne as obrigaes assumidas no contrato
excessivamente onerosas para uma das partes (rebus sic stantibus).
Princpio do consensualismo
50
DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 70.
51
FELIPE, J. Franklin Alves, op. cit., p. 6.
53
Nos dizeres de Maria Helena Diniz, segundo esse princpio, basta o simples acordo
de duas ou mais vontades para que gere o contrato vlido pois a maioria dos
negcios jurdicos bilaterais consensual, embora alguns, por serem solenes, tenham
sua validade condicionada observncia de certas formalidades legais.
52
Princpio da obrigatoriedade da conveno
Denomina-se o princpio atravs do qual as clusulas contratuais devero ser
fielmente cumpridas (pacta sunt servanda), tendo-se como penalidade a execuo
patrimonial do inadimplente.
53
Esta inadimplncia confere outra parte o direito de buscar a interveno estatal
para que se faa cumprir o contrato, que foi realizado com base em um acordo de
vontades das partes contratantes, porm que no momento no poder ser efetivado,
por culpa de um (ou mais) contratantes.
Uma vez valendo a regra geral de que o contrato faz lei entre as partes, desde que
pactuado validamente e preenchidos os requisitos legais, o pacta sunt servanda no
absoluto se for caso de reviso contratual, quando se verifica que houve
desequilbrio conseqente de fatos imprevisveis, prejudicando um contratante em
relao ao outro, justificando-se, assim, o estabelecimento do statu quo ante pela
clusula rebus sic stantibus.
54
52
DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 75.
53
Idem, p. 73.
54
Cdigo Civil Brasileiro. Art. 478. Nos contratos de execuo continuada ou diferida, se a prestao de uma das
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinrios e imprevisveis, poder p devedor pedir a resoluo do contrato. Os efeitos da sentena que a
decretar retroagiro data da citao; Art. 479. A resoluo poder ser evitada, oferecendo-se o ru a modificar
eqitativamente as condies do contrato; Art. 480. Se no contrato as obrigaes couberem a apenas uma das
partes, poder ela pleitear que a sua prestao seja reduzida, ou alterado o modo de executa-la, a fim de evitar
onerosidade excessiva.
54
Orlando Gomes ensina que: Passou-se a aceitar, embora em carter excepcional, a
possibilidade de interveno judicial no contedo de certos contratos, admitindo-se, assim, que o
principio da intangibilidade pode comportar excees. Em determinadas circunstncias, a fora
obrigatria dos contratos pode ser quebrada pela autoridade do juiz.
55
O Cdigo de Defesa do Consumidor tambm prev, em seu artigo 6, V, a reviso
contratual, quando se verifica onerosidade excessiva oriunda de fato superveniente,
sendo desnecessrio que tal fato seja extraordinrio e imprevisvel.
56
Princpio da relatividade dos efeitos do contrato
Lembra Maria Helena Diniz, citando o art. 1.372 do Cdigo Civil italiano, que o
contrato tem fora de lei entre as partes.
57
Neste caso, a avena contratual vincula somente as partes na mesma envolvida, e
no aproveita sequer prejudica a terceiros. Obviamente existem excees, tais como:
a) herdeiros universais de um contratante, lembrando, porm, que a obrigao
do de cujus estar limitada s foras da herana;
b) estipulao em favor de terceiro, estendendo seus efeitos a outros, sendo-
lhes conferidos direitos e tambm obrigaes.
Princpio da boa-f
55
GOMES, Orlando. Contratos, 1 ed., p. 39, apud Izner Hanna Garcia. Ilegalidades nos contratos bancrios. Rio de
Janeiro. AIDE Editora, 2000, p.30
56
DINIZ, Maria Helena Diniz, op. cit., p.74.
57
idem, ibidem.
55
No Cdigo Civil temos, no art. 422, que os contratantes so obrigados a guardar,
assim na concluso do contrato, como em sua execuo, os princpios da probidade
e da boa-f.
Pode-se argumentar, como se dir em captulo adiante que a contribuio do Cdigo
de Defesa do Consumidor normatizao brasileira incomensurvel. Lembremos
que foi o primeiro diploma legal no Brasil a adotar a boa-f como clusula geral - at
mesmo antes do Cdigo Civil (10.406/02).
Maria Helena Diniz descreve esse princpio como intimamente ligado ao interesse
social, uma vez que as partes devero agir com lealdade e confiana recprocas.
58
certo dizer que nas relaes de consumo, muitos dos deveres que no Direito dos
Contratos tm sua fonte na boa-f, encontram no CDC previso legal especfica, a
remeter a fundamentao da sentena diretamente lei. Podemos enumerar, a ttulo
de exemplo, os enunciados sobre a oferta (art. 30), sobre o dever de informao
(arts. 9, 12, 14, 31 e 52), sobre os deveres de lealdade e de probidade na publicidade
(arts. 36 e 37).
Contudo, o Cdigo de Defesa do Consumidor expressa a boa-f em dois artigos:
a) No art. 4, ao dizer que a Poltica Nacional de Relaes de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua
dignidade, sade e segurana, a proteo de seus interesses econmicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparncia e harmonia das
relaes de consumo -, estabelece que tal poltica dever atender, entre
outros, ao princpio (inc. III) da harmonizao dos interesses dos
participantes das relaes de consumo e compatibilizao da proteo do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econmico e
tecnolgico, de modo a viabilizar os princpios nos quais se funda a ordem
58
Idem, ibidem.
56
econmica (art. 170 da CF), sempre com base na boa-f e equilbrio nas
relaes entre consumidores e fornecedores.
b) No art. 51, ao elencar as clusulas abusivas, afirma serem nulas de pleno
direito, entre outras, as clusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e servios que estabeleam obrigaes consideradas inquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem, ou sejam
incompatveis com a boa-f ou a eqidade (inc. IV).
Exerccio: leia o texto abaixo e responda s seguintes perguntas:
UMA NOVA TEORIA DE DIREITO CONTRATUAL
INTRODUO
Para que melhor se compreenda os contratos em espcie, regulados no novo Cdigo Civil,
como relaes jurdicas obrigacionais, impende considerar, de imediato, acerca das
clusulas gerais dos contratos, acertadas pelos arts. 421 e 422, com emprego pertinente a
todos eles. Tais disposies introdutrias articulam um direito contratual reestruturado ou
reconstrudo, pronto a servir ao princpio de socialidade, um dos pilares bsicos do direito
moderno.
Esse princpio celebra a primazia ou preponderncia dos chamados valores plurais ou
coletivos em face dos equivalentes axiolgicos do plano individual, em prestgio e tutela do
bem estar coletivo. Encontra-se ele na funo social do contrato ( art. 421 ), na proteo ao
hipossuficiente da relao contratual ( art. 423 ), na natureza social da posse, a ditar
redues de prazo para a usucapio ( arts. 1.238 nico , 1.239, 1.240, 1.242 e 1.242
nico ) ou a permitir a expropriao judicial ( art. 1.228 4 ), como em outras disposies.
No demais lembrar que essas regras vestibulares, pela aplicabilidade genrica de
estipulao, empreendem e plasmam uma Nova Teoria Geral dos Contratos, suficientes a
informar a relevncia do trespasse do modelo clssico contratual, individualista e
patrimonializante, para um modelo moderno de produo coletiva dos interesses
contratados, a humanizar o direito contratual como fonte primria de interesse social.
57
Bem a propsito, a conciliar os valores individuais e coletivos do contrato, no implexo de
uma correlao inarredvel, situa Miguel Reale ser o contrato um elo que, de um lado, pe
o valor do indivduo como aquele que o cria, mas, de outro lado, estabelece a sociedade
como o lugar onde o contrato vai ser executado e onde vai receber uma razo de equilbrio
e medida.
Por tal razo, prepondera o direito como funo, segundo a anlise funcional defendida por
Norberto Bobbio. Impregnado, modernamente, pelos influxos axiolgicos e sociolgicos, e
nutrido, ainda, pelas repercusses indeclinveis do econmico e do poltico, serve a sua
funcionalidade a ditar uma nova concepo para a valorizao do contrato, enquanto
fenmeno de relao de condutas de intersubjetividade e destinado como exemplo de
concretitude do prprio direito.
O contrato no apenas um instrumento jurdico, de interesses puramente interpessoais ou
de operao de proveitos. O seu contedo deve importar nos fins de justia e de utilidade,
em superao do egocentrismo individual onde permeiam a fragilizao do dbil e a
dominao do mais forte.
Forte em tais lineamentos, o novel Cdigo Civil Lei n 10.406, de 10.01.2002 ao
construir o negcio jurdico como categoria geral, gnero do qual o contrato espcie,
fornece uma srie de normas prprias aos contratos, sob inspirao orientadora dos
princpios de eticidade, socialidade e operabilidade, que o determinaram preciso e
contemporneo, de forma a estabelecer um modelo social do contrato, assentado no
primado da integrao das relaes jurdicas com uma sociedade livre, justa e solidria,
segundo o ditame do art. 3, I, da Constituio Federal.
Nessa diretriz, expressivas inovaes apresentadas so paradigmas de uma teoria contratual
concentrada na finalidade social atenta ao perfazimento de noes programticas de justia
e de utilidade, com efetividade no adequado e correto equilbrio das relaes contratuais,
em perspectiva da equivalncia das prestaes, de razoabilidade indiscutvel, e, sobremodo,
da estabilidade obrigacional no plano ftico da realidade.
Os princpios gerais do contrato ganham dimenso axiolgica mais dinmica, em denso
atendimento aos valores da solidariedade e da cooperao, a observar que o contrato
destina-se a atender interesses sociais relevantes numa sociedade de consumo e de
produo, massificada por interesses multifacetados e at antagnicos. O contrato deixa de
ser apenas uma operao jurdica, com fins econmicos, nele obtendo profundidade a
responsabilidade social dos contratantes, atuando com probidade, boa f e em recepo de
preceitos de ordem pblica.
A autonomia volitiva, determinada pelo liberalismo econmico, como princpio da
autonomia da vontade, atenuada por tais diretrizes, porquanto est a exigir que a
58
liberdade de contratar seja exercida com paridade entre as partes no tocante ao prprio
contedo do contrato, igualdade que se reclama substancial, em favor da correo do
negcio.
A irrevogabilidade ou imutabilidade do pacta sunt servanda, cujo axioma configura o
princpio da obrigatoriedade dos contratos, em observncia de que os pactos devem ser
cumpridos ( art. 427 ), com risco de perdas e danos pelo inadimplemento ( art. 389 ), cede
lugar a uma relatividade dogmtica, a reprimir a falta de idntica liberdade entre as partes
contratantes, o proveito injustificado, a onerosidade excessiva, admitindo a correo dos
rigores contratuais ante o desequilbrio contratual.
O reconhecimento do valor social do contrato surge como dirigismo contratual, a
introduzir no novo Cdigo Civil institutos como o do estado de perigo ( art. 156 ) da leso
( art. 157 ), e da clusula rebus sic stantibus, segundo a teoria da impreviso ( arts. 478-
480 ) representativos do Estado Providncia, em protecionismo social ao mais fraco nas
relaes contratuais.
A primeira novidade a oferecida pelo art. 421 do Cdigo, acentuando a diretriz da
sociabilidade do direito, com o princpio da funo social do contrato, ao dispor que a
liberdade de contratar ser exercida em razo e nos limites da funo social do contrato.
A moldura limitante do contrato tem o escopo de acautelar as desigualdades substanciais
entre os contraentes, como adverte Jos Loureno, valendo como exemplo os contratos de
adeso. O reflexo social da norma, serve de escopo de garantia ao ntegro equilbrio entre
os interesses dos contratantes e os da comunidade, superando a dicotomia entre os
interesses privados e coletivos.
Por seu turno, o art. 422 tutela a probidade e a boa f objetiva, o primeiro como o
conjunto de deveres ticos, exigidos nas relaes jurdicas, em especial os de veracidade,
integridade, honradez e lealdade, e o segundo, como corolrio daquele, implicando essa
clusula geral de boa f, funo integradora e de controle do contrato, como regras de
conduta segundo os padres exigveis de crena objetiva de comportamentos idealizados.
Jones Figueirdo Alves
Desembargador do Tribunal de Justia do Estado de Pernambuco
CAPTULO VI: DIREITOS DE PROPRIEDADE
Direitos de Propriedade
Primeiro, fundamental revisitar o conceito de propriedade, j que propriedade e mercado (e
trocas no mercado operacionalizadas por contratos) so conceitos prximos e interligados; muitos
autores entendem ser requisito indispensvel a existncia de propriedade e mercado para que as
trocas possam se realizar.
1
O conceito de propriedade, ao menos primitivamente, nasce da noo
de uma caracterstica que pertence a todos os seres de uma mesma espcie, mas que pode tambm
pertencer a outras a propriedade fsica dos elementos um bom exemplo dessa definio.
No sentido jurdico, contudo, a propriedade um direito. um direito daquele que possui ou
pode reivindicar uma coisa em virtude de lei ou, historicamente, ao menos em virtude de um
direito natural. Segundo a lapidar definio do Code Civil francs, a propriedade o direito de gozar e
de dispor das coisas de maneira absoluta, desde que no se faa delas uso proibido pelas leis ou regulamentos.
Podemos tambm ver a propriedade como um conjunto de direitos, como uma estrutura que
incentiva as relaes humanas, ou ainda um feixe de direitos por intermdio dos quais se torna
possvel promover as regras da maximizao das trocas no mbito das satisfaes humanas. Na
definio de Gary Libecap, tais direitos de propriedades so os institutos sociais que definem ou
delimitam a escala de privilgios outorgados aos indivduos para ativos especficos.
2
No entanto, h uma outra acepo prpria do que sejam direitos de propriedade. Na literatura
econmica, h duas conotaes distintas: a de Alchian (1965) e Cheung (1969) que definem tais
direitos como sendo simplesmente a habilidade de dispor de um pedao de propriedade. Uma
segunda definio, mais antiga e conhecida aquela que consideram direitos de propriedade aquilo
que o Estado assinala como tal a uma pessoa fsica ou jurdica.
3
Quando algum pode dispor de
uma propriedade, como por exemplo, a venda de um imvel, Barzel chama de direitos econmicos
1
Vide de IRTI. Natalino. Lordine giuridico del mercato. Biblioteca di Culturna Moderna, Laterza, 1998.
2
Gary LIBECAP. 1995. Contracting for property rights. Cambridge University Press, pg. 15
3
Yoram BARZEL. Economic analysis of property rights. Cambridge University Press. Pg. 3
de propriedade. J a definio do Estado assinalando o que direito de propriedade para um ou
para outro, Barzel entende que tratam de direitos legais de propriedade. Um o objetivo final
pode dispor economicamente de uma propriedade enquanto os direitos legais so meios de se
atingir a tais direitos econmicos.
4
Assim, Barzel define os direitos de propriedade de forma
diferente do que vimos at aqui: para ele, so os direitos que do a habilidade individual de
consumir os bens de um ativo (ou os servios de um ativo) diretamente ou sendo consumido
indiretamente, por via das trocas. Como conseqncia imediata desta definio, se um indviduo
tem poucos direitos (ou simplesmente no tem direitos) sobre bens comuns ou sobre bens
roubados, por exemplo dizemos que ele no detm a propriedade. Bens que podem sofrer
restries econmicas (uma jazida inacessvel de minrio de ferro na Antrtica) ou legais (por
exemplo, um bem que no pode ser vendido em funo de um gravame legal (ie. Hipoteca) ou
ainda bens que no podem ser trocados, no tem direitos de propriedade a eles assinalados.
Para Srgio Werlang o interesse privado e egostico que motiva a propriedade privada. Ele afirma
que suficiente este esprito individualstico para garantir a existncia da propriedade privada no
mundo. Com efeito, se no houvesse a instituio da propriedade privada, indivduos movidos por
sua vontade prpria brigariam continuamente pela posse de todos os bens. Isto porque livre de
amarras que definem que determinado bem pertence a este ou aquele indivduo, cada um quer mais
para si.
5
Com a introduo da propriedade privada fica claro o que pertence a quem. Delimita-se
claramente um espao no qual a liberdade de um no pode ser invadida por outro. E se uma
pessoa apropriasse-se ilegalmente de algo que pertencesse a outrem, estaria cometendo uma
transgresso. Portanto, seria passvel de punio pela sociedade por este ato. Dessa forma, a
disputa contnua pela posse tornar-se-ia muito custosa (poderia custar a liberdade daquele que age
ilicitamente) e assim as disputas acabariam. O bem-estar da populao, justificadamente, muito
maior ento com a instituio da propriedade privada do que sem ela.
4
Idem, ibedem.
5
Sergio WERLANG. A propriedade privada e o MST. Valor Econmico. 14-Jul-2003. pg. A-7
No se sabe ao certo como e quando nasceu o conceito de propriedade e como foram assinalados
os primeiros direitos de propriedade do ponto de vista histrico. H indcios de que com o invento
da escrita, cerca de 3.100
a.c., j havia os primeiros registros de venda de terras privadas. No nicio
do perodo histrico da Sumria, sabe-se que, no reino de Uruk III (3.100 a.c 2.900 a.c) alguns
direitos de propriedade foram outorgados por editos ou tbuas e h prova conhecida e
irrefutvel da aplicao de sanes contra avanos na propriedade alheia, como ns a conhecemos,
pelo famoso Cdigo de Hamurabi (que reinou entre 1.792 a 1.750 a.c).
6
No entanto, foi o Antigo Testamento que celebrou o que se conhece como a defesa do conceito
de propriedade privada ou seja, a proibio ao furto. no Cdigo da Aliana, que ficou mais
tarde conhecido como Os Dez Mandamentos, que se d um cabedal de regras muito mais
precisas e extensas do que o comando sinttico no roubars que se conhece hoje em dia. Com
efeito, no captulo bblico em que cuida de tal assunto, reveste-se de especial sentido. Denomina-se
xodo, e o segundo livro de Pentateuco: a traduo da palavra grega sada, e cuida
exatamente disso, da sada do povo judeu do Egito. Trata-se, portanto e emblematicamente, de
momento onde se celebra dois valores caros ao cristianismo ocidental: a libertao e a aliana com
Deus. A libertao dada pela fora de Moiss, que com os judeus, cruzam o Mar Vermelho em
destino ao Monte Sinai. J a aliana o resultado do pacto que se realiza com Deus. O pacto que
oferecido aos israelitas o cumprimento da lei: a legislao moral, civil e religiosa, a qual se deve
obedincia. E um dos primeiros compromissos desse pacto exatamente o direito de propriedade.
O texto bblico uma longa cartilha sobre direitos de propriedade, como se disse, muito mais
abrangente do que o clebre mandamento cristo hoje conhecido: Se algum furtar boi ou ovelha,
e o degolar ou vender, por um boi pagar cinco bois, e pela ovelha quatro ovelhas. Se o ladro for
achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu no ser culpado do sangue. (...) Sobre todo
o negcio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado mido, sobre roupa, sobre toda a
6
Idem, ibedem.
coisa perdida, de que algum disser que sua, a causa de ambos ser levada perante os juzes;
aquele a quem condenarem os juzes pagar em dobro ao seu prximo.
7
Contudo, (mesmo que no seguindo uma cronologia definida) no Direito Romano, que se d o
grande avano na consagrao do Direito da propriedade privada. O Direito Romano abre
caminho definitivo da preocupao com a idia de propriedade, de direitos individuais. Em todo o
Direito Romano, intensa a noo de propriedade e ela quem permeia todos os outros institutos.
A noo de direito de propriedade est intrinsecamente relacionada ao direito patrimonial. O
Direito Patrimonial se confunde ento com os direitos de propriedade como sendo o conjunto de
todos os direitos de dispor de um ativo, direta ou indiretamente, direitos estes atribudos a uma
pessoa determinada e que podem ser avaliados economicamente. Assim, para os Romanos,
patrimnio era o conjunto de bens corpreos pertencentes ao pater-familia, (a prpria palavra
patrimnio vem de pater), ou o chefe de famlia. Dividiam-se ainda, os outros direitos no-
patrimoniais como aqueles atribudos a uma pessoa e que no fossem possveis de avaliao
econmica, como por exemplo o direito vida, a liberdade, honra, ao nome, a locomoo. E a
noo de propriedade clara no Direito Romano: significa (proprium), ou seja, o que pertence a
algum, o que prprio da pessoa. o poder absoluto, exclusivo e perptuo que algum tem
sobre uma coisa, podendo retirar dela as utilidades que se possa beneficiar.
Como pode se depreender, e obviamente, sem esgotar o assunto, o Direito Romano dava ao
conceito de propriedade uma imensa importncia. Evidente que, em funo do conceito de
propriedade, disputas podem surgir. Por exemplo, a quem pertence determinado pedao de terra ?
Como se pode provar que aquela terra foi ocupada por quem est lhe reclamando ou afianar que
aquele direito que se lhe assinalou, lhe pertence ? fcil aquilatar que, at mesmo em funo da
natureza humana, necessrio algum tipo de sistema que possa dirimir dvidas ou conflitos, que
possa procedimentalizar tais rituais de soluo e possam eles oferecer algum tipo de soluo
razovel para a sociedade.
7
xodo 22
Nossa Constituio, em seus longos princpios, sejam dos direitos fundamentais, seja da ordem
econmica, celebra o direito de propriedade e o bem estar como valores supremos do sistema
democrtico.
8
Tal declarao comum em outros sistemas legais e no fortuito que filsofos
como Rudolf Stammler declararam que a ordem jurdica no seria mais que um meio para o
fomento da produo, onde se resume o fim ltimo de uma sociedade moderna, do ponto de vista
econmico.
9
H de se afastar as distines de certas restries ao conceito da propriedade e um certo conceito
social de suas acepes mais clssicas, j que equivocado, seno ingnuo, interligar tais
interpretaes com a realidade dos institutos. No h direito que no seja social e no h instituto
jurdico que no esteja permeado por uma certa funo social objetiva.
Por exemplo, certas restries ao domnio de propriedade, ou ao seu uso nada contradizem o que
se referiu at aqui: mesmo um legtimo proprietrio, no pode vender suas terras a um conhecido
terrorista. Apesar do direito de propriedade representar o mais amplo poder que se tem sobre algo
(uma coisa, atualmente, mvel ou imvel), desde os Romanos, entendiam-se justas e procedentes
determinadas limitaes ao direito de propriedade. Existiam dois tipos de limitaes, ou seja, de
restries a esse amplo direito de dispor de seus bens, e basicamente referiam-se restries no
interesse da vizinhana (por exemplo, o galho de rvores limtrofes de dois terrenos, guas pluviais,
etc) ou ainda no interesse da coletividade (dos rios navegveis; da largura das estradas; ou mesmo
da desapropriao, quando o interesse era coletivo).
Jos Carlos Moreira Alves, j alertava para o fato de a insero das clusulas gerais nos contratos
privados poderem promover a mudana da concepo filosfica do Direito (em relao ao novo
Cdigo civil) por meio de alteraes formalmente diminutas, exemplificando com a concepo de
propriedade, de tal maneira que, "com dois artigos apenas passou-se da propriedade individualista para a
propriedade com funo social" .
8
Art. 5, Inciso XXII e Art. 170, Inciso III da Carta de 1988.
9
Rudolf STAMMLER. Economia y Derecho in: La empresa ante el cambio. XXVII. Coloquio, 1992. Buenos Aires, IDEA, 1992.
Por seu turno, a vocao social a que se referem alguns autores tambm distinta e no poderia
ameaar o direito da propriedade. Por exemplo, a funo social da propriedade, esculpida em nossa
Constituio de igual forma, uma restrio propriedade, ao uso indevido dela. Pode-se afirmar
que qualquer terra improdutiva afronte o conceito de funo social da propriedade, j que a terra
existe para ser explorada e produzir alimentos para a sociedade que dela depende.
Uma pequena digresso sobre a socialidade da propriedade, moderna acepo de que a
propriedade tambm cumpre funo social e uma comparao com a funo social dos contratos
que ser objeto de discusso no prximo captulo. H, ao menos um critrio objetivo: a terra, em
sendo improdutiva no atende sua funo social, a gerar alimentos coletividade. Isto
diametralmente distinto da funo social dos contratos prevista no Novo Cdigo Civil e que ser
vista no prximo captulo, j que no h um cunho ou critrio objetivo do que seja funo social
dos contratos. Contratos, como veremos adiante, por definio, so acordos de vontade que
atendem a nica funo que preencher e atender aos interesses individuais de quem os celebram.
Mesmo que possa haver alguma interpretao mais genrica, confundindo-se funo econmica
dos contratos (prever e mitigar riscos) com um objetivo de maior eticidade (por exemplo, no
obter vantagem onerosa) uma leitura mais atenta indica que a inteno social continua aberta e
abstrata e serve apenas como uma norma programtica de condutas.
10
Voltemos discusso de direitos de propriedade. Libecap, define, como vimos, corretamente, que
direitos de propriedade so aquelas instituies sociais que definem ou delimitam o leque ou
privilgio que so outorgados ou determinados individualmente para determinados ativos, como
por exemplo, mveis ou imveis, bens fungveis ou infungveis. Tais direitos tem uma funo
social abstrata e ampla, enquanto claros limites incidem sobre tais privilgios e que podem e devem
nortear a sua aplicao.
10
Para o conceito de norma programtica vide Eros GRAU. Planejamento econmico e regra jurdica. So Paulo : Ed. RT, 1977.
Porque o assunto importante ? Allan A Schmid aquilata o interesse pelo assunto: ns estamos
aqui interessados no que determina o desempenho sistmico e institucional de um pas; ou como
ns podemos, de modo objetivo e sem nada presumir, analisar e compreender as variveis que
definem tal desempenho. As motivaes subjacentes so duas: primeiro, permitir compreender
melhor o que est acontecendo na economia e na poltica; segundo, poder compreender melhor e
escolher caminhos, e promover com isso mudanas institucionais relevantes.
11
Vamos agora a
uma definio importante que o que so instituies. Segundo o economista Thorstein Veblen
(1899) instituies so hbitos de pensamentos geralmente aceitos e as prticas de tais
pensamentos conseqentes por um dado perodo.
As estruturas de governana so dependentes, no s dos custos de transao, mas tambm dos
custos associados ao exerccio dos direitos de propriedade. Ronald Coase em seu The Nature of
Firm chamou ateno que a depender dos custos de transao, a estrutura de governana usada
podia ser alternativamente a firma ou o mercado. Depende claro, de quanto mais barato so os
respectivos custos de transao e se, poderia haver, por exemplo, uma a transio do mercado para
a firma, e do firma para os mercados, considerando esta zona intermediria, implicitamente, como
uma forma temporria.
Oliver Williamson, ao estabelecer a diferena entre o ambiente institucional (macro) e os arranjos
institucionais (micro), explicita: O ambiente institucional baseado em regras polticas, sociais e legais
fundamentais que estabelecem a base para a produo, a troca e a distribuio. Regras que administram eleies,
direitos de propriedade e o direito de contrato so exemplos (...).O arranjo institucional um arranjo entre unidades
econmicas que administram o meio pelo qual tais unidades podem cooperar (...) ou podem fornecer um mecanismo
que pode proporcionar uma mudana nas leis ou no direito de propriedade.
12
Direitos de propriedade referem-se tanto ao ambiente institucional como ao arranjo institucional,
ambos necessrios compreenso das expectativas dos agentes econmicos. Podemos ento, a
11
Allan A SCHMID. Property, powe and public choice. An inquiry into Law & Economics. 2 ed. New York, Praeger, 1987.
12
Idem, Ibidem, p. 23.
partir do excelente resumo Nicholas Mercuro e Steven Medema descrever tais caractersticas em
seis temas bsicos e recorrentes:
a) O comportamento econmico fortemente influenciado pelo ambiente institucional, no
qual a atividade econmica ocorre no mercado e por meio da trocas; simultaneamente, o
comportamento econmico afeta a natureza do ambiente institucional.
b) A interao mtua entre instituies, desempenho econmico e o comportamento de atores
sociais sempre e em qualquer lugar um processo evolucionrio; da necessrio entender
a histria e a economia como um processo de adaptao ao ambiente institucional;
c) Na anlise do processo evolucionrio, nfase deve ser dada ao papel com que
desempenham tanto as condies impostas pela tecnologia como pelas instituies
monetrias (Moeda, Banco Central e Sistema Financeiro Nacional) num capitalismo de
mercado, mas mesclado com preocupaes de incluso social;
d) nfase est centrada no conflito da esfera econmica do sociedade em razo de distribuio
da riqueza em oposio pretensa harmonia da cooperao espontnea e inconsciente da
liberdade pblica dos agentes;
e) Existe uma clara e bvia necessidade de canalizar os conflitos inerentes distribuio e a
diversificao da riqueza por meio das instituies, que devem estabelecer um sistema social
de controle previsvel e claro sobre a atividade econmica;
f) A disciplina das instituies requer mais do que simples anlise econmica, deve antes
tomar emprestado conceitos interdisciplinares tanto da psicologia, da sociologia, da
antropologia, e claro, do direito e da economia.
A teoria clssica entendia que a lei ou a estrutura legal como indutora de comportamento ou
conduta numa dada economia de mercado acaba por definir desempenho econmico. Tal viso, no
entanto incompleta, j que ao mesmo tempo que induz certos comportamentos, tambm
induzida a outros. Ou seja, no a estrutura legal induz certos comportamentos quanto aos direitos
de propriedade, mas ao mesmo tempo ela se forma e se define baseado na economia de mercado e
no apenas por deciso do Estado ou de seus representantes.
Num esquema podemos entender o papel dos direitos de propriedade e das instituies no
desempenho econmico (ou no desenvolvimento de uma dada sociedade) definido numa relao
mtua e circular:
Lei ou estrutura legal <=> comportamento ou conduta na economia de mercado
<=> desempenho econmico
Por fim, uma nota sobre a discusso corrente do direito de propriedade, se enquanto direito, afeta
a segurana jurdica dos negcios. Como vimos, o comportamento determina e determinado pela
lei e pela estrutura jurdica, direitos de propriedade assinalados corretamente e principalmente,
respeitados, so fundamentais para definir o desempenho econmico. Da o conceito de segurana
jurdica, ou seja, a ao de tornar definitivo uma deciso jurisdicional. A segurana e a justia so
valores jurdicos relacionados entre si e qualquer vinculao instabilidade ao estado, qualidade
ou condio de uma relao ou um direito de propriedade no estar livre de perigos e de incertezas
- no pode ser concebida como um conflito alternativo de segurana ou justia.
13
Por exemplo,
resolvo vender um imvel meu (tipicamente alienando um direito de propriedade). Como o
comprador no pode pagar vista e como o mercado imobilirio est francamente vendedor, sou
obrigado a parcelar esta venda. Mas, seja por no ser diligente, seja por precisar vender
urgentemente meu imvel, no avalio corretamente o crdito deste potencial comprador e resolvo
outorgar-lhe a escritura definitiva do imvel. Na primeira parcela, ele deixa de adimplir o seu
contrato, alegando que por ser aquele seu nico bem, bem imvel protegido pela Lei 8.009, como
sendo bem impenhorvel, vejo os meus direitos creditrios (j que a propriedade j foi transferida)
irem para o espao. Se o Juiz que for apreciar o caso entender que o devedor tem razo em funo
de ter uma famlia que no pode dormir ao relento, e prejudicar os meus direitos de propriedade
creditria, a segurana jurdica de uma transao prazo foi duramente afetada. Muito
provavelmente, nunca mais faa coisa parecida e passe a no confiar no sistema jurisdicional. E se
todos passarem a fazer o mesmo, a conhecerem minha triste histria, como resultado, a oferta de
crdito imobilirio desaparecer.
13
Atlio Anbal ALTERINI. op.cit. pg. 11
A propriedade privada de tais ativos envolvem uma grande variedade de direitos e restries como
j vimos, herdadas do Direito Romano, mas ainda, tais restries constituem clara exceo; a
propriedade continua sendo um privilgio que algum detm contra um ativo.
Ronald Coase notabilizou-se ento, pela explicao do surgimento ou eliminao da firma a partir
dos custos de transao, dando uma contribuio decisiva a explicao das estruturas de
govenana. No captulo posterior, quando tratarmos de contratos, vamos falar um pouco mais
sobre a teoria da firma. Por ora, s bom mencionar que Harold Desemtz ao introduzir a
explicao para o surgimento dos direitos de propriedade, a partir dos custos da sua implantao e
exerccio, contraposto aos benefcios associados ao exerccio do direito contribuiu para concluir
que, se os custos de transao para exercer aqueles determinados direitos for maior que os
benefcios gerados, ou se benefcios da propriedade privada forem maiores que os custos
associados ao seu exerccio, o agente econmico saber escolher.
Voltemos ao sistema de Direito. Frente primazia do legislador, figura simblica dos
representantes do povo, a lei, num sistema que deveria ser orgnico, estabelece os princpios mais
gerais para que se edifique todo um sistema de regras de condutas onde a estabilidade da lei deveria
ser uma mxima. Ccero j afirmava que somos todos escravos da lei para que possamos ser
livres. No entanto, desde a poca moderna, para garantir a propriedade, o Estado passa a ter uma
parcela importante no domnio econmico. No entanto, a participao do Estado, alm de
garantir o direito a propriedade, passa a ser de intervir nele direta ou indiretamente. Como lembrou
com acuidade Eros Grau, a atuao do Estado no e sobre o domnio econmico refere-se s
tcnicas de interveno por absoro ou participao, parcialmente ou no, mas expressa atuao do Estado
no processo desempenhando ele, ento, o papel de sujeito no processo.
14
A prpria transformao do
Estado de um mero produtor de ordem, segurana e paz (isto , de ordenao) e passando a atuar tambm como
14
GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econmico. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1981. p. 65.
conformador da ordem social e da ordem econmica, no dizer de Grau, acarreta a elaborao de normas
que no disciplinam, somente fixam objetivos a ser alcanados.
15
Mesmo assim e a discusso transcende o objetivo deste captulo assinalar direitos de
propriedade custa e mesmo que dependa do Estado num determinado momento, a sua proteo
no depende necessariamente.
A venda de cerejas
A venda de cerejas ilustra o fenmeno da captura de riqueza. Problemas bvios de informao se
apresentam quando cerejas so trocadas. Clientes so obrigados a gastar recursos para determinar
se cerejas de um aloja valem a pena ser compradas e quais cerejas em particular, devem ser
compradas. Os donos das lojas que permitem a seus clientes colher e escolher as cerejas no so
capazes de impedi-los a come-las, depois que decidiram comprar ou no, nem tampouco eles
conseguem impedi-los do mau manuseio, seja por descuido seja porque os clientes no sabem
mesmo como manusear cerejas. De fato, o processo de colher e selecionar ativos, por si s,
permite captura na forma da escolha excessiva. O fato de que a mesma cereja pode ser
inspecionada por mltiplos consumidores indica que alguns dos atributos esto no domnio
pblico. O alto custo da informao resulta em custos de transao custos que no subiriam se o
proprietrio e o consumidor das cerejas fossem a mesma pessoa. Se a informao sobre a
qualidade das cerejas fosse sem custo, o proprietrio original (o agricultor, por exemplo) no teria
que abrir mo de nenhum direito, e no incorreria em prejuzos de manuseio, estrago e excesso de
escolha. Na realidade, tais problemas de domnio pblico so inevitveis, mas possvel se adotar
certas estratgias para reduzir tais prejuzos. Por exemplo, transferir parte ou sub-grupos destes
mesmos direitos de propriedade enquanto se retm o restante. O aluguel de determinados bem
um exemplo claro disso. Se todo bem fosse pblico, recursos seriam gastos para a sua captura.
Adaptado de Yoram BARZEL. The property rights model. Pg. 6 Economic Analysis of Property
Rights. Cambridge University Press.
O Teorema de Coase
Num artigo seminal, um economista ingls chamado Ronald Coase, (The Problem of Social Cost, The
Journal of Law & Economics, The University of Chicago Press I, 1960 Out. 1960,) revolucionou o
modo de pensar de Law & Economics. Coase, que mais tarde ganharia o Prmio Nobel de
15
Eros GRAU. Direito, conceito e normas jurdicas. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988. p. 141.
Economia (em 1991) vinha estudando os servios pblicos e uma das indagaes que ele se fez foi:
A deve ter o direito de prejudicar B e como refrear A desta ao ? Para Coase, isso estava errado,
porque se est lidando com o que ele denominou de problema de natureza recproca. Para evitar
o prejuzo de B, teria-se que infligir custo (ou atribuir responsabilidade) a A; para ele a real questo
no julgar (se houvesse uma Corte para tanto) se B deve reparar A, mas simplesmente, A poderia
ser prejudicado (legalmente) por A, ou B seria permitido prejudicar A ? Stigler, outro economista
professor da Faculdade de Chicago, e citado por Coase, d o exemplo de uma fbrica que polui um
rio onde h peixes. A verdadeira questo, segundo ele, no penalizar a fbrica por dano
ambiental, mas entender o que a fbrica produz que causa a poluio do rio e se este produto
mais valioso que os peixes (ou no). Ou seja, ser que no seria mais eficiente para o sistema
econmico que fbrica fosse permitida esta poluio (mesmo matando os peixes do rio) j que
ela gera empregos, impostos, enfim, j que melhor e mais eficiente para a comunidade onde ela
vive ?
Ronald H. Coase Uma autobiografia
Meu pai, um homem metdico, registrou em seu dirio que nasci s 15:25 do dia 29 de dezembro de 1910. O lugar
foi numa casa, contendo dois apartamentos, nos quais meus pais ocupavam o inferior, num subrbio em Londres,
Willesden. Meu pai era um telgrafo nos Correios. Minha me era tambm empregada nos Correios mas havia
parado de trabalhar quando casou. Ambos haviam deixado a escola aos 12 anos de idade, mas eram completamente
alfabetizados. Todavia, no tinha interesse em academia, mas em esportes (..) Minha me me ensinou ser honesto e
verdadeiro e apesar de que impossvel escapar a algum grau de auto-decepo, minhas empreitadas para seguir os
seus preceitos tiverem, acredito eu, alguma fora nos meus escritos. O heri de minha me era o Capito Oates, que,
retornando com Scott do Plo Sul e descobrindo que sua sade atrasava os outros, disse aos seus companheiros que
estava saindo para dar uma caminhada, saiu numa nevasca e nunca mais se ouviu dele. Sempre senti que no deveria
ser um estorvo aos outros, mas nisso nem sempre consegui (...) Uma das vrias observaes escritas por um
professor na idade escolar afirmava: (....) mais esperana, confiana e concentrao so necessrias no est
adequado ao lado mais competitivo e agressivo da vida de negcios. Uma ambio mais ativa seria
benfica.Tambm foi notado que era muito cauteloso. Dificilmente poderia se esperar que este pequeno e tmido
menino um dia seria laureado com o Prmio Nobel. Como isso aonteceu foi o resultado de uma srie de acidentes.
Como um pequeno garato, sofria de uma fraqueza nas minhas pernas, que necessitava (ou pensavam que
necessitava) de muletas de ferros (...) como resultado fui parar numa escola de deficientes administrada pelo
Conselho Municipal. (...) Em Outubro de 1929 fui para a London School of Economics continuar meus estudos para
o bacharelato em comrico. (...) Tive a um extraordinrio lance de sorte, outro fator acidental que afetaria tudo o
que fiz subseqentemente. Arnold Plant, que previamente havia sido catedrtico na Universidade de Cape Town,
frica do Sul, assumiu como Professor de Comrcio na London School of Economics em 1930 (...) o que ele fez foi
me introduzir a mo invisvel de Adam Smith. Ele me fez entender como um sistema econmico competitivo
poderia ser coordenado pelo sistema de preos. Mais ele no apenas influenciou as minhas idias. Por encontra-lo,
minha vida mudou. (...) Por influncia de Plant, a Universidade me atribuiu com a Bolsa de Estudos Sir Ernest Cassel
e apesar de no saber, estava no caminho de me tornar um economista. Passei o ano acadmico de 1931-32 nos
Estados Unidos estudando a estrutura das indstrias americanas, com o objetivo de descobrir porque eram
organizadas em diferentes formas. O que resultou de minhas pesquisas no foi uma teoria completa para responder a
todas as questes iniciais que havia colocado, mas uma introduo a um novo conceito da anlise econmica, nos
custos de transao e na explicao do porque haviam firmas. Tudo isso foi atingido no vero de 1932, como
resultado de uma palestra que ministrei em Dundee, em Outubro de 1932, e cujas idias centrais seriam a base para o
meu artigo A natureza da firma(The Nature of The firm) Publicado em 1937. O atraso na publicao deste artigo
se deve ao fato de que estava relutante em publicar minhas idias e tambm porque estava engajado em pesquisa e
em ensinar. Fui professor da Escola de Economia e Comrcio de Dundee de 1932 a 1934 e na Universidade de
Liverpool de 1934 a 1935 e desde 1935 na London School of Economics. L me dedicava a um curso de economia
de servios pblicos e com a II Guerra Mundial em 1940, entrei na Forestry Comission e depois na Central Statistical
Office, do Ministrio da Guerra. Voltei a London School of Economics em 1946 e pesquisa em servios pblicos,
em especial nos Correios e em televiso. Passei nove meses nos Estadois Unidos em 1948, pela Bolsa Rockefeller
estudando a indstria da televiso. Meu livo British Broadcasting: a study in Monopoly foi publicado em 1950. Em 1951
migrei para os Estados Unidos. Primeiro fui para a Universidade de Bfalo e depois para a Universidade da Virginia.
(...) Escrevi um artigo publicao em 1959 em que discutia os procedimentos de outorga de concesso para emissoras
de televiso em quye defendia que a concesso deveria ser determinada pelo sistema de preos e o maior lance
deveria ser o vencedor. Isso levantava a a questo de quais seriam os diretos a ser assinalados ao vencedor e discutia
o racional do sistema de direitos de propriedade. Parte do meu argumento foi considerada equivocado por inmeros
economistas da Universidade de Chicago e combinamos de nos encontrar numa noite na csa do Dirteor Aaron para
discutir tais pontos. Apesar dos principais pontos j terem sido levantados no meu artigo The Federal Communications
Commission escrevi um outro artigo, The problems of Social Cost em que expunha minhas idias em maior profundiade e
mais claramenre, sem referencia ao meu artigo anterior. Este artigo que foi publicado em 1961, diferente do meu
outro artigo The Nature of the Firm foi um sucesso instantneo. Foi e ainda continua sendo, muito debatido. (...) Se
no fosse pelo fato daqueles economistas da Univerisdade de Chicago terem avcreditado que havia errado ,
provvel que The Problem of Social Cost talvez nunca tivesse sido escrito.
Em 1964 passei para Universidade de Chicago e me tornei Editor da Journal of law & Economics, cargo que ocupei
at 1982. Incentiveu economistas e juristas a escreverem sobre o mopdo de como os mercados operam e como os
governos desempenham o seu papel reglando ou empreendendo atividade sconommicas. O jornal foi um fator
maior na criao de uma nova area law & economics. Minha vida tem sido interessante e como um todo, bem
sucedida. Mas em quase todas as ocasies o que eu fiz foi determinado por fatores qye no faziam parte da minha
escolha. Tive a grandeza arremessada em mim. Extrado de Ls Prix Nobel www.nobelprize.com, 1994.
Consideremos o seguinte exemplo clssico: uma fbrica que polui provoca fuligem na roupa
lavada que est para secar na casa de cinco vizinhos prximos. Se no houver qualquer ao
corretiva, cada vizinho incorrer em prejuzos de R$ 75 por ms, num total de R$ 375. A fuligem
pode ser eliminada por dois meios diferentes: filtros podem ser instalados nas fbricas ao custo de
R$ 150, ou secadores de mo podem ser entregues a cada um dos vizinhos a R$ 50 cada um (e
supondo que os secadores resolvam o problema da fuligem !) A soluo eficiente claramente
instalar os filtros por R$ 150 invs de gastar R$ 250 com os secadores para os vizinhos. Qual
ento o resultado eficiente ? Poluir e pagar R$ 375 em prejuzos, instalar os filtros por R$ 1.250 ou
adquirir os 5 secadores por R$ 250 ? Vamos supor que a mesma questo seja vista por outro ponto
de vista: o prisma dos cinco vizinhos ? Qual seria o resultado eficiente ento? Ajuizar uma ao
coletiva por R$ 375, comprar cinco secadores a R$ 250 ou comprar um filtro a R$ 150 ? A resposta
imediata, obviamente a mesma, do ponto de vista de eficincia. Ou seja, o resultado atingido
mesmo sem que seja assinalado qualquer tipo de direito. A premissa, neste caso, que os
moradores negociem com o proprietrio da fbrica e entre eles, assumindo custos zero de
transao, os seja, sem qualquer custos de agremiao e custos do processo de negociao.
Se h custos zero de transao, o resultado eficiente ser atingido independentemente da escolha
da regra legal e independente de quem seja o proprietrio. Veja-se que apesar da escolha da soluo
mais eficiente, h impactos na eqidade e na distribuio de renda, ou seja, a escolha da definio
legal acaba por redistribuir renda por meio da escolha da soluo legal ao conflito.
Pode-se ento assumir que a renda pode ser redistribuda por fora da escolha do uso da regra legal
ou dependente de quem o proprietrio; voltamos assim no debate da regra como distribuidora de
renda versus a regra como promotora de eqidade; no entanto, isto nada tem a ver com eficincia
do sistema, j que o prprio conceito de eqidade como definimos no implica em um sistema
necessariamente eficiente.
Por fim, a observao relevante de Coase que tal teorema se d num mundo em que inexistem
custos de transao. Por ser um conceito fundamental e imprescindvel, passaremos a anlise dos
custos de transao (Box) para que para todos fique claro que um modelo til de anlise e
compreenso da realidade, mas no a realidade em si.
O que so Custos de Transao ?
Custos de transao so um conceito fundamental em Law & Economics. Mesmo que inexista uma terminologia
comum que estime ou mensure custos de transao de maneira mais precisa, e por se tratar de um conceito fludo, h
muitas e diferentes acepes ao termo. O que vamos ver aqui a noo mais corrente.
O pioneiro da anlise mais geral do conceito foi Kenneth Arrow. Ele definiu custos de transao como sendo the
costs of running the economic system.
16
J Yoram Barzel definiu como the costs associated with the transfer, capture, and
protection of rights.
17
Para o economista Thrainn Eggertsson, () in general terms, transaction costs are the costs that arise
when individuals exchange ownership rights to economic assets and enforce their exclusive rights no sem antes advertir que a clear-
cut definition of transaction costs does not exist, but neither are the costs of production in the neoclassical model well defined.
18
Eirik Furubotn e Rudolf Richter examinam custos de transao nos seguintes termos: transaction costs include the costs of
resources utilized for the creation, maintenance, use, change, and so on of institutions and organizations () When considered in relation
to existing property and contract rights, transaction costs consist of the costs of defining and measuring resources or claims, plus the costs of
utilizing and enforcing the rights specified. Applied to the transfer of existing property rights and the establishment or transfer of contract
rights between individuals (or legal entities), transaction costs include the costs of information, negotiation, and enforcement.
19
Douglass North melhor definiu custos de transao como sendo os custos de se mensurar aquilo que trocado por
meio da execuo dos contratos.
20
Se os agentes econmicos so racionais, se seus recursos so escassos e se o
objetivo individual de cada um a maximizao de tais recursos para cada um obter o maior bem estar possvel
essas trs variveis chaves definem a porque razo sempre se pretende o menor custo de transao na execuo dos
contratos.
Pode-se inferir que existem trs partes componentes do custo de transao: informao, negociao e execuo
contratual. Todos esses componentes, quando relacionada troca de direitos contratuais ou de propriedade entre
indivduos, significam custos.
Trs marcos na histria melhor definiram esta reduo nos custos de transao: a criao das instituies que
possibilitaram as trocas impessoais; a premissa de que o Estado deve garantir os direitos de propriedade e da
16
K. J. ARROW. 1969. The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market
Allocation. In The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st
session, vol. 1. Government Printing Office: Washington, D.C.
17
Yoram BARZEL. 1997. Economic Analysis of Property Rights. Second Edition. Cambridge University Press: Cambridge.
18
Thrainn EGGERTSSON. 1990. Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press: Cambridge. Ele continua:
When information is costly, various activities related to the exchange of property rights between individuals give rise to
transaction costs. These activities include: a) The search for information about the distribution of price and quality of
commodities and labor inputs, and the search for potential buyers and sellers and for relevant information about their behavior
and circumstances b) The bargaining that is needed to find the true position of buyers and sellers when prices are endogenous
c) The making of contracts d) The monitoring of contractual partners to see whether they abide by the forms of contract e) The
enforcement of a contract and the collection of damages when partners fail to observe their contractual obligations f) The
protection of property rights against third-party encroachment for example, protection against pirates or even against the
government in the case of illegitimate trade.
19
Eirik G FURUBOTN e Rudolf RICHTER. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics. The
University of Michigan Press: Ann Arbor, 1997.
20
Douglass NORTH. op. cit. pg. 149
aplicao da lei; e finalmente, os benefcios auferidos com a moderna revoluo cientfica. Foi Ronald Coase, quem
primeiro chamou ateno para a determinao dos custos envolvidos na interao humana. Ele se preocupou com a
razo da existncia da firma e suas condies onde ocorriam as alocaes econmicas. De um modo geral, concluiu
que foram as instituies econmicas que permitiram o crescimento e o desenvolvimento dos mercados e ainda a
introduo de novas tecnologias. Somente as instituies polticas poderam assegurar, todavia, a garantia dos direitos
de propriedade e da prpria aplicao contratual.
21
Tais atividades incluem, ainda segundo Furubotn, cinco elementos, que so elencados a seguir. Primeiro, a atividade
da busca pela informao sobre regras de distribuio de preo e qualidade das mercadorias; sobre insumos de
trabalho e a busca por potenciais compradores e vendedores, assim como de informao relevante sobre o
comportamento destes agentes e a circunstncia em que operam. Segundo, a atividade da negociao que ser
necessria para se determinar as verdadeiras intenes e limites de compradores e vendedores na hiptese da
determinao dos preos serem endgenos. Terceiro, a realizao e formalizao dos contratos, atividade
fundamental do ponto de vista de direito privado, j que o que reveste o ato das garantias legais. Quarto, o
monitoramento dos parceiros contratuais com o intuito de se verificar se aquelas formas contratuais esto sendo
devidamente cumpridas. Finalmente, a correta aplicao do contrato, bem como a cobrana de indenizao por
prejuzos s partes faltantes ou que no estiverem seguindo corretamente suas obrigaes contratuais.
22
Pode-se tambm classificar os custos de transao por algumas diferentes categorias. Por exemplo, os custos
relacionados ao uso do mercado (market transaction costs), os custos relacionados ao exerccio de direitos e controle
numa sociedade (managerial transaction costs), bem como uma gama de custos relacionados adaptao dos agentes
econmicos s polticas institucionais, tambm conhecido como custos polticos de transao (political transaction
costs).
23
Ora, se o Teorema de Coase implica em custos de transao zero, claro que nem sempre isso
pode acontecer na realidade. Mas o que importante no Teorema de Coase exatamente entender
que existe um princpio de eficincia por detrs de qualquer regra dada. Vamos ilustrar isso
exatamente com o exemplo que Coase nos deu. Coase, no seu primeiro artigo observara que, se
uma caverna pertence ao homem que a descobriu ou ao homem dono do local para se entrar na
caverna (onde ela de fato est localizada) ou quele que detm a superfcie debaixo da caverna,
enfim, tudo se refere, sem duvida, ao direito da propriedade, e que vamos discutir mais adiante.
Mas a lei apenas determina quem a pessoa para que se possa fazer um contrato de uso da
caverna. Se a caverna usada para armazenar relatrios bancrios ou reserva de gs ou ainda
cogumelos, depende no da lei de propriedade, mas se o banco, a empresa de gs ou o produtor de
21
Idem, ibedem.
22
Idem, ibedem. pg. 40.
23
Douglass NORTH. op. cit. pg. 152. reconhece que a nomenclatura no adequada j que pode gerar certa confuso. A idia
de political transaction costs advm de policies, polticas.
cogumelos est disposto a pagar o mximo possvel em dinheiro como aluguel para utilizar aquele
bem (a caverna).
Enquanto a determinao de um direito essencial as transaes de mercado, o resultado ltimo
(que maximiza o valor da produo) independe da deciso legal, desde que no existam custos de
transao.
Com essa definio dos custos de transao podemos ento definir uma verso mais simples do
Teorema de Coase: quando direitos so definidos de modo ideal e o custo de transao igual a
zero, a alocao de recursos eficiente e independe a quem se lhe assinala o direito de propriedade.
Assinalar direitos de propriedade tem pouco a ver com a posse de tais direitos. Apesar da teoria de
Coase ter implicaes para uma grande variedade de reas do direito substantivo, ele pode ser
explicado e compreendido de um contexto de competio pelo uso de recursos. Este o caso que
empresta a anlise ao Hotel Fointainbleau, em Miami, versus Forty-Five, twenty Five, Inc.
(proprietria do Hotel den Roc), Florida, Court of Appeals, 1959. A disputa referia-se ao direito
do Fointainbleau, na praia de Miami, de construir um anexo de 14 andares; o problema que a
sombra iria cobrir a piscina e as reas de sol de um hotel vizinho, o den Rock. Este ajuza uma
ao visando impedir a construo e pede perdas e danos j que ficar sem hspedes: a sombra
seria uma externalidade negativa, um custo imposto pela construo do Fointainbleau que o den
Rock deve ser obrigado suportar sem qualquer benefcio (alas, s teria prejuzos). A Corte decidiu
que o Fointainbleau no seria obrigado a indenizar o Eden Rock com base na noo de que o
direito de construo no pode ser prescindido apenas pelos prejuzos do den Rock, mas
tambm pelo que o Anexo ir gerar.
Todavia, na maior parte das situaes de conflito, a premissa de custos zero de transao irreal.
Por exemplo, as partes teriam que despender tempo e dinheiro no mnimo para negociar uma
soluo, concordar com os termos desta soluo e eventualmente formalizar algum tipo de
documento. Ou seja, em qualquer situao real, h o que se conhece como custos de transao
positivos. Vamos voltar ao nosso exemplo da fbrica poluidora para melhor explicar este conceito.
Vamos supor que, para cada morador, o custo de contratar um advogado e se reunir com ele,
(estimando, por exemplo, o custo por hora de cada um dos envolvidos) seja de R$ 60. A fbrica
continua com suas trs opes: filtros, comprar secadores ou indenizar. Vimos que a soluo
eficiente comprar filtros por R$ 150. Porm, se cada morador, contudo, tem o direito de decidir
se desejam receber secadores por R$ 50, suportar os prejuzos de R$ 75 ou se juntar aos outros
numa ao coletiva para obrigar a fbrica a comprar filtros a R$ 150, cada um ir incorrer num
custo de transao de R$ 60. Se for uma deciso racional e ningum desejar vingana moral, a
deciso de receber um secador por R$ 50 claramente ineficiente, mas certamente a mais fcil de
se obter. Assim podemos concluir que, com custos de transao positivo o direito da fbrica de
poluir eficiente, mas o direito de cada morador de ter ar puro no . Suponha-se que ainda os
moradores no tenham que se reunir para decidir o que fazer, no precisem contratar um
advogado nem tampouco incidam em qualquer outro custo. A deciso da fbrica indenizar,
comprar o secador ou os filtros no sofre qualquer tipo de mudana; no entanto, se o conflito
gerado e a fbrica se recusa a qualquer uma destas solues eficientes e os moradores so
obrigados a se reunirem e ajuizarem uma ao coletiva, a eficincia se altera:
Esta uma verso mais complicada do Teorema de Coase. Se existem custos de transao
positivos, o resultado eficiente pode no ocorrer sob qualquer regra legal. Nestas circunstncias, a
regra legal a ser utilizada a regra que minimiza os efeitos dos custos de transao. Estes efeitos
incluem incorrer em custos de transao assim como em escolhas ineficientes induzidas por um
desejo de evitar-se custos de transao. Vamos explicar isso melhor.
Mesmo neste caso, as conseqncias de redistribuio de renda podem ser ainda mais complicada.
No verdade que, como quando no incidem custos de transao a escolha da regra redistribui
renda pelo montante do menor custo; o direito de poluir custa R$ 250 (% secadores) enquanto o
direito ao ar livre custa um filtro, R$ 150.
O que o Teorema de Coase diz ou induz ao modo de entender e enxergar problemas legais ou
seja, se uma regra legal dada, para ser eficiente deve ser considerada em termos de eficincia
econmica antes de qualquer outra coisa. No entanto, se direitos fossem assalinados de modo
timo o mundo seria outro. Na verdade, assinalar direitos de propriedade custa (e em geral custa
muito caro). Por exemplo, o metro quadrado na Av. Vieira Souto, no Rio de Janeiro pode valer at
R$ 15 ou R$ 17 mil, o equivalente a mesma faixa de preo de terra de lugares como Nova York
(Central Park) ou mesmo Paris (Champs-Elyse). Quando se compra um imvel se est na verdade
assinalando um certo direito de propriedade de um bem algum. Ora, como a anlise coaseana
onde os custos de transao so positivos, onde delimitar e fazer tais direitos valerem custa
igualmente muito ?
A primeira noo refere-se a capacidade de um bem gerar renda. Tomemos o caso do apartamento
na Av. Vieira Souto. Ele pode ser alugado ou posso ainda (se a Conveno de Condomnio
permitir) usar o referido espao para festas de reveillon. Ou seja, a habilidade de um determinadoi
ativo gerar renda, ou fluxo de renda uma parte importante do direito de propriedade. No
entanto, como lembra Barzel, na medida em que um determinado ativo pode sofrer aes ou atos
de no-proprietrios que influenciem esta gerao de renda (sem arcar com o custo de tais aes),
o direito de propriedade diminui. Por exemplo, se este apartamento pode ser invadido a qualquer
momento por favelados e a Polcia nada far, o valor do metro quadrado certamente cai.
Quando o fluxo conhecido e constante, mensurar o direito de propriedade muito mais fcil e
preciso. Se tal fluxo for varivel, mas totalmente previsvel tambm possvel se mensurar tais
direitos. O problema se d quando o fluxo incerto e imprevisvel. Por exemplo, um pedao de
terra sem qualquer registro. Os interessados naquela terra vo despender energia e recursos para
obter maior vantagem, para obter o ttulo legal e garantir assim a renda que aquela terra promete
com o cultivo, etc. Da mesma forma, ningum se dispem a investir em, digamos, aparelhos de
irrigao ou melhorias do solo se souber que no h qualquer direito de propriedade ali assinalado.
Portanto, podemos afirmar que quanto maior for a inclinao de um terceiro afetar o fluxo de
renda de um dado ativo, maior a participao residual que um dado proprietrio em assumir em
defender o seu direito de propriedade.
24
24
Barzel. Pg. 9
Teorema de Coase e Contestao na Esfera Econmica: Uma aplicao
Prof. Alan Lemos
Uma das reas de significativa interseo entre Direito e Economia a do meio ambiente. Muitos so os problemas
ambientais atualmente existentes, sobretudo em pases menos desenvolvidos. Examinemos a importncia de
considerar regulamentao e eficincia econmica atravs do seguinte problema ambiental, extrado de [Lemos
(1999, pp. 65-67)].
Exemplo 1. Suponha que produtores de arroz no lavrado de Roraima, objetivando extrair a mxima produo
possvel de suas propriedades, o que socialmente desejvel, apliquem uma grande quantidade de agrotxicos para
exterminar uma praga de gafanhotos que, segundo especialistas, dizimaria parte significativa de sua produo.
Suponha ainda que esses gafanhotos sejam o alimento bsicos de algumas espcies de pssaros que habitam a regio.
Imagine que nas imediaes dessas propriedades exista uma comunidade indgena, a qual tenha como principal fonte
de protena animal na sua dieta exatamente os pssaros que se alimentam dos referidos gafanhotos. provvel que
alguns pssaros sejam mortos ao se alimentar de gafanhotos envenenados. Evidentemente, se boa parte dos pssaros
for eliminada com o veneno dos rizicultores, ento haver menos pssaros para serem caados pelos ndios.
Portanto, nesse caso, a ao dos produtores de arroz provoca uma externalidade negativa para os silvcolas da regio.
Assuma que o prejuzo ou perda nos lucros dos orizicultores totalizaria R$ 100 mil, se o veneno no for aplicado
para eliminar os gafanhotos. Assuma tambm que os pssaros mortos pela ao do veneno implique numa perda de
utilidade avaliada em R$ 50 mil pelos ndios da regio. Assuma a existncia de baixos custos de transao, o que
facilita a existncia de acordos. Finalmente, suponha que o governo estadual consiga aprovar uma legislao
proibindo os rizicultores de aplicar veneno em suas lavouras, a fim de evitar os impactos ambientais indesejveis.
Esperamos que a nova legislao seja cumprida? De que maneira poderamos ter uma soluo eficiente para o conflito?
A maneira tradicional de atuao judicial nesses casos consiste em estabelecer os direitos das partes envolvidas e
equilibrar esses direitos de modo a fazer justia. A abordagem da Teoria Econmica do Direito bastante diferente:
situaes como essa sugerem a aplicao do famoso Teorema de Coase, pois os custos de transao so baixos, os
agentes envolvidos conhecem a situao, inclusive as funes de lucro dos produtores e de utilidade dos ndios;
adicionalmente, postulamos que os agentes so maximizadores, isto , os produtores maximizam os lucros e os
ndios buscam maximizar seu nvel de satisfao. E, acima de tudo, o caso parece indicar a possibilidade de uma
troca mutuamente benfica. [Coase (1960)]
Sem embargo, se os produtores de arroz indenizarem os ndios em qualquer valor superior a R$ 50 mil, haver
grande possibilidade de existir um acordo. O pagamento de qualquer valor entre 50 e 100 mil tambm ser benfico
para os produtores, dado que R$ 100 mil ser o valor da perda de lucros que eles iro incorrer se no aplicar o
agrotxico. Portanto, uma soluo que implique numa indenizao superior a 50 e inferior a 100 mil reais ser
considerada razovel tanto para produtores quanto para os ndios. Essa soluo eficiente (de acordo com o critrio
de Kaldor
25
) provavelmente ocorreria atravs da barganha, independentemente de restries institucionais ou do
sistema legal vigente, de tal modo que a distribuio dos direitos de propriedade no afetaria a soluo negociada no
mercado.
Teorema de Coase.
26
Quando os custos de transao so zero, a distribuio dos recursos independe da
distribuio dos direitos de propriedade. De outra maneira, quando os custos de transao tendem zero, uma
25
O critrio sugerido por Kaldor difere de Pareto por admitir a possibilidade de que numa mudana social eficiente um
indivduo tenha sua posio melhorada s custas de outro indivduo, desde que o perdedor seja recompensado, de modo a
manter seu nvel inicial de satisfao.
26
Para que o teorema seja vlido assumimos explicitamente apenas a inexistncia de custos de transao. Contudo,
necessitaramos de algumas suposies adicionais. Vide [Stephen (1993)].
alocao econmica eficiente ser alcanada, independentemente do que diz os direitos de propriedade ou da
regulamentao vigente. A eficincia ser alcanada atravs de barganhas ou acordos, que beneficiaro mutuamente
os agentes envolvidos. Portanto, sob as condies do teorema, o estado de direito no determina a composio da
produo.
Outra rea de crescente utilizao da Teoria Econmica do Direito a de preservao da concorrncia nos
mercados. O recente anuncio de fuso de duas grandes cervejarias do Brasil, que juntas controlariam
aproximadamente 70% da produo nacional de cerveja, trouxe inquietao e insegurana no mercado do produto, a
tal pondo do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE) suspender temporariamente a operao, pois
consumidores, governo e concorrentes temem que o acordo entre as duas grandes companhias reduzir a
competio, abrindo caminho para a nova empresa exercer grande controle sobre os preos do produto.
De acordo com a legislao antitruste vigente no pas, fuses e associaes de empresas detentoras de significativa
participao em um determinado mercado devem ser submetidas ao CADE. Indubitavelmente, o CADE deve
invocar os princpios da Teoria Econmica do Direito visando reprimir a formao de trustes ou outras infraes
ordem econmica. Com efeito, a natureza do problema parece demandar decises que sejam socialmente eficientes
e no apenas justas. Assim agiu o CADE em 1996, ao analisar a existncia de barreiras entrada de novos
produtores no mercado nacional de creme dental, como podemos observar no exemplo 2 abaixo.
Exemplo 2. Em 1995, a Colgate-Palmolive Company adquiriu parte dos negcios de sade bucal da American
Home Products, inclusive a subsidiria brasileira da Kolynos. Assim, Kolynos e Colgate passaram a deter juntas 78%
do mercado nacional de creme dental. Entendendo que as barreiras entradas de competidores seriam significativas
nesse mercado, o CADE aprovou a associao, mas com restries. O CADE considerou o uso da marca Kolynos
uma ameaa aos competidores e determinou a suspenso do direito de uso da marca por quatro anos, alm da oferta
pblica de parte da capacidade produtiva da prpria Colgate para outros fabricantes que desejassem adentrar no
mercado. Aps trs anos, sete novas marcas de creme dental foram introduzidas no mercado, uma delas da prpria
Colgate.
Exemplo 3. Vamos finalmente considerar uma situao extrema, onde o sucesso de uma determinada marca
expressivo ao ponto dos consumidores chegarem a confundir a marca com o nome original do produto. Por
exemplo, no Brasil, palha de ao ou l de ao confundido com a marca Bombril. Como a legislao permite que
qualquer indivduo ou mesmo o Estado faam acusaes no caso de violao da Lei 8884, que reprime infraes
ordem econmica, pode-se imaginar que a empresa produtora da palha de ao Bombril venha a ser futuramente
acusada da prtica de monoplio ou de criar barreiras entrada de competidores.
Caso isso venha a ocorrer, aplicar ao caso o conceito abstrato de justo complicado. Afinal, a empresa teve mritos
para atingir essa posio hegemnica. Seria razovel punir o mrito? A introduo da perspectiva eficincia simplifica a
vida do tomador de decises ao apreciar casos dessa natureza. Numa economia de mercado, o princpio da livre
concorrncia deve prevalecer e a regulamentao no deve inibir a criatividade, as inovaes tecnolgicas e a
melhoria dos produtos. Assim, proibir a empresa de usar a marca Bombril, cujo sucesso foi alcanado graas ao
talento, criatividade e esforo, pode no ser educativo e muito menos eficiente. Com efeito, restries dessa natureza
poderiam desestimular o desenvolvimento de novos e melhores produtos no futuro. Mas, o CADE ou mesmo o
Judicirio, se provocados, poderiam institucionalizar algo que j integra o consciente popular: Bombril sinnimo de
palha de ao. Destarte, outros fabricantes que quisessem ingressar no mercado utilizariam o nome Bombril e no palha
de ao, de modo que poderamos ter diversos produtos similares estampando o nome bombril, inclusive o produzido
pela fbrica original. Solues desse tipo foram adotados em tribunais dos Estados Unidos e Inglaterra para produtos
como a Aspirina.
Como pudemos verificar acima, a atuao do Estado na economia deve se guiar pelo principio da alocao eficiente
dos recursos. Caso contrario, os resultados podem no ser os esperados. O teorema de Coase sugere uma forma de
atuao do sistema judicirio do pas, de modo que o conceito abstrato de justo seja substitudo ou complementado
pela idia simples de eficincia, de modo a influenciar positivamente o comportamento futuro dos agentes
econmicos. Com efeito, ao julgar uma determinada causa o juiz no apenas resolve um conflito particular, mas
sobretudo estabelece um padro social de conduta. Naturalmente, se a deciso for justa, porm ineficiente, a reao
dos agentes econmicos poderia frustar as expectativas dos agentes do Estado.
Fonte: www.unit.br/graduacao/economicas/professores/alanlemos/Papers/FALHAS2.doc
Referncias Bsicas:
Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Costs. Journal of Law and Economics, 3, pp. 1-44.
Lemos, A. (1999). Investigacin sobre Desarrollo Humano en el Extremo Norte de Brasil. Tesis de
Doctorado. Universidad de Matanzas.
Souza, W. P. A. (1994). Primeiras Linhas de Direito Econmico. 3 ed. So Paulo: LTr.
Stephen, F. H. (1993). Teoria Econmica do Direito. So Paulo: Makron Books.
Stigler, G. J. (1992). Law or Economics? Journal of Law and Economics, 35, pp. 455-468.
CAPTULO VII: CRIME E LAW & ECONOMICS
A indstria do crime assusta a todos ns. Prolifera-se como um verdadeiro mal, sobretudo nas
grandes cidades onde a proporo do crime individual ou organizado tem chegado ao descontrole
quase que epidmico. Assaltos, seqestros, latrocnios se tornaram corriqueiros, lugar-comum e
quase todo paulistano ou carioca j foi assaltado pelo menos uma vez. Pode-se dizer sem medo de
errar que a violncia, ao lado da sade e da educao, representam as trs preocupaes centrais de
qualquer governo. O crescimento da violncia nas duas ltimas dcadas tem se constitudo num
dos maiores desafios ao desenvolvimento do Brasil (e tambm da Amrica Latina). As taxas de
homicdio colocam a regio como uma das mais violentas do mundo, com ndices duas vezes mais
elevados que a mdia mundial: no Brasil, a cada ano, ocorrem 22,9 por cem mil habitantes contra
10,7 dos outros lugares no mundo.
A primeira observao pertinente que a violncia um tpico problema de subdesenvolvimento e
de m distribuio de riqueza, justificada sempre pela pobreza e por baixos ndices de educao.
Isto no significa, contudo, que a violncia no tenha dado espao a uma certa indstria do crime,
com garras e alma prpria.
A segunda necessria observao quanto natureza hobbesiana do prprio homem, que muitos
acreditam ser verdadeira. Para Thomas Hobbes, a corrida pela sobrevivncia aos escassos recursos
da sociedade faz com que apenas os mais rpidos e mais fortes pudessem garantir a perpetuidade
de seu sangue. Para ele, a vida na natureza era cruel, solitria, pobre e embrutecida e sua clebre
expresso de que o homem o lobo do prprio homem denota que o ser humano um animal
agressivo, egosta. Rebatido por Hebert Spencer, em geral considerado como um exaltador da
natureza humana, Georg Bchner, aliando-se a Hobbes (e tantos outros como Malthus) vaticinou:
O sentimento de destruio inato ao homem. Aqui, vamos partir de um pressuposto
radicalmente distinto desta viso: a de que o homem racional e s age, no por impulso, mas por
estmulo.
Mas, julgo necessrio apenas alargar esta viso hobbesiana mais tradicional. Ora como controlar tal
natureza instintiva ? Para muitos (como Kant) qualquer ato considerado como uma falta grave s
regras de moral admitidas por uma sociedade, ou qualquer ato perseguido em nome do particular
que foi lesado por este ato seria passvel de uma pena correcional teria cometido um crime. Mas,
claro, nem tudo poderia ser considerado como crime, em especial quando se lesavam muitos (e
desnecessariamente). Peter Gay, em extraordinrio estudo sobre o dio, relaciona a violncia
prpria natureza humana, mas v ainda, modos culturais de atenuao desta mesma violncia:
buscando na cultura helnica algumas explicaes ele justifica: os mitos gregos que os vitorianos
instrudos absorviam na escola eram histrias de ofensas mortais e de espantosa retaliao. Os
criminosos divinos, tirnicos e reais, que Homero e as tragdias gregas dramatizaram de modo to
memorvel compunham um volumoso catlogo de transgresses sensacionais: no apenas roubo e
adultrio, mas incesto, castrao, assassinato traioeiro de esposos e horrendo canibalismo.
Preservados para a posteridade por geraes de poetas picos, dramaturgos e filsofos, tais mitos
sobreviveriam no teatro, poesia, fala popular do sculo XIX, dando a sombria lio de suas vidas.
Bblicos ou clssicos, eles enfatizavam uma nica e majestosa ordem. A punio era como o
instrumento indispensvel para remendar o rasgo que o crime havia feito no tecido social. S nas
comdias que os perversos levavam a melhor.
1
A verdade, para Peter Gay, que muitos ainda
acreditam na violncia como forma de purificar a sociedade. A expresso de Thomas Mann de que
a guerra traz a purificao, a libertao e uma enorme esperana lamentavelmente ainda prova,
at os dias de hoje, de que, apesar de estarmos partindo por pontos diferentes, o sentimento
hobbesiano no uma premissa de todo equivocada.
A tentativa de identificar na doutrina causas no fenmeno da violncia e da criminalidade tem sido
objeto de estudo de vrias disciplinas ao longo da histria das cincias sociais, do direito e da
sociologia. De forma mais moderna, hoje o estudo do crime at merece disciplina prpria, a
chamada "antropologia da violncia" rea que cuida as causas do crime. Desde muito tempo, ainda
na formulao das bases terico-conceituais que culminaram com o estabelecimento da disciplina
da moderna "Sociologia Criminal", no Sculo XX, estudiosos j se ocupavam de tentar explicar as
1
Peter GAY. O cultivo do dio. Companhia das Letras, So Paulo, pg. 139
origens da violncia e da criminalidade, caso de Becaria (1738-1794) e Bentham (1748-1832), sob o
que ficou conhecido como a "Teoria da Natureza Humana". Dos primrdios da "Escola Clssica"
e da "Teoria da Natureza Humana", aos dias de hoje, passando pelas chamadas "Teorias
Sociolgicas" primeiro articuladas na primeira metade do Sculo XX pela viso de Law &
Economics, persiste a busca de modelos explicativos de expresses anti-sociais do comportamento
humano. Alm disso, o que existe tambm a incorporao dos conhecimentos da Criminologia a
novas reas acadmicas como por exemplo as formulaes da "Cincia Policial", em sntese,
referente administrao da segurana pblica. A anlise criminal parte essencial de todo o
problema da violncia. Os resultados de tais estudos so sempre muito polmicos s observar
o debate sobre o desarmamento da sociedade que traz acalorados debates de ambos os lados.
2
Certo de que a indstria do crime se propaga com o desenvolvimento econmico e principalmente
urbano, evidente que a misria e a pobreza induzem a um maior ndice de criminalidade. No
entanto, o objetivo deste captulo no nem discutir as causas da criminalidade, nem tampouco
avaliar os seus remdios. Este captulo pretende oferecer novas luzes ao tradicional direito penal
numa viso mais voltada ao campo da Law & Economics.
Em primeiro lugar, qualquer teoria do crime deve responder em sntese a duas questes centrais:
quais so os atos praticados que devem ser punidos e, segundo, qual deve ser a extenso da
punio. Estas duas perguntas so chaves para comear a compreender o fenmeno criminolgico
do ponto de vista mais econmico. H, em paralelo uma disciplina da cincia econmica, que a
economia do crime e que esbarra em vrias teorias do desenvolvimento econmico, como j se
afirmou anteriormente. Para ns, o que importante ater at aqui , em outras palavras, como
definir o que crime e qual a respectiva dosimetria penal, ou seja, qual a medida da dose de
pena que se pode aplicar. Essas duas indagaes permitem construir um arsenal de incentivos
capaz de desencorajar novos criminosos a praticar crimes e os atuais a deixar a profisso de
criminosos. Evidente que o captulo no se prope a resolver o problema da violncia urbana nem
tampouco criar novas teses sobre o Direito Penal, mas apenas enfoca-lo sobre um outro prisma;
2
Vide...
prisma este que em muitos aspectos exigir uma viso fria e nada emocional de uma situao que
incomoda e choca. No entanto, uma viso fria do fenmeno que muitas vezes exige um grau maior
de racionalidade pode ser til para entender um pouco mais do assunto.
Por exemplo, sabemos que o roubo (subtrao, sem o consentimento de seu proprietrio, de coisa
alheia mvel) de um toca-fita um delito criminal. Ser que prender o ladro por 50 anos o
modo mais eficiente de evitar novos crimes ? Esta uma tpica pergunta de Law & Economics, que
no est se detendo s questes criminais por consideraes de natureza moral ou social.
A premissa (e a constatao ) que os criminosos no possuem qualquer incentivo interno de
apreo lei, nem se sentem com ela obrigados. Mas alm disso, h vantagens em transgredir a lei,
em geral, vantagens patrimoniais. As razes pelas quais tais indivduos no querem obedecer lei
em especial por serem maximizadores racionais de interesse transcendem a anlise aqui proposta,
e obviamente, h situaes em que o criminoso pode no obter proveito patrimonial de seu crime,
como por exemplo, o caso de um seqestro poltico (com ou sem o pagamento de resgate)
seguido de homicdio. E evidente que h uma grande ingerncia poltica na elaborao de
qualquer lei penal; a prpria tendncia legislativa brasileira de considerar vrios crimes como sendo
crimes hediondos (com a esperana de que tal classificao, com o aumento das penas, reduziria a
criminalidade) ilustra bem isso, com resultados pfios sobre a criminalidade.
Ora, em geral e do ponto de vista histrico, duas so as reas que sempre se buscou proteger: a
vida e o patrimnio. Claro que sempre h o argumento de que a atividade criminal poderia lesar
outras reas da natureza humana, em especial, a moral, os bons costumes, a ideologia e mesmo a
espiritualidade (como so de fato, os presos de conscincia, por exemplo, pacifistas que cometem
o crime da desero em alguns pases por no se alistarem no Exrcito). Mas, considerando
que mais de 99% dos processos penais no Brasil so relativos ou ao patrimnio ou vida, vamos
nos ater a estes assuntos. Do ponto de vista da poltica pblica, contudo, necessrio alargar a
compreenso da atividade criminosa e encontrar novos meios de responsabilizar o criminoso.
Cooter e Ullen do quatro exemplos que ilustram bem como enxergar a punibilidade alm da
esfera policial e tentar considerar o crime no atividade individual, e sim um verdadeiro custo
social.
Declnio das Taxas de homicdio nos Estados Unidos ?
H notcia de que as taxas de homicdo esto caindo nos Estados Unidos. Enfatizando que o declnio nas taxas de
homicdios no um fenmeno uniforme, Blumstein e Rosenfeld examinam atentamente vrias sub-tendncias que
afetam o resultado geral e discutem as foras que podem ter contribudo para tais mudanas. Acrescentando suas
vozes "disputa retrica por liderana" entre os formuladores de polticas de segurana que atribuem as taxas
decrescentes s suas medidas e aqueles criminologistas que atribuem as mudanas nas taxas de criminalidade
foras alm do controle dos formuladores de polticas, os autores argumentam que o impacto de polticas de
segurana pode ser entendido apenas no contexto dos nveis e tendncias correntes em termos de crimes violentos.
Grande parte do declnio em homicdios, especialmente em homicdios com armas de fogo, podem ser explicados a
partir do declnio em homicdios cometidos por jovens. As grandes cidades, com sua contribuio desproporcional
para as taxas de crimes violentos, tiveram impacto igualmente desproporcional nos ndices do pas como um todo
medida em que suas taxas de homicdios caram.
Examinando as foras que podem explicar as taxas decrescentes, Blumstein e Rosenfeld apontam para o
amadurecimento do comrcio de crack, cujos traficantes podem estar apelando menos para a violncia para resolver
suas disputas; a disponibilidade de empregos que requerem baixa qualificao para jovens em uma economia em
expanso; os efeitos incapacitadores do crescente encarceramento; e o declnio em homicdios domsticos como
fatores independentes. Entre as foras reativas, eles indicam as estratgias anti-armas da polcia incluindo
operaes de desarmamento variadas e programas comunitrios de reduo de violncia, resoluo de conflitos e
de aconselhamento.
O ex-comissrio de polcia de Nova York, William J. Bratton, e o criminologista George R. Kelling oferecem suas
perspectivas sobre a expressiva diminuio dos crimes violentos em Nova York. Eles argumentam que os esforos
da polcia em perseguir situaes aparentemente pouco importantes de conduta desordeira foram o elemento crucial
ao interromper um ciclo que leva, em seu final, a um aumento de crimes violentos e a uma "espiral do declnio".
Durante seu mandato como chefe do Departamento de Polcia de Trnsito de Nova York , Bratton procurou fazer
com que os policiais compreendessem a tese das "janelas quebradas" desenvolvida por Kelling e pelo criminologista
James Q. Wilson. Esta tese argumenta que pequenas infraes, quando no apuradas, leva ao medo os cidados que
cumprem as leis e estimula o comportamento ilegal por parte dos criminosos. No Departamento de Polcia de
Trnsito, os policiais eram encorajados a efetuar prises ou emitir multas aos que cometessem pequenas infraes,
tais como mendigagem, no pagamento de tarifas nos transportes e urinar em pblico. Esta prtica, segundo Bratton
e Kelling, no apenas reduziu a quantidade de crimes menores, mas tambm evitou os crimes mais srios. Uma
ateno similar desordem, efetuada pelo Departamento de Polcia de Nova York, teria tido resultados similares
quando Bratton tornou-se Comissrio de Polcia.
De todas as cidades que viveram um declnio em crimes violentos, talvez Nova York seja a que tenha recebido mais
ateno. Neste artigo, os autores examinam a natureza e a extenso do declnio de homicdios dentro da cidade,
colocando-o no contexto das taxas de criminalidade anteriores e outros crimes violentos.
Eles concluem que a queda geral em homicdios encobre duas tendncias: a queda do nmero de homicdios
cometidos com armas de fogo e a queda de homicdios sem uso de aramas. Examinando o perodo de 1985 a1996,
os crimes sem armas de fogo j vinham diminuindo desde o comeo. Enquanto isto, os assassinatos com armas
aumentaram durante fins dos anos 80 e incio dos anos 90, comearam a diminuir em 1993 e atingiram seu nvel
original em 1996. Os autores discutem diversos fatores que podem ter contribudo para as duas tendncias, incluindo
policiamento, mudanas demogrficas, incapacitao e regresso estatstica.
Somente quando se considera as tendncias destes e outros crimes violentos que pode-se obter uma imagem
completa do que est causando o declnio em homicdios.
Com respeito a questo sobre o fato do declnio observado em homicdios em Nova York representar uma regresso
mdia, Maltz argumenta que as variaes ano a ano nas taxas de homicdios precisariam ter sido mais volteis para
representar com veracidade uma instncia deste fenmeno estatstico.
www.mj.gov.br\senasp
Resumos de artigos do Journal of Criminal Law and Criminology
volume 88, nmero 4
Vero 1998
Tome-se como exemplo Fulano, sentenciado culpado por assalto a mo armada. Se, ao declarar a
pena, o Juiz pudesse (no Brasil ele no pode) optar por uma multa financeira pesada em vez de
uma condenao penal, qual seria a melhor alternativa para coibir comportamentos semelhantes no
futuro? Ser que em crimes do colarinho-branco ou em fraudes no muito melhor impor multas
onerosas (realmente pesadas; Michael Milken pagou cerca de 400 milhes de dlares para reduzir a
sua pena!) do que enfrentar longos anos de cadeia e numerosos habeas-corpus que sempre concedem
liberdade ao ru ?
Segundo exemplo: Fulano condenado por um crime que comprovadamente cometeu, mas os
presdios esto todos abarrotados e no podem admitir um novo interno. Ser que o Estado
poderia liberar um preso cujo crime foi mais leve para lhe dar lugar? Qual a resposta ideal e como
minimizar os custos sociais do crime ?
Terceiro exemplo: Fulano assalta um carro e furta o toca-fitas. O vidro quebrado do carro custa R$
100 e o toca-fitas, R$ 75. Qual o custo social do crime, R$ 175 (o prejuzo total da vtima) ou R$
100 (o prejuzo da vtima menos o lucro do assaltante, de R$ 75)? Ou algum outro nmero ?
E finalmente: Sicrano quer aumentar a segurana domstica de sua residncia. Ele cogita colocar
grades, contratar uma empresa de segurana para instalar alarmes ou comprar uma arma de fogo.
Como cada uma dessas alternativas aumenta ou reduz a chance de assaltos desse proprietrio e de
seus vizinhos? Sim, porque grades ou alarmes poderiam eventualmente redirecionar o assaltante
para outras residncias. Ser que o armamento civil de fato estimula os crimes?
Em todos os casos, h um ponto de partida diametralmente oposto ao do praticado no nosso
Judicirio. Temos aqui alguns exemplos do tipo de pergunta que deve ser feita para determinar
polticas pblicas na rea criminal. O remdio do culpado seria econmico, mas h outras
consideraes a serem feitas com base nestes trs exemplos. Primeiro, se para qualquer produto h
um mercado onde se oferece e se demanda certas quantidades, ser que poderamos considerar a
atividade criminal como uma espcie de mercado ? Ou seja, ser que se pode aplicar a teoria das
trocas para a esfera criminal ? (lembre-se que no estamos nem avaliando consideraes morais !).
Segundo, h certas aes que se deseja coibir, mesmo que as partes envolvidas no tenham
qualquer inteno de agir desta forma, apenas por uma questo de externalidades; finalmente, ser
que criando um certo estigma o direito criminal tem influncia sobre a capacidade e a preferncia
de determinadas condutas ? sobre isso que este captulo se ocupar.
Do ponto de vista jurdico, o crime ato que transgride as normas jurdicas penais. So crimes as
aes tidas como tal pela lei penal: as penas so sanes determinadas pela lei. Ou seja, a prpria
Constituio Federal, no seu artigo 5
o
, XXXIX define este preceito romano: nullum crimen, nulla
poena sine lege (No h crime sem que a lei o defina como tal), ou como diz o texto constitucional,
no h crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prvia cominao legal.
3
Este mesmo
princpio se acha em termos idnticos no Cdigo Penal: considera-se crime a infrao penal que a
lei comina, pena de recluso ou de deteno, quer isoladamente, quer alternativa ou
cumulativamente com a pena de multa; contraveno a infrao penal que a lei comuna,
isoladamente, pena de priso simples, ou de multa, ou ambas, alternativa e cumulativamente. E
como prova de que tal preceito importantssimo, o prprio Cdigo Penal define, no art. 23, que
3
Goffredo TELLES Jr. (Iniciao na Cincia do Direito. So Paulo : Editora Saraiva, 2001. pg. 56) ensina: evidente que a
consagrao legal de tais proposies visa impedir o arbtrio do Poder Pblico no exerccio de sua misso de perseguir e punir os
acusados da pratica de delitos. Visa obstar a aplicao de pena sido indicado, denunciado, processado e condenado at sentena
judicial contrria, passada em julgado.
no h crime quando o agente o pratica ou em estado de necessidade, ou em legtima defesa ou
mesmo no estrito cumprimento do dever legal ou no exerccio regular de direito.
No entanto, o tipo de anlise que se pretende empreender aqui outra. Precisamos primeiro
entender um pouco da atividade criminal do ponto de vista econmico. Aqui, a funo do
criminoso conduzir o comportamento de sua vtima que resulta em algum tipo de transferncia
de propriedade (ou de direitos de propriedade) a ele. Quando h atentados vida ou crimes contra
a pessoa (estupro, por exemplo) poder-se-ia ter um outro tipo de anlise, mas mesmo assim, o
objetivo final do criminoso obter para si alguma vantagem (no estupro, sexo no consentido), e
equivalente, ao menos em teoria, a uma troca (mesmo no estupro, ele estaria comprando sexo,
no sentido de que apesar de no haver um mercado para estupros, equivale-se a uma transferncia
involuntria de direito o direito ao corpo). Insista-se, mais uma vez, que estamos nos abstraindo
de componentes morais e eles existem em algo repugnante e degradante como estupro e aqui
considerando que o criminoso um ser racional e absolutamente frio de escolhas e preferncias
que maximizem a sua satisfao.
Do ponto de vista jurdico, as leis penais, como ensina Goffredo Teles Jr: em seu texto verbal e
explcito no exprimem nenhum mandamento, no impem nenhuma proibio (...) de fato,
nenhuma lei probe matar, furtar, caluniar, portar arma (...) nenhuma lei probe, expressamente, o
crime e a contraveno. Tomadas ao p da letra, as leis penais so insusceptveis de ser violadas. O
crime e a contraveno no as violam: tais atos so a prtica dos atos que elas simplesmente
nomeiam. Ocorre que, a cada tipo de crime como sabemos a lei comina uma pena. como se
a lei dissesse: voc pode ou no cometer o crime nomeado na lei; mas se o cometer, voc poder
ficar sujeito pena cominada na mesma lei .
4
Do ponto de vista econmico, Calabresi e Melamed distinguem dois tipos de regras: as regras de
propriedade e as regras de responsabilidade.
5
Ambas so regras de proteo de direitos, mas vale a
4
Idem, ibedem.
5
Guido CALABRESI e A . Douglas MELAMED. Property rules, liability rules and inalienability: one view of the Cathedral. 85 Harvard
Law Review, 1086 (1972).
pena nos deter um pouco aqui para explicar melhor o conceito proposto num artigo seminal de
1972, escrito por estes dois autores. Regras de responsabilidade se definem por permitir trocas de
transferncia de direitos, mas que so involuntrias, desde que haja compensao pelo valor de
mercado. Regras de propriedade, por oposio ocorrem quando h a transferncia de direitos
inteiramente consensual. Quando as trocas so prticas e o risco de ineficincia se reduz
transao contratual, medida em que as partes interagem, negociam e definem direitos de
propriedade, mesmo s custas de estar incorrendo certos custos de transao, como vimos, estas
transferncias de direito de propriedade se d no mercado e assim que entendemos qualquer tipo
de troca. Se quero vender o meu Fusca 1969, zero kilmetros e peo R$ 50 mil por ele, desde que
haja algum disposto a pagar por ele por dar o mesmo valor a um carro antigo transfiro os
meus direitos de propriedade sobre aquele automvel a ele, mediante a entrega do bem e da
transferncia do DPVAT, no Detran local. J no caso de responsabilidade, os custos de transao
so extremamente elevados. Aqui, a proteo aos direitos de propriedade se d de forma enviesada.
Por exemplo, se sou assaltado e roubam o meu Fusca 1969, a regra de responsabilidade diz que
como houve uma transferncia involuntria de direitos (por meio de um crime) e por ter sido
contra a minha vontade tal transferncia (seja porque no quis vender o veculo), seja porque fui
assaltado mo armada, a compensao que posso receber a preos de mercado pode no me ser
suficiente. Suponha que o seguro possa cobrir (se que um veculo destes seja aceito por qualquer
seguradora como um bem segurvel) digamos, 10% do valor que atribui ao meu bem. A regra de
responsabilidade pode indenizar parte do valor (10%) e no aquilo que eu acho que vale: portanto,
a regra de eficincia tambm no pode ser aplicada. Por sua vez, suponha que o ladro revenda o
bem roubado a um terceiro por R$ 20 mil. Aqui, claramente houve uma alocao eficiente de
recursos. Primeiro por considerar que o bem vale R$ 50 mil e por existir pessoas no mercado
dispostas a transferir parte de seus direitos de propriedade para ter um Fusca 1969. Segundo, pela
regra de responsabilidade proteger apenas parcialmente meu direito e ltimo, por no ter sido o
ladro capaz de transferir direitos por R$ 50 mil, mas por R$ 20 mil. A pergunta que fica , se
houvesse o furto ou o roubo do veculo e o ladro me indenizasse em R$ 50 mil, haveria crime ?
Evidente que do ponto de vista jurdico, sim, mas do ponto de vista econmico, no. Se os direitos
de propriedade forem transferidos ao valor de mercado e a regra de responsabilidade estiver
compatvel com aquilo que entendo como preo justo h alocao eficiente de recursos. Regras
de responsabilidade e regras de propriedade contribuem para compreender melhor nosso sistema
jurdico de trocas.
Posner alega que h certos tipos de crime que s ocorrem por no haver substituto de mercado.
Por exemplo, o estupro. Estupradores obtm prazer apenas com o fato de que no houve sexo
consentido e no apenas no h mercado para estupro (j que o pagamento uma forma de
consenso), como se houvesse, os custos de transao seriam proibitivos. A sugesto de estabelecer
um preo ao estupro descabido no apenas por razes morais, mas tambm porque o
consentimento no parte do estupro; alm disso, todas as mulheres passariam a investir na
proteo contra estupradores potenciais e o custo provavelmente subiria sem que houvesse
eficincia no processo. O mesmo tipo de anlise pode ser vlido para comrcio ilegal de crianas
e bebs, por exemplo.
Mas voltemos ao exemplo do meu Fusca 1969. Se por oposio, transferir a minha propriedade a
algum milionrio maluco disposto a pagar R$ 100 mil por ele, a diferena de R$ 50 mil significa
quanto este novo comprador est disposto a pagar por ele a mais do que eu. Nesta mesma linha de
raciocnio podemos afirmar que o Direito Criminal, do ponto de vista econmico, uma forma de
assegurar que os direitos de propriedade sejam alocados no mercado de forma mais eficiente. O
que isto tem a ver com punio ? A punio e vamos falar disso mais adiante deve ser o
suficiente a incentivar as trocas de mercado. Por exemplo, se estivermos num pas de lei
muulmana, a penalidade pelo roubo supomos, cortar uma das mos. Podemos dizer que, neste
grau de incentivo a cumprir a lei (e supondo que ningum queria ficar maneta) a punio age como
sano, mas tambm como forma de se incentivar as trocas no mercado. Se o benefcio do ladro
for R$ 1 e no R$ 20 mil, podemos dizer que a regra legal estabeleceu um padro que encoraja a
transferncia de propriedade por meio de transaes de mercado, voluntrias e negociadas, j que
o ganho muito diminuto. Ou seja, todos iro preferir as trocas por meio da transferncia de
regras de propriedade e no regras de responsabilidade.
Pode ser fcil compreender esta explanao quanto bens patrimoniais. E quanto quilo que no
patrimonial, como a vida, por exemplo ? Quem tira a vida de algum num homicdio doloso pode
ser, em teoria, comparado a um ladro ? Num certo sentido, sim. Ele est roubando algum de
sua vida. Ai, o que poderia ser indagado sobre a regra de responsabilidade ? Se ele poderia pagar
uma indenizao a algum e com isso livrar-se da punio. Claramente, a anlise acima enfrenta
problemas, mas, como lembra Posner, no porque h uma certa utilidade que o criminoso tira da
situao (numa vingana, ou mesmo num estupro) que se pode admitir uma simples indenizao
ou punio; simplesmente no inventaram nada melhor do que a constrio da liberdade para
assassinos. Mesmo o pagamento de multas visto por muito como algo pouco democrtico, no
sentido de que estaria se diferenciando um criminoso pobre de um rico. E quando h crimes sem
vtima, ou a vtima o prprio criminoso, como por exemplo, em venda de rgos humanos ? Ou
s porque algum pode pagar uma indenizao vultuosa, ele deveria dirigir bbado ? Vejam que h
casos em que o Direito Penal impede os indivduos, para poderem viver em sociedade, de
transformar regras de responsabilidade em regras de propriedade.
Ns temos um sistema penal contudo, que est exatamente no outro extremo: para ns a punio
a expiao da culpa e em que no se consideram quaisquer consideraes econmicas, custos
sociais do processo ou mesmo uma mnima anlise econmica do sistema carcerrio. Cometeu um
crime, deve ser punido, mesmo que haja muitos argumentos contrrios (do tipo a cadeia uma
escola de ladres ou coisas assim). E diga-se de passagem, no se quer aqui no punir os
criminosos, mas apenas criar incentivos para uma sociedade mais justa.
Novos tipos de crimes: as fraudes eletrnicas: fraudes via computador e uso ilegal de
dados de acesso a servios de comunicao
O nmero de assassinatos e homicdios diminui, mas a criminalidade eletrnica explode na
Alemanha e em igual pases desenvolvidos. Esta a concluso do relatrio "Estatstica da
Criminalidade 2003", divulgado pelo Ministrio Alemo do Interior, Otto Schilly. O nmero total
de crimes registrados no pas aumentou "apenas" 1,6% (100 mil) para 6,36 milhes, dos quais 53%
foram esclarecidos. O ministro do Interior, Otto Schily, mostrou-se preocupado, porm, com o
"alarmante" crescimento de 40% da criminalidade eletrnica. Os casos de fraudes via computador
aumentaram 162,3% para 17.310 e os de uso ilegal dos dados de acesso a servios de comunicao
256,7% para 8.093 crimes. A maioria dos casos refere-se a transgresses como navegar na Internet
s custas de terceiros, uso ilegal dos dispendiosos nmeros de telefone especiais (0190) e o hacking
de cdigos de acesso dos celulares. Schily props uma cooperao mais estreita entre a indstria e
as autoridades de segurana para combater esse tipo de crime.
Fonte: www. dm.com
Uma segunda rea de discusso quanto ao que se conhece como externalidades. J se referiu
anteriormente ao conceito: um custo que no incorporado por quem o incorre; vimos ainda que
onde as transferncias de propriedade no-consentidas e onde h baixos custos de transao a
atividade criminal pode ocorrer. No entanto, nem sempre se pode comparar situaes anlogas de
crime de custos de transao elevados e trocas inexistentes no mercado. Tome-se, por exemplo, a
velocidade automotiva: o excesso punido e no limite, a licena de motorista pode ser cassada.
Mas, quando se est dirigindo em excesso a velocidade legalmente permita, claro que no se est
nem transferindo qualquer propriedade nem mesmo se incorrendo em qualquer custo de transao
e mesmo assim, o agente est praticando um crime. Outros exemplos como os crimes consensuais
(por exemplo, o uso de entorpecentes) no podem simplesmente ser considerados como trocas
no-voluntrias, at porque h o envolvimento da vtima no crime. Tais crimes causam
externalidades e por esta razo que a lei se prope a combate-los. A razo central da
externalidade quando uma das partes no leva em considerao o potencial prejuzo ou mal que
pode fazer ao outro. No direito contratual, como vimos, isso se resolve pelo pagamento de
indenizaes ou de multas. Na esfera criminal, o tema mais complexo. Uma compensao por
meio do mecanismo de preo no significa que estou dando o direito ao outro cometer um crime;
por exemplo o conceito da multa pelo excesso de velocidade no d ao condutor o direito de estar
comprando o direito de dirigir a 300km por hora. Assim, sendo, no suficiente pagar para
algum pelo crime cometido. Da mesma forma, o fato de ter ou no vtimas fatais, em virtude de
estar dirigindo a 300 km por hora no me impede de ser multado. Veja que o que se quer evitar
acidentes o que seria um crime culposo, j que o intuito no deliberadamente assassinar algum
e exclusivamente na modalidade de crime culposo por negligncia. No entanto, nem sempre a
ao pode ser definida por seu resultado; por exemplo, se um condutor est em alta velocidade
para levar um passageiro a um hospital ele no est sendo negligente, muito pelo contrrio. O
conceito de negligncia aqui outro: a probabilidade de ocorrer um acidente multiplicado pelo
prejuzo causado e comparado com o custo da preveno.
Podemos considerar ento o Teorema de Coase aplicado crime: num ambiente de custos de
transao zero, os direitos de propriedade sero assinalados a quem valoriza-los mais. Ora, no
nosso exemplo da velocidade automotiva, afirmamos que no h a escolha do condutor pagar a
multa s se houver acidentes. Aqui, trata-se apenas da probabilidade de que venha a ocorrer, logo
o intuito da lei punir independente de acidentes. H uma escolha a ser perseguida, que pode ser
colocada da seguinte forma: ser possvel causar dano alguem sem o seu consentimento? Ou seja,
o risco de ameaa pessoa ou propriedade determina que exista uma regra de coao que pode
ser cumprida por todos, isto sim, considerado com sinal de eficincia de uma dada sociedade.
Law & Economics v ento o direito penal como j se afirmou, como a transferncia de direitos
no-consensuais onde os custos de transao so altos. Claro, o que se conhece como dosemetria
penal implica em dar penas diferentes a diferentes tipos de comportamento. Se tiver razes reais
para que tal risco possa ser mitigado (como por exemplo, dirigir em velocidade para ir a um
hospital) ou dirigir bbado, as penas sero diferentes em cada caso.
Posner no deixa tudo para a rea civil e permite que se possam ajuizar aes penais e reparar
prejuzos com indenizao ? Todavia, segundo Posner, quanto mais alto for o nvel punitivo da
reparao do dano, menor ser a probabilidade de uma sano ser efetiva. Posner (p. 218,
Economic Analysis of law) d a seguinte equao para decidir o quanto deve ser atribudo em
indenizaes se a probabilidade do criminoso ser pego e ser obrigado a reparar os prejuzos
causados:
D = L/P
Onde,
D = Indenizao tima
L = Dano causado pelo criminoso (ou prejuzo provocado)
P = Probabilidade do criminoso ser pego e ser obrigado a reparar o dano
Concluso: assim, o nvel da indenizao idela o prejuzo causado dividido pela probabilidade do
criminoso ser pego. Por exemplo, se o prejuzo causado de R$ 10 mil, e a probabilidade de
10%, a indenizao tima deveria ser de R$ 100 mil. As razes por isto ocorrer sero discutidas
adiante.
H trs formas em que a sociedade se vale para corrigir o comportamento dos criminosos: a
primeira, impor penas no-monetrias privativas de liberdade ou de vida, como por exemplo,
encarcerar algum ou sentenciar morte. A segunda reduzir a chance do criminoso se esconder
ou desenvolver o seu aparato policial por meio do aumento do contingente policial. A terceira,
envolve tanto a manuteno de uma fora policial quanto tambm a punio de atos criminosos
preparatrios, ou seja, a atividade preventiva e no repressiva. Tais penalidades acabam sendo
pagas ao Estado, por meio dos impostos, como contraprestao pelos `servios de segurana, e
no s vtimas. Contudo, a lei penal sempre vista como um indutor de condutas.
Tal pode ser o caso, mas certamente uma viso limitadora da realidade. Porque o criminoso
comete um crime ? Segundo Posner, o modelo simples: um criminoso comete qualquer delito
(srio ou no) porque espera que os benefcios de sua ao considerada como crime possam
exceder os seus custos. Por benefcios pode se entender tudo aquilo que tangvel ou intangvel
(como os crimes passionais). Ambos derivam satisfao do ato criminal. O custo de um crime
pode incluir despesas operacionais (tais como aquisio de armas, mscaras, aluguel de ume
sconderijo), o custo de oportunidade do tempo do criminoso (que poderia estar fazendo qualquer
outra coisa) e os custos relacionados sua punio se for pego. Obviamente, o custo de
oportunidade do tempo de um criminoso (que poderia estar fazendo uma outra coisa) esto
diretamente relacionados s taxas de desemprego.
Ora, se sabe que quanto maior a probabilidade no necesssariamente esta
J um outro tipo de atividade humana em que pode-se aplicar lei penal no aquela em que causa
dano a outrem, mas apenas incmodo. Por exemplo, parar em fila dupla. No um crime em si,
mas se h multas para este tipo de atividade o incentivo exatamente evitar transtornos nas vias
pblicas. Claro, se os custos de impedir esta atividade foram to baixos (ou menores do que um
custo de um estacionamento) a ao estatal no far efeito.
Finalmente, podemos analisar a situao das vtimas sem acidentes e a situao do crime
consentido, aquele onde a prpria vtima autora do crime, como por exemplo, no uso de
entorpecentes. Porque o Direito impede este tipo de troca do mercado ? Primeiro, h um certo
sentido de competncia, j que muitos usurios no tem discernimento do mal que faz; depois, no
se pode considerar que as partes so livres para transacionar.Por exemplo, prostituio tambm
um crime; ningum em s conscincia pode considerar uma prostituta viciada em herona como
algum que est trocando direitos de propriedade no mercado com sendo livre e como sua escolha
sendo racional; claramente no . Logo, o tipo de anlise paretiana de eficincia no se aplica a
casos onde as partes no so capazes de contratar. Em segundo lugar, h um sentido de poltica
pblica nisso: a proibio de tais trocas pelo Estado indica que qualquer o benefcio ou a satisfao
que se possa obter de tais atividades, no ser suficiente para compensar o desconforto e a dor
alheia.
Podemos tambm considerar o direito penal como indutor de condutas. A primeira pergunta
porque no considera-lo como uma espcie de direito contratual em que se fora aquele que
descumpre certo tipo de atividade em ser obrigado a pagar uma indenizao. O esforo da lei em
torcar preferncias de certos agentes para possibilitar a vida social. A noo de multa ou
pagamento por ofensas (mais comum nos Estados Unidos do que aqui) se baseia num evidente
princpio da teoria econmica: se o preo de um dado produto sobe, bem provvel que os
consumidores passem a usar outros substitutos. Assim com o direito penal: um meio de moldar
as preferncias e comportamentos dos agentes.
Qual o preo ento que a sociedade deveria cobrar dos criminosos ? primeiro, h aqui uma
eficincia alocativa evidente e uma eficincia produtiva que acaba por determinar qual o nvel
timo de conduta criminal. Vamos examinar isso agora.
Se o violador sente que no precisa obedecer a uma lei apenas porque uma lei, temos um
problema inicial de incentivo. No passado, se acreditou que leis mais ferozes com penas mais duras
iriam desestimular a prtica criminal. Isto provou no ser o caso. Algum s comete um crime em
proveito prprio (claro, excluindo as razes ideolgicas, mas que seriam tambm maximizadores
de reputao, como por exemplo, um ato terrorista); ora se em benefcio prprio, o que o
criminoso est ganhando em termos de satisfao ou retorno, para ele, justifica o risco a ser
corrido. Se, por oposio, como na Holanda, houver um bairro onde fumar maconha livre, onde
a droga descriminalizada, o custo da droga cai. Ora, podemos dizer ento que objetivo de alargar
a regra penal deve se dar na medida em que o benefcio do alargamento desta regra supere, em
termos de custo a proposio original.
LAVAGEM DE DINHEIRO : UMA NOVA FACE DO CRIME
O processo de combate ao crime da lavagem de dinheiro mostra claramente uma nova face do crime organizado.
Segundo estimativas mais conservadoras, apenas nos Estados Unidos, onde se encontra o maior mercado para tal
crime: so cerca de 500 bilhes de dlares lavados anualmente.
6
A prpria expresso lavagem advm do direito
americano, j que, em Portugal, se utiliza a terminologia branqueamento de dinheiro, evitada pelo nosso legislador
porque, segundo ele, continha denotaes racistas (sic). Luiz Flvio Gomes estabelece uma diferenciao importante,
talvez a principal distino entre nosso diploma e o arcabouo jurdico americano. Ele escreve: Em termos poltico-
criminais o que se pode questionar a distino que se faz (desde a Conveno de Viena) entre o dinheiro sujo e o dinheiro negro: este
decorre da sonegao fiscal, da economia paralela; aquele deriva de outros ilcitos penais. Cabe observar, desde logo, que a lei brasileira
acabou no criminalizando a lavagem do dinheiro negro, o que polticamente criticvel.
7
No plano do direito internacional, muitas foram as iniciativas para combater a lavagem de dinheiro. Aps a
Conveno de Viena, destacamos os seguintes tratados, declaraes ou convenes celebrados entre as naes:
Declarao Conjunta dos Sete Pases Mais Industrializados (Paris, 1989); Declarao de Ministros de Estado
(Londres, 1990); Programa de Ao Global da ONU (1983); Recomendao R-80 do Conselho Europeu da
Comunidade Econmica Europia (1980); Conveno dos Bancos Suos (1987); Declarao dos Princpios da
Basilia (1988); Conveno e Diretiva da Unio Europia (1991); Declarao de Ixtapa (Mxico, 1990);
Recomendao da OEA (1990); Declarao de Caracas (1990); Declarao de Cartagena (1991), apenas para citar
algumas entre tantas.
8
Nunca demais situar o direito comparado em relao ao nosso. O intuito de nosso legislador ao elaborar a Lei
9.613/96 (a nossa lei de lavagem de dinheiro) foi incluir o Brasil entre as naes que seguiram a j citada Conveno
de Viena. Segundo Adrienne de Senna, ento presidenta do Coaf, conselho governamental criado em cumprimento a
essa lei, vamos montar uma central de inteligncia no Brasil, e, para isso, contamos com uma das mais modernas legislaes do mundo".
9
Muito se tem falado (e criticado) a lei em foco que de fato bastante imperfeita , mas talvez poucos tenham
se debruado sobre o estudo de quais sejam as mais modernas legislaes do mundo.
H muito que lavagem de dinheiro se relaciona intrinsecamente com trfico de drogas. Segundo o penalista Luiz
Flvio Gomes: Para o controle do crime organizado fundamental a criminalizao da conduta de quem lava (regulariza, legaliza
ou legitima) o dinheiro obtido com as atividades da organizao criminosa. Sem a possibilidade de legalizao desse dinheiro haveria
maior chance de controle das associaes criminosas.
10
Em Npoles, em 1994, a ONU destacou o assunto nos seguintes
termos: A identificao dos grupos empresariais que aplicam o dinheiro do crime, um acordo para identificar as pessoas que
movimentam milhes de dlares sem ter como justificar, o seqestro dos bens adquiridos com o dinheiro do crime e o congelamento das
fortunas conseguidas pelos criminosos so alguns pontos que necessitam de tratamento legal.
11
No plano internacional, em geral se classificam as leis de lavagem de dinheiro em trs grandes geraes: nas de
primeira gerao, o nico crime antecedente o crime do narcotrfico. Se for de qualquer outra natureza, ser outro
ilcito penal a receptao: receber dolosa ou culposamente valores oriundos de qualquer tipo de crime. J a
segunda gerao prev como crimes antecedentes no somente o narcotrfico, mas tambm outros delitos graves
6
Fonte: THE ECONOMIST. Cleaning up Dirty Money. 12 maio 1997.
7
Luiz Flvio GOMES. Lei 9.613/98. Lei de Lavagem de Capitais. Consultor Jurdico. 1998.
8
Idem, ibidem.
9
Declarao de Adrienne de SENNA, presidente do COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras. GAZETA
MERCANTIL. Normas contra lavagem de dinheiro comeam hoje. 2 ago. 1999.
10
Luiz Flvio GOMES. Op.cit. p. 4.
11
Idem, ibidem.
que a lei elenca. De acordo com Joseph Beckford, o modelo de penalizao institudo pela Conveno de Viena de
primeira gerao, enquanto o regulamento do modelo da OEA, a Cicad (Conselho Internacional de Disposies
sobre Drogas), de segunda gerao. Entre os pases que dispem de legislaes de primeira gerao, ainda de acordo
com Beckford, temos a Argentina (1989), e de segunda, Alemanha, Espanha (1993) e Portugal (1995). Finalmente, as
legislaes de terceira gerao se caracterizam pela universalidade. Neste caso, a lavagem de dinheiro abarca todo e
qualquer tipo de ilcito, ou seja, os ilcitos antecedentes da lavagem so todos e quaisquer que tenham produzido
recursos, transmutados ou no em fins lcitos. Eis alguns pases que adotaram tal abordagem: Blgica (1995), Frana
(1996), Itlia (1993), Mxico (1990) e os Estados Unidos.
12
Os antecedentes da lavagem de dinheiro datam de 1930. Meyer Lansky, contador de Al Capone, citado como o
precursor das tcnicas de lavagem. Em outubro de 1931, Al Capone se deixa prender e enviado para Alcatraz por
uma razo excessivamente bvia: evaso fiscal.
13
Ele desenvolve ento um raciocnio simplista, que seria mais tarde a
base da lavagem de dinheiro: tudo aquilo que estivesse fora da jurisdio do IRS (Internal Revenue Service, a Receita
Federal americana) era, por definio, ativos sobre os quais jamais incidiriam nenhum tipo de imposto. O historiador
T. Clark afirma que foi Lansky quem financiou Fulgncio Batista, apenas para se enganar posteriormente sobre a
estabilidade poltica da pequena ilha que vinha servindo de refgio para o dinheiro da mfia.
14
No desenrolar da
Segunda Guerra Mundial deu-se um grande desenvolvimento, por assim dizer, primitivo, das tcnicas de lavagem de
dinheiro. Sabe-se hoje, com certo grau de certeza, que foi a Mfia que obteve permisso para o desembarque das
tropas aliadas na Itlia, assegurando a vitria sobre os pases do Eixo. Igualmente se sabe que a Mfia americana
expandiu em grande escala seus negcios at ento concentrados em atividades que surgiram em face da Lei Seca
e que passou a ter maior demanda por produtos voltados lavagem de dinheiro.
15
De toda forma, a prpria expresso lavagem de dinheiro surge no cotidiano americano, segundo o Oxford English
Dictionary, com o escndalo de Watergate. Em fevereiro de 1972, John Mitchell, chefe da CRP Comit para a
Reeleio do Presidente e ex-scio de Richard Nixon, consegue uma doao ilcita por parte da American Airlines
e obrigado a utilizar-se de mecanismos de lavagem de dinheiro para o financiamento da campanha e a invaso do
prdio do Partido Democrata, mais tarde revelados pelo Washington Post, fatos que culminaram com a renncia do
presidente Nixon.
16
Curiosamente, inexistiam leis de lavagem especficas salvo o Bank Secrecy Act, cuja origem datava
da obrigao do disclosure de origens de recursos com finalidades tributrias muito mais do que penais. De
qualquer forma, foi com base nessa lei e e em razo do episdio de Watergate que o assunto se tornou importante
nos Estados Unidos.
17
A evoluo histrica da lavagem de dinheiro forou a organizao criminosa a cruzar fronteiras e utilizar-se dos
parasos fiscais onde h sigilo registral para as sociedades annimas e sigilo bancrio razoavelmente
intransponvel a fim de criar complexas estruturas de modo a transmutar recursos de origem ilcita em operaes
financeiras lcitas. Por se tratar de crime transnacional, portanto, sob forte inspirao americana, reuniram-se em
Viena, em 1988, delegados da ONU para elaborar o que seria mais tarde o marco institucional da cooperao
internacional no que diz respeito lavagem de dinheiro que foi a Conveno de Viena.
12
Joseph BECKFORD. Bank Compliance Law. 1985.
13
Jeffrey ROBINSON. The laudrymen. Pocket Books, 1998.
14
T. CLARK. Dirty money. Millington, 1975.
15
Jean MAILLARD. Un monde sans loi. 1968.
16
Para um relato vivo do escndalo de Watergate, vide Bob WOODWARD, Watergate. Radom Press. 1982.
17
Jeffrey ROBINSON. Op.cit., p. 10, relata: Like any great thriller, the story is filled with ironies. One is that Nixon had been so far ahead
in the polls, and his opponent, George McGovern, politically so far out in space, that CRP didnt need to solicit illegal funds. Nixon quite literally,
could have stayed in the Oval Office, never once made a speech, never once kissed a baby, never once hit the campaign trail, and still have won in a
landslide. A second is that, in the wake of Watergate, Congress took direct action to prohibit government intrusion into the lives of ordinary citizens.
One of the laws that was passed virtually enjoined financial investigators not to compare notes, which has turned out to be a boon for the laundrymen.
A third irony is that, in those days, money laundering was not yet a crime anywhere in the world.
Glossrio e Termos Legais: Roteiro de Estudo : Para Ler Mais
Criminologia: Conceito Objeto: fatos criminosos e autores de crimes: semntica dos termos. A
vtima e o controle social como objetos da criminologia. A criminologia como cincia emprica;
requisitos. Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade da criminologia. Antropologia Criminal.
Sociologia Criminal. Criminologia clnica, psicologia judiciria e psiquiatria forense.
Linhas histricas de criminologia Criminologia e ideologias. Ideologia penal pr-iluminista.
Cesare Beccaria e a ideologia liberal. A escola Clssica. Determinismo social. Criminalidade e
ideologia burguesa. Criminalidade e Marxismo. Lombroso e a criminologia centrada sobre o
indivduo. A escola positiva. Perigosidade social e medidas de defesa social. Influncia e limites do
positivismo. Teorias unifatoriais e multifatoriais. Pragmatismo criminolgico. Criminologia Crtica.
Nova Criminologia.
Criminologia e Direito Penal: correlao operativa - Relatividade histrica da definio do
crime. A lei como expresso da cultura: conceito de cultura. Conexo entre cultura, lei e poder.
Criminologia e Direito Penal. Justificativas.
Fenomenologia geral da criminalidade Estatsticas oficiais da criminalidade. Variaes
qualitativas e quantitativas no tempo. Idade e criminalidade: diversa participao dos vrios grupos
de idade na prtica de crimes. Idade e reincidncia. Delinqncia feminina. Raa e nacionalidade.
Imigrao, emigrao e criminalidade. Distribuio regional, urbana e agrcola da criminalidade.
Religio. Mudanas sociais e criminalidade: guerra, crise das instituies, crises sociais. Condies
scio-econmicas, pobreza e criminalidade. Classes sociais e criminalidade. Escolaridade e
criminalidade. Famlia e criminalidade. Meios de comunicao de massa e criminalidade.
BIBLIOGRAFIA BSICA
ALBERGARIA, Jason. Criminologia; terica e prtica. Rio de Janeiro: Aide, 1988.
BARATTA, Alessandro. Criminologia crtica e crtica do Direito Penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos.
Rio de Janeiro: Revan, 1997.
BECKER, Gary. Crime and Punishment: An economic approach. 76 Journal of Politiccal Economy, 169
(1968).
HART. H. L. A Punishment and responsibility.
JEVONS. Marshall. Murder at the margin.
MOLINA, Antonio Garca-Pablos e GOMES, Luiz Flvio. Criminologia: introduo a seus
fundamentos tericos. 2
. ed. rev., at. e ampl., So Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
GASSIN, Raymond. Criminologie. 4
ed., Paris: Dalloz, 1998.
MANNHEIM, Hermann. Criminologia comparada. Trad. J. F. Faria costa e M. Costa Andrade.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1985, vls. 1 e 2.
MANTOVANI, Ferrando. Il problema della criminalit. Padova: Cedam, 1984.
REISS, Albert J. Understanding and preventing violence. (National Research Cuncil of the National
Academy of Sciences, 1994.
REUTER, Peter. Desorganized crime: Illegal markets and the mafia. (1983)
MARCHIORI, Hilda. Delito y personalidad. Cordoba: Editora Cordoba, 1992.
1
CAPTULO IX: REGULAO DOS SERVIOS PBLICOS
9.1 Para o que Serve a Regulao Econmica?
9.1 Monoplios Naturais: Princpios Regulatrios
9.2 Estudos de Caso
9.3 Sumrio do Captulo e Glossrio
9.4 Sugestes de Leituras
9.5 Exerccios
Box 9.1: O que regulao econmica?
Box 9.2: Seleo adversa e risco moral
Box 9.3: O Problema do Agente-Principal
Box 9.4: Tarifas Multi-Partidas
Box 9.5: A Propriedade do Monopolista Natural Importante?
Box 9.6: Competio ou Regulao?
2
9.1 Para o que Serve a Regulao Econmica?
Em que pesem as reformas liberais das ltimas dcadas, a regulao da atividade
econmica tem se tornado cada vez mais intensa mundo afora. No mbito mundial, as
normas e decises emanadas por rgos como a Organizao Mundial do Comrcio, as
cmaras internacionais de arbitragem, o Banco Internacional de Compensaes, a
Organizao Internacional do Trabalho, e outras instituies semelhantes tm exercido
uma influncia crescente na organizao da atividade econmica. O mesmo vale para
acordos como o de Quioto, voltado para reduzir a emisso de gases na atmosfera, cuja
influncia nas decises corporativas deve se mostrar crescente, tanto em relao ao que
e como produzir, como sobre aonde investir. Da mesma forma, vm se tornando mais
freqentes as restries impostas s empresas por acordos regionais, como os que
sustentam a Unio Europia e o Mercosul, por exemplo.
As economias nacionais tambm tm experimentado um processo semelhante de
reforma e expanso da regulao incidente sobre as atividades de empresas,
profissionais liberais e mesmo as pessoas, como ilustram as leis que tornam obrigatrio
o uso de cinto de segurana e restringem o fumo em lugares pblicos. Esse processo
tem sido mais intenso, em vrios aspectos, nos pases mais desenvolvidos. Nestes,
temas como o meio ambiente, a segurana de produtos, a propriedade intelectual e at
o uso da internet como ilustrado pelas punies a quem envia spam nos EUA tm
sido objeto de mais e mais detalhadas regulaes nos ltimos anos. Nos pases em
desenvolvimento, por outro lado, a expanso da regulao em reas como meio
ambiente, direitos do consumidor e propriedade intelectual tem coexistido com a
reforma de regulaes j existentes, particularmente nos servios pblicos e nos
mercados de trabalho e capital.
O Brasil no tem ficado de fora dessas tendncias. De fato, muitas das reformas
empreendidas desde os anos 1980 tm sido caracterizadas pela substituio de um
Estado empresrio por outro que se preocupa em regular o setor privado. Por trs
3
dessas reformas est a viso de que o mercado mais eficiente do que o Estado em
definir a alocao de recursos e produzir. Elas so, tambm, uma reao constatao
de que a intensa interveno estatal que caracterizou a economia brasileira durante a
maior parte do sculo XX tambm foi marcada por muitos problemas, que podem ser
encaixados no que a literatura usualmente chama de falhas de governo.
Mas no se deve esquecer que, como o governo, o mercado tambm pode falhar. Isso
s no acontece em um mundo idealizado em que (i) no h interaes entre agentes
econmicos que no sejam intencionais e de comum acordo; (ii) que a informao
total e igualmente disponvel para todos, e (iii) em que h um nmero muito grande de
empresas competindo em condies semelhantes, em cada mercado, para vender para
um nmero tambm elevado de consumidores parecidos. Neste mundo, as empresas
vo se esforar ao mximo para produzir ao menor custo possvel; vender to barato
quanto os custos permitirem, dado o patamar de qualidade de cada bem ou servio; e
inovar e introduzir novos produtos no mercado. Os consumidores vo saber o que e
onde comprar; as famlias sabero avaliar o risco e o retorno dos seus investimentos; os
trabalhadores no assumiro riscos desconhecidos no seu local de trabalho; etc. Neste
mundo, no h necessidade de regulao.
Porm, quando uma dessas trs suposies no se verifica, a coincidncia que existe
nesse mundo ideal entre os interesses de produtores, consumidores, famlias,
trabalhadores etc. no mais se verifica, e o mercado deixa de ser eficiente. De forma
geral, so dois os tipos de ineficincia que se observam quando ocorre uma falha de
mercado:
Ineficincia alocativa: Observada quando os diversos bens e servios no so
produzidos / consumidos nas quantidades timas, isto , que maximizam o bem
estar social. A Figura 9.1 ajuda a entender esse conceito. O critrio de bem estar
social que vamos usar de excedente total, isto , a diferena entre o benefcio
de consumir um bem e o custo de produzi-lo (ver Seo 3.4). Na Figura, ele
4
dado, pela distncia vertical entre a reta de demanda e a curva de custo marginal.
Ele maior para a primeira unidade, caindo progressivamente para cada unidade
adicional produzida / consumida, at chegar a zero para a unidade q*, e
tornando-se negativo depois disso. Esta , portanto, a quantidade que maximiza
o excedente total, representado na Figura pela rea delimitada entre os pontos
ABC. Observe-se que este se divide entre o lucro da empresa, dado pela rea
CBp*, e o excedente do consumidor, representado pela rea ABp*.
C
Marg
p*
q*
Demanda
Figura 9.1: Eficincia Alocativa e Maximizao do Bem Estar
Social
A
B
C
Ineficincia tcnica ou produtiva: Ocorre quando a produo no se d ao
menor custo possvel ou quando uma quantidade insuficiente de recursos
despendida na busca de inovaes de produto e processo.
Nestes casos, h a possibilidade de que a regulao, alterando a forma como o mercado
funciona, venha a produzir uma situao em que o bem estar social seria maior do que
deixando o mercado funcionar sem interferncia. Que intervenes tm mais chances
de conseguir gerar esse ganho de bem estar social o tema deste e dos prximos
captulos. Em particular, a funo, o tipo, o escopo e a forma da regulao a ser
5
utilizada em cada caso vo depender do tipo de falha de mercado que se quer
neutralizar e da natureza da ineficincia por ela causada (Box 9.1). Neste livro,
estaremos preocupados com falhas de mercado resultantes da existncia de
externalidades, de uma distribuio assimtrica de informao, e de monoplios
naturais.
A existncia de externalidades faz com que nem todas as interaes que ocorrem entre
os agentes econmicos sejam intencionais e mutuamente acordadas. Externalidades
podem ser negativas ou positivas. A poluio do ar, da gua, ou sonora, por exemplo,
so formas usuais de externalidades negativas, pois quem respira o ar contaminado, se
banha em um rio sujo, ou obrigado a dormir com um barulho forte na casa do seu
vizinho no est consumindo essa poluio por livre e espontnea vontade. Imagine-se,
por exemplo, o que aconteceria se algum que deseja dar uma grande festa fosse
obrigado a pagar para obter a aprovao dos seus vizinhos. O natural que os vizinhos
s autorizassem a festa se a compensao recebida fosse pelo menos igual ao desprazer
causado pela msica tocada em alto volume, por exemplo. Quem vai dar a festa, por
outro lado, s vai estar disposto a pagar pela autorizao de seus vizinhos se o custo
incorrido com isso for menor do que a satisfao que vai ter dando a festa.
Chama-se a isso internalizar uma externalidade. Quando o dono da festa no
obrigado a pagar pelo desprazer que causa aos seus vizinhos, ele vai tender a dar mais
festas e colocar o som mais alto do que quando tiver de pagar por isso. Em particular,
quando a compensao dos vizinhos no obrigatria, a freqncia de festas e a altura
do som que vo ser tais que o prazer marginal que o dono da festa vai ter menor do
que o desprazer sentido pelos vizinhos. H, portanto, uma ineficincia alocativa, pois se
produz mais barulho do que socialmente timo. Quando a externalidade
internalizada, por outro lado, o prazer marginal da ltima unidade de barulho para o
dono da festa igual ao desprazer marginal dos seus vizinhos. Neste caso, o bem estar
social maximizado.
6
Quando se tem uma externalidade positiva, a situao essencialmente a mesma, s
que em sentido oposto. Quando a externalidade no internalizada, se produz menos
do bem ou servio do que social timo. Um caso importante de externalidade positiva
se d quando se tem uma externalidade de rede. Isso ocorre tipicamente em redes de
comunicaes, como de telefonia, de internet etc. Por exemplo, quando uma pessoa
compra um telefone, alm de ela ter um benefcio por poder se comunicar, os demais
usurios tambm ganham, pois podem passar a se comunicar com essa pessoa. Neste
caso, o mercado falha porque a pessoa que compra o telefone s estar disposta a pagar
por ele o benefcio que ela tem individualmente por poder se comunicar. Nessa deciso,
o benefcio auferido pelos demais usurios no ser levado em conta.
Quando os agentes econmicos realizam trocas com base em informaes incompletas
sobre os custos e benefcios que cada um ter como resultado dessa transao, o
mercado vai falhar e, deixado sozinho, no vai maximizar o bem estar social. Um caso
em que isto ocorre quando h uma assimetria de informao entre os agentes, isto
, uma parte na transao sabe mais sobre o bem ou servio sendo transacionado do
que a outra parte. Um caso clssico em que isso ocorre quando o vendedor sabe mais
sobre o produto sendo comercializado do que o comprador, como ocorre, por
exemplo, na venda de um carro usado. Outro exemplo o das emisses primrias de
aes ou ttulos de dvida corporativa, em que a empresa sabe muito mais sobre a sua
verdadeira situao financeira do que os potenciais investidores.
A assimetria de informao mais a norma do que a exceo, mas nem sempre a
regulao necessria ou recomendvel. Em muitas situaes, o interesse do vendedor
em manter uma boa reputao e/ou a existncia de garantias fornecem incentivos
suficientes para que essa assimetria no prejudique a parte menos informada. Alm
disso, o custo para o regulador de se informar e divulgar essa informao tende a ser
muito alto, em comparao ao ganho marginal que pode resultar disso. Nestes casos,
em geral suficiente manter uma regulao potencial (Box 9.1), deixando para agir
apenas se houver evidncia de abuso. Esse o caso, por exemplo, do trabalho
7
desenvolvido pelos PROCONs, em relao aos varejistas que vendem bens de
consumo, como discutiremos na Seo 9.1.
Um caso intermedirio o da prestao de servios especializados, como consultas
mdicas e legais, por exemplo. Neste caso, a assimetria informacional entre cliente e
fornecedor muito grande na verdade, ela que motiva a consulta e custoso
depender apenas de reputao para evitar os problemas que podem ser causados por
essa assimetria. H dois problemas distintos que podem ser causados pelo fato de o
cliente saber muito menos do que, por exemplo, o advogado que est sendo
consultado. O primeiro, conhecido como problema de seleo adversa, resulta de o
cliente no ter como avaliar se ele escolheu um bom ou um mau advogado. O segundo,
chamado de problema de risco moral, reflete o fato de que, em no sendo os servios
prestados pelo advogado bem sucedidos, o cliente no tem como avaliar se isso ocorreu
por falta de esforo do advogado ou por razes fora do seu controle (Box 9.2).
No caso dos servios profissionais, a forma mais usual de regulao a delegada, no
caso, para os prprios rgos de classe os Conselhos Regionais de Medicina e a
Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Estes ficam responsveis por impedir a
entrada de prestadores de servios que no atendam a certos requisitos mnimos de
qualidade (mitigando problemas de seleo adversa) e por punir ou mesmo forar a
sada daqueles que no tenham um desempenho profissional adequado (para reduzir o
problema de risco moral). A busca de uma boa reputao tambm um estmulo
importante neste caso.
Quando o grau de assimetria de informao maior, ou as conseqncias de uma
escolha mal informada possam se revelar mais srias, a regulao pr-ativa mais
comum, ainda que essa possa variar entre os tipos impositivo e informativo. Em casos
que envolvem a sade da parte menos informada, a tendncia que o regulador decida,
ele mesmo, o que pode ou no ser transacionado no mercado. Esse o caso, por
exemplo, da venda de remdios, das regras de segurana no local de trabalho, da
8
disponibilidade de extintores de incndio em prdios e carros, ou da obrigatoriedade do
uso de cinto de segurana.
Em outras situaes, o regulador opta por atuar no sentido de reduzir a assimetria de
informao, mas deixando parte originalmente menos informada a deciso do que
fazer. Esse o caso mais comum no mercado financeiro, onde o regulador impe
regras mnimas de transparncia, mas deixa para o investidor decidir o risco que quer
correr. Tambm em relao ao consumo de alimentos, remdios com menos risco de
efeitos colaterais, e muitos outros produtos, o regulador impe patamares mnimos de
transparncia, mas no decide pelo consumidor.
O terceiro tipo de falha de mercado ocorre quando o mercado no competitivo, e
uma ou mais empresas gozam de poder de mercado, isto , da habilidade de fixarem
seu preo acima do custo marginal. Quando isso acontece, h uma ineficincia
alocativa, e o consumo dos bens ou servios produzidos por essas empresas ficar
abaixo do nvel que maximiza o bem estar social. A falta de presso competitiva
tambm se traduz em incentivos mais fracos para que a firma seja tecnicamente
eficiente e introduza inovaes de processo e produto.
papel do setor pblico impedir que a empresa exera seu poder de mercado.
Usualmente, esse o papel das agncias de defesa da concorrncia, que tm como
misso limitar o grau de concentrao industrial e coibir prticas anti-competitivas,
como a formao de cartis, vendas casadas e outras condutas semelhantes, como
discutido no Captulo 5. Em certas situaes, porm, a tecnologia de produo tal que
eficiente ter uma nica empresa atendendo a todo o mercado relevante, caso em que
se diz que o mercado caracterizado pela existncia de um monoplio natural. Isso
ocorre quando a tecnologia de produo caracterizada por economias de escala e
escopo, fazendo com que a curva de custo seja sub-aditiva, ou exiba sub-aditividade.
9
Economias de escala resultam em geral da existncia de elevados custos fixos, isto , de
custos em que se tem de incorrer independentemente de quanto produzido. Este o
caso, por exemplo, de um rodovia, que exigir um alto investimento antes que o
primeiro carro possa passar. As economias de escopo, por outro lado, refletem a
existncia de custos comuns produo de mais um bem ou servio. Por exemplo, uma
empresa que faz o transporte ferrovirio de passageiros e carga entre duas cidades
pequenas deve ser capaz de oferecer os dois servios a um custo mais baixo do que se
eles fossem ofertados com a mesma freqncia separadamente por duas empresas
distintas. Freqentemente, a existncia ou no de economias de escopo depende da
forma que os servios ou produtos so definidos. Por exemplo, se o fornecimento de
eletricidade em voltagens diferentes so considerados servios diferentes ou no.
Economias de escala e escopo esto presentes, tipicamente, em setores em que antes de
se comear a operar se necessita fazer investimentos altos na instalao de redes fsicas
de distribuio, como telefonia fixa, ferrovias, rodovias, gua, saneamento e distribuio
de eletricidade. Particularmente nos casos em que essas redes tm alta capilaridade, em
geral socialmente ineficiente ter competio nesses setores, pois isso exigiria a
duplicao dessas redes, implicando em elevado custo de capital. Quando isso ocorre, a
exigncia de que haja um nmero elevado de firmas no mesmo mercado, condio
necessria para que o mercado seja competitivo, conflita com o objetivo de minimizar o
custo de produo, que exatamente uma das principais finalidades por se quer que
haja competio.
Neste caso, o papel da regulao buscar emular os resultados tpicos de uma situao
de competio, mesmo havendo um nico produtor. Se o regulador tiver informao
perfeita, basta para isso que ele mande a empresa operar com os custos, o preo, a
quantidade e a qualidade timas, isto , que prevaleceriam se houvesse competio. Em
tese, isso que acontece quando o mercado servido por uma empresa estatal (Box
9.3).
10
Na prtica, porm, mesmo quando a operadora de propriedade do Estado, a
assimetria de informao entre o regulador e a empresa a norma. Em particular, o
regulador menos bem informado que a empresa sobre seus custos e a demanda por
seus produtos. Por isso, recomendvel que ele deixe algumas escolhas para serem
feitas pela empresa. Neste caso, o desafio regulador usar a regulao aplicada
empresa para estabelecer incentivos que faam com que a empresa, ao usar o seu maior
conhecimento sobre os seus custos e o mercado para maximizar seu lucro, opte por
decises que a levem a se comportar como se estivesse em um mercado competitivo.
Em outras palavras, o objetivo da regulao em mercados naturalmente no
competitivos estabelecer incentivos que sejam compatveis com a maximizao do
bem estar social. Como fazer isso o tema da prxima seo.
9.2 A Regulao dos Monoplios Naturais
9.2.1 Conceitos Bsicos
Como visto acima, um mercado um monoplio natural quando a tecnologia de
produo caracterizada por economias de escala e escopo dentro do intervalo
relevante de demanda. Essa situao ilustrada na Figura 9.2 para o caso de uma
empresa que produz um nico bem ou servio. Como o custo mdio de produo cai
conforme a quantidade produzida aumenta, refletindo a presena de retornos
crescentes de escala, sai mais barato ter uma nica empresa ofertando, por exemplo, a
quantidade q*, do que duas firmas produzindo cada uma q*/2.
Usualmente, devido assimetria de informao, o regulador fixa o preo, mas deixa a
empresa livre para definir como produzir. A questo ento em que nvel fixar o preo,
de forma a maximizar o bem estar social. Neste livro, usamos o excedente total como
medida de bem estar social e, como se deduz da Figura, este maximizado fixando o
preo ao custo marginal ( )
*
arg
*
M
C p = , de forma que a quantidade produzida/consumida
seja q*. Para q*, o benefcio marginal da ltima unidade consumida igual ao custo
11
marginal de produzir essa unidade, que uma forma diferente de indicar que essa a
quantidade que maximiza o excedente total.
1
No jargo dos economistas, essa a
situao primeiro melhor, no sentido de que nela o bem estar social maximizado.
C
Marg
q*
C
Med
Demanda
*
Med
C
Figura 9.2: Maximizao do Bem Estar Social na Presena de
Economias de Escala
A
B
C
D
*
arg
*
M
C p =
O problema com esta soluo reside em que, na presena de retornos crescentes
(economias) de escala, o custo marginal menor do que o custo mdio, dado por
*
Med
C ,
e como o preo de venda no cobre os custos (
* *
Med
C p < ), a empresa amargar um
prejuzo, dado na Figura 6.2 pela rea do retngulo p*BD
*
Med
C . A soluo, nesse caso,
seria o governo subsidiar a empresa. Isto , o regulador fixa o preo em p* e governo
transfere para a empresa o valor ( )
* *
* p C q
Med
, anulando o seu prejuzo. De uma tica
estritamente setorial, essa seria a soluo tima. De um ponto de vista mais geral, seria
necessrio comparar o benefcio de maximizar o excedente total no setor em questo
1
Observe que esta medida d o mesmo peso para o lucro da empresa e o excedente do consumidor. O regulador
pode, porm, usar como sua medida de bem estar social uma mdia ponderada dos dois, usualmente dando mais
peso ao ltimo do que ao primeiro. Tambm no se diferencia nesta medida o bem estar de consumidores
diferentes, ainda que isso possa ser feito ponderando com pesos distintos o excedente de grupos de consumidores
diferentes, por exemplo, de baixa e alta renda. Armstrong, Cowan e Vickers (1994) ilustram a aplicao desse
princpio na Seo 2.1.
12
com a distoro causada na economia pelo imposto necessrio para financiar o subsdio
que o governo d empresa.
Uma forma em que esse subsdio pode ocorrer tendo o setor pblico arcando com
pelo menos parte dos custos fixos da empresa. Essa soluo adotada em alguns
setores caracterizados por monoplios naturais, como ocorre no Brasil na concesso
para o setor privado de rodovias, ferrovias, gua e saneamento. A empresa privada
opera os servios cobrando uma tarifa que remunera os custos operacionais, mas no
os custos de capital, que so implicitamente assumidos pelo setor pblico, que
permanece dono dos ativos. Essa uma soluo que funciona na concesso de ativos j
existentes, ou quando a empresa de propriedade do Estado, caso em que os subsdios
podem ocorrer na forma de aportes de capital. Mas uma soluo mais difcil de aplicar
quando so necessrios novos investimentos a serem feitos por uma empresa privada.
Assim, usualmente, at pela dificuldade de aprovar politicamente a transferncia de
recursos do governo para uma empresa (monopolista) privada, o regulador opta por
uma soluo segunda melhor, que fixar o preo de forma a maximizar o bem estar
social sujeito restrio de que a empresa no tenha prejuzo. No caso de uma empresa que
produz apenas um produto, esse resultado obtido fixando um preo pelo produto
igual ao custo mdio de produo, sempre incluindo neste a remunerao do capital
investido.
2
Na Figura 9.3, essa soluo segundo melhor corresponde ao ponto S, com a
quantidade consumida sendo q
**
. Neste caso, a firma tem lucro zero e o excedente do
consumidor dado pela rea do tringulo ASp
*
.
2
Quando a firma produz mais de um bem ou servio, o conjunto de preos que maximizam o bem estar social,
sujeito restrio de que a empresa no tenha prejuzo, dado pelos preos de Ramsey. Essencialmente, a
diferena entre o preo de Ramsey e o custo marginal de cada bem ser to maior quanto menor for a elasticidade
da demanda desse bem. Uma menor elasticidade corresponde na Figura 6.3 a uma curva de demanda mais
vertical. Quanto mais vertical for essa curva, menos a demanda pelo bem cair com um aumento de preos, de
forma que a quantidade consumida q
**
se afastar menos da quantidade tima q
*
. Esse mtodo foi originalmente
proposto por Frank Ramsey, um matemtico e filsofo ingls, no contexto da aplicao de uma estrutura tima
de impostos. Ramsey fez contribuies importantes nas reas de epistemologia, lgica, matemtica, estatstica,
probabilidade, economia, metafsica e outras antes de morrer, em janeiro de 1930, um ms antes de completar 27
anos. Train (1991) discute a lgica e a derivao dos preos de Ramsey no seu Captulo 4.
13
Esta situao comparada na Figura 9.3 que prevaleceria se o monopolista fosse
deixado livre de regulao. O equilbrio sob monoplio (no regulado) dado pela
condio
arg arg M M
C R = , sendo a receita marginal do monopolista dada pela reta AB .
Neste caso, ele maximiza o lucro cobrando um preo
M
p e produzindo
M
q a um custo
mdio
M
Med
C , o que lhe rende um lucro dado pelo retngulo MC C p
M
Med
M
, deixando para
o consumidor um excedente dado pelo tringulo
M
AMp . imediato ver que o
excedente total quando no h regulao, dado pela rea do trapzio
M
Med
AMCC ,
menor do que quando esta imposta buscando a maximizao do bem estar social
sujeito restrio de lucro zero.
C
Marg
q
**
C
Med
Demanda
* * * *
Med
C p =
Figura 9.3: Maximizao do Bem Estar Social com Economias de
Escala e Empresa sem Prejuzo vs. Monopolista No Regulado
q
*
*
p
S
A
B
q
M
M
Med
C
M
M
p
C
Um modelo historicamente muito utilizado no Brasil e em outros pases que funciona
com base nesse princpio o de regulao por taxa de retorno ou custo de servio.
Inicialmente, a empresa apresenta ao regulador todos os seus custos histricos com
mo-de-obra, materiais, combustveis, manuteno, impostos etc., e o valor do capital
investido. O regulador ento calcula o custo de capital da empresa aplicando sobre o
valor atualizado dos seus ativos uma taxa de retorno justa, que deve essencialmente
14
refletir a rentabilidade alternativa que a empresa poderia obter aplicando esses recursos
em uma atividade com um mesmo nvel de risco. Tecnicamente, essa taxa deveria variar
entre setores e pases e ao longo do tempo. No Brasil, na segunda metade do sculo
XIX e incio do sculo XX, ela era fixada em 6% em moeda forte (libras), isto , com
clusula implcita de correo cambial. A partir de meados do sculo XX, onde as
concesses (agora para empresas estatais) voltaram a ser comuns, utilizou-se
comumente uma taxa de retorno de 12%, alm da inflao, no muito acima da
observada em outros pases. Tanto num caso como no outro, a taxa era pr-fixada para
todo o perodo da concesso.
Somando os custos incorridos pela empresa com a remunerao sobre o capital
investido, o regulador obtm os custos totais, que devem ser cobertos pela cobrana de
tarifas, de forma a satisfazer a condio de lucro zero. O desafio seguinte consiste em
determinar a estrutura de tarifas dos vrios bens e servios fornecidos pela empresa.
Em princpio, isto deveria ser feito repetindo para cada produto individualmente o
procedimento descrito acima; isto , obtendo os custos incorridos na sua produo e
fixando a tarifa de forma a gerar uma receita de igual valor. A principal dificuldade
neste caso consiste em alocar os custos comuns produo de bens e servios
diferentes. Por exemplo, os trilhos de uma empresa ferroviria so utilizados tanto para
transportar passageiros como carga. Como alocar a remunerao do capital investido na
malha da ferrovia entre o transporte de passageiros e o de carga vai exigir algum tipo de
arbtrio.
3
Adicionalmente, o regulador pode querer introduzir subsdios cruzados na
estrutura de preos relativos, para proteger certos grupos de consumidores ou
incentivar determinadas atividades. No Brasil, por exemplo, as tarifas do setor eltrico
so estruturadas de forma a subsidiar os consumidores de baixa renda e o uso industrial
3
Baumol e Sidak (1994, pp. 69-72) discutem essa questo no contexto do setor de telecomunicaes. Esse um
tema particularmente importante quando se precisa definir a tarifa a cobrar de uma empresa pelo uso
compartilhado das instalaes de outra empresa. Por exemplo, uma empresa de transporte ferrovirio que precise
utilizar a malha de outra empresa. A forma como esses custos comuns so distribudos tambm afeta o valo das
tarifas pagas por diferentes consumidores.
15
de eletricidade, com a conta sendo paga pelos consumidores no-industriais de renda
mdia e alta.
Periodicamente, em funo da inflao ocorrida nos custos da empresa e da
depreciao dos ativos, ou extraordinariamente, caso haja um aumento significativo de
algum insumo relevante, que comprometa o equilbrio econmico-financeiro da
empresa, o regulador repete esse processo, ajustando as tarifas de acordo. Tipicamente,
essa reviso tarifria ocorre uma vez por ano, e considera os custos incorridos pela
empresa no ano anterior.
A regulao por taxa de retorno apresenta alguns problemas dignos de nota:
4
(a) Ela no incentiva a empresa a se esforar por reduzir os seus custos, j que uma
eventual economia no reverter para ela, mas para os consumidores, na forma
de uma reduo de tarifas. O resultado uma perda de eficincia tcnica.
(b) Os problemas de assimetria informacional entre o regulador e a empresa
assumem grande importncia, pois a determinao correta dos custos e da
demanda torna-se central para a boa implementao desse tipo de regulao.
Em geral h necessidade de uma negociao entre a empresa e o regulador sobre
que custos devem ou no ser includos na base de clculo.
(c) Quando, como tpico, a taxa de retorno incidente sobre o capital aplicado
supera o custo de capital da empresa, esta tende a utilizar mais capital do que
timo do ponto de vista da sociedade. Tambm neste caso h necessidade de
uma avaliao cuidadosa de que ativos devem se remunerados ou no. Por
exemplo, deve o jato utilizado pelo presidente da empresa fazer parte do capital
sobre o qual incidir a taxa de retorno?
4
Recomenda-se aos que quiserem se aprofundar neste tema a leitura do captulo 1 de Train (1991), que analisa
esses problemas de uma forma mais formal, mas ainda em um nvel introdutrio, com o recurso extensivo de
grficos.
16
Nas ltimas dcadas, o reconhecimento desses problemas motivou a substituio da,
em certa poca, onipresente regulao por taxa de retorno por outros mecanismos. Um
deles a regulao por teto de preo. A lgica inicial do processo a mesma do
mtodo anterior: fixar uma tarifa que cubra exatamente os custos da empresa. Mas ao
contrrio do que ocorre na regulao por taxa de retorno, isso feito olhando para os
custos da empresa no perodo que est por vir, e no no que antecedeu a reviso
tarifria. Alm disso, em alguns pases, como o Chile, por exemplo, sequer os custos
efetivos da empresa so considerados, mas sim os custos de uma empresa terica que
operasse de forma eficiente. Portanto, a dependncia da contabilidade da empresa e,
conseqentemente, os problemas de assimetria de informao so menos graves do que
no caso anterior.
Outra diferena que o teto de preo fixado por prazos mais longos do que os
intervalos entre revises tarifrias na regulao por taxa de retorno, e esse prazo
exgeno isto , ele no encurtado se a firma bem sucedida em aumentar seus
lucros. No Brasil, por exemplo, esses tetos so fixados por perodos variando entre
cinco e oito anos. Nesse nterim, quanto mais a empresa conseguir economizar em
custos, maior vai ser o seu lucro. Por essa razo, esse mecanismo fornece incentivos
muito fortes para que a empresa se esforce por ser eficiente. Alm disso, na medida em
que alguns dos insumos apresentem variaes cclicas de preos, o regime de teto de
preo tende a resultar em uma menor volatilidade nas tarifas do que o por taxa de
retorno.
Obviamente, se a empresa bem sucedida em reduzir custos, isso significa que a curva
de custo mdio ( )
Med
C na Figura 6.3 deslocada para baixo, fazendo com que o preo
*
p originalmente fixado deixe de ser timo do ponto de vista alocativo. O correto
nesse caso que o preo caia, acompanhando os custos e viabilizando um aumento da
quantidade consumida. Em casos em que esperado que a empresa consiga reduzir
seus custos no futuro, a regulao por preo de teto costuma embutir uma reduo
anual no valor real das tarifas. Isso feito corrigindo anualmente as tarifas pela inflao
17
passada, descontado um fator X, que reflete a expectativa do regulador sobre o
aumento mdio anual de produtividade que a empresa ir alcanar. Note-se que, como
esse fator independe do que a empresa efetivamente vai conseguir poupar, ele no
elimina o incentivo da empresa por se esforar em ser eficiente.
Outra diferena em relao regulao por taxa de retorno que o regulador apenas
fixa um teto para a tarifa, podendo a empresa cobrar um preo inferior a ele.
Usualmente, o regulador fixa um teto para uma cesta de servios e tetos individuais
para cada um desses servios. A possibilidade de trabalhar com um preo abaixo do
teto mais relevante para servios individuais do que para a cesta como um todo. Se a
empresa cobrar para a cesta de servios uma tarifa abaixo do teto, porque o teto est
muito alto. J em relao aos servios individuais, ela pode escolher cobrar um preo
mais baixo para compensar um preo mais alto de outro servio, no qual ela consegue
maior rentabilidade. Essa maior flexibilidade faz com que neste regime as tarifas
reflitam melhor os custos efetivos dos servios e as suas elasticidades da demanda, no
esprito dos preos de Ramsey, gerando em geral uma situao melhor do que quando o
regulador fixa o preo de cada servio, como no regime de regulao por taxa de
retorno. A razo disso que a empresa tem melhor informao sobre custos e
demanda, e neste caso os seus interesses so compatveis com os da sociedade.
H duas crticas mais comuns ao sistema de teto de preo. Uma, que a empresa acabe
por ofertas servios de baixa qualidade, na tentativa de reduzir custos e auferir um lucro
mais elevado. Como h evidentemente um incentivo para que a empresa aja assim, a
regulao por teto de preo precisa vir acompanhada de definies claras de detalhadas
dos patamares mnimos de qualidade que sero tolerados. O regulador tambm
necessita exercer uma fiscalizao permanente do cumprimento desses requerimentos e
impor sanes efetivas quando elas forem desrespeitadas. No sistema de regulao por
taxa de retorno o problema exatamente o oposto: de que, na tentativa de aumentar a
base de remunerao do capital, a empresa invista em ativos caros, mas que tragam
18
poucos benefcios para os usurios, como, por exemplo, escritrios e outras instalaes
comerciais e administrativas luxuosas.
O segundo risco que a empresa acabe com uma parte muito grande dos frutos do
aumento de produtividade que ela venha a alcanar, transferindo-se uma parte menor
para o consumidor. Isso facilitado pelo receio do regulador de inviabilizar a operao
da empresa e desestimular o investimento, o que o leva a ser conservador na fixao do
termo X, que corresponde taxa anual de reduo no valor real das tarifas. No Brasil,
praticamente todos os contratos de concesso assinados aps a privatizao de
empresas de servios pblicos que passaram a ser reguladas pelo sistema de teto de
preo tiveram esse fator X igual a zero no primeiro perodo entre revises tarifrias. A
possibilidade de ter um lucro muito alto se bem sucedida em reduzir custos, contrasta
com a tendncia das empresas solicitarem revises de preos intermedirias caso
estejam registrando prejuzos. De fato, no Brasil a Lei das Concesses garante s
empresas o equilbrio econmico-financeiro dos contratos, o que lhe d essa
prerrogativa de solicitar um aumento de tarifas se estiver registrando perdas.
A preocupao com este ltimo problema tem motivado a adoo dos regimes que
tentam capturar os aspectos positivos dos regimes de regulao por taxa de retorno e
teto de preo. A idia bsica desses regimes garantir um compartilhamento mais
explcito de riscos, sem sacrificar o incentivo para que a empresa se esforce por reduzir
custos. Essencialmente, o mtodo consiste em fixar uma meta para a taxa de retorno
sobre o capital investido, por exemplo, 12%. Ganhos de eficincia ou pequenas quedas
ou aumentos dos custos dos insumos que levem a taxa efetivamente obtida pela
empresa para cima ou para baixo, dentro de um intervalo pr-fixado, por exemplo,
entre 10% e 14%, no levam a revises tarifrias fora dos perodos pr-determinados,
que tenderiam a ser relativamente longos. Se a taxa efetiva de retorno ficar acima do
teto desse intervalo, as tarifas sero parcialmente reduzidas, de forma a dividir esse
ganho entre a empresa e os consumidores. Por exemplo, se a taxa efetiva ficar em 16%
em um ano, no seguinte a tarifa ser reduzida para que ela caia para 15%.
19
Na prtica, a diferena entre esses regimes menor do que sugere a sua verso
estilizada. Assim, por exemplo, na regulao por teto de preo, o regulador tende a
considerar, no momento da reviso tarifria, os resultados passados da empresa para
determinar o fator X para o perodo seguinte. Da mesma forma, uma regulao por
taxa de retorno que tenha intervalos entre revises relativamente longos ir permitir
empresa ficar com os ganhos oriundos do seu ganho de eficincia nesse meio tempo.
9.2.2 Regulao em Setores Verticalmente Integrados
Os monoplios naturais so menos prevalentes do que em geral se pensa. Em
particular, usualmente eles ocorrem apenas em certas atividades de um setor,
normalmente aquelas que necessitam de investimentos em redes para poderem ser
executadas, restando outros segmentos dentro do mesmo setor que podem em
princpio funcionar como mercados competitivos. H inmeros exemplos disso. Por
exemplo, a distribuio e a transmisso de energia eltrica so monoplios naturais, mas
a gerao no. O mesmo vale, respectivamente, para a telefonia fixa local e a de longa
distncia, ou a distribuio e a extrao de gs natural. No setor de transportes, pode
haver competio na operao de trens, nibus e caminhes, ainda que as malhas
ferroviria e rodoviria sejam monoplios naturais. Essas redes constituem insumos
indispensveis para que as empresas nos segmentos competitivos possam prover seus
servios, sendo por isso chamadas de instalaes essenciais ou gargalos.
O que torna especial a situao desses segmentos competitivos a relao vertical
que h entre eles e o segmento que funciona como monoplio natural: no adianta
gerar eletricidade se no h como faz-la chegar ao consumidor, nem se ter caminhes
ou trens se no se pode usar as estradas e as ferrovias. Uma verso estilizada do
problema, aplicada ao setor de telecomunicaes, apresentada na Figura 6.4. A
telefonia local, baseada em redes fsicas que conectam as centrais telefnicas s
residncias e aos locais de trabalho dos clientes, um monoplio natural. A telefonia de
longa distncia um segmento cada vez mais competitivo, fruto do grande progresso
20
tecnolgico nessa rea nas ltimas dcadas. Mas, para poder operar, as empresas de
longa distncia precisam utilizar as redes locais para ter acesso aos clientes. O segmento
competitivo no pode funcionar dissociado daquele em que h um monoplio natural.
Uma parte fundamental da regulao de monoplios naturais consiste em definir e
acompanhar a sua relao vertical com os segmentos potencialmente competitivos.
papel da regulao fixar regras de interconexo e tarifas de uso da rede de outras
empresas, mesmo quando o monopolista natural no opera verticalmente integrado. Na
Figura 6.4, por exemplo, a operadora de longa distncia vai precisar se interconectar
com a rede da operadora local B e utiliz-la para alcanar os consumidores na cidade B.
O regulador precisa garantir condies tcnicas de interconexo, obrigar a operadora B
a permitir o uso de sua rede e definir uma tarifa que a remunere por isso. Outro
exemplo pode ser observado no setor ferrovirio brasileiro. Por que a propriedade da
malha segmentada regionalmente, possvel, dependendo dos pontos de origem e
destino da viagem, que o trem tenha de passar pelos trilhos de mais de uma companhia.
C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
c
i
d
a
d
e
A
Operadora
telefnica
local A
Operadora de longa
distncia
subsidiria de
operadora local A Operadora
telefnica
local B
C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
c
i
d
a
d
e
B
Operadora de longa
distncia
independente
Figura 6.4: Monopolista Natural Verticalmente Integrado
21
Essa situao levanta uma srie de questes do ponto de vista da regulao. Por
exemplo, como deve ser compensada a empresa que cede o direito de passagem por
seus trilhos? A tarifa de acesso cobrada de quem usa os trilhos de outra empresa deve
ser igual ao custo marginal de uso ou tambm remunerar parte do custo de capital? A
resposta a essas perguntas, que j no simples quando h uma separao vertical entre
as empresas nos dois segmentos como entre a operadora independente de longa
distncia e a Operadora Local B -- fica ainda mais crtica e complexa quando o
monopolista natural atua verticalmente integrado no segmento competitivo como a
Operadora Telefnica A.
5
Neste caso, h uma assimetria entre a operadora verticalizada
e suas concorrentes, e as regras de interconexo e acesso tambm tm de garantir
isonomia competitiva entre elas.
Na definio de que modelo regulatrio utilizar nesse caso, uma primeira questo diz
respeito a se a competio deve ser um objetivo a perseguir nos segmentos em que ela
possvel. Historicamente, a opo foi simplesmente deixar a empresa responsvel pelo
segmento monopolista tambm atuar isoladamente nos segmentos competitivos, ou lhe
dando um monoplio legal, ou no a impedindo de criar barreiras entrada de
concorrentes. No Brasil, essa monopolizao por extenso foi muito comum at os
anos 1990.
Esta pode ser uma boa soluo quando: (i) o regulador tiver dificuldade de regular a
conduta do monopolista natural; (ii) este controlar instalaes essenciais, tornando as
empresas do segmento competitivo fornecedoras ou clientes cativas do monopolista; e
(iii) os ativos no segmento competitivo tiverem um alto grau de especificadade. Neste
caso, as empresas que podem se interessar por operar no segmento competitivo vo se
recusar a investir com receio de que o monopolista natural haja oportunistamente, uma
5
No Captulo 7 de Baumol e Sidak (1994) encontra-se uma ampla discusso sobre a fixao das tarifas de acesso
quando este fornecido a empresas competidoras.
22
vez o investimento realizado. Na prtica, pode ser mais fcil deixar as duas atividades
para o monopolista.
6
Neste caso, todo o setor passa a ser regulado.
Em dcadas mais recentes, tem havido uma reavaliao da efetiva capacidade do
regulador controlar a conduta do monopolista, passando-se a dar mais nfase
introduo da competio, como bem simbolizado peloo dizer de Kay e Vickers (1988,
p. 287): Competio aonde possvel, regulao aonde necessrio. Neste caso, a
capacidade de competir depende do acesso das empresas aos usurios e, portanto, s
redes controladas pelo monopolista. Na ausncia de restries regulatrias, o
monopolista pode impedir a competio criando desvantagens para os seus
concorrentes no mercado de servios finais, dando-lhes um acesso em piores condies
sua rede. Neste caso, o domnio do segmento potencialmente pela monopolista
natural pode resultar no da sua maior eficincia, mas da sua capacidade de tirar a
competitividade dos seus rivais.
A questo, ento, como impedir que o monopolista natural use o controle destas
instalaes essenciais e o seu poder de mercado no segmento no competitivo para
impedir que a competio floresa nos demais segmentos do setor. H essencialmente
duas formas de fazer isso. A primeira, conhecida como regulao de conduta, permite que
o monopolista atue tanto no segmento no-competitivo como nos competitivos, mas
impe restries sua conduta para impedi-lo de criar desvantagens competitivas para
os seus concorrentes nos segmentos competitivos. Na Figura 6.4, a Operadora
Telefnica A verticalmente integrada e o desafio do regulador impedir que ela
utilize seu controle sobre a telefonia local na cidade A para prejudicar seus
competidores independentes na longa distncia. A segunda forma, chamada de regulao
estrutural, simplesmente impe a separao vertical entre o segmento no-competitivo e
os segmentos competitivos, combinada com restries a que o monopolista atue nos
6
Esse problema do consumidor cativo afeta setores diversos. Geradores de eletricidade e mineradores de gs
natural, por exemplo, so inteiramente dependentes dos proprietrios de linhas transmisso e gasodutos, e isso
pode desencorajar seus investimentos, na ausncia de uma forte regulao sobre o dono dessas instalaes
essenciais. Clientes das empresas ferrovirias cuja nica via de escoamento da produo a ferrovia tambm
sofrem do mesmo problema. A integrao vertical elimina esse problema.
23
segmentos competitivos. Na Figura 6.4, a Operadora Telefnica B um monopolista
verticalmente separado do segmento de longa distncia.
A regulao de conduta , quase por definio, bem mais difcil de implementar do que
a estrutural, pois esbarra numa srie de assimetrias de informao entre o regulador e o
monopolista verticalmente integrado. Este sempre ter interesse em criar dificuldades
para seus concorrentes, utilizando a sua informao superior e os mecanismos
regulatrios, legais e polticos a seu dispor, com esse objetivo. O desafio principal do
regulado impedir isso, garantindo que os concorrentes da empresa verticalmente
integrada tenham acesso s suas instalaes essenciais em condies competitivamente
isonmicas. Duas maneiras em que o regulador pode fazer isso impondo diretamente
a proviso de acesso em condies de preo e qualidade adequadas, e tornando o
unbundling (desagregao) de servios obrigatrio.
Sendo os monoplios naturais em geral resultantes da existncia de redes, a regulao
de conduta deve garantir que a interconexo a essas redes seja possvel por todos os
concorrentes nos segmentos competitivos. Mas no basta garantir a interconexo. O
acesso rede tem de ocorrer de forma a permitir a efetiva competio. Para isso, o
regulador deve garantir um equilbrio entre o lucro obtido pelo monopolista quando
prov o acesso para si prprio e o lucro que obtm vendendo esse acesso aos seus
concorrentes. Em especial, a tarifa de uso da rede cobrada aos seus concorrentes no
pode ser mais alta do que a que cobra implicitamente de si mesmo. A qualidade do
acesso dado aos competidores tambm no pode ser pior do que para si prprio, nem a
facilidade de acesso (por exemplo, na telefonia, o nmero de algarismos que o usurio
final precisa discar) diferente. Todos tambm precisam ter igual acesso a informaes
sobre os usurios, pois a indisponibilidade de informaes dificulta a briga pelo
consumidor e pode inviabilizar a realizao de projetos, ou levar a erros na sua
concepo. Vale dizer, para viabilizar a competio, tarifas, qualidade e facilidade de
24
acesso precisam oferecer igualdade de condies entre o monopolista e seus
concorrentes no segmento competitivo.
7
O unbundling dos servios providos pelo monopolista uma boa alternativa quando um
potencial competidor quer entrar no mercado oferecendo servios especializados, para
o qual no necessita de todo o pacote de servios oferecido pelo monopolista. Por
exemplo, uma empresa de transportes pode querer usar os trilhos de uma ferrovia, mas
no os seus trens ou estaes. Ou um gerador de eletricidade pode querer utilizar as
linhas de alta tenso de uma distribuidora, para suprir consumidores industriais, mas
no ter interesse no acesso a consumidores residenciais. Neste caso, o monopolista
pode inviabilizar a especializao do competidor se recusando a prover o servio
individualizado que ele necessita. Ou cobrando uma tarifa proibitiva pelo esse acesso
desagregado, a menos que o competidor compre todo o pacote de servios que o
monopolista oferece, alguns dos quais podem no lhe ser necessrios. Por isso, ao
impor o unbundling, o regulador precisa exigir que o monopolista fornea seus servios
de tal forma que a soma das tarifas dos servios desagregados seja igual tarifa cobrada
pelo pacote de servios.
8
s vezes a regulao de conduta preciso fazer mais do que s abrir o mercado e buscar
condies isonmicas de acesso. Isso particularmente verdadeiro quando o mercado
dominado por um incumbente verticalmente integrado, que controla instalaes
essenciais. Neste caso, alm da dificuldade de efetivamente garantir um acesso a essas
instalaes em igualdade de condies, preciso contrabalanar algumas vantagens
competitivas de que goza a incumbente por ter entrado primeiro no mercado, por
haver custos de mudana entre fornecedores e pela fora da inrcia no comportamento
dos consumidores. Neste caso, o regulador deve no apenas defender, mas tambm
7
Na prtica, a assimetria de informao entre o regulador e o monopolista verticalizado torna muito difcil impor
essa simetria de condies competitivas, com o resultado, em geral, de que as concorrentes no verticalizadas
sofrem uma desvantagem competitiva.
8
A nica exceo a esta regra se daria se houvesse economias de escopo na prestao desses servios, caso em
que faria sentido econmico cobrar menos pelo pacote do que pela soma dos servios individualmente. Dada a
existncia de severas assimetrias de informao em relao existncia ou no dessas economias, o nus da prova
de demonstrar a existncia de economias de escopo deve caber incumbente.
25
promover ativamente a competio, com o recurso regulao assimtrica. No setor de
telecomunicaes brasileiro, essa uma prtica comum. Ela est por trs da diferena
entre o regime de concesso de servios pblicos, que impe uma srie de obrigaes
ao concessionrio, e o regime de autorizao, em que a empresa tem maior liberdade de
atuao, inclusive quanto fixao de suas tarifas.
Frente a essas dificuldade, possvel constatar uma srie de vantagens na regulao
estrutural. Em particular, ela elimina o incentivo do monopolista natural de diferenciar
o acesso dado aos vrios concorrentes do segmento competitivo. Pelo contrrio, como
a demanda por seus servios ser to maior quanto maior for a competio e o nvel de
atividade no segmento competitivo, o monopolista ter interesse em que ambos sejam
to grandes quanto possvel, de forma a auferir maiores receitas e lucros.
Quando h integrao vertical, toda a contabilidade do monopolista natural mais difcil
de acompanhar, facilitando a transferncia de custos entre os segmentos em que h e
em que no h competio, inflando as tarifas no segmento caracterizado pelo
monoplio natural e facilitando condutas anti-competitivas como o price squeezing e
preos predatrios no segmento competitivo. A separao vertical torna a contabilidade
do monopolista mais transparente, eliminando a possibilidade de que ele aloque
contabilmente custos incorridos no segmento competitivo ao no competitivo. Esse
um dos fatores que simplificam o trabalho do regulador quando h separao vertical,
pois este pode se concentrar no segmento no-competitivo e exercer uma regulao
mais leve sobre as atividades em que h competio. Alm disso, ao eliminar esse
incentivo que tem o monopolista de negar acesso, a separao vertical permite que se
adote uma forma mais leve de regulao tambm no segmento no competitivo, dando
maior liberdade ao monopolista para utilizar suas melhores informaes para operar
mais eficientemente.
9
9
Uma detalhada discusso dessas questes pode ser encontrada em OECD (2001).
26
Por outro lado, uma vantagem potencial da regulao de conduta a possibilidade de se
efetivamente fomentar investimentos e competio em setores potencialmente
competitivos, mas capital-intensivos e que exigem operaes em grande escala. Por
exemplo, no setor de telecomunicaes brasileiro, com a separao vertical e posterior
privatizao das operaes de telefonia local e de longa distncia, concluiu-se que a
maneira mais efetiva de gerar competio na longa distncia seria permitindo s
operadoras locais que se verticalizassem em direo a esse setor.
27
9.4 Sumrio do Captulo e Glossrio
Assimetria de informao: Ocorre quando uma das partes em uma transao sabe
mais sobre as condies em que se realiza a transao por exemplo, as caractersticas
de um bem ou servio sendo transacionado -- do que a outra parte.
Economias de escala: Uma tecnologia de produo exibe economias de escala quando
o custo de uma empresa produzir uma quantidade Q menor do que o custo total de
duas empresas produzirem quantidades
2 1
q e q separadamente. Vale dizer,
( ) ( ) ( )
2 1
q C q C Q C + , onde
2 1
q q Q + = .
Economias de escopo: Ocorre quando o custo de uma nica empresa produzir
quantidades
L C
Q e Q dois bens C e L menor do que alocar toda produo de C a
uma empresa e toda a de L outra. Vale dizer, ( ) ( ) ( )
L C L C
Q C Q C Q Q C , 0 0 , , + .
Externalidade: Uma externalidade ocorre quando o consumo de um bem ou servio
por uma pessoa, ou a produo de uma empresa, afeta diretamente o bem estar de
outra pessoa ou empresa que no parte na transao. Ou sejam uma cesta de bens
ou servios que fornecida por uma agente econmico a outro, na ausncia de
qualquer transao econmica entre esses dois agentes relacionada a esse
fornecimento (Spulber, 1989).
Externalidade de rede: Ocorre quando o bem estar de um agente ligado a uma rede
(telefnica, de computadores, ferroviria etc.) influenciado quando um novo agente se
conecta a essa rede.
Ineficincia alocativa: Ocorre quando os diversos bens e servios no so
produzidos / consumidos nas quantidades timas, isto , que maximizam o bem estar
social.
28
Ineficincia tcnica ou produtiva: Ocorre quando a produo no se d ao menor
custo possvel ou quando uma quantidade insuficiente de recursos despendida na
busca de inovaes de produto e processo.
Instalao essencial: So equipamentos ou edificaes sem os quais impossvel
produzir um bem ou servio. Na doutrina legal americana, para que uma instalao seja
considerada essencial ela deve satisfazer quatro condies: (a) o acesso a essa instalao
necessrio para que uma empresa possa competir no mercado em questo; (b) essa
instalao controlada por uma firma dominante; (c) impossvel, na prtica,
reproduzir em condies razoveis essa instalao; e (d) possvel para a firma que
controla essa instalao prover acesso a ela para outras empresas.
Monoplio natural: Ocorre quando o custo minimizado concentrando toda a
produo de um conjunto de bens e servios em uma nica empresa, do que a
distribuindo entre vrias empresas. Diz-se que nesse caso a curva de custo exibe sub-
aditividade.
Poder de mercado: Diz-se que uma empresa goza de poder de mercado quando ela
capaz de fixar seu preo acima do custo marginal. Tirole (1989, p. 284) observa que
essa definio diverge daquela em geral usada pelos gestores pblicos, que associam
poder de mercado capacidade de fixar um preo acima do custo mdio, o que
permitiria empresa obter lucros supra-normais.
Regulao uma regra ou conjunto de regras que limitam a liberdade de ao ou
escolha das empresas, dos profissionais liberais e/ou dos consumidores. Sua aplicao
sustentada pelo poder de coero do Estado. Normalmente, ela definida e aplicada
pelo poder pblico ou, por delegao, por entidades de classe.
Relao vertical: Diz-se que h uma relao vertical entre dois ou mais bens ou
servios intermedirios quando eles so complementares na produo de um bem ou
29
servio final. Por exemplo, em telecomunicaes, os servios providos pelas redes
locais de dois municpios e pela infra-estrutura da operadora de longa distncia so
complementares na produo de uma ligao de longa distncia entre esse dois
municpios. H, portanto, uma relao vertical entre a operadora local e a de longa
distncia.
Risco moral: Tem lugar quando uma das partes em uma transao no consegue
observar o esforo que a outra parte faz ou fez para cumprir a sua parte no que ficou
acertado entre elas. Por exemplo, quando se contrata um massagista ou um professor
particular, difcil avaliar se a qualidade dos servios foi to boa quanto se poderia
esperar. Da mesma forma, quando a lei determina que o concessionrio pblico
pratique a modicidade tarifria, difcil para o regulador avaliar se a empresa poderia
estar se esforando mais para baixar seus custos e, conseqentemente, as tarifas.
Seleo adversa: Ocorre quando uma das partes em uma transao tem menos
informao do que a outra sobre as condies em que essa troca se realiza. Por
exemplo, quando um investidor vai comprar uma ao e no sabe se a empresa de
alto ou baixo risco. Ou quando o regulador precisa definir a tarifa de um servio
pblico e no sabe qual o custo da empresa para fornecer o servio.
Sub-aditividade: Diz-se que nesse caso a curva de custo sub-aditiva, ou exibe sub-
aditividade quando o custo ( )
L C
Q Q C , de ter uma nica empresa produzindo as
quantidades ( )
L C
Q Q , menor do que o custo total ( ) ( )
L C L C
q q C q q C
2 2 1 1
, , + de ter duas
empresas produzindo ( )
L C
q q
1 1
, e ( )
L C
q q
2 2
, , onde
C C C
Q q q = +
2 1
e
L L L
Q q q = +
2 1
.
30
Referncias
ARMSTRONG, Mark, Simon COWAN e John VICKERS, Regulatory reform: Economic
Analysis and British Experience, MIT Press, 1994.
BANCO MUNDIAL, New Tools for Studying Network Industry Reforms in
Developing Countries: The Telecomunications and Electricity Regulation Database,
2004.
BAUMOL, Wiliam J. e J. Gregory SIDAK, Toward Competition in Local telephony, AEI
Studies in Telecommunications deregulation, MIT Press, 1994.
COASE, Ronald H.; The Firm, The Market and the Law, University of Chicago Press,
1988.
KAHN, Alfred; The Economics of Regulation: Principles and Institutions, Vol. 1, John Wiley,
1970.
KAY, J.A. e J. VICKERS, Regulatory Reform in Britain, Economic Policy, Vol. 7,
1988.
LAFFONT, Jean-Jacques e Jean TIROLE, A Theory of Incentives in Procurement and
Regulation, MIT Press, 1993.
NOVAES, Ana, Privatizao do Setor de Telecomunicaes no Brasil, in Armando
Castelar Pinheiro e Kiichiro Fukasaku (org.), A Privatizao no Brasil: O Caso dos Servios
de Utilidade Pblica, OECD-BNDES, 2000.
OECD, Structural Separation in Regulated Industries, Report by the Secretariat,
DAFFE/CLP, 2001
31
SAPPINGTON, David E. M., Principles of Regulatory Policy Design, artigo
preparado para subsidiar o World Development Report de 1994, publicado pelo Banco
Mundial, mimeo, 1993.
SPULBER,Daniel F., Regulation and Markets, MIT Press, 1989.
TIROLE, J., The Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1989.
TRAIN, Kenneth E., Optimal Regulation: The Economic Theory of Natural
Monopoly, MIT Press, 1991.
VISCUSI, W. Kip, John M. VERNON e Joseph E. HARRINGTON, Jr., Economics of
Regulation and Antitrust, MIT Press, 1995.
32
9.5 Exerccios
9.5.1. Tanto as agncias de defesa da concorr6encia como as de regulao trabalham
com o princpio de que o mercado competitivo, e no o laissez-faire absoluto,
maximiza o bem estar social. Quais as diferenas mais importantes com que os dois
tipos de agncias aplicam esse princpio?
9.5.2 Para fazer uma obra na sua casa, voc consulta um empreiteiro que oferece duas
opes de modalidade de pagamento. Na primeira, voc paga uma remunerao por dia
de trabalho e uma taxa de administrao de 5% sobre os materiais usados na obra, que
ele ficar encarregado de comprar. Na segunda, faz-se um oramento geral e acerta-se
um preo fechado pela obra. Comente que tipo de resultados voc esperaria quanto
durao, qualidade e ao custo relativo da obra em cada caso. Relacione as suas
observaes com a regulao por taxa de retorno e teto de preo.
Resposta 9.5.2: Em princpio, no primeiro caso (oramento aberto) a obra deve:
Levar mais tempo para ser concluda, pois o empreiteiro estar sendo
remunerado por dia, enquanto na outra modalidade de pagamento quanto antes
ele concluir mais cedo poder pegar outro servio;
Melhor qualidade de acabamento, pois usando materiais mais caros o
empreiteiro obter uma maior receita com taxa de administrao, enquanto na
segunda modalidade, quanto mais barato for o material utilizado maior ser o
seu lucro;
Sair mais cara que o oramento fechado.
A falta de incentivo para reduzir custos e, de fato, aumentar aqueles que impactam a
sua rentabilidade um trao comum com a regulao por taxa de retorno. A qualidade
33
dos servios, por outro lado, deve ser a preocupao do regulador quando se utiliza
instrumentos como o teto de preo.
34
Box 6.1: O que regulao econmica?
O termo regulao econmica aqui definido como sendo um conjunto de regras que
limitam a liberdade de ao ou escolha das empresas, dos profissionais liberais e/ou dos
consumidores, e cuja aplicao sustentada pelo poder de coero que a sociedade
concede ao Estado. Em geral, a regulao definida e aplicada diretamente pelo poder
pblico, atravs de rgos especficos, mas nem sempre esse o caso. As atividades
profissionais de mdicos, advogados, engenheiros, contadores e muitas outras so
reguladas por entidades de classe, por delegao do poder pblico. O mesmo ocorre as
transaes que ocorrem nas bolsas de valores e com as atividades das empresas de
propaganda. Em uma federao, como o caso do Brasil, a regulao feita
conjuntamente por Unio, estados e municpios. Em geral h uma diviso de tarefas
entre esses trs nveis de governo, mas tambm h casos em que ocorrem
sobreposies.
Historicamente, a regulao era vista essencialmente como a substituio do mercado,
vale dizer, da competio, pelo comando estatal, como principal mecanismo para
garantir um bom desempenho da economia.
10
Hoje em dia reconhece-se que a
regulao funciona de forma mais sutil, influenciando, mas dificilmente determinando
com preciso, o comportamento dos agentes econmicos. O desafio, ento, usar a
regulao para criar incentivos para que as empresas, os consumidores e os demais
agentes econmicos, ao buscar o que consideram ser o melhor para cada um de si,
tomem decises que maximizem o bem estar social. E, como observa Ronald Coase, o
nico meio de que o governo dispe para fazer isso (aparte a exortao, que
usualmente ineficaz) mudar a lei e a sua aplicao.
11
A regulao consiste, portanto,
do conjunto de leis, regulamentos e procedimentos legais, e das instituies
responsveis pela sua aplicao, a que o Estado recorre para alterar os incentivos e
10
Ver Kahn (1970).
11
Ronald Coase (1988, p. 28).
35
restries com que operam os agentes econmicos, buscando corrigir as ineficincias
geradas por falhas de mercado.
12
O tema da regulao estudado, sob ticas complementares, pela economia, o direito e
a cincia poltica. Os economistas se preocupam em geral com o estudo de setores
sujeitos regulao, analisando a forma em que esta influencia o comportamento dos
agentes e como isso impacta o bem estar social. A questo principal para o economista
se a regulao especfica em anlise eficiente ou no. Para o direito, por sua vez, a
regulao o resultado de restries legais ao comportamento dos agentes, cuja origem,
hierarquia e consistncia interna so o resultado de processos por vezes completamente
dissociados da lgica econmica. Alm disso, todo o processo de aplicao dessas
regras, por agncias pblicas e pelo judicirio, parte integrante da abordagem do
direito, ainda que essa seja uma rea virtualmente ignorada pelos economistas. Para o
cientista poltico, por sua vez, a regulao , antes de tudo, o resultado de um jogo
poltico entre grupos de interesse que buscam moldar a interveno estatal em seu
benefcio.
13
Sappington (1993) identifica quatro dimenses bsicas em qualquer regulao: a funo,
o tipo, o escopo e a forma. A funo da regulao diz respeito ao seu objetivo principal,
que normalmente refere-se falha de mercado que ela busca corrigir. Os dois tipos de
regulao so a informativa e a impositiva. No primeiro caso, a regulao pode se
destinar, por exemplo, a informar os consumidores sobre os males causados pelo
consumo de um produto (e.g., o cigarro), no segundo caso, ela pode proibir a venda
desse produto para determinados tipos de consumidores (e.g., crianas e jovens).
Outro exemplo o que ocorre na indstria de informtica, dada a preocupao do
regulador de garantir a compatibilidade entre equipamentos e/ou programas de
12
Nem sempre a lei ou a interveno do Estado na economia tm esse objetivo. O Estado tambm exerce um
papel redistributivo importante, atravs da coleta de impostos, da prestao de servios sociais e de
transferncias compensatrias que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas pobres.
13
A seo 1.1 de Spulber (1989) discute mais extensamente as abordagens dessas trs disciplinas,
contrastando as definies de regulao adotadas em cada uma.
36
diferentes fabricantes. Uma regulao informativa exigiria dos fabricantes que
informassem as caractersticas de interface dos seus produtos, de forma que os
consumidores no comprassem produtos que no fossem compatveis com outros de
que j dispe. Uma regulao impositiva exigir dos fabricantes que adotem certos
padres de interface para garantir a compatibilidade dos seus produtos com os de
outras empresas. A principal diferena entre os dois tipos o poder de escolha que
dado ao consumidor. A regulao informativa permite que este tome decises bem
informadas, atenuando o problema da assimetria de informao. A regulao impositiva
faz a escolha pelo consumidor. Qual o melhor tipo de regulao vai depender,
essencialmente, dos custos relativos do regulador e dos consumidores em coletar e
processar as informaes relevantes.
O escopo da regulao refere-se extenso do controle e da superviso que o regulador
impe empresa. Por que as falhas de mercado so variadas, uma mesma empresa
pode estar sujeita a um conjunto variado de regulaes, ditadas por diferentes
ministrios, agncias pblicas, governos estaduais e municipais. Estas podem englobar a
estrutura do setor (regras de entrada e sada), a sua conduta econmica (por exemplo, o
preo que pode ser cobrado) e social (segurana no trabalho, qualidade dos produtos
etc.), e a preciso das informaes que ela dissemina sobre seus produtos (por exemplo,
data de validade) e suas finanas. Tipicamente, empresas prestadoras de servios
pblicos so objeto de uma regulao abrangente, com controles sobre os preos e a
qualidade dos servios, a entrada de concorrentes etc. Em outros setores, como, por
exemplo, o de alimentos, a regulao parcial, controlando-se a especificao e as
informaes mnimas dos produtos, mas deixando-se os preos, a entrada de empresas
e outras caractersticas do setor livre de controles.
Por fim, a forma compreende os procedimentos utilizados para desenhar e impor as
regras que definem a regulao, a natureza dessas regras e se o regulador toma e impe
todas as decises ou d um grau de liberdade significativo para a entidade regulada. H
pelo menos seis formas diferentes de regulao:
37
Comando e controle: o regulador define cada detalhe das aes que a firma deve
tomar.
Por incentivos: delega-se vrias etapas do processo decisrio para a empresa,
que recompensada em funo do seu sucesso em atingir as metas estabelecidas
pelo regulador.
Potencial: nenhuma restrio imposta a menos que o desempenho da empresa
seja considerado insatisfatrio, usualmente em funo de um critrio pr-
definido.
Reativa: primeiro a empresa regulada prope ou executa uma certa ao, e
depois o regulador a aprova ou no.
Pr-ativa: o regulador especifica de antemo que aes so permitidas e quais
esto proibidas.
Delegada: o poder de regular delegado para os agentes regulados.
Muito do processo de reformas das ltimas dcadas envolveu a passagem de uma
regulao impositiva, abrangente e de comando e controle para outra mais informativa
e parcial e menos intervencionista.
38
Box 6.2: Seleo adversa e risco moral
Alguns dos primeiros estudos sobre os problemas de seleo adversa e risco moral
versavam sobre o setor de seguros. No difcil entender porque esses problemas so
to relevantes neste caso. Suponha que h dois tipos de donos de carros, os de baixo
risco, que guardam seus carros em garagens seguras, e os de alto risco, que deixam seus
carros estacionados na rua. A empresa de seguros oferece um seguro contra roubo a
um determinado preo. Obviamente, esse seguro interessa mais aos clientes de alto
risco do que aos de baixo risco, pois estes sabem que a chance de terem seu carro
roubado no grande. Como a seguradora no consegue distinguir entre um cliente de
baixo e outro de alto risco, ela vai tender a ter mais clientes arriscados do que seguros.
Como o prmio do seguro depende da freqncia com que os carros so roubados,
essa composio da clientela vai jogar o prmio do seguro para cima e afugentar ainda
mais os clientes seguros. No limite, apenas os clientes de alto risco vo se interessar por
comprar o seguro. Assim, vai haver um processo natural de seleo, mas uma seleo
que adversa do ponto de vista da seguradora. Ela resulta da assimetria de informao
que existe entre o cliente, que sabe se de baixo ou alto risco, e a empresa, que no
sabe.
Assuma, agora, que a probabilidade de uma pessoa ter o carro roubado depende do
cuidado que ela toma em parar em lugares seguros, usar alarmes e trancas etc. Quando
o dono do carro no tem seguro, ele toma muito cuidado. J se o carro est no seguro,
a pessoa vai relaxar, pois se o carro for roubado quem vai ter o prejuzo no ela, mas
a seguradora. Obviamente, o prmio de seguro vai ter de refletir esse menor esforo do
dono do carro em prevenir o roubo. Em equilbrio, as pessoas no tomam nenhum
cuidado, e o prmio de seguro alto para refletir esse fato. Trata-se de um equilbrio
ruim, j que h mais roubos e paga-se mais seguro do que seria socialmente timo. O
problema resulta do fato de que, como a seguradora no tem como avaliar esforo feito
pelo dono do carro, ela no tem como premiar os que tm mais cuidado com um
39
prmio de seguro mais baixo. Por outro lado, como o segurado no ganha nenhuma
recompensa por ter cuidado, ele tambm no se esfora para prevenir o roubo.
Obviamente, esta uma simplificao da realidade. Na prtica, as empresas de seguro
usam mecanismos para procurar identificar os clientes de baixo risco e oferecer-lhes
seguros mais baratos olhando idade, se tem garagem ou no, etc. e estimular a todos
a se esforar para prevenir o roubo usando franquias, para dividir o prejuzo com o
dono do carro, e cobrando menos dos que usam sistemas anti-furto e um bom
histrico. Neste primeiro caso, o segredo no tratar como iguais os que so diferentes.
No segundo caso, os mecanismos utilizados sero to mais eficientes quanto melhor
eles forem capazes de fazer com que o que bom para a seguradora, tambm seja bom
para os segurados.
40
Box 6.3: O Problema de Agncia
Diz um velho ditado que se voc quer alguma coisa bem feita, melhor faz-la voc
mesmo. Provavelmente poucos discordariam dessa afirmao Ocorre que nem sempre
possvel para a prpria pessoa fazer tudo, nem usualmente recomendvel. Um dono de
uma empresa grande, com filiais em mais de uma cidade, necessariamente ter de depender
de outros para ajud-lo a administrar a empresa e produzir. Alm disso, os ganhos que a
sociedade pode obter com a especializao do trabalho so muito grandes, sendo uma das
pedras fundamentais do pensamento econmico. No toa que a humanidade progrediu
tanto depois que a economia deixou de ser organizada em unidades familiares auto-
suficientes e passou a contar com dentistas, advogados, engenheiros, gestores e muitos
outros trabalhadores especializados. Em geral, melhor ter algum melhor informado sobre
a situao fazendo o trabalho para voc do que tentar faz-lo voc mesmo.
Se no d para voc fazer tudo, como conseguir que quem voc contrata para fazer o
servio para voc faa aquilo que voc considera apropriado? Esse o problema de
agncia. Nesse caso, usando o jargo econmico, voc o principal, a pessoa que quer
alguma coisa que ter de ser feita por outra, e esta pessoa o agente. O problema
complicado pela assimetria de informao que usual nesses casos, seja pelo maior
conhecimento que o agente tem sobre a questo, que pode ter sido a razo por que ele foi
contratado, ou a dificuldade que tem o principal de monitorar o que faz o agente.
Considere o caso de um advogado que precisa fazer uma obra em sua casa para consertar
um vazamento. Em geral ele estar melhor contratando um pedreiro para fazer isso,
enquanto ele trabalha em seu escritrio. razovel esperar que o advogado queira que a
obra seja feita nos menores prazo e custo possveis. de se esperar que custo e prazo
dependam do esforo do pedreiro, mas tambm de fatores imponderveis, como o estado do
cano de gua, o custo e a disponibilidade dos materiais utilizados na obra etc. E, se a obra
sair cara e demorada, difcil para o advogado saber se isso ocorreu porque o pedreiro no
esforou ou devido a condies fora do seu controle.
No difcil perceber que em uma economia que funciona com uma grande diviso do
trabalho, essa uma situao muito comum. Os acionistas dependem dos gestores para que
a sua empresa d lucro, o lojista dos vendedores para que as vendas sejam
recompensadoras, e assim por diante. O desafio do principal, nesse caso, como
estabelecer uma regra de recompensa para que o agente se esforce, como o principal faria,
mesmo no sendo este capaz de observar o nvel de esforo do agente.
Por exemplo, se o advogado pagar ao pedreiro uma taxa fixa por dia de trabalho e mais uma
comisso sobre o valor do material comprado, a obra provavelmente se estender por mais
tempo e sair mais cara do que se ambos acertarem um preo total para a obra qualquer que
seja o tempo que o pedreiro leve para encerr-la e os materiais que ele necessite. Diz-se,
neste caso, que o segundo tipo de contrato (preo fixo) mais potente que o primeiro, pois
alinha melhor os interesses do advogado e do pedreiro, no caso, que a obra acabe o quanto
antes e custe o mnimo possvel. Diz-se que um mecanismo que o principal usa para
orientar a ao do agente apresenta compatibilidade de incentivos quando ele torna os
objetivos do agente consistentes com os do principal.
41
O problema, neste caso, que todo o risco fica com o pedreiro. Assim, se for necessrio
comprar algum material caro, ele poder terminar o trabalho tendo um prejuzo. A menos
que o advogado aceite pagar um preo muito alto pela obra, caso em que pagaria
demasiadamente ao pedreiro, se este no tivesse de comprar materiais caros. Neste caso, a
melhor soluo provavelmente seria o advogado pagar um preo fixo pelo servio de mo
de obra e reembolsar o pedreiro pelo custo do material, exercendo algum monitoramento
mnimo para ter certeza de que este no est gastando desnecessariamente com materiais.
Assim, o principal divide com o agente os riscos do negcio, ficando com aqueles que esto
fora do controle do agente e deixando com estes os que dependem mais diretamente do seu
esforo.
A relao entre o regulador e um monopolista natural se encaixa nessa classe de problemas.
A empresa tem mais informao que aquele sobre o negcio e melhor para o regulador
deixar com ela uma srie de decises operacionais. Ocorre que o regulador s observa os
resultados finais o volume de vendas, as receitas e os custos mas no tem como separar
o que resultou do esforo da empresa em minimizar custos e o que foi fruto de aspectos
aleatrios, como o tamanho da demanda, quebras de equipamentos etc. O desafio do
regulador, o principal, estabelecer um modelo regulatrio que torne os objetivos da firma,
o agente, consistentes com os seus, isto , que levem compatibilidade de incentivos.
Dessa forma, ele pode esperar que a empresa use sua informao superior para fazer o que
melhor do ponto de vista social, mesmo que o regulador no tenha como observar o que a
empresa est fazendo. Quanto mais potente for esse mecanismo de incentivo, mais alinhado
estaro os objetivos do regulador e da empresa.
42
BOX 6.4: TARIFAS MULTI-PARTIDAS
At aqui, tratamos a tarifa cobrada pela empresa como sendo um nico preo. Na prtica,
uma tarifa uma frmula, s vezes complexa, que determina quanto deve ser pago pelo
consumo de uma determinada cesta de bens e servios fornecidos pela empresa. As tarifas
que cobram por componentes distintos do servio prestado so chamadas de multi-partidas.
Essas tarifas permitem aumentar a eficincia alocativa, sem a necessidade de subsidiar o
monopolista natural. Tarifas multi-partidas tambm so usadas para criar subsdios
cruzados entre diferentes grupos de consumidores.
Uma tarifa multi-partida tpica a que separa o servio de acesso rede do seu uso
propriamente dito. No setor de telefonia, por exemplo, a tarifa paga por um usurio a
soma da assinatura (acesso) com o produto do nmero de minutos falados pela tarifa por
minuto (uso). Quando a demanda por acesso fixa isto , totalmente inelstica ao preo,
no intervalo relevante de preo pode-se gerar uma situao primeiro melhor cobrando
uma tarifa de uso igual ao custo marginal (eficincia alocativa) e estabelecendo uma tarifa
de acesso tal que a empresa tenha lucro zero. Quando a demanda por acesso for sensvel ao
preo, a melhor soluo tratar acesso e uso como dois servios diferentes e usar os preos
de Ramsey para definir as tarifas cobradas por um e outro. Isso resultar em uma tarifa de
acesso (uso) mais alta (baixa) do que na situao anterior.
O principal problema com essa soluo que uma tarifa elevada de acesso pode torn-lo
caro demais para pessoas de baixa renda. Particularmente na presena de externalidades de
rede, essa barreira pode no ser considerada uma soluo socialmente desejvel, indo de
encontro ao objetivo de universalizao do acesso, que comum na regulao de servios
pblicos no Brasil. Isso tambm ilustra o fato de que os consumidores no so todos iguais
e que, portanto, as elasticidades-preo mdias que norteiam a fixao das tarifas de acesso e
uso pela regra de Ramsey podem gerar distores.
Uma soluo mais eficiente, neste caso, seria ter no um par de tarifas de acesso e uso, mas
um menu de alternativas. Os consumidores que usam pouco o servio provavelmente
prefeririam planos com baixas tarifas de acesso, mesmo que pagando mais pelo uso. Para os
que usam mais, o acesso mais caro seria compensado por uma tarifa mais baixa de uso.
Esquemas assim so comuns na telefonia mvel celular, em que o sistema pr-pago, que
funciona com tarifa de acesso nula e um custo relativamente alto pelo uso, extremamente
popular entre as pessoas de baixa renda.
No caso da telefonia celular, estes menus de tarifas permitem aos consumidores que
utilizam mais o servio pagar um custo mdio mais baixo por minuto de uso. Uma frmula
para se implementar um menu de tarifas com caractersticas semelhantes adotando uma
tarifa em blocos declinantes. Como numa escada que desce, nesta tarifa o consumidor paga
um montante y
1
por minuto de uso para cada um dos primeiros x
1
minutos de uso, uma
tarifa y
2
(<y
1
) por minuto de uso para cada um dos x
2
minutos seguintes e assim por diante,
podendo-se chegar a um ltimo patamar em que a tarifa de uso prxima ao custo
marginal. Neste caso, pessoas que usam pouco e que, portanto, deveriam estar menos
dispostas a pagar por acesso - pagam um custo mais elevado por minuto, enquanto as que
usam mais pagam na margem uma tarifa prxima ao custo marginal, funcionando a
43
diferena entre este e a tarifa de uso para patamares mais baixos de consumo como uma
tarifa de acesso.
Ainda que uma tarifa em blocos declinantes seja a melhor forma de promover a eficincia
alocativa, na prtica esta por vezes sacrificada em prol do objetivo de estabelecer-se
subsdios cruzados entre consumidores de alta e baixa renda. Com esse fim, utiliza-se
freqentemente uma tarifa em blocos crescentes, que como uma escada que sobe: quanto
mais alto o consumo, maior o custo mdio por unidade consumida. Neste caso, o nvel de
consumo funciona como um indicador de renda. No Brasil, tarifas com essa forma so
comuns no fornecimento de energia eltrica para fins residenciais, por exemplo.
Tarifas multi-partidas so, portanto, bastante comuns na cobrana de servios pblicos. Que
tarifa utilizar ir depender do objetivo que se tem em mente, e tambm da disponibilidade e
custos dos medidores de consumo. O setor de telecomunicaes particularmente bem
dotado tecnologicamente para oferecer esses menus de tarifas, que permitem ao consumidor
escolher uma tarifa mais bem ajustada s suas preferncias. Em outros setores, como gua e
eletricidade, isso menos comum, prevalecendo em geral tarifas em (poucos) blocos.
44
Box 6.6: Competio ou Regulao?
Na presena de um monoplio natural, o bem estar social pode ser melhor servido deixando
o mercado ser atendido por uma nica empresa, desde que sob superviso e controle de um
regulador. Desta forma, se poderia aproveitar as economias de escala e escopo para
produzir a um custo mais baixo do que seria possvel em um mercado competitivo. O
regulador, por seu turno, se incumbiria de coibir o uso do poder de mercado pelo
monopolista, estimulando-o a operar a baixo custo e com tarifas que maximizem o
excedente total, condicionado restrio de que a empresa possa sobreviver sem subsdios
pblicos.
Na prtica, porm, a escolha entre competio e monoplio regulado menos bvia do que
sugerido acima, devido existncia de falhas regulatrias sob a forma de assimetrias de
informao e reguladores motivados por objetivos outros que no apenas a maximizao do
bem estar social -- que podem comprometer o desempenho do regulador e o resultado final
em termos de bem estar social. Por exemplo, se houver uma elevada assimetria de
informao, o regulador pode ser obrigado a fixar uma tarifa muito acima do custo mdio,
por receio de que uma tarifa mais baixa torne a empresa invivel. Assim, como observa C.
D. Foster (1992, p. 145):
14
Sob a presso da competio, as empresas revelam mais fatos sobre os seus
custos do que jamais seria possvel delas extrair por lei ou regulao; elas
iro reduzir seus custos a um mnimo por receio de que de outra forma
percam mercado para as rivais; para ficar no mercado elas precisaro
planejar melhorias anuais de produtividade para pelo menos igualar as de
seus competidores, ou ento sua rentabilidade pode evaporar a curto prazo; e
elas vo inovar mais e haver bens e servios mais diversos ... Em contraste,
a regulao uma atividade difcil, imperfeita, e freqentemente cara, que
consome tempo e ineficaz, facilmente passando da economia para a
poltica.
Assim, apesar de a competio poder levar ao sacrifcio da eficincia produtiva, ela pode
ser mais eficaz em promover a eficincia alocativa e a inovao tecnolgica. Isso levou
Armstrong, Cowan e Vickers (1994), a comparar a competio com um agente bem
informado cujo objetivo imperfeitamente alinhado com o bem estar social, em contraste
com o regulador bem-intencionado, que seria um agente imperfeitamente informado cujo
objetivo perfeitamente alinhado com o bem estar social. Qual a melhor opo acabar
dependendo do grau de assimetria informacional, do risco de captura do regulador e da
extenso em que a tecnologia de produo se caracterizar pela presena de economias de
escala e escopo. No passado, a regulao prevaleceu absoluta, mas hoje em dia os
benefcios da competio vm sendo mais valorizados. De fato, toda a reforma regulatria
no Brasil foi baseada no princpio de que se deveria introduzir tanta competio quanto
possvel nos servios pblicos.
14
C. D. Foster, Privatisation, Public Ownership and the Regulation of Natural Monopoly, Blackwell, 1992.
45
Em determinadas situaes, por outro lado, pode ser possvel obter alguns dos benefcios da
competio sem grande sacrifcio em termos de eficincia tcnica. Para isso se recorreria
competio entre um nmero grande de firmas que poderiam potencialmente servir um
determinado mercado, mesmo que, na prtica, apenas uma delas efetivamente o faa. Uma
proposta neste sentido foi feita originalmente por Demsetz (1968), que sugeriu que em
lugar da regulao se fizesse um leilo do direito de ser monopolista, com a concesso do
monoplio natural sendo dada empresa que oferecesse cobrar a menor tarifa. Em um
leilo competitivo, ganharia a empresa com custos mais baixos, que se ofereceria para
cobrar uma tarifa igual ao custo mdio, garantindo uma soluo eficiente, a despeito da
assimetria de informao entre regulador e empresa.
Williamsnon (1976) mostrou que a eficcia desse mecanismo diminui quando este
aplicado a servios complexos, em situaes em que pode haver mudanas significativas na
demanda ou nos custos de operao, pela dificuldade de quando do leilo se redigir
contratos completos que cubram todo o perodo de concesso. Ele tambm mais eficiente
na primeira vez em que a concesso leiloada do que quando tem de ser renovada, devido
assimetria que passa a existir entre a incumbente e os demais interessados na concesso.
Alm disso, se para operar a concesso a empresa tiver de fazer investimentos especficos
elevados, a tendncia que haja menos investimento do que seria ideal ou que haja pouca
competio na renovao da concesso.
O leilo de concesso , porm, uma alternativa interessante quando esta envolver servios
simples de definir, que no envolvam grandes investimentos afundados e em setores
relativamente maduros como saneamento e rodovias, onde o progresso tcnico bem mais
lento Por exemplo, esse mtodo foi utilizado com relativo sucesso na concesso de rodovias
no Brasil, em que se exigia do concessionrio a reabilitao, manuteno e operao das
rodovias, de acordo com critrios pr-especificados, em troca da cobrana de um pedgio, a
ser ajustado anualmente de acordo com a inflao.
Outra proposta, tambm baseada no princpio da competio potencial, a de mercado
contestveis, isto , em que a entrada e a sada de firmas possa ser feita rapidamente e sem
custos. Baumol, Panzar e Willig (1982) formalizaram esse conceito de competio entre
potenciais produtores, na sua teoria da contestabilidade, mostrando que a ameaa de entrada
de novos competidores ir regular efetivamente o monopolista. Se a entrada e a sada
possvel sem custo, o monopolista ter de trabalhar com lucro econmico zero, ou outra
firma entrar e lhe roubar o mercado. Ou seja, o regulador pode induzir uma conduta
socialmente tima pelo monopolista natural simplesmente deixando a entrada de novos
competidores no setor completamente livre.
Na prtica, dificilmente se observam as condies para que haja contestabilidade,
particularmente nos setores de servios pblicos, caracterizados por elevados investimentos
especficos, mas seus defensores defendem que esses princpios podem ser usados para
guiar a definio da regulao. Uma dessas ilaes, por exemplo, de que quanto maiores
forem as barreiras entrada e/ou sada, mais facilmente o monopolista poder se afastar
de uma soluo tima do ponto de vista social.
46
A competio por comparao seria outra forma de reduzir os problemas causados pela
assimetria de informao entre regulador e empresa. Neste caso, a recompensa do
monopolista operando em um mercado por exemplo, So Paulo depender no do seu
desempenho absoluto, mas em comparao ao de outras empresas operando em outros
mercados. Uma variante desse mtodo comparar o desempenho do monopolista com o de
uma empresa virtual, que operasse eficientemente nas mesmas condies de mercado,
conforme critrios definidos por engenheiros, economistas, etc. O principal insight da
regulao por competio que a assimetria de informao entre empresa e regulador pode
ser reduzida comparando-se monopolistas em mercados diferentes, como que emulando
uma competio entre elas, que sirva para reduzir o seu monoplio de informao e as
rendas da derivadas.
Para haver competio nos setores de servios pblicos em geral no basta liberar a entrada
de novos participantes no mercado, pois as empresas incumbentes gozam de vantagens
competitivas sobre eles que lhes permitir barrar a entrada desses novos entrantes. Em
particular, (a) elas j atuam no mercado h muitos anos, sendo conhecidas pelos
consumidores, todos at ento seus clientes; (b) os consumidores tm de incorrer custos
para trocar de fornecedor, e (c) precisam vencer a inrcia que em geral caracteriza o seu
comportamento. Assim, para que haja efetivamente competio o regulador precisa
compensar essas desvantagens, em geral assistindo os novos entrantes com mecanismos
assimtricos de regulao.
Uma forma relativamente polmica de competio em servios pblicos o chamado
cream skimming, que consiste na estratgia de um novo entrante de competir apenas nos
segmentos mais lucrativos (a nata) do setor. Essa pode ser uma competio benfica, j que
aproxima os preos dos custos e aumenta a eficincia alocativa. Mas, com freqncia, essa
prtica ocorre quando o regulador estabelece subsdios cruzados entre diferentes grupos de
consumidores, de forma que o preo acima dos custos em um segmento serve para
subsidiar a tarifa de outros consumidores. Por exemplo, at as reformas dos anos 1990, as
tarifas cobradas em ligaes de longa distncia internacional no Brasil eram muito altas, de
forma a subsidiar a telefonia local. Conforme a tecnologia evoluiu, vrias empresas no
exterior comearam a oferecer servios mais baratos atravs do sistema de call back,
15
minando a viabilidade desse sistema de subsdios cruzados. Por comprometer a capacidade
do regulador de criar subsdios cruzados entre diferentes consumidores, essa prtica s
vezes proibida.
15
No call back, o consumidor ligava, por exemplo, para os Estados Unidos, e um computador de l ligava de
volta e estabelecia a ligao desejada, invertendo o sentido da ligao.
1
CAPTULO X: A REGULAO SETORIAL NA INFRA-ESTRUTURA
10.1 Telecomunicaes
10.2 Energia eltrica
10.3 Transportes
10.4 gua e saneamento
10.5 Glossrio
10.6 Sugestes de leituras
2
10.1 A Regulao das Telecomunicaes
Histrico
O Brasil foi um dos primeiros pases a contar com servios telefnicos, trazidos para o pas
por Dom Pedro II. A primeira concesso, cobrindo as cidades do Rio de Janeiro e Niteri,
foi feita em 1875 ento recm-criada Companhia Telefnica do Brasil (CTB), controlada
por investidores americanos. Nas dcadas seguintes, outras concesses, majoritariamente
para a explorao de mercados locais, seriam dadas a empresrios brasileiros e estrangeiros,
tanto pelo governo central como por estados e municpios, que entre 1881 e 1890 dividiram
o poder concedente no setor. Nas dcadas seguintes, o setor se expandiu de forma pouco
coordenada, ficando a regulao pblica restrita a fazer concesses e controlar as tarifas.
No incio dos anos 1960, o setor padecia de problemas srios, vrios deles resultantes da falta
de uma regulao pblica mais ativa e da tendncia s tarifas serem corrigidas abaixo da
inflao, o que levou as empresas a reduzirem seus investimentos. O setor operava de forma
bastante concentrada, dominado pela CTB, que detinha 62% do mercado de telefonia fixa do
pas, incluindo as cidades do Rio de Janeiro e So Paulo. Apesar disso, havia mais de 1000
companhias e servios telefnicos em operao no Brasil, 256 dos quais no estado de So
Paulo. Essas empresas atuavam com pequenas escalas e tecnologias diferentes,
freqentemente incompatveis entre si, servindo exclusivamente s reas urbanas, onde a
concentrao demogrfica reduzia os custos de operao. Em particular, havia poucas linhas
de longa distncia.
Foi nesse contexto que se introduziu o primeiro marco regulatrio abrangente do setor, o
Cdigo Brasileiro de Telecomunicaes (CBT, Lei 4117, de agosto de 1962) e sua
regulamentao, fixada pelo Decreto 52026, de maio de 1963. O CBT estabeleceu uma
sobretaxa de 30% sobre as tarifas de telecomunicaes que seria utilizada para financiar o
Fundo Nacional de Telecomunicaes (FNT) -- e determinou que todos os servios de longa
distncia deveriam ser prestados pela Unio. O CBT tambm autorizou a criao de uma
empresa estatal, a Embratel (criada em 1965), que ficaria responsvel por operar a telefonia
de longa distncia no pas e cujos investimentos seriam financiados pelo FNT. A telefonia
local, por sua vez, ficou sob a responsabilidade dos estados e municpios, que poderiam
operar esses servios diretamente ou atravs de concesso.
O CBT tambm criou uma agncia reguladora nacional, o Conselho Nacional de
Telecomunicaes (Contel), a quem caberia estabelecer as regras para o setor em particular,
quanto a padres tcnicos, interconexo e trfego mtuo de forma a racionalizar e garantir
a conectividade do sistema. Em especial, as concesses estaduais e municipais deveriam
respeitar as regras fixadas pelo Contel. Este tambm era responsvel por fixar as tarifas de
cada empresa determinadas com base em uma regulao por taxa de retorno e a
repartio de receitas em servios que utilizavam as redes de mais de uma companhia.
Nos anos seguintes, o setor e o controle da Unio sobre ele cresceram rapidamente. Com os
recursos do FNT, a Embratel desenvolveu rapidamente os servios de longa distncia. Em
3
1966 ela adquiriu a CTB, passando a controlar os servios de telefonia local nas principais
cidades brasileiras. Muitas outras operadoras locais foram absorvidas depois disso,
particularmente a partir da criao da Telebrs, em 1972, a quem a legislao concedeu o
poder de desapropriar os ativos de empresas privadas. Tornando-se proprietria de quase
todo o setor de telecomunicaes, a Unio lhe imprimiria um forte ritmo de expanso, ao
mesmo tempo em que garantia a homogeneidade dos padres tcnicos e permitia uma
melhor explorao das economias de escala e escopo que caracterizam o setor.
A Telebrs operava essencialmente como uma monopolista auto-regulada, com pouca
interferncia do Contel ou do Ministrio das Comunicaes, a quem esse ficou subordinado
a partir de 1967. Esta situao comeou a mudar, para pior, na segunda metade dos anos
1970. Inicialmente, as tarifas de telecomunicaes passaram a ser controladas pelo Ministrio
da Fazenda, que freqentemente as fixava com base em critrios dissociados da regulao
setorial, como o controle da inflao. O Ministrio do Planejamento tambm passou a
controlar as despesas e os investimentos da empresa, dentro do processo de elaborao do
Oramento da Unio, tendo como foco principal o esforo de ajuste fiscal. As prprias
decises gerenciais da Telebrs passaram a ser objeto de um nmero crescente de regulaes,
refletindo a sua condio de empresa estatal.
O domnio do setor pblico sobre as telecomunicaes foi sacramentado legalmente pela
Constituio de 1988 (Artigo 21), que determinou competir Unio explorar, diretamente
ou mediante concesso a empresas sob controle estatal, os servios telefnicos, telegrficos,
de transmisso de dados e demais servios pblicos de telecomunicaes. J nessa poca,
porm, o modelo estatal apresentava problemas srios. De um lado, as tarifas telefnicas
haviam cado significativamente em termos reais, dificultando os investimentos, que eram de
qualquer forma limitados pelo Ministrio do Planejamento. De outro, a remunerao por
taxa de retorno e os subsdios cruzados entre as subsidirias da Telebrs desestimulavam a
busca da eficincia. Os resultados eram uma grande demanda reprimida e servios de baixa
qualidade.
O atual marco regulatrio
A regulao das telecomunicaes comeou a mudar com a aprovao da Emenda
Constitucional nmero 8, de agosto de 1995, que abriu s empresas privadas a possibilidade
de receber concesses da Unio para explorar servios telefnicos. O monoplio estatal
comeou a ruir, na prtica, com a aprovao da Lei 9.295, de julho de 1996, conhecida como
a Lei Mnima, que permitiu a entrada do setor privado em servios como telefonia mvel
celular, trunking, paging e transmisso de dados via satlite. O governo tambm melhorou a
gesto da Telebrs, para prepar-la para a competio, mas nessa poca ficou evidente que
esta no conseguiria sobreviver em um mercado de telecomunicaes sem barreiras legais
entrada de concorrentes, o que levou deciso de se vender a empresa.
O novo marco regulatrio do setor s foi definido, porm, em julho de 1997, com a
aprovao da Lei 9.472, conhecida como a Lei Geral das Telecomunicaes (LGT). A LGT
fixa os princpios gerais de organizao do setor; determina as regras de fixao e correo
4
das tarifas; cria o rgo regulador do setor, a Agncia Nacional de Telecomunicaes
(Anatel); e estabelece que os servios de telecomunicaes devem ser prestados
prioritariamente por empresas privadas, limitando-se o Estado ao papel de regulador. A LGT
elege como os dois pilares bsicos da regulao das telecomunicaes a competio e a
universalizao dos servios. J no seu Artigo 2
o
, ela estabelece que o Poder Pblico tem o
dever de garantir, a toda a populao, o acesso s telecomunicaes, a tarifas e preos
razoveis, em condies adequadas, e de adotar medidas que promovam a competio e a
diversidade dos servios.
Para promover a competio nas telecomunicaes adotou-se uma combinao de regulaes
de estrutura e conduta, alm de regras de transio voltadas para aumentar gradualmente a
contestabilidade nos vrios segmentos. Para isso dividiu-se a Telebrs em vrias empresas,
reduzindo-se parcialmente o poder de mercado das incumbentes; fomentou-se a entrada de
novos participantes nos vrios segmentos de telefonia; impuseram-se restries transitrias
diversificao das atividades das incumbentes; e criou-se regras para igualar as condies de
acesso a instalaes essenciais e coibir condutas anti-competitivas das empresas dominantes.
A preocupao em estabelecer uma estrutura de mercado competitiva permeou a privatizao
do monoplio estatal, em maior grau do que em outros pases latino americanos, que em
geral priorizaram a contribuio que essa poderia dar ao caixa do Tesouro. Antes da sua
privatizao, em julho de 1998, a Telebrs foi dividida em treze companhias, sendo nove de
servios de telefonia mvel celular (Banda A), uma de servios de longa distncia (Embratel),
e trs de telefonia fixa local (Telemar, Telesp e Brasil Telecom).
O Decreto 2.534, de abril de 1998, que ficou o Plano Geral de Outorgas (PGO), orientou a
diviso da Telebrs, a partir da diviso do pas em quatro regies para a prestao de servios
de telefonia fixa: a Regio I, que cobre as regies Norte, excluindo Rondnia e Acre,
Nordeste e Sudeste, exclusive So Paulo; a II, que inclui as regies Sul, Centro-Oeste e os
estados de Rondnia e Acre; a Regio III, que abrange o estado de So Paulo; e a IV, que
abrange todo o territrio nacional. O PGO tambm fixou os prazos de concesso e o
nmero de empresas que poderiam operar em cada regio.
Para cada um dos mercados de telecomunicaes -- definido pela combinao natureza do
servio /rea de atuao -- outras empresas foram autorizadas a prover servios. Na telefonia
celular, isso ocorreu antes mesmo da privatizao da Telebrs, com os leiles da chamada
Banda B. Novas autorizaes foram leiloadas nos anos seguintes, promovendo-se a entrada
de empresas de telefonia mvel nas Bandas D e E.
1
No servio telefnico fixo comutado
(STFC) local e de longa distncia, as novas entrantes, conhecidas como empresas espelho,
foram autorizadas a operar nos dois anos seguintes privatizao. Novas autorizaes foram
dadas em 2001 para empresas interessadas em operar nos municpios em que as espelho
optaram por no atuar. Essas operadoras ficaram conhecidas como espelhinhos. Alm
1
As bandas correspondem a faixas diferentes do espectro de freqncia utilizadas por cada operadora em cada uma das
dez regies em que o pas foi dividido para fins de explorao do servio mvel celular. No houve interessados em
adquirir as licenas de operao na Banda C.
5
disso, as empresas de telefonia fixa local e mvel foram autorizadas desde quando criadas a
competir nos servios de longa distncia dentro de suas reas de concesso / autorizao.
A reforma regulatria do setor antecipou, corretamente, que a simples liberalizao da
entrada no seria suficiente para criar competio, especialmente no STFC local. Isso porque
as empresas incumbentes, resultantes da quebra da Telebrs, gozam de vantagens
competitivas sobre os novos entrantes, pois j atuam no mercado h muitos anos, sendo
conhecidas pelos consumidores, que para trocar de operadora tm tambm de mudar o
nmero de telefone e vencer a inrcia que em geral caracteriza o seu comportamento.
Para contrapor-se a essas vantagens das incumbentes, a LGT faz amplo uso de regulaes
assimtricas, que impem menos responsabilidades e do mais flexibilidade aos novos
entrantes do que s concessionrias. Em particular, esses funcionam como empresas
autorizadas no regime privado, enquanto estas operaram no regime pblico, que as submete a
um conjunto mais amplo de controles e obrigaes (Quadro 10.1.1). Enquanto as empresas
incumbentes esto sujeitas a forte fiscalizao e controle da Anatel, e a cumprirem metas
fsicas de expanso da oferta, os novos entrantes no precisam cumprir metas e submetem-se
a uma regulao econmica mais leve.
Quadro 10.1.1: Comparativo entre os regimes de prestao pblico e privado
Aspectos regulatrios Tipo de Regime
Pblico Privado
Condies de acesso ao
mercado
Requer prvia concesso,
mediante licitao
Simples autorizao
Preos e tarifas
Regime price cap durante, no
mnimo trs anos
Liberdade de preos
Obrigaes de
universalizao
Prestao e financiamento (no
curto prazo) desses servios
Somente em casos excepcionais
Fiscalizao
Cumprimento rigoroso do
contrato, com obrigaes de
prestao de informao
Anatel
Princpios gerais de atividade
econmica, previstos na
Constituio
Prazos
20 anos, prorrogveis por mais
um perodo de igual durao
Indefinido
Fonte: Pires (1999)
Obs: As disposies comuns aos dois regimes esto nos Artigos 69 a 72 da LGT, as relativas ao regime
pblico nos Artigos 79 a 125, e as aplicveis ao regime privado nos artigos 126 a 144. Uma mesma empresa
pode atuar como concessionria (regime pblico) em um mercado e autorizada (regime privado) em outro
mercado.
O modelo regulatrio das telecomunicaes baseou-se de incio em alguns elementos de
regulao estrutural, voltados para mitigar o poder de mercado das concessionrias de STFC,
que com o tempo foram descontinuados. Em especial, quando da diviso da Telebrs foram
institudas restries a que as operadoras de STFC local operassem fora das suas reas de
concesso ou na longa distncia inter-regional e internacional, assim como a que a Embratel
6
operasse no STFC local. Mas essas restries foram apenas temporrias. A partir de 2002 a
Telefnica, a Telemar e a Embratel, tendo cumprido antecipadamente as metas estabelecidas
para 2003, foram autorizadas a diversificar os servios oferecidos, tanto em termos
geogrficos como do mix de servios, sendo liberadas para operar em todas as modalidades
do STFC. O mesmo ocorreu com a Brasil Telecom no incio de 2003.
O fim das restries diversificao das atividades das concessionrias teve um efeito
ambivalente sobre a competio. De um lado, sendo maiores e mais conhecidas dos
consumidores, elas tm mais condio de rivalizar com as incumbentes do que as empresas
espelho. Como discutido a seguir, isso ocorreu na telefonia de longa distncia. De outro, a
permisso para elas se integrem verticalmente aumenta os meios e os incentivos para que elas
discriminem os concorrentes no acesso s suas redes, exigindo mais ateno do regulador,
particularmente no caso das concessionrias de STFC local, que controlam instalaes
essenciais.
As concessionrias tambm foram autorizadas a operar na telefonia celular mvel, ainda que
neste caso sejam obrigadas a respeitar a separao estrutural das atividades, para mitigar os
problemas de subsdios cruzados e outras prticas desleais de competio. A Anatel e o Cade
tambm autorizaram vrias fuses entre autorizadas e destas com concessionrias, em reas
diferentes de atuao, a partir de 2003.
Interconexo
A regras de interconexo entre duas redes de telefonia determinam em que condies se d a
conexo fsica entre elas e so um dos elementos mais crticos e complexos da regulao das
telecomunicaes. A interconexo essencial para que clientes de operadoras diferentes
possam se comunicar, inclusive atravs de ligaes de longa distncia e entre aparelhos
celulares e fixos. Alm disso, como a operao da rede de telefonia fixa local tem
caractersticas de monoplio natural, a possibilidade de interconexo fundamental para que
novos entrantes possam competir em segmentos como a telefonia de longa distncia e a
transmisso de dados. Em especial, quando a operadora de STFC local verticalmente
integrada nesses servios, boas regras de interconexo so essenciais para impedir que ela use
sua posio dominante nesse segmento para alavancar seu monoplio em outros mercados.
Por tudo isso, boas regras de interconexo so essenciais no apenas para que as
telecomunicaes funcionem adequadamente, mas tambm para que haja competio nos
segmentos que a comportam.
No Brasil, as regras que orientam a interconexo entre redes so detalhadas pelo
Regulamento Geral de Interconexo (RGI), publicado em julho de 1998. Entre outras
disposies, o RGI estabelece que as prestadoras de servios de telecomunicaes, operando
no regime pblico ou privado, so obrigadas a permitir a interconexo com outras redes, em
condies no discriminatrias. Esse ponto tambm enfatizado pela LGT, que no seu
Artigo 146 determina que as redes sero organizadas como vias integradas de livre
circulao, fixando como obrigatria a interconexo entre elas, alm de estabelecer que o
usurio do servio de telecomunicaes tem direito liberdade de escolha da sua prestadora
7
de servio, o que tambm pressupe a sua capacidade de comunicar-se com clientes de
outras operadoras.
De fato, a legislao brasileira chega inclusive a relativizar o controle das empresas sobre a
sua infra-estrutura, estabelecendo que o direito de propriedade sobre as redes
condicionado pelo dever de cumprimento de sua funo social. No seu Artigo 155, a LGT
afirma que para desenvolver a competio, as empresas prestadoras de servios de
telecomunicaes de interesse coletivo devero, nos casos e condies fixados pela Agncia,
disponibilizar suas redes a outras prestadoras de servios de telecomunicaes de interesse
coletivo. Vale dizer, a regulao no apenas obriga que haja interconexo, mas tambm d
ao regulador o poder de exigir que as concessionrias compartilhem com outras operadoras o
uso das suas redes. A exemplo do que ocorre em alguns locais com os trilhos de uma
ferrovia, mais de uma operadora poderia utilizar as redes para prover servios de telefonia
local.
As tarifas de interconexo so em geral negociadas entre as operadoras, dentro de intervalos
fixados pela Anatel. Como indicado no Quadro 10.1.2, as negociaes bilaterais so a norma
na maioria dos pases, particularmente entre duas operadoras de celular. No Brasil, tem
prevalecido nessas negociaes o valor mximo permitido pela Anatel. De acordo com o ato
37.166 da Anatel, de junho de 2003, as tarifas de uso recebidas pelas concessionrias de
telefonia fixa local pelo uso das suas redes (TU-RL) variam entre R$ 0,05490 e R$ 0,06394.
2
O mesmo valor mximo que vale para as concessionrias se aplica s tarifas de uso das redes
das empresas espelho. Para as redes interurbanas, as tarifas de uso (TU-RIU) variam entre
R$0,09552 e R$ 0,11673. Para o servio mvel celular (e tambm pessoal), as tarifas de uso
(TU-M) variam em um patamar bem mais elevado, indo de R$ 0,3192 a R$ 0,3902. A
responsabilidade por coletar do usurio final as tarifas de uso cabe operadora que inicia a
ligao, que as encaminha s demais operadoras. Isso feito mensalmente, com base em um
documento de declarao de trfego (DETRAF).
3
2
Ainda que chamadas de tarifa de uso, essas so de fato tarifas de interconexo, j que elas no levam em conta o quanto
da rede est sendo de fato usado para fazer a conexo. A TU-RL paga pelas empresas de telefonia quando uma ligao
nelas originadas precisa utilizar a rede fixa local para chegar ao usurio final. Por exemplo, quando se faz uma ligao de
So Paulo para o Rio de Janeiro atravs da Embratel, esta cobra pelo custo da ligao e paga a TU-RL s operadoras
locais nas duas cidades pelo uso das suas redes.
3
Dados atualizados das tarifas de uso esto disponveis na pgina www.teleco.com.br.
8
Quadro 10.1.2: Regra de determinao da tarifa de interconexo entre:
Country
Duas
operadoras
de STFC
Concessionria
de STFC e
operadora de
celular
Concessionria
de STFC local e
operadora de
longa distncia
Duas
operadoras de
celular
Concessionria
de STFC local e
operadora
estrangeira
frica do
Sul
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Argentina
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Brasil
Regulador
(ANATEL)
Negociaes
bilaterais
Regulador
(ANATEL)
Negociaes
bilaterais
Regulador
(ANATEL)
Grcia Regulador Regulador Regulador
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Mxico
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Polnia
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Tailndia
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Negociaes
bilaterais
Turquia No se aplica
Negociaes
bilaterais
No se aplica
Negociaes
bilaterais
No se aplica
Fonte: Banco Mundial.
O ente regulador
A independncia do regulador em relao parte do governo que responde mais diretamente
s influncias da poltica partidria varia bastante entre diferentes pases. Em alguns, como
acontecia no Brasil at o incio dos anos 1990, o rgo regulador simplesmente um
departamento do Ministrio das Comunicaes, que tambm responde pela gesto da
empresa estatal que atua no setor. Nessa situao, a competio muito difcil, inclusive nos
segmentos em que no h significativas barreiras naturais entrada, como a telefonia de
longa distncia. Isso ocorre, de um lado, porque o risco de controle poltico das tarifas
grande, e, de outro, pois dificilmente um competidor conseguir condies isonmicas de
interconexo s redes controladas usualmente pela estatal verticalmente integrada, pois h um
alinhamento natural, quando no a completa captura, entre o regulador e a estatal de
telecomunicaes.
A maior parte dos pases em desenvolvimento com renda per capita semelhante brasileira
tem agncias reguladoras para o setor de telecomunicaes, sendo freqente que estas gozem
de independncia em relao ao governo.
4
Mas nem sempre isso ocorre: a Tailndia, por
4
As comparaes a seguir so baseadas no banco de dados The Telecommunications Regulation Database, mantido
pelo Banco Mundial e se referem situao dos pases em 2001. Para maiores detalhes ver
http://econ.worldbank.org/files/35083_telecom_reg_data-wps3286.xls.
9
exemplo, no tem agncia reguladora de telecomunicaes, enquanto no Chile e no Mxico
estas existem, mas so subordinadas ao ministro.
Em comparao mdia internacional, a Anatel goza de um grau relativamente alto de
independncia. A LGT, que criou a Anatel, vinculou-a ao Ministrio das Comunicaes, mas
a submeteu a um regime de autarquia especial, que confere Agncia independncia
administrativa, ausncia de subordinao hierrquica, mandato fixo e estabilidade de seus
dirigentes e autonomia financeira. A LGT tambm flexibiliza a aplicao pela Anatel de uma
srie de normas administrativas, tanto em relao contratao de pessoal como compra de
bens e contratao de servios, que no obras e servios de engenharia, aos quais continua
se aplicando a Lei das Licitaes (Lei 8.666).
O rgo mximo da Agncia o seu Conselho Diretor, composto por cinco membros. Os
conselheiros da Anatel so indicados pelo Presidente da Repblica para mandatos fixos de
cinco anos, com direito a reconduo, sendo que o Congresso tem de aprovar a sua
indicao. Essas regras so semelhantes s adotadas por outros pases com agncias
reguladoras independentes, ainda que haja alguma variao entre eles (Quadro 10.1.3). Os
diretores da Anatel s podem ser demitidos em situaes especiais, como em caso de
corrupo, como ocorre em essencialmente todos os pases, e se houver conflitos de
interesse no desempenho de suas atividades. Em especial, eles no podem ser demitidos por
incompetncia, como ocorre em alguns lugares, inclusive em alguns em que as agncias so
independentes, como frica do Sul, Argentina e Grcia. Alm disso, nem o ministro, nem o
Presidente da Repblica podem vetar uma deciso da Anatel.
Quadro 10.1.3: Caractersticas dos mandatos dos conselheiros das agncias reguladoras de
telecomunicaes
Indicao pelo
Aprovao do
Congresso
necessria?
Mandato
fixo?
Anos de
mandato
Reconduo
frica do Sul Parlamento Sim Sim 2 ou 4 Sim
Argentina Presidente No Sim 5 Sim
Brasil Presidente Sim Sim 5 Sim
Chile No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica
Grcia Parlamento No se aplica Sim 5 Sim
Mxico Presidente No No No se aplica No se aplica
Polnia No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica
Tailndia Rei No se aplica Sim 6 No
Turquia
Conselho de
Ministros No se aplica Sim 3 e 2 Sim
Fonte: Banco Mundial (2004).
10
Tambm contribui para a independncia da Anatel a sua relativa autonomia financeira,
atravs do seu controle sobre o Fundo de Fiscalizao das Telecomunicaes (Fistel), para o
qual so recolhidas receitas diversas, desde as obtidas com as concesses, permisses e
autorizaes para a explorao de servios de telecomunicaes, que devero ser sempre
feitas de forma onerosa, at a cobrana de multas e taxas de fiscalizao. H outros pases,
como a Grcia (99,5%) e a Turquia (87,0%), em que as agncias tambm se financiam com
receitas prprias, mas tambm h aqueles, como frica do Sul, Chile, Mxico e Polnia, por
exemplo, em que elas dependem inteiramente do oramento pblico, o que lhes torna mais
vulnerveis interferncia do poder poltico.
Dentre os pases discriminados na Tabela 10.1.1, o Brasil o que tem a maior agncia
reguladora de telecomunicaes, em termos do nmero de funcionrios, ainda que no por
habitante ou telefone. Como em outros pases, o regulador dominado por engenheiros e
tcnicos, vindo os advogados em seguida a proporo de economistas, em particular,
pequena. Em parte isso se explica pelo fato de a maioria dos funcionrios da Anatel terem
sido de incio recrutados entre os antigos funcionrios das estatais de telecomunicaes. Mas
tambm importante o amplo escopo da regulao e superviso tcnicas por que responde a
Agncia.
Tabela 10.1.1 -- Nmero e formao dos funcionrios da agncia reguladora (2001)
Total
por
milho
de hab. Tcnicos Engenheiros Contadores Economistas Advogados Outros
frica do Sul 216 4,9 38 6 0 3 10 159
Argentina 633 16,9 55 88 28 4 60 398
Brasil 1223 7,0 99 335 24 45 116 604
Chile 234 15,2 11 40 14 14 15 140
Grcia 39 3,7 2 16 13 6 2 0
Mxico 534 5,3 309 68 26 100 31 0
Polnia* 305 7,9 71 96 41 0 23 74
Turquia 393 5,7 53 98 n.a. 22 7 213
Fonte: Banco Mundial (2004).
(*) Dados da Polnia referem-se ao escritrio central, sendo o total geral de 800 funcionrios.
n.a. no aplicvel.
O Artigo 103 da LGT determina que cabe Anatel estabelecer a estrutura tarifria para as
diferentes modalidades de servios de telecomunicaes no regime pblico no regime
privado no h controle de preos. vedada a prtica de subsdios cruzados, exceto quando
destinados a viabilizar as metas de universalizao. Em outros pases tambm comum ser o
regulador a controlar os aumentos de tarifas, particularmente na telefonia fixa local, em que a
competio mais difcil (Quadro 10.1.3). No extremo oposto, a maioria dos pases no
controla as tarifas cobradas pelos provedores de internet. Os servios de telefonia mvel
celular e longa distncia, nacional e internacional, so mais freqentemente livres de
regulao de preos, mas muitos pases, como o Brasil, mantm controles parciais, via tetos
de preo, pelo menos para as empresas dominantes.
11
Quadro 10.1.3: Quem aprova as tarifas?
Fixa local Celular
Longa
distncia
nacional
Longa
distncia
internacional
Provedor de
services de
internet
frica do Sul Regulador Regulador Regulador Regulador
Livre
Argentina Ministro Ministro Ministro Ministro
Livre
Brasil Regulador Regulador Regulador Regulador
Livre
Chile Ministro
Livre Livre Livre
Livre
Grcia Regulador Regulador Regulador Regulador Regulador
Mxico Regulador Regulador Regulador Regulador Regulador
Polnia Regulador Livre Regulador Regulador Livre
Tailndia Regulador Regulador Regulador Regulador Regulador
Turquia Regulador Regulador Regulador Regulador Livre
Fonte: Banco Mundial (2004).
A Anatel usa o sistema de teto de preo para fixar as tarifas de todos os servios de telefonia,
constando esse teto e os mecanismos de reajuste e reviso tarifria do contrato de concesso.
Na prtica, os reajustes tm sido aplicados mdia de preos dentro de cestas de servios,
combinados com limites de variao para cada servio individual, dando alguma flexibilidade
s concessionrias para reajustar diferenciadamente preos individuais em tese, isso deveria
permitir que, gradativamente, as tarifas se aproximassem dos preos de Ramsey. O teto de
preo tambm o mtodo mais utilizado em outros pases, ainda que no em todos (Quadro
10.1.4). Alguns pases, como a Tailndia, no tm regras explcitas de reajuste, enquanto
outros utilizam a regulao por custo de servio.
12
Quadro 10.1.4: Mtodo de regulao das tarifas
Country STFC local Celular
Longa distncia
nacional
Longa distncia
internacional
Provedor de
servios de
internet
frica do
Sul
Teto de preo Teto de preo Teto de preo Teto de preo Nenhum
Argentina Teto de preo
No disponvel
(pago por quem
liga)
Teto de preo Teto de preo Nenhum
Brasil Teto de preo Teto de preo Teto de preo Teto de preo Nenhum
Chile
Mtodo do custo
incremental
Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum
Grcia Com base no custo Nenhum
Com base no
custo
Com base no
custo
Nenhum
Mxico
Teto de preo
global
Nenhum
Teto de preo
global
Teto de preo
global
Nenhum
Polnia
Preos limitados
por clusula da Lei
de Competio e
Proteo ao
Consumidor sobre
capacidade de
pagamento
Nenhum
Preos
limitados por
clusula da Lei
de Competio
e Proteo ao
Consumidor
sobre
capacidade de
pagamento
Preos limitados
por clusula da
Lei de
Competio e
Proteo ao
Consumidor
sobre capacidade
de pagamento
Nenhum
Tailndia No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica
No se
aplica
Turquia Nenhum Teto de preo Nenhum Nenhum Nenhum
Fonte: Banco Mundial.
A defesa da concorrncia no setor de telecomunicaes uma atribuio conjunta da Anatel
e do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE). A LGT explicita a
aplicabilidade plena da Lei 8884 ao setor, e que cabe ao CADE apreciar qualquer ato de
concentrao econmica entre empresas de telecomunicaes. Tambm constitui infrao da
ordem econmica, passvel, portanto, de punio pelo CADE, qualquer ato praticado por
prestadora de servio de telecomunicaes que, na celebrao de contratos de fornecimento
de bens e servios, adotar prticas que possam limitar, falsear ou, de qualquer forma,
prejudicar a livre concorrncia ou a livre iniciativa.
A Anatel tem a competncia legal para exercer o papel que em outros setores cabe s
Secretarias de Acompanhamento Econmico (SEAE) e de Direito Econmico (SDE), em
termos de instruir os processos que so submetidos ao CADE. A Anatel tem tambm a
responsabilidade residual pelo controle, preveno e represso das infraes da ordem
econmica, ressalvadas as pertencentes ao CADE. Anatel tambm cabe o papel de
13
promover a competio nas telecomunicaes, fomentando novas entradas, estabelecendo
regulaes assimtricas e garantindo a interconexo e o trfego mtuo em condies
competitivas.
Cobertura e estrutura do setor
A diferenciao entre os regimes privado e pblico, e em especial a exigncia que apenas as
concessionrias de servios pblicos cumprissem metas pr-definidas, ajudaram a conciliar os
objetivos de competio e universalizao. Este segundo pilar da regulao das
telecomunicaes no Brasil foi instrumentalizado atravs do Decreto 2592, de maio de 1998,
que estabeleceu o Plano Geral de Metas para a Universalizao (PGMU), do qual constavam
as metas a serem cumpridas pelas concessionrias, em termos de nmeros de telefones
instalados, densidade geogrfica de telefones pblicos e metas de qualidade, como a taxa de
digitalizao da rede, a proporo de chamadas no completadas e o prazo para atendimento
s demandas dos consumidores.
A Tabela 10.1.2 mostra o sucesso da reforma regulatria das telecomunicaes em expandir a
oferta de telefones no Brasil, notadamente a partir da privatizao da Telebrs em 1998.
Comparado a outros pases latino americanos, o Brasil estava em 2003 atrs apenas do Chile
em termos do nmero de linhas telefnicas por habitante, por conta de uma menor
penetrao dos telefones celulares. Esta aumentou, porm, desde o fim dos anos 1990, graas
expanso do nmero de celulares pr-pagos, responsveis por 76% das linhas mveis no
pas.
Em 2003, 38,6% dos domiclios brasileiros tinham telefone celular, um quarto a mais do que
em 2001 (Tabela 10.1.3). Em contraste, a proporo de domiclios com telefone fixo caiu de
51,1% para 50,8% no mesmo perodo. Em 2003, 62% dos domiclios no Brasil tinham
telefone, sendo que entre aqueles com renda domiciliar acima de 10 salrios mnimos esse
servio era praticamente universalizado. O Brasil tem uma posio relativa menos favorvel
na Amrica Latina em relao densidade de usurios da internet, ficando atrs de Chile,
Argentina e Mxico, em parte por ter um custo mais elevado de uso. No total, apenas 11,4%
dos lares brasileiros tinham microcomputador com acesso internet em 2003, com
significativa concentrao nos domiclios de mais alta renda.
14
Tabela 10.1.1: Nmero de telefones celulares e fixos por 100 habitantes
Fixos
Celulares
Instalados Em Servio
1990 0,0 7,0 6,4
1991 0,0 7,2 6,7
1992 0,0 7,7 7,1
1993 0,1 8,2 7,5
1994 0,5 8,5 7,8
1995 0,9 9,2 8,4
1996 1,7 10,2 9,2
1997 2,8 11,5 10,4
1998 4,4 13,3 12,1
1999 9,0 16,6 14,9
2000 13,6 22,5 18,2
2001 16,7 27,7 21,7
2002 19,8 27,9 22,0
2003 25,9 27,8 21,9
2004 33,7 n.d. n.d.
Mdia Amrica Latina e
Caribe (2001)
16,0 16,3
Mdia dos pases de
renda mdia baixa (2001)
11,0 14,6
Fontes: Anatel, Teleco e Banco Mundial.
15
Tabela 10.1.3: Percentual de domiclios com telefone e microcomputador por classe de
rendimento mensal domiciliar
Fonte: IBGE/PNAD 2001-03 e Teleco.
A reforma regulatria foi apenas parcialmente bem sucedida em termos do seu outro pilar, a
competio, pois nem todos os segmentos desenvolveram uma estrutura de mercado
competitiva. Os resultados mais positivos foram observados na telefonia de longa distncia,
em que as barreiras entrada so mais baixas e a competio via preos, combinada com
uma propaganda adequada, que d reconhecimento de marca, uma estratgia relativamente
efetiva. As concessionrias de telefonia fixa local foram particularmente bem sucedidas em
conquistar parcelas elevadas desse mercado. J no final de 2003, o segmento de longa
distncia nacional era quase igualmente dividido entre as quatro concessionrias de telefonia
fixa, observando-se uma grande queda na participao da Embratel (Tabela 10.1.4).
Total
At 10
salrios
mnimos
10 a 20
salrios
mnimos
mais de 20
salrios
mnimos
Telefone Fixo 50,8 44,9 90,9 96,2
Telefone Celular 38,6 31,9 81,2 92,9
Telefone (Fixo ou Celular) 62,0 57,0 97,4 99,4
Telefone Fixo e Celular 27,4 19,8 74,7 89,8
S Telefone Fixo 23,4 25,0 16,2 6,4
S Celular 11,2 12,1 6,5 3,1
Microcomputador 15,3 8,2 56,3 78,3
Microcomputador
com acesso a internet
11,4 5,1 46,0 71,4
16
Tabela 10.1.4: Participaes das principais operadoras na telefonia de longa distncia
nacional (% dos minutos falados)
Jun/04 Dez/03
Telemar 26,6% 24,5%
Telefnica 24,1% 24,1%
Brasil Telecom 21,5% 20,0%
Embratel 21,0% 25,2%
Outros 6,8% 6,3%
Fontes: Anatel e Teleco.
Tambm na telefonia mvel os novos entrantes conquistaram parcelas relevantes do
mercado, notadamente as empresas da Banda B. Ao final de 2004, as operadoras da Banda A
detinham 51% do mercado nacional, contra 29% da Banda B e 20% das Bandas D e E. A
Tabela 10.1.14 mostra que as trs maiores operadoras de telefonia mvel detm participaes
elevadas nas trs regies de outorga, sendo a estrutura de mercado particularmente
competitiva na Regio I, a maior do pas. Contriburam para o relativo sucesso da regulao
em criar competio na telefonia celular a entrada das empresas da Banda B no mercado
antes da privatizao e o grande dinamismo do setor, tanto tecnolgico como em relao ao
nmero de linhas, de forma que as novas empresas puderam crescer sem ter de roubar
clientes das incumbentes.
17
Tabela 11.1.5: Participao das Operadoras de Celulares por Regio de Outorga (2T04)
Maro 2004 Regio I Regio II
Regio III
(SP)
Vivo 25% 57% 60%
Claro 16% 22% 26%
Tim 22% 21% 13%
Oi* 21%
Amaznia Celular
e Telemig Celular
15% -- --
Tringulo Celular
e Sercomel Celular
1% 0% 1%
Nmero total de
celulares (milhes)
24,2 15,6 14,3
Fonte: Anatel e Teleco.
Nota: Participaes estimadas pelo Teleco a partir dos dados
divulgados pelas operadoras e nmero de celulares por estado
divulgados pela Anatel.
Os resultados foram bem diferentes na telefonia fixa, com as empresas concessionrias
mantendo amplo domnio sobre o mercado de STFC local em suas respectivas reas de
concesso (Tabela 10.1.6). A participao dos novos entrantes no s permaneceu pequena,
como tambm inferior projetada poca da privatizao da Telebrs, a despeito de o
cronograma de progressiva liberalizao ter sido corretamente implementado. Na Regio I, as
empresas espelho e as demais autorizadas detinham 3,9% do mercado em junho de 2004,
metade dos 8% que se previu que estas iriam conquistar at meados de 2003. Na Regio II, a
participao da Brasil Telecom era de 94,9%, contra os 87,0% previstos para 2003; e na
Regio III, compreendendo o estado de So Paulo, as novas entrantes abocanharam apenas
2,5% do mercado, um sexto dos 15,0% que se antecipava ser a sua participao em 2003.
Tabela 10.1.6: Distribuio do STFC Local entre Concessionrias e Autorizadas (% dos
acessos em servio, junho 2004)
Regies do Plano Geral de Outorgas
Regio I Regio II Regio III
Concessionrias 96,1% 94,9% 97,5%
Autorizadas e
Espelhos
3,9% 5,1% 2,5%
Fonte: Anatel e Teleco
18
Outros indicadores confirmam a falta de competio na telefonia fixa local. Primeiro, ao
contrrio do que se observa na longa distncia e na telefonia mvel, em que as operadoras
competem fortemente com propaganda e ofertas de promoes e pacotes de tarifas, no
STFC local praticamente no h propaganda, nem oferta de planos de tarifas diferenciados.
Segundo, a introduo de inovaes tecnolgicas no STFC local tambm se mostrou tmida,
tanto em termos do nmero e do escopo das inovaes, como do ritmo em que estas vm
sendo introduzidas.
Vrias razes contriburam para que as empresas espelho no obtivessem participaes
significativas. Uma foi elas terem entrado no mercado quase dois anos aps a privatizao,
aps um grande aumento da oferta de servios, diferentemente do que ocorreu com a
telefonia mvel. Isso exigiu que, para crescer, elas tivessem de atrair os clientes das
incumbentes, o que difcil, em funo dos custos de migrao de operadora, devido falta
de portabilidade do nmero de telefone e aos custos de habilitao e instalao de uma nova
linha. O fracasso em implantar uma estrutura competitiva no STFC local mostra como so
fortes as vantagens competitivas das incumbentes nesse segmento e evidencia os limites da
regulao de conduta na promoo da competio, mesmo quando o regulador dispe de
instrumentos de regulao assimtrica.
19
10.2 A Regulao do Setor Eltrico
Histrico
A introduo da energia eltrica no Brasil se deu ainda nos anos 1870, comeando pela
iluminao da estao ferroviria Dom Pedro II, hoje Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
5
Os
primeiros projetos de maior monta s surgiriam, porm, em 1883, ano em que comeou a operar
a primeira usina geradora, em Campos, no norte fluminense; se construiu a primeira hidreltrica
em Diamantina, Minas Gerais; e comeou a operar a primeira linha de bonde eltrico, em Niteri,
tambm no Rio de Janeiro. O setor se expandiria rapidamente no resto do sculo, com a
capacidade de gerao subindo de 61 kW em 1883 para 10,9 MW em 1900.
Em 1903 foi editada a primeira regulao mais abrangente do setor no pas,
6
dando autorizao
para que o governo federal explorasse, diretamente ou atravs de concesses, os aproveitamentos
hidrulicos para fins de prestao de servios pblicos. Na prtica, porm, a expanso da
capacidade continuou a se dar majoritariamente atravs de contratos de explorao entre estados
e municpios e operadores privados. S a partir da dcada de 1930, culminando com a edio do
Cdigo de guas (Decreto 24.643, de julho de 1934), se fortaleceria o papel regulador da Unio
nesse setor.
O Cdigo estendeu a poder concedente do governo federal para alm da gerao hidreltrica,
passando este a englobar tambm a transmisso e distribuio de eletricidade, e deu Unio a
competncia legislativa nessa rea. Foi estabelecido um prazo normal para as concesses, a serem
feitas por decreto presidencial, de 30 anos, no podendo este exceder em nenhuma hiptese 50
anos. O Servio de guas (depois, Diviso de guas) do Departamento Nacional de Produo
Mineral do Ministrio da Agricultura passou a atuar como rgo regulador do setor, trabalhando
em parceria com o Conselho Nacional de guas e Energia Eltrica (CNAEE) em relao
interconexo entre empresas. Tambm foi alterado o mecanismo de fixao das tarifas, que
passaram a ser determinadas pelo custo do servio, acrescido de uma remunerao sobre o ativo
(Artigo 180). Extinguiu-se nessa poca a clusula-ouro, que garantia uma remunerao fixa em
moeda forte para os investimentos feitos pelas empresas estrangeiras, que dominavam o setor,
atravs da Light e da Amforp.
A s restries entrada de estrangeiros no setor (Artigo 195), a utilizao do valor histrico dos
ativos como base de remunerao do capital, e a acelerao da inflao nos anos 1950 iriam
desestimular novos investimentos pelas empresas multinacionais, criando um espao que viria a
ser ocupado por um setor pblico crescentemente intervencionista. Um passo fundamental nesse
processo foi a aprovao do Fundo Federal de Eletrificao e Imposto nico sobre Energia
Eltrica (IUEE) atravs da Lei 2.308. de agosto de 1954, de onde viria grande parte dos fundos
que financiariam os investimentos pblicos no setor nos anos seguintes.
Nos anos 1960 e no incios dos 1970, a regulao do setor seria revista, ainda que sem se alterar
alguns de seus pilares:
5
A histria do setor eltrico no Brasil apresentada em detalhe em AntnioC. S. Gomes, Carlos D. G. Abarca,
Elada A. S. T. Faria e Helosa H. Fernandes, O Setor Eltrico, BNDES, 2001, em que os prximos pargrafos se
baseiam.
6
Lei 1.145 de dezembro de 1903 e o Decreto 5.704, promulgado um ano depois.
20
Em 1962 criou-se a Eletrobrs, que passaria a funcionar como rgo de planejamento,
coordenao e financiamento do setor. Neste mesmo ano, deu-se incio estatizao da
Amforp;
Em 1965, a Diviso de guas e Energia do Ministrio das Minas e Energia (MME, criado
em 1961) foi transformada no Departamento Nacional de guas e Energia, que, ao
assumir as responsabilidades do CNAEE, extinto em 1967, passou a chamar-se de
Departamento Nacional de guas e Energia Eltrica (DNAEE). Este Departamento,
subordinando ao MME, funcionaria como rgo regulador do setor at os anos 1990.
Reavaliou-se os ativos usados como base para a fixao das tarifas, introduzindo-se um
mecanismo de correo monetria para proteger o seu valor da inflao e, com a Lei
5.655, de maio de 1971, determinou-se que sobre eles deveria incidir uma remunerao
garantida de 10% a 12%.
Criou-se o Grupo Coordenador para a Operao Interligada (GCOI) (Lei 5.899, de julho
de 1973).
Prevaleceu a partir de ento um modelo centralizado de planejamento, financiamento e operao,
centrado na Eletrobrs, que foi extremamente bem sucedido em expandir o setor, saindo de uma
capacidade de gerao de 5729 MW em 1962 para 55.512 MW em 1995, ano em que o Brasil j
contava com uma das maiores redes de transmisso e distribuio do mundo. A responsabilidade
por projetar o mercado, identificar os projetos prioritrios e financi-los era da Eletrobrs.
Empresas de propriedade do governo dos estados nascidas em parte da nacionalizao da
Amcorp e da Light -- ficaram responsveis pela distribuio de eletricidade, ainda que alguns
deles (So Paulo, Minas Gerais e Paran, em especial) tambm tenham investido pesadamente em
gerao e transmisso, dentro de seus territrios. O GCOI centralizava a coordenao dos
despachos, determinando quem produziria a energia, e garantindo a interconexo das redes que
estavam fisicamente interligadas.
7
O DNAEE, completamente capturado pelas empresas do setor,
exercia um papel secundrio na regulao do setor.
Ainda em 1974, porm, a qualidade da regulao do setor comearia a piorar, com a equalizao
das tarifas de energia eltrica em todo o pas (Decreto-Lei 1.383), criando-se i mecanismo da
Reserva Global de Garantia (RGG), que transferia recursos das empresas de custos mais baixos
para as de custos mais altos. Como ocorria nas telecomunicaes, em que um mecanismo
semelhante funcionava atravs das transferncias realizadas pela Embratel, esse mecanismo dava
s empresas incentivos errados com relao busca da eficincia tcnica.
A partir da segunda metade dos anos 1970, e mais intensamente no incio dos anos 1980, as
tarifas de energia eltrica deixam de ser fixadas pelo DNAEE e passam a ser controladas pelo
Ministrio da Fazenda, como instrumentos de combate inflao e promoo das exportaes. A
sade financeira das empresas de energia eltrica, a essa altura quase todas estatais, sofre um
agudo processo de deteriorao, medida que as tarifas passam a ser reajustadas abaixo do
necessrio para garantir a remunerao mnima legal do capital investido, sendo a diferena
7
A necessidade de um rgo dessa natureza refletiu a necessidade de coordenar a gerao de energia em um sistema
quase integralmente hdrico em que h diversas usinas geradoras em um mesmo rio, s vezes pertencentes a
empresas diferentes, e em que o sistema de chuvas diferente em regies distintas do pas.
21
creditada a seu favor na Conta de Resultados a Compensar (CRC). As empresas tambm sofrem
com nveis crescentes de endividamento, que comprometem elevada parcela de suas receitas com
o pagamento de juros. Tambm pesaram contra as empresas do setor a elevao do imposto de
renda de 6% para 40% e a extino do IUEE pela Constituio de 1988. Conforme os crditos se
acumulavam na CRC, as empresas distribuidoras, que eram majoritariamente de propriedade dos
governos estaduais, passaram a no mais pagar pela energia comprada das grandes geradoras, que
pertenciam ao governo federal, tornando ainda mais complicada a situao do setor.
As Reformas dos Anos 1990
Ficou evidente nessa poca que a regulao do setor necessitava ser outra vez alterada, processo
que teve incio em 1993, com a Lei 8.631, que acabou com equalizao tarifria em todo o pas e
com a remunerao mnima garantida sobre os ativos. A Lei tambm promoveu um encontro de
contas entre o governo federal e as empresas. Concomitantemente, as tarifas foram recompostas,
melhorando a sade financeira das empresas.
Esses foram os primeiros passos em um processo de reforma que tinha como objetivo final atrair
o investidor privado para o setor, ao mesmo tempo em que se estabelecia um maior grau de
competio entre as empresas.
8
Ele teve continuidade, em 1995, com a emenda dos Artigos 21 e
175 da Constituio, viabilizando a entrada do capital estrangeiro no setor; e a aprovao das
Leis 8.987 (Lei das Concesses) e 9.074, que fixam as regras gerais de concesso e as aplicveis
renovao das concesses no setor eltrico, respectivamente. A Lei 8.987 tornou possvel a
remunerao por teto de preo, em vez de s por custo do servio. A Lei 9.074 determinou, em
particular, que as concesses do setor eltrico da em diante deveriam considerar separadamente
os custos de gerao, transmisso e distribuio de eletricidade, devendo a tarifa de suprimento
individualizar a remunerao da gerao e da transmisso. Esta lei tambm criou a figura do
Produtor Independente de Energia Eltrica, definindo que este poderia vender sua energia para
consumidores livres. Ela estabeleceu que seriam consumidores livres, obrigatoriamente, todos
aqueles com carga de consumo igual ou maior do que 10 MW em voltagem de 69 kV ou mais
(artigo 15) e, opcionalmente, os que tivessem carga acima de 3 MW, em qualquer tenso.
No final de 1996, a Lei 9.427 criaria o novo rgo regulador do setor, a Agncia Nacional de
Energia Eltrica (Aneel), responsvel por regular e fiscalizar a produo, transmisso,
distribuio e comercializao de eletricidade em todo o pas, que substituiria o DNAEE,
gozando de um grau bem mais elevado de independncia. O rgo mximo da Aneel, que s viria
a funcionar de fato depois de regulamentado pelo Decreto 2.335, o colegiado formado por seu
diretor-geral e mais quatro diretores, entre os quais o diretor-ouvidor. A Agncia uma autarquia
especial, vinculada, sem subordinao hierrquica, ao Ministrio das Minas e Energia, com quem
tem um contrato de gesto. Seus diretores tm mandatos fixos e s podem ser exonerados em
caso de falta grave, depois de comprovada em processo administrativo ou judicial, ou por
descumprimento sem motivo do contrato de gesto.
Entre as atribuies da Aneel esto fixar os parmetros tcnicos para garantir a qualidade do
servio, estabelecer os critrios para a fixao da tarifa de transmisso, e fixar e implementar as
revises das tarifas de distribuio. Estas so regidas pela necessidade de garantir o equilbrio
8
A reforma regulatria no setor eltrico durante os anos 1990 discutida em detalhes em Ferreira (2000) e Pires
(2000), nos quais os prximos pargrafos so parcialmente baseados.
22
econmico-financeiro da empresa conforme estabelecido pela Lei das Concesses (Lei 8.987)
e pelos contratos de concesso, onde as tarifas so reguladas por um mecanismo de teto de preo,
reajustado anualmente, cabendo Aneel fixar o ganho de produtividade a ser transferido aos
consumidores (e, portanto, deduzido das tarifas) nas revises peridicas. Estas revises, que
ocorrem em intervalos de trs a sete anos, dependendo do contrato de concesso, funcionam
essencialmente na base de custo de servio, cabendo Aneel arbitrar uma remunerao para os
investimentos realizados.
Nas suas atividades de controle e fiscalizao do sistema de energia eltrica, a Aneel trabalha
atravs de convnios com agncias estaduais de regulao, que esto em operao na maioria dos
estados. O mandato da Agncia tambm inclui a defesa da concorrncia no setor (Lei 9.648),
funo que exerce em convnios com as Secretarias de Acompanhamento Econmico (Ministrio
da Fazenda) e de Direito Econmico (Ministrio da Justia) e o Conselho Administrativo de
Defesa da Concorrncia (CADE).
9
Tambm para promover a competio, a Aneel tambm editou
resolues limitando a concentrao no setor, nas atividades de gerao e distribuio, e
garantindo o livre acesso s redes de transmisso e distribuio (Pires, 2000). As resolues
245/1998 e 66/1999 separam os ativos de transmisso (linhas com tenso de 230 kV ou mais) das
de distribuio. A Resoluo 282/1999 fixa as regras de uso e conexo a essas redes e, junto com
a Resoluo 286/1999, estabelece as tarifas a serem pagas por esse uso, chamadas de tarifas de
uso do sistema de transmisso (TUST) e de uso do sistema de distribuio (TUSD).
Duas outras instituies do novo modelo foram criadas pela Lei 9.648, de maio de 1968: o
Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o rgo Nacional do Sistema (ONS). O MAE foi criado
para intermediar as operaes de compra e venda de energia entre as distribuidoras e as
geradoras, ou entre produtores independentes e consumidores livres. Para isso ele deveria ter a
dupla funo de estabelecer um parmetro de referncia para a fixao da tarifa de suprimento
nos contratos bilaterais de longo prazo; e de administrar o mercado vista de energia, onde as
tarifas deveriam refletir mais proximamente o custo marginal de suprimento de curto prazo. O
ONS uma instituio privada, sem fins lucrativos, que essencialmente substituiu o GCOI,
passando a administrar a rede de transmisso, operando o Sistema Interligado Nacional, atravs
do qual ordena o despacho de energia. Assim, ele responsvel por determinar que gerador
dever produzir a cada momento e para onde essa energia dever fluir. Esse clculo feito com
base em um modelo matemtico que leva em conta o nvel de gua nas hidreltricas, a
probabilidade de chuvas nos meses e anos seguintes, e o custo e a capacidade de expanso da
produo trmica. A Lei 9.648 tambm criou a figura do agente comercializador de energia
eltrica, que pode comprar e vender eletricidade desde que autorizado a operar pela Aneel.
O principal desafio do novo modelo era como incentivar o investimento em gerao, dado que os
novos entrantes iriam ter custos mais altos do que as empresas j estabelecidas, que estavam mais
prximas dos consumidores (menores custos de transmisso) e exploravam os melhores
aproveitamentos hidreltricos, alm de, contabilmente, seus ativos j estarem depreciados. A
soluo encontrada foi implantar um regime de livre competio entre geradores, permitindo que
a tarifa de suprimento subisse at atingir o custo marginal de expanso do sistema. De forma a
9
A Aneel ou qualquer dos trs membros do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia podem encaminhar
denncias de condutas anti-competitivas no mercado de energia eltrica, a qual d lugar a uma investigao
preliminar pela SDE que, sendo julgada procedente, leva instaurao de um processo administrativo. O parecer da
SDE enviado para que a Aneel se manifeste e depois julgado pelo CADE.
23
organizar a transio para um sistema de livre competio entre geradores e evitar que as tarifas
de energia subissem muito rapidamente, a Lei 9.648 criou os contratos iniciais. Estes
estabeleciam que as empresas deveriam celebrar novos contratos entre elas, em que, a partir de
2002, a cada ano 25% da energia teriam seu preo livremente negociado, at a liberalizao total
em 2005.
Porm, o fato da hidroeletricidade dominar a gerao no Brasil cria riscos elevados para os novos
entrantes na gerao: dada uma demanda e um regime hidrolgico incertos, e o fato de o sistema
ser dimensionado para limitar o risco de racionamento em baixo patamar, o custo marginal de
curto prazo para as empresas j instaladas zero a maior parte do tempo. Para viabilizar novos
investimentos, portanto, tambm seria necessrio dar aos novos entrantes alguma proteo contra
o risco de, uma vez concluda a fase de investimento, terem de operar em um mercado spot, de
curto prazo, em que a tarifa muito prxima a zero. Isso foi feito exigindo que as distribuidoras
tivessem sempre garantia (atravs de contratos com geradores) de suprimento de pelo menos 85%
de seus mercados, desta forma incentivando o estabelecimento de contratos de longo prazo que
garantiam os investidores em gerao contra flutuaes de demanda por sua vez, a margem de
15%, que poderia ser contratada no mercado spot protegia as distribuidoras contra o risco de
variaes na demanda.
O Novo Modelo
Com a crise energtica de 2001, vrios itens desse modelo no chegariam a ser totalmente
implementados.
10
Em 2002 e, principalmente, 2003, o modelo comearia a ser outra vez revisto,
culminando com a definio de uma nova regulao, definida pela Lei 10.848 e,
subsidiariamente, pela Lei 10.847, ambas de maro de 2004, alm de uma srie de decretos
regulamentando artigos diversos dessas leis em especial, o Decreto 5.081, que reordena o
funcionamento do ONS; o 5163, que detalha as novas regras de comercializao de eletricidade;
o 5.175, que cria o Comit de Monitoramento do Setor Eltrico (CMSE); o 5.177, que dispe
sobre a organizao, as atribuies e o funcionamento da Cmara de Comercializao de Energia
Eltrica (CCEE); e o 5.184, que cria a Empresa de Pesquisa Energtica (EPE).
As principais mudanas no modelo referem-se ao ambiente de competio e remunerao dos
geradores, e conseqentemente tarifa de suprimento das distribuidoras, sendo abandonada a
idia de permitir a convergncia da tarifa de suprimento para o custo marginal de expanso do
sistema. Em relao estrutura do mercado, criaram-se trs ambientes de competio:
O Ambiente de Contratao Regulada (ACR) para as usinas de gerao j existentes,
passa a funcionar como um mercado competitivo intermediado por um leiloeiro a Aneel
ou, por delegao desta, a CCEE ( 11 do Artigo 2
o
da Lei 10.848). Em cada leilo, as
empresas fazem propostas de fornecimento de energia, fixando uma quantidade e uma tarifa.
As propostas so ordenadas, da tarifa mais baixa para a mais alta, fazendo-se um corte na
quantidade definida pelo volume total de demanda. Os geradores que fizeram propostas
competitivas, isto , com tarifas abaixo do ponto de corte, faro contratos bilaterais
individuais com cada distribuidora, dividindo a sua quantidade ofertada proporcionalmente
demanda de cada empresa. O Decreto 5.163 prev que esses contratos, denominados Contrato
10
A respeito da crise do setor eltrico em 2001 ver Pires, Giambiagi e Sales (2002).
24
de Comercializao de Energia Eltrica no Ambiente Regulado (CCEAR), tenham durao
entre cinco e quinze anos, e que o fornecimento seja iniciado no ano seguinte ao leilo.
Nesses contratos, o distribuidor ter direito de reduzir a quantidade de energia contratada (i)
se algum consumidor seu que seja potencialmente livre trocar de fornecedor; e (ii) em at 4%
do valor originalmente contratado, em cada ano, para acomodar variaes de demanda, sendo
todos os cortes definitivos.
O ACR para novas plantas de gerao. Neste, a Aneel far um leilo da concesso (Box
6.6), isto , do direito de fazer o investimento e fornecer a energia, ganhando o investidor que
oferecer faz-lo cobrando a menor tarifa. Os leiles sero organizados a partir de uma lista de
projetos montada pela EPE, com base nos seus levantamentos, em objetivos estratgicos e
propostas feitas pelos investidores privados. A EPE tambm ficar encarregada de obter a
licena ambiental para esses projetos previamente ao leilo. Cada concesso ser leiloada
individualmente, e aps todos os leiles o regulador ordenar as ofertas, da tarifa mais baixa
para a mais alta, selecionando aquelas competitivas a partir do montante de demanda total a
ser suprida, informada pelo MME.
11
Cada novo gerador assinar contratos bilaterais
individuais com cada distribuidor, proporcionalmente demanda de cada um. Esses CCEARs
tero durao entre 15 e 30 anos e sero contratos de disponibilidade de energia, isto , em
que o gerador pago independentemente da energia que venha a ser usada pelo distribuidor.
12
Haver leiles com o incio do fornecimento previsto para trs ou cinco anos depois.
13
O Ambiente de Contratao Livre (ACL), onde as operaes de compra e venda de
energia eltrica sero reguladas por contratos bilaterais livremente negociados entre as
partes.
14
Este ser, por excelncia, o mercado em que os consumidores livres devero
comprar sua energia. Os consumidores que so servidos por empresas distribuidoras com
carga mnima de 3 MW e desejem passar a comprar energia no ACL, podero faz-lo no ano
seguinte quele em isso for comunicado formalmente distribuidora, bastando que essa
comunicao seja feitas pelo menos 15 dias antes da data em que so obrigados a declarar sua
necessidade de compra de energia eltrica com compra no ano seguinte. Para retornar ao
11
A separao entre energia existente e energia nova permite organizar as empresas de distribuio como um
monopsonista discriminador de terceiro-grau. Como a elasticidade de oferta para a energia j existente mais baixa
do que para a nova energia, ele poder em geral comprar a energia j existente por um preo mais baixo. Dentro do
mercado de ACR para a energia existente, por outro lado, o pool virtual organizado pelo regulador funciona como
um monopsonista discriminador de segundo grau. O objetivo, nos dois casos, extrair o mximo do excedente do
produtor, de forma a permitir a modicidade tarifria. Para uma discusso dos tipos de discriminao de preos por
um monopolista, ver Tirole (1989, pp. 133-168)
12
Assim, ao contrrio dos CCEARs para energia existente, nestes contratos o risco hidrolgico fica inteiramente com
a empresa de distribuio, que poder repassar os custos da decorrentes para os consumidores finais (4, Artigo 28
do Decreto 5.163).
13
Ao participar de um leilo de energia nova no ACR, o investidor interessado ter a opo de destinar uma
proporo de sua capacidade de gerao ao ACL (ver a seguir) ou para consumo prprio. Sobre esta parcela, ele
pagar anualmente, por MWh de energia assegurada, uma taxa proporcional diferena entre (i) o mnimo entre o
custo marginal de referncia (calculado pela EPE e fixado previamente pelo MME) e o custo marginal do leilo,
igual maior tarifa dentre as vencedoras do leilo; e (ii) a tarifa que ele ofertar para ser cobrada na sua concesso
(Artigo 21 do Decreto 5.163). Em certo sentido, essa uma variante da taxa de uso de bem pblico (UBP), criada
pela Lei 9.648 (Artigo 7
o
), fixada nessa lei em 2,5% da receita do produtor independente de energia durante os cinco
primeiros anos de operao.
14
Todos os contratos de compra e venda de energia eltrica, tanto no ACR como no ACL, tero de ser registrados na
CCEE e, quando for o caso, aprovados, homologados ou registrados pela Aneel..
25
ACR, porm, os consumidores livres precisam informar distribuidora com cinco anos de
antecedncia.
Anualmente, todas as empresas de distribuio, vendedores, auto-produtores e consumidores
livres devero informar ao MME, at 1
o
de agosto, as previses de seus mercados ou cargas para
os cinco anos subseqentes. Essas informaes sero usadas para dimensionar a demanda a ser
coberta nos leiles do ACR. As empresas distribuidoras devero ter sempre garantia de
atendimento totalidade de seu mercado, em termos de energia e potncia, por intermdio de
contratos registrados na CCEE e, quando for o caso, aprovados, homologados ou registrados na
Aneel. A mesma regra vale para os consumidores livres, auto-produtores e vendedores. O
cumprimento dessa obrigao ser aferido mensalmente pela CCEE, comparando, no caso da
energia, o consumo medido e as quantidades contratadas nos doze meses anteriores.
Todas as empresas ficam obrigadas a separar as suas atividades de distribuio das de gerao e
transmisso. As distribuidoras passam a ter de comprar 100% do seu suprimento de energia por
licitao no ACR, ficando, portanto, bloqueada a possibilidade de compra de energia diretamente
de uma empresa do mesmo grupo (o chamado self-dealing), que antes era permitida at 30% do
suprimento total. Como nos leiles do ACR, tanto para a energia existente como para a nova,
todas as distribuidoras pagam a mesma tarifa mdia, esse sistema faz com que o custo de
suprimento para as distribuidoras, a ser repassado aos consumidores finais, seja essencialmente o
mesmo para todas elas. Tudo funciona, virtualmente, como se houvesse um nico comprador
para toda a eletricidade produzida pelas geradoras.
Este novo modelo criou trs novos rgos com funes reguladoras a CCEE, a EPE e o CMSE
que se somam Aneel, ao ONS e ao prprio MME, cuja influncia sobre a regulao setorial
ficou bastante aumentada, tornando-se, inclusive, o poder concedente (isto , quem autoriza
novas entradas) no setor, em substituio Aneel, cujas atribuies foram diminudas em vrios
aspectos. A CCEE funciona essencialmente como uma cmara de compensao e custdia, em
substituio ao MAE (Artigo 5
o
da Lei 10.848). A CCEE responsvel por monitorar e fiscalizar
os contratos de comercializao de energia, podendo tambm realizar os leiles do ACR, por
delegao da Aneel.
A EPE realiza estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor energtico, no apenas
de eletricidade como tambm de outras fontes, como petrleo, gs e carvo. Entre outras
atribuies, ela responsvel por (i) propor ao MME uma lista de novos projetos de gerao para
serem leiloados no ACR, fazendo as estimativas de custos correspondentes; (ii) habilitar
tecnicamente e cadastrar os projetos de gerao propostos por investidores privados que podero
constar do leilo; e (iii) obter as licenas ambientais prvias para esses projetos. O CMSE
responsvel por acompanhar o desenvolvimento das diversas atividades no setor eltrico, de gs
natural e petrleo; avaliar as condies e a segurana de abastecimento e atendimento nesses
setores em horizontes pr-determinados. Em particular, o CMSE deve monitorar o risco de
racionamento de energia e propor medidas de reserva de capacidade de gerao que mantenham
esse risco em patamar aceitvel. O ONS continua a operar o sistema de despacho como antes,
mas sua direo passa a ser controlada por diretores indicados pelo MME.
26
Box 10.1: A Competio no Setor de Telecomunicaes
A regulao das telecomunicaes no Brasil atribui grande importncia competio. A Lei
Geral das Telecomunicaes (LGT) determina, por exemplo, que os servios de
telecomunicaes sero organizados com base no princpio da livre, ampla e justa
competio entre todas as prestadoras, devendo o Poder Pblico atuar para propici-la, bem
como para corrigir os efeitos da competio imperfeita e reprimir as infraes da ordem
econmica.
Vrias razes justificam a nfase no estabelecimento de um ambiente competitivo: a competio
estimula a reduo dos custos e impe s empresas baixas margens de lucro, levando os
consumidores a pagar tarifas mais baixas; ela promove a produo e o uso eficiente de servios
de telecomunicaes; ela estimula a inovao e a introduo de novos produtos e servios; e
ela amplia a oferta de servios e produtos mais modernos e diversificados e de planos de
tarifas que melhor atendem s necessidades de consumidor.
A competio tambm uma grande aliada do regulador. Estimulando a concorrncia, pode-
se ter uma regulao mais leve sobre os segmentos mais competitivos, e mais informao
para atuar nos segmentos em que a falta de competio exige uma regulao mais pesada. Em
especial, os reguladores freqentemente desconhecem o quanto os custos de uma empresa
por eles regulada podem cair de fato. Com a entrada de concorrentes, o regulador pode
inferir comparativamente aspectos do desempenho da empresa que no so visveis quando
ela opera sozinha. A competio tambm capaz de forar uma reduo dos custos em um
grau em que um regulador, tolhido por assimetrias de informao, no seria capaz de fazer. A
prpria rivalidade entre as operadoras estimula-as a buscar o regulador com informaes e
ajuda para que as rivais sejam obrigadas a cumprir a regulao. Com a competio, o risco de
captura e perda de autoridade do regulador diminui muito, como tambm cai a presso
poltica exercida sobre ele pelo governo e pelos consumidores. Esta tambm diminui o
incentivo das empresas j atuando no setor a gastar com lobby junto ao regulador para
impedir a entrada de concorrentes, permitindo que esses recursos tenham melhor uso em
outras atividades.
Em telecomunicaes, a capacidade de competir depende do acesso aos usurios e, portanto,
rede da operadora de telefonia fixa local a chamada ltima milha, que tem caractersticas
de monoplio natural. Essa rede constitui um dos insumos indispensveis para que as
companhias telefnicas possam prover seus servios, sendo por isso includa entre as
chamadas instalaes essenciais. Os direitos de passagem de cabos e estruturas em geral e a
alocao do espectro so outras instalaes essenciais em telecomunicaes.
Uma operadora telefnica que detenha o controle de instalaes essenciais tem o poder e, em
geral, o interesse de tornar seus concorrentes menos competitivos dificultando o seu acesso a
essas instalaes. Na ausncia de restries regulatrias, ela pode impedir a competio
criando desvantagens para os seus concorrentes no mercado de servios finais, como a
telefonia de longa distncia ou a transmisso de dados. Nessa situao, o domnio do
27
mercado pela incumbente pode resultar no da sua maior eficincia, mas da sua capacidade
de tirar a competitividade das rivais.
Quatro questes com que o regulador tem de lidar nessa situao, de forma a viabilizar a
participao de novos concorrentes, dizem respeito proviso de acesso em condies
adequadas, desagregao (unbundling) de servios, portabilidade dos nmeros de telefones,
e s barreiras entrada em modalidades alternativas, sem exigncias de atendimento
universal.
Enfatizamos na seo 10.1 a importncia da interconexo para permitir a competio. Mas
no basta garantir a interconexo. Na presena de uma operadora de telefonia fixa dominante
e verticalmente integrada, controlando uma instalao essencial, a partir da qual fornece
insumos vitais para seus concorrentes no mercado do produto final, o acesso rede local tem
de ocorrer em condies que permitam a efetiva competio. A TU-RL cobrada pela
incumbente s suas concorrentes no pode ser mais alta do que a que cobra implicitamente
de si mesma. A qualidade do acesso dado aos competidores tambm no pode ser pior do
que para si prpria, nem a facilidade de acesso (por exemplo, o nmero de algarismos que o
usurio final precisa discar) diferente para a operadora local dominante e suas concorrentes.
Em geral, as legislaes nacionais regulando a interconexo entre redes de operadoras
diferentes exigem que esta seja feita nas mesmas condies tcnicas e ao mesmo preo que a
operadora aplica a si prpria. Mas nem sempre isso ocorre ou, quando ocorre, suficiente
para garantir a competio. De um lado, h pases em que essa exigncia no consta da lei
Chile e Turquia so dois exemplos. Mesmo quando esta consta, porm, necessrio, quando
a regulao estrutural no impede operadora de STFC local verticalizar-se, que a tarifa de
interconexo no seja usada para espremer os competidores da empresa no segmento
competitivo. A operadora neutra em relao ao valor da tarifa de interconexo cobrada de
si mesma, mas se for capaz de fixar um valor elevado para ela, enquanto mantm um baixo
patamar de preo para o servio fornecido ao usurio final, ela pode inviabilizar o
funcionamento dos seus concorrentes.
O tratamento da informao gerada pelo controle da rede de telefonia local tambm uma
questo importante. Os competidores precisam ter acesso a informaes sobre os usurios
em p de igualdade com a operadora incumbente, ainda que esta no deva ser obrigada a
compartilhar suas anlises. A indisponibilidade de informaes dificulta a briga pelo
consumidor e pode, por exemplo, inviabilizar a realizao de projetos, ou levar a erros na sua
concepo. A operadora incumbente deve, por outro lado, ser proibida de usar a informao
que obtm sobre os clientes dos seus competidores, por fora de eles necessitarem usar sua
rede, para com eles competir.
O desafio do regulador consiste em criar condies isonmicas de competio entre a
operadora verticalmente integrada proprietria da rede local e os seus concorrentes, no
favorecer estes ltimos. O regulador no deve, por exemplo, impor uma tarifa de
interconexo baixa demais, ou fazer exigncias de qualidade excessivamente onerosas, que
tolham a capacidade da incumbente competir. tambm recomendvel dividir de uma forma
28
neutra as obrigaes regulatrias impostas incumbente, com o nus financeiro de atender a
objetivos sociais.
O problema da desagregao de servios surge quando um competidor da operadora local
quer entrar no mercado oferecendo servios especializados, para o qual no necessita de todo
o pacote de servios oferecido pela operadora dominante -- interconexo, transporte e
cobrana, por exemplo. Esta pode impedir que o competidor consiga vender esse servio se
recusando a prover exclusivamente o acesso rede, ou cobrando uma tarifa proibitiva por
esse acesso, a menos que o competidor compre todo o pacote de servios oferecido, alguns
dos quais podem ser desnecessrios. Tambm pode ocorrer de a operadora vender ao cliente
final apenas uma cesta de servios, agregando servios em segmentos competitivos com
outros sobre os quais detm um monoplio, o que tambm dificultaria a entrada de
concorrentes. A agregao de servios, ou bundling, nada mais que uma forma de venda
casada, que deveria em princpio ser combatida, a menos que se justifique por razes tcnicas
ou de segurana.
Outra questo em telefonia importante do ponto de vista da competio diz respeito
portabilidade do nmero de telefone. Os consumidores tm reconhecidamente uma grande
inrcia na escolha dos seus prestadores de servio, que pode ser racionalizada entre outras
coisas pelo custo de obter informao sobre um novo fornecedor. Isso cria um poder de
mercado para a empresa incumbente que ampliado se o nmero do telefone propriedade
da operadora, de forma que ao trocar de prestador de servio o usurio no o leva consigo. A
troca de nmeros de telefone impe custos potencialmente altos, dependendo do tamanho e
da complexidade da rede de contatos do usurio. Uma forma de fomentar a competio na
telefonia local, fixa e mvel, permitir aos usurios manter seus nmeros de telefone quando
mudam de operadora.
Uma ltima questo diz respeito ao grau em que o regulador deve permitir a entrada seletiva
de novos participantes em segmentos especficos do mercado, tipicamente no atendimento
de grandes consumidores. Baumol e Sidak (1994) discutem trs tipos de esquemas que
permitem esse tipo de entrada segmentada: o bypass, que ocorre quando um grande
consumidor cria uma rede prpria de acesso s centrais de comutao bancos e outras
grandes empresas s vezes dispem desse tipo de servio; a revenda (resale), que resulta
quando uma empresa compra grandes quantidades de servios telefnicos com desconto e
depois revende para consumidores menores repassando uma parte desse desconto; e o cream
skimming, tambm conhecido como catadores de cerejas (cherry picking). que consiste no
atendimento seletivo dos melhores e mais lucrativos clientes.
Freqentemente, o que torna atraente essa entrada seletiva a existncia de subsdios
cruzados entre diferentes tipos de usurios, como ocorre, por exemplo, quando as tarifas no
so ajustadas para refletir o fato de que mais barato servir certos usurios grandes
consumidores comerciais em centros urbanos do que outros por exemplo, consumidores
rurais. Se os subsdios cruzados foram introduzidos pelo prprio regulador por exemplo,
para viabilizar o acesso de clientes de custo alto este tender a proibir a oferta desses tipos
de servios. No Brasil, por exemplo, as concessionrias de telefonia local tm sido bem
29
sucedidas em argumentar junto ao regulador que as metas de universalizao se tornariam
inviveis se fossem foradas a cobrar tarifas que refletissem o custo de servir cada cliente.
Obviamente, essa situao gera uma ineficincia alocativa, de forma que, em geral, a
liberdade de entrada permite aumentar o excedente total.
30
10.6 Glossrio
Separao estrutural: consiste na separao dos negcios de uma empresa em segmentos
diferentes de atividade em empresas legalmente distintas. uma regulao estrutural utilizada
para minorar os efeitos anti-competitivos advindos da integrao vertical de uma empresa
dominante controladora de instalaes essenciais.
Interconexo a conexo fsica de duas redes separadas de forma que os usurios de cada
uma delas possa interagir com os da outra sem problemas operacionais.
10.7 Sugestes de leitura
[1] A pgina da internet www.teleco.com.br contm dados para o setor de telecomunicaes
no Brasil e textos detalhando uma srie de questes relativas ao funcionamento e regulao
do setor.
1
Captulo XI
Defesa da Concorrncia
11.1 Porque a competio boa e porque a aplicao das leis de defesa da
concorrncia necessria?
11.1.1 A Lgica da Defesa da Concorrncia
11.1.2 Per se e regra da razo
11.2 Restries concorrncia
11.2.1 O Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho
11.2.2 Estrutura
11.2.3 Conduta
11.3 A legislao e as instituies de defesa da concorrncia
11.3.1 As Leis e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia
11.3.2 Os procedimentos
11.3.2.1 Fuses Horizontais
11.3.2.2 Condutas anti-concorrenciais
11.4 Estudo de Casos
11.5 Resumo do Captulo
11.6 Glossrio
11.7 Sugesto de leituras
11.8 Exerccios
Box 11.1: Como medir concentrao?
Box 11.2: Posio dominante: delito ou eficincia?
2
11.1 -- Porque a competio boa e porque a aplicao das leis de defesa da
concorrncia necessria?
11.1.1. A Lgica da Defesa da Concorrncia
A competio reflete a disputa entre as empresas pela possibilidade de vender para o
maior nmero possvel de clientes. A sociedade em geral a maior beneficiria quando
essa disputa se d de forma livre e justa. De fato, a concorrncia o principal
mecanismo com que conta uma economia de mercado para garantir o seu bom
funcionamento. Em mercados competitivos, as empresas precisam manter seus custos
e margens de lucro baixas, oferecer produtos de boa qualidade, e estar sempre
inovando, ou correm o risco de serem expulsas do mercado por concorrentes mais
hbeis. No longo prazo, a disputa entre empresas em um mercado perfeitamente
competitivo leva maximizao das eficincias alocativa, tcnica e dinmica,
entendida como a resultante do progresso tcnico, garantindo uma alocao tima de
recursos e o mximo de bem estar social.
Para que haja concorrncia perfeita necessrio que o mercado seja caracterizado pela
presena de um nmero muito grande de produtores e consumidores, informao
perfeita e racionalidade ilimitada. Neste modelo, as empresas no tm poder de
mercado, e tm de se adaptar s condies ditadas pelo mercado em termos de
preo, qualidade dos produtos e condies de venda, por exemplo -- para
sobreviverem. Em especial, as empresas tm produtos homogneos, atuam de forma
independente e funcionam como se a demanda por seus produtos fosse infinitamente
elstica, de forma que um pequeno aumento de preo acima do seu custo faria
desaparecer toda a sua demanda.
Estas so, claro, condies que no se observam na prtica. Em especial, no mundo
real h mercados dominados por um conjunto no muito grande de firmas. Nestes
casos, elas podero gozar de poder mercado, o que lhes permitir extrair lucros no
normais atravs da fixao de preos acima do custo. Mesmo quando houver muitas
firmas, se elas agirem de forma concertada, tambm conseguiro obter poder de
mercado e derivar lucros no normais. Quando fixam o preo acima do custo, essas
empresas aumentam seu lucro, mas reduzem o excedente total, em relao ao ideal
competitivo. Neste caso, o mercado deixa de maximizar a eficincia e o bem estar
social.
O objetivo final da poltica de defesa da concorrncia promover a eficincia
econmica. Isso nem sempre significa defender um regime de laissez-faire, de disputa
desregrada entre as empresas. De fato, no incomum que as empresas adotem
prticas que geram uma alocao ineficiente de recursos. Para existir competio,
portanto, necessrio em geral que existam regras guiando a disputa entre empresas
que, em especial, defendam a concorrncia do esforo constante das empresas de
reduzi-la.
3
A poltica de competio opera atravs de dois tipos de instrumentos. O primeiro o
estabelecimento de estruturas competitivas de mercado, impedindo o surgimento de
firmas dominantes ou um grau de concentrao elevado. Tipicamente, as agncias de
defesa da concorrncia fazem isso controlando as fuses de grandes empresas,
impedindo a criao de monoplios ou de empresas dominantes. Complementarmente,
as autoridades controlam e probem certas condutas empresariais, tanto para impedir
que um grupo de empresas aja de forma concertada para manipular as condies de
oferta, como para impedir que uma empresa dominante abuse de sua posio para
prejudicar concorrentes menores.
Esses princpios so aplicados em essencialmente todos os setores da economia, com
trs excees relevantes. Primeiro, os setores em que existem monoplios naturais,
como tpico na infra-estrutura. Esse tema foi coberto nos captulos 9 e 10. Segundo,
em determinadas situaes no mercado financeiro, onde o risco de crises sistmicas s
vezes sobrepe-se preocupao com a competio. Trataremos dessa questo no
captulo 12. Por fim, h uma srie de situaes, em parte explicadas por falhas de
mercado e em parte por questes polticas e culturais em que prticas nitidamente anti-
concorrenciais so toleradas. o caso, entre outros, dos sindicatos de trabalhadores,
cooperativas agrcolas, e mercados de trabalho regulados, cuja entrada controlada
pelos conselhos profissionais (OAB, CREA etc.).
A poltica de defesa da concorrncia, assim como a regulao econmica, tm como
objetivo final promover a eficincia econmica, e freqentemente se utilizam para isso
da competio. Mas a defesa da concorrncia atua mais retrospectivamente que a
regulao, procurando identificar e corrigir aes, em termos de mudana na estrutura
ou condutas, que prejudiquem a concorrncia, ao passo que a regulao atua de forma
mais pr-ativa e antecipatria, beneficiada por trabalhar tipicamente com um nico
setor.
11.1.2 Per se e regra da razo
A competio o principal mecanismo de que a sociedade se utiliza para maximizar a
eficincia e o bem estar social nos setores no sujeitos regulao econmica, seja esta
devida presena de monoplios naturais, outras falhas de mercado ou o simples jogo
poltico. Ocorre que nem sempre a competio entre as empresas maximiza a eficincia.
Em um mundo em que no h informao perfeita, nem racionalidade ilimitada, e em
que os agentes econmicos podem agir de forma oportunista, a economia marcada
por custos de transao s vezes elevados. Surgem nesse caso situaes em que
determinados arranjos, por um lado reduzem a competio, mas por outro levam a
economias de custos de transao. O resultado lquido em termos de bem estar social
pode pender para um lado ou outro.
Um exemplo dessa situao aparece na Figura 10.1, originalmente proposta por Oliver
Williamson. Na situao inicial, o mercado atendido por duas empresas, que
produzem juntas
0
q e vendem a um preo
0
p . Aps a fuso, as empresas ganham
4
poder de mercado e passam a cobrar um preo
1
p e vender uma quantidade
1
q ,
levando a uma reduo do excedente do consumidor dada pela rea
1
A . Por outro lado,
a empresa resultante da fuso se torna mais eficiente do que as duas que lhe deram
origem, diminuindo seu custo mdio de produo de
0
Med
C para
1
Med
C , gerando um
aumento do seu lucro dado pela rea
2
A . Neste caso, o excedente total ir variar de
1 2
A A , que pode ser positivo ou negativo.
Figura 11.1: Benefcios (A
2
) e Custos (A
1
) Sociais Resultantes de uma Fuso Horizontal
q
1
q
0
p
1
p
0
A
2
A
1
q
p
CMed
0
CMed
1
Fonte: Viscusi, Vernon e Harrington Jr (1995).
O fato de que nem sempre as fuses ou as prticas empresariais que restringem a
concorrncia so socialmente indesejveis, sob a tica do excedente total, um dos
fatores que torna a aplicao das polticas de defesa da concorrncia to complicada.
Quando o impacto lquido de uma iniciativa empresarial sobre o bem estar social no
conhecido a priori, a legislao recomenda que esta seja tratada de forma flexvel, e uma
deciso sobre sua aprovao ou no s seja tomada aps uma anlise de cada situao
individual. Diz-se que nesse caso a defesa da concorrncia feita usando a regra da
razo: a operao aprovada se o benefcio lquido para a sociedade for positivo, e
reprovada caso contrrio. Para a medio do benefcio lquido pode se utilizar o
excedente total, como no exemplo acima, ou se atribuir um peso maior ao excedente do
consumidor do que ao lucro da(s) empresa(s).
Nem sempre, porm, necessria uma anlise individual para se concluir que uma
determinada iniciativa empresarial reduz o bem estar social. Esse o caso de
determinadas condutas que restringem a concorrncia, mas no produzem quaisquer
economias. Um exemplo a prtica de cartel. Quando as empresas formam um cartel,
5
elas aumentam o seu poder de mercado, o preo e o lucro, diminuindo, por outro lado,
a eficincia alocativa e o excedente do consumidor. Nisso um cartel semelhante a uma
fuso. Mas, como no caso de um cartel no h a integrao das atividades produtivas,
de distribuio ou de marketing das empresas, no h porque esperar que dele surjam
ganhos de eficincia, como os que podem ocorrer com uma fuso. Assim, pode-se
concluir que a prtica de cartel resulta, quase que por definio, em perda de bem estar
social. No necessria uma anlise individual de cada caso para concluir que essa
prtica nociva. Prticas empresariais que tm essas caractersticas so proibidas per se,
isto , sem a necessidade de maiores avaliaes.
A Cartilha do CADE tambm classifica o abuso do poder econmico por uma empresa
dominante como uma conduta a ser proibida per se, ao observar que, ao pratic-lo, por
meio de prticas especficas, a empresa ultrapassa as fronteiras da razoabilidade. Por
prejudicar a ordem econmica e os consumidores, o abuso no encontra qualquer
amparo legal, at porque ato praticado com exerccio irregular do direito de livre
iniciativa e de propriedade. Neste caso, como em outras condutas proibidas per se, a
simples constatao da sua prtica j suficiente para fazer com que as autoridades
responsveis imponham sanes s partes envolvidas, sem a possibilidade de defesa.
Obviamente, estes casos tendem a ser resolvidos mais rapidamente do que aqueles que
utilizam a regra da razo.
11.2 Restries concorrncia
11.2.1 O Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho
O modelo estrutura-conduta-desempenho o principal instrumento conceitual a
embasar a discusso sobre a defesa da concorrncia. O objetivo das polticas de
competio, como visto acima, garantir o adequado desempenho das empresas e,
conseqentemente, a eficincia da economia. A suposio bsica que esse
desempenho depende diretamente do comportamento ou conduta das empresas. A
conduta dos participantes em um mercado (esforo, polticas de preo, propaganda
etc.), por sua vez, influenciada pela sua estrutura (nmero de empresas, barreiras
entrada etc.), ainda que no apenas por ela. Dessa perspectiva, o papel das agncias de
defesa da concorrncia impedir que a estrutura do mercado e/ou a conduta das
empresas comprometam o desempenho do mercado, definido com base na eficincia
econmica ou maximizao do bem estar social.
Em geral se considera esta relao na direo estrutura conduta desempenho. A
idia bsica que certas prticas empresariais podem levar a uma alocao ineficiente de
recursos, comprometendo o desempenho da economia, e que uma estrutura industrial
competitiva ir inibir essas condutas. Mas esta no a nica forma em que esses
elementos se influenciam. Por exemplo, uma empresa que tem um bom desempenho
tende a aumentar sua participao no mercado e com isso pode alterar sua estrutura. A
prpria conduta das empresas pode ser voltada para criar barreiras entrada e obter
6
poder de mercado. Assim, to importante quanto a lgica em si de modelo a anlise
dos seus elementos, em particular dos tipos de estrutura e conduta que mais atrapalham
o bom desempenho da economia.
Os principais determinantes da estrutura de um mercado so o seu grau de
concentrao e as condies de entrada, que so por sua vez o resultado da tecnologia,
do grau de integrao vertical das empresas, do grau de heterogeneidade dos produtos
comercializados, e do nvel das barreiras entrada. Entende-se por conduta das
empresas as suas prticas e decises quanto s polticas de fixao de preos, os gastos
com propaganda, os investimentos e a taxa de utilizao da sua capacidade instalada, as
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e as formas de cooperao ou
competio com seus fornecedores, clientes e concorrentes.
As decises das agncias de defesa da concorrncia so em geral voltadas para impedir
a concentrao de um mercado, por exemplo, atravs da fuso horizontal de dois
concorrentes; ou uma piora nas condies de entrada, via, por exemplo, a verticalizao
de uma empresa dominante; ou condutas empresariais anticompetitivas, como o
recurso injustificado a sistemas seletivos de distribuio. Ao tomar essas decises,
essas agncias enfrentam duas dificuldades principais. Uma a j citada dificuldade de
ponderar custos e benefcios sociais em casos que justifiquem ser tratados pela regra da
razo. A outra definir quais so as fronteiras do mercado cujo desempenho afetado
por alteraes de estrutura ou pela conduta das empresas.
A definio do mercado relevante com freqncia a etapa mais difcil e importante
na anlise de um processo de infrao concorrncia. Por exemplo, para se saber se
uma determinada fuso vai levar a um grau excessivo de concentrao imprescindvel
delimitar o mercado em que a nova empresa atuar. Da mesma forma, impossvel
avaliar se um determinado acordo operacional entre uma empresa e seus distribuidores
pode causar um dano significativo concorrncia sem determinar qual o mercado
relevante do ponto de vista da atuao conjunta dessas empresas.
A definio do mercado relevante tem uma dimenso produto e outra geogrfica. A
primeira consiste em definir que bens ou servios so substitutos prximos do produto
fabricado pelas empresas envolvidas. A identificao de produtos substitutos
usualmente foca no lado da demanda, procurando medir a elasticidade de substituio
entre eles, para avaliar em que medida os consumidores trocariam um produto pelo
outro no caso de um pequeno mas significante aumento no transitrio do preo do
produto em questo, mantidas constantes as condies de venda de todos os demais
produtos. Se dois produtos tm um elevado grau de substituio entre si, eles devem
ser considerados como pertencendo a um mesmo mercado.
A dimenso geogrfica do mercado busca avaliar o grau em que existem concorrentes
prximos em tamanho e condies de produo capazes de coibir o exerccio de poder
de mercado pela nova empresa, tornando pouco interessante para esta promover um
7
aumento pequeno mais significante preo. Um dos elementos a considerar nessa anlise
o custo de transporte, ou mesmo a sua viabilidade. Em princpio, por exemplo, o
mercado de bens tenderia a ser geograficamente mais amplo do que o de servios, o
mesmo valendo para os bens e servios de maior valor especfico em relao queles
em que o custo de transporte cresce rapidamente com a distncia em relao ao valor
do bem. Esta dimenso procura avaliar, portanto, o grau em que uma pequena mas
significante variao no transitria de preos far outras empresas aumentar a sua
oferta. Desta forma, ela considera o grau de substituio pelo lado da oferta.
Uma forma de delimitar o mercado nas duas dimenses perguntando para que
produtos ou firmas concorrentes iriam os clientes da nova empresa se mudar caso esta
promovesse um pequeno mas significante aumento no transitrio no seu preo. Ou,
alternativamente, que produtos e firmas um monopolista deveria controlar, ou um
cartel abranger, de forma que pudesse ser bem sucedido em aumentar seu lucro atravs
de um aumento de preo com essas caractersticas. Obviamente, nos dois casos, o que
um pequeno mas significante aumento de preo algo arbitrrio, o que torna esse
critrio menos objetivo do que pode parecer primeira vista.
s vezes, o relevante do ponto de vista da defesa da concorrncia so sub-mercados
bem definidos, e no o mercado mais amplo em que atuam as empresas. Viscusi et alli
(1994) observam que em certos casos as fronteiras desses sub-mercados podem ser
determinadas por evidncias prticas, como o reconhecimento pblico desse sub-
mercado, enquanto uma entidade econmica em separado, as peculiaridades
caractersticas do produto e de seus usos, instalaes de produo nicas, clientes e/ou
preos bem definidos, sensibilidade a mudanas de preos, e vendedores especializados.
11.3 A legislao e as instituies de defesa da concorrncia
O Brasil tem h vrias dcadas dispositivos legais de defesa da concorrncia. A
Constituio de 1946, no seu Artigo 148, j estabelecia que
A lei reprimir toda e qualquer forma de abuso do poder econmico, inclusive
as unies ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a
sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a
concorrncia e aumentar arbitrariamente os lucros.
Apenas em 1962, porm, esse artigo seria regulamentado, atravs da Lei 4137, que criou
o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrncia (CADE), tipificou com mais
detalhe os abusos do poder econmico que deveriam ser punidos pelo CADE, e
instituiu os procedimentos a serem seguidos nas averiguaes, entre outras disposies.
Eram consideradas abuso do poder econmico a monopolizao e a eliminao da
concorrncia via acordos entre empresas, fuses e aquisies, e criao de barreiras
entrada ou ao desenvolvimento de concorrentes; o exerccio do poder de monoplio; a
exigncia de exclusividade para propaganda e a combinao prvia entre participantes
de concorrncias pblicas.
8
O CADE foi inicialmente composto de um presidente e mais quatro membros,
nomeados pelo Presidente da Repblica. O presidente do CADE tinha mandato em
aberto, sujeito exonerao a qualquer momento por deciso do governo, enquanto os
demais membros tinham mandatos fixos de quatro anos. O presidente do CADE
designava o seu procurador-geral, que participava das reunies, mas sem direito a voto.
Um aspecto importante dessa lei era atribuir ao prprio CADE a responsabilidade por
fiscalizar a conduta das empresas, fazer averiguaes, instaurar os processo, julgar os
casos e, quando necessrio, ordenar as providncias cabveis.
A atual legislao de defesa da concorrncia comeou a ser implantada no incio dos
anos 1990. Inicialmente, a Lei 8137, de dezembro de 1990, ampliaria ligeiramente a lista
de condutas classificadas como crimes contra a ordem econmica, incluindo, por
exemplo, a venda casada, e fortaleceu a capacidade do setor pblico obter
informaes sobre o custo de produo e preo de venda das empresas. Esse processo
teria continuidade com a promulgao, em especial, da Lei 8158, de janeiro de 1991.
Esta Lei ampliou a lista de condutas que constituam infraes ordem econmica e
atribuiu , ento chamada, Secretaria Nacional de Direito Econmico (SNDE) a
responsabilidade por apurar e propor medidas para corrigir essas condutas. A Lei
tambm definiu os procedimentos a serem seguidos pela SNDE nesses processos, e
estabeleceu que caso as recomendaes da SNDE no fossem atendidas, o caso deveria
ser levado a julgamento pelo CADE, alm de as empresas envolvidas serem em
diferentes cadastros de informaes negativas. A Lei tambm deu SNDE e ao CADE
a possibilidade de adotar medidas preventivas quando julgassem necessrio.
A Lei 8158 tambm introduzia mais claramente o princpio da regra da razo na anlise
de fuses ou incorporaes de empresas, assim como de ajustes, acordos ou
convenes que pudessem limitar ou reduzir a concorrncia entre as empresas. Esses
poderiam ser aprovados desde que gerassem economias ou fossem voltados para
estimular o desenvolvimento econmico ou as exportaes; os consumidores tambm
fossem beneficiados; no comprometessem a concorrncia alm do necessrio para a
obteno desses benefcios; e no reduzissem excessivamente a concorrncia de uma
parte excessiva do mercado. A SNDE, depois apenas Secretaria de Direito Econmico
(SDE) ficou responsvel por avaliar se essas condies eram satisfeitas e aprovar essas
operaes e acordos. Alm disso, a Lei transferiu para a SNDE a estrutura cargos e
funes do CADE, exceto por seu presidente, conselheiros e procurador.
Tanto a Lei 4.137 como a 8.158 foram expressamente revogadas pela Lei 8.884, que
determina as atuais regras legais da defesa da concorrncia no Brasil com as alteraes
pontuais adicionadas pelas Leis 9.021, de maro de 1995; 9.069, de junho de 1995;
9.279, de maio de 1996; 9.470, de julho 1997; 9.784, de janeiro de 1999; 9.873, de
novembro de 1999; e 10.149 de dezembro de 2000.
A Lei 8.884 deu ao CADE a responsabilidade por decidir sobre a existncia de infrao
ordem econmica e aplicar as devidas penalidades, com base nos processos
instaurados pela SDE. O CADE tambm pode aprovar termos de compromisso de
9
cessao de prtica e de compromisso de desempenho, sendo-lhe facultado determinar
SDE que fiscalize o cumprimento desses compromissos por parte das empresas.
A legislao estabelece que a defesa da concorrncia uma atribuio conjunta do
CADE, da SDE e da Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE). Juntos, os
trs formam o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia (SBDC). O
SBDC o responsvel final pela regulao das estruturas de mercado no pas,
aprovando as fuses e demais atos de concentrao; e, fora de alguns setores regulados,
por coibir condutas anticompetitivas e promover a competio em geral. A SDE e a
SEAE funcionam como instncias de investigao e instruo dos processos. O CADE
a instncia judicante.
A porta de entrada do Sistema a SDE, encarregada de receber e averiguar
preliminarmente as denncias de infraes ordem econmica. Em julgando
pertinente, a SDE dever aprofundar a anlise da denncia, coligindo provas e fatos,
atravs da obteno de documentos e da realizao de estudos e entrevistas. A anlise
da SDE envolve essencialmente os aspectos legais do caso. SEAE cabe avaliar as
questes econmicas, inclusive os custos e, quando for o caso, os benefcios
envolvidos. A SEAE age por provocao da SDE e, assim como esta, elabora um
parecer sobre o caso que depois enviado ao CADE, junto com documento
semelhante produzido pela SDE, para o julgamento final da denncia.
A SDE uma das Secretarias do Ministrio da Justia, sendo o seu titular indicado pelo
Ministro e passvel de remoo a qualquer momento. As suas competncias extrapolam
a defesa da concorrncia, incluindo tambm a proteo aos direitos do consumidor,
conforme ditado pela Lei 8.078, de 1990, que lhe atribui o papel de coordenadora do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Conforme exposto na pgina da SDE na
internet (www.mj.gov.br/sde), constam do declogo de competncias da Secretaria:
I - formular, promover, supervisionar e coordenar a poltica de proteo da ordem
econmica, nas reas de concorrncia e defesa do consumidor;
II - adotar as medidas de sua competncia necessrias a assegurar a livre concorrncia, a
livre iniciativa e a livre distribuio de bens e servios;
III - orientar e coordenar aes com vistas adoo de medidas de proteo e defesa
da livre concorrncia e dos consumidores;
IV - prevenir, apurar e reprimir as infraes contra a ordem econmica;
V - examinar os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou
prejudicar a livre concorrncia ou resultar na dominao de mercados relevantes de
bens ou servios;
10
VI - acompanhar, permanentemente, as atividades e prticas comerciais de pessoas
fsicas ou jurdicas que detiverem posio dominante no mercado relevante de bens e
servios, para prevenir infraes da ordem econmica;
VII - orientar as atividades de planejamento, elaborao e execuo da Poltica
Nacional de Defesa do Consumidor;
VIII - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar atividades de divulgao e de
formao de conscincia dos direitos do consumidor;
IX - promover as medidas necessrias para assegurar os direitos e interesses dos
consumidores; e
X - firmar convnios com rgos e entidades pblicas e com instituies privadas para
assegurar a execuo de planos, programas e fiscalizao do cumprimento das normas e
medidas federais.
A SEAE surgiu em 1995, aps o Plano Real, com a diviso das atribuies at ento
sob responsabilidade unificada da Secretaria de Poltica Econmica, que continuou a
existir com competncias mais restritas. SEAE coube de incio uma das at ento
mais prestigiosas atividades exercidas pelo Ministrio da Fazenda, de cuja estrutura faz
parte: acompanhar e controlar os aumentos de preos e tarifas pblicas. Com isso,
herdou tambm o quadro de funcionrios que trabalhavam na antiga Superintendncia
Nacional de Abastecimento (SUNAB) e no Conselho Nacional de Preos (CIP).
O conhecimento acumulado por estas duas instituies foi fundamental nos primeiros
meses do Plano Real, mas com a queda da inflao e a progressiva liberalizao de
preos na economia essas competncias comearam a ser gradualmente reorientadas
para a defesa da concorrncia; o acompanhamento da regulao dos servios pblicos;
o acompanhamento e anlise das polticas de comrcio exterior; e a regulao residual
de um grande conjunto de setores sujeitos a estruturas de mercado pouco competitivas
ou a graves assimetrias informacionais, das concesses de transporte rodovirio
interestadual e internacional s loterias e funerrias.
1
Para exercer essas funes a
SEAE se organiza em seis coordenaes gerais, sendo duas de defesa da concorrncia,
e uma cada para servios pblicos e infra-estrutura, produtos industriais, produtos
agrcolas e agroindustriais, e comrcio e servios.
O CADE uma autarquia federal criada em 1962 e vinculada ao Ministrio da Justia,
com jurisdio nacional e sediada no Distrito federal. Sua instncia superior o
Plenrio, composto por sete membros, sendo um presidente e seis conselheiros, todos
nomeados pelo Presidente da Repblica e aps aprovao do Senado Federal, para um
mandato fixo de dois anos, com direito a uma reconduo. Os membros do CADE s
podem ser exonerados por deciso do Senado Federal, por provocao do Presidente
da Repblica; em razo de condenao penal irrecorrvel por crime doloso; por
1
As competncias da SEAE foram redefinidas em julho de 2004 pelo Decreto 5.136.
11
corrupo; por exercer outras atividades que no as permitidas constitucionalmente
(essencialmente, o magistrio); ou por faltar a trs reunies ordinrias consecutivas ou
vinte intercaladas.
O CADE tem uma procuradoria, responsvel por prestar assessoria jurdica, defende-lo
em juzo e promover a execuo judicial de suas decises. O procurador-geral
indicado pelo Ministro da Justia e nomeado pelo Presidente da Repblica, depois de
aprovado pelo Senado Federal. O procurador-geral participa das reunies do CADE,
mas no tem direito a voto. Junto ao CADE tambm funciona um representante do
Ministrio Pblico Federal.
12
11.6 -- Glossrio
2
Abuso do poder econmico: ocorre quando uma empresa dominante usa de forma
ilegtima o poder que detm no mercado, aproveitando-se de sua condio de
superioridade econmica para prejudicar a concorrncia, aumentando arbitrariamente
seus lucros.
Acordo de exclusividade (*): ocorre quando compradores de um determinado bem
ou servio se comprometem a adquiri-lo com exclusividade de determinado vendedor
(ou vice-versa), ficando assim proibidos de comercializar os bens dos rivais
(1)
. O efeito
econmico similar ao efeito da restrio territorial. Em ambos os casos a competio
via preos limitada. O estabelecimento de um acordo de exclusividade pode elevar os
custos de entrada de competidores potenciais ou elevar os custos de rivais efetivos no
mercado do provedor, aumentando a possibilidade de exerccio de poder de mercado
no setor correspondente. Os acordos de distribuio exclusiva aumentam o poder de
mercado do provedor na medida em que conseguem restringir o acesso de rivais
potenciais ou efetivos aos sistemas de distribuio, obrigando-os a constituir canais
prprios.
Acordo de Lenincia (*): programa de reduo de penas para os infratores ordem
econmica que se apresentarem espontaneamente s autoridades antitruste, institudo
pela Lei n. 10.149/00 e regulamentado pela Portaria MJ n. 849/00. Mediante o
programa, aqueles que cooperarem com o Governo, identificando os demais co-autores
da infrao e apresentando provas concretas, podero ser poupados de processo
administrativo ou ter as suas penas reduzidas de um a dois teros. A Lei n. 10.149/00
garantiu sua extenso esfera penal, significando que o cumprimento do acordo de
lenincia extingue a punibilidade criminal das infraes ordem econmica, caso se
constituam em crime de ao penal pblica.
(Prtica de) Cartel (*): acordos ou prticas concertadas entre concorrentes para a
fixao de preos, a diviso de mercados, o estabelecimento de quotas ou a restrio da
produo e a adoo de posturas pr-combinadas em licitao pblica. Os cartis
"clssicos", por implicarem aumentos de preos e restrio de oferta, de um lado, e
nenhum benefcio econmico compensatrio, de outro, causam graves prejuzos aos
consumidores tornando bens e servios completamente inacessveis a alguns e
desnecessariamente caros para outros. Por isso, essa conduta anticoncorrencial
considerada, universalmente, a mais grave infrao ordem econmica existente.
(Atos de) Concentrao econmica (*): atos "que visam a qualquer forma de
concentrao econmica (horizontal, vertical ou conglomerao), seja atravs de fuso
ou de incorporao de empresas, de constituio de sociedade para exercer o controle
de empresas ou qualquer forma de agrupamento societrio, que implique participao
da empresa, ou do grupo de empresas resultante, igual ou superior a 20% (vinte por
2
As definies marcadas com (*) so baseadas no Glossrio da SEAE.
13
cento) de um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado
faturamento bruto anual no ltimo balano equivalente a R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhes de reais)". Definio em conformidade com o 3 do artigo 54
da Lei n. 8.884/94.
Concentrao horizontal (*): concentrao que envolve agentes econmicos distintos
e competidores entre si, que ofertam o mesmo produto ou servio em um determinado
mercado relevante.
Concentrao (ou integrao) vertical (*): concentrao que envolve agentes
econmicos distintos, que ofertam produtos ou servios distintos e que fazem parte da
mesma cadeia produtiva.
Condutas oportunistas (*): so condutas verificadas quando uma parte envolvida em
um determinado contrato procura aproveitar-se, s custas da outra parte, do processo
de renegociao do referido contrato.
Condutas anticompetitivas (*): vide "represso a condutas anticompetitivas".
Conglomerao (*): concentrao que envolve agentes econmicos distintos, que
ofertam produtos ou servios distintos que podem ou no ser complementares entre si,
mas que, certamente, no fazem parte da mesma cadeia produtiva. Genericamente, uma
conglomerao saudvel competio, pois significa a "entrada" de uma empresa em
um determinado mercado de produto ou servio. No entanto, uma conglomerao
pode ter efeitos nocivos concorrncia quando houver complementariedade entre os
produtos ou servios envolvidos.
Custos irrecuperveis ou afundados (sunk costs) (*): so custos que no podem ser
recuperados quando a empresa decide sair do mercado. A extenso dos custos
irrecuperveis depende principalmente: 1) do grau de especificidade do uso do capital;
2) da existncia de mercados para mquinas e equipamentos usados; 3) da existncia de
mercados para o aluguel de bens de capital; 4) do volume de investimentos necessrios
para garantir a distribuio do produto (gastos com promoo, publicidade e formao
da rede de distribuidores).
Custos de transao (*): gastos associados s transaes entre agentes econmicos,
de modo geral, que no se expressam nos preos acordados entre as partes, sendo
exemplo o custo de elaborar e aplicar um contrato.
Discriminao de preos (*): situao em que uma firma fixa preos distintos, para
produtos idnticos, conforme o comprador.
(3)
Dumping (*): Pela definio do GATT
(4)
, dumping ocorre quando o preo FOB do
produto exportado para o pas 2 for menor que o preo do produto similar no pas 1,
de origem (chamado valor normal). Se a comparao anterior no puder ser feita,
14
dumping ser definido quando o preo FOB do produto exportado para o pas 2 for
menor do que uma das seguintes alternativas: (a) o preo do produto similar exportado
do pas 1 para outros pases ou, (b) os custos de produo e venda do produto
exportado.
Economias de Custos de Transao (*): so redues nos custos mdios de
produo derivadas da eliminao de gastos associados transao com provedores ou
distribuidores, que no se expressam nos preos acordados entre as partes.
Escala eficiente mnima: ponto a partir do qual no h mais economias de escala a
serem obtidas ampliando a capacidade de produo.
Empresa dominante: ocorre uma posio dominante quando uma empresa ou grupo
de empresas controla parcela substancial do mercado relevante como fornecedor,
intermedirio, adquirente ou financiador de um produto, servio ou tecnologia a ele
relativa (Lei 8.884).
Fixao de preos de revenda (*): situao em que fornecedor fixa um preo
mnimo de revenda do produto, criando o incentivo para os revendedores competirem
em outra dimenso, que no a do preo. Por exemplo, se o preo que o distribuidor
paga para o produto for R$10,00, e o preo mnimo de revenda for R$30,00, cada
distribuidor tem o incentivo de gastar at R$20,00 para atrair os consumidores, atravs
de propagandas, brindes e etc., sem precisar reduzir preos para atrair os consumidores.
Fuso (*): Ato por meio do qual dois ou mais agentes econmicos independentes
formam um novo agente econmico, deixando de existir como entidades jurdicas
distintas. Diz-se que uma fuso horizontal quando ela envolve duas empresas
atuando no mesmo mercado, e vertical quando se d entre empresas que tm ou
podem desenvolver uma relao cliente-fornecedor.
ndice de Lerner (L): igual razo entre a diferena entre o preo e o custo marginal e
o preo e ao inversa da elasticidade preo da demanda, um indicador do grau de
poder de mercado de uma empresa:
e P
CMg P
L
1
=
= , onde e a elasticidade de demanda. O preo, o custo e a elasticidade
so medidos no nvel de produo que maximiza o lucro da empresa.
Mercado relevante: Um mercado definido como um produto ou grupo de
produtos e uma rea geogrfica na qual ele vendido de tal que forma que uma
empresa hipottica que busca maximizar o seu lucro, sem estar sujeita a regulao de
preo, que fosse a nica produtora ou vendedora, presente ou futura, desses produtos
nessa rea iria provavelmente impor ao menos um pequeno mas significante aumento
no transitrio de preo, assumindo que os termos de venda de todos os outros
15
produtos so mantidos constantes. Um mercado relevante o grupo de produtos e a
rea geogrfica que no maior do que o necessrio para satisfazer este teste. (US
Department of Justice e Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines,
1997, p. 4)
Per se uma regra de acordo com a qual certas condutas empresarias com bvias
conseqncias anti-competitivas e sem indicao de que possam trazer benefcios
sociais comensurveis devem ser proibidas sem a necessidade de proceder-se a uma
anlise individual de cada caso.
Poder de mercado: quando uma empresa tem a capacidade de fixar um preo acima
do custo marginal de forma no transitria. Neste caso, seu ndice de Lerner ser
positivo, o que implica que a empresa trabalha com uma curva de demanda com
elasticidade preo finita.
Preos Predatrios (*): situao em que uma firma reduz o preo de venda de seu
produto, incorrendo em perdas no curto prazo, objetivando eliminar rivais do mercado,
ou possveis entrantes, para, posteriormente, quando os rivais sarem do mercado,
elevar os preos novamente, obtendo, assim, ganhos no longo prazo. Em muitas
definies existentes na literatura microeconmica, a firma reduz o preo de seu
produto abaixo de alguma medida de custo, como por exemplo, o custo marginal. Em
mercados em que as firmas so idnticas (isto , igualmente eficientes, com custos
marginais parecidos), a prtica de preos predatrios no uma estratgia que dever
ser adotada, pois a "firma predatria" no ter certeza se as outras realmente sairo do
mercado. J em mercados em que as firmas no so idnticas, a mais eficiente poder
ter incentivo em abaixar preo, fixando-o entre (ou at) o custo marginal dela (mais
baixo) e o das outras (mais altos), pois ela ter, no mximo, lucro zero no curto prazo,
enquanto as outras, se a seguirem, podero ter grandes prejuzos.
Produto homogneo (*): produtos que so considerados, pelos consumidores,
substitutos perfeitos.
Produto heterogneo (*): produtos que so considerados, pelos consumidores,
substitutos imperfeitos.
Promoo (advocacia) da concorrncia (*): uma das vertentes de atuao do SBDC.
Refere-se ao papel educacional das autoridades antitruste na disseminao da "cultura
da concorrncia" e ao papel de, direta ou indiretamente, essas autoridades influrem na
formulao das demais polticas pblicas, de modo a garantir que a concorrncia seja,
ao mximo, incentivada.
Represso a condutas anticompetitivas (*): uma das vertentes de atuao do SBDC.
Consiste na apurao de condutas nocivas concorrncia levadas a cabo por empresas
que detm poder sobre determinado mercado, das quais so exemplo a prtica de cartel,
a prtica de preos predatrios, as vendas casadas, os acordos de exclusividade, a
16
discriminao de preos, a fixao de preos de revenda e as restries territoriais. Para
promover a apurao dessas condutas e conforme o caso, a Seae pode realizar
Procedimento Administrativo destinado a instruir representao a ser encaminhada
SDE, enquanto a SDE pode promover Averiguao Preliminar ou instaurar
diretamente Processo Administrativo. O CADE julga, ento, com base nas opinies
da Seae e da SDE se houve configurao de infrao ordem econmica. Nas anlises
de condutas anticompetitivas, a manifestao da Seae facultativa. Ver arts. 20 e 21 da
Lei n 8.884/94 e Lei n 10.149/00.
Regra da razo um princpio de acordo com o qual a deciso sobre a proibio ou
no de uma determinada iniciativa empresarial deve ser tomada contrastando os custos
resultantes das suas conseqncias anticompetitivas com os ganhos que a justificam de
uma tica comercial em termos de economias obtidas, segurana do consumidor,
reputao etc.
Restrio territorial (*) um acordo feito entre o fornecedor e o distribuidor, em que
o primeiro compromete-se a no permitir que um outro distribuidor localize-se dentro
de uma certa rea, preservando um territrio exclusivo para o segundo, limitando a
competio via preos entre os distribuidores.
Sistemas Seletivos de Distribuio so restries prejudiciais livre concorrncia,
impostas, injustificadamente, pelo fabricante ao distribuidor, utilizadas para discriminar
distribuidores, vendedores e consumidores. Entende-se serem justificveis as restries
voltadas para manter um padro eficiente de distribuio e oferecer servios de
manuteno e garantias ao consumidor. A legislao antitruste reprimir o agente
sempre que o mesmo, sem motivao plausvel, impedir o acesso do consumidor a uma
determinada mercadoria. (Cartilha do CADE)
Venda casada (*): prtica comercial que consiste em vender determinado produto ou
servio somente se o comprador estiver disposto a adquirir outro produto ou servio
da mesma empresa. Em geral, o primeiro produto algo sem similar no mercado,
enquanto o segundo um produto com numerosos concorrentes, de igual ou melhor
qualidade. Desta forma, a empresa consegue estender o monoplio (existente em
relao ao primeiro produto) a um produto com vrios similares. A mesma prtica pode
ser adotada na venda de produtos com grande procura, condicionada venda de outros
de demanda inferior.
17
11.8 Exerccios
11.8.1 -- A notcia a seguir foi publicada no jornal O Globo, de 5 de janeiro de 2005,
pgina 25. Como voc construiria a defesa das montadoras neste caso? O Ministrio
Pblico Estadual est exacerbando suas funes envolvendo-se neste caso?
Abuso de preo leva MP a processar montadoras
SO PAULO. As quatro maiores montadoras do pas General Motors, Volkswagen, Fiat e Ford
esto sendo processadas pelo Ministrio Pblico paulista (MPE) por prtica abusiva de preos
na venda de autopeas s concessionrias. A ao, que corre desde novembro na 40 Vara Cvel
de So Paulo, foi motivada por uma representao da Fenabrave, a federao nacional dos
distribuidores de veculos, junto ao MPE.
Baseada num inqurito civil que durou mais de trs anos e tem quase duas mil pginas, o MPE
pede que a Justia suspenda liminarmente a clusula de exclusividade a que as montadoras
submetem as revendas para compra de autopeas e a fixao de um teto de 30% de margem
sobre o preo de custo de cada item.
O inqurito do MPE constatou que os preos cobrados pelas montadoras para certos itens
chegam a ser 620% mais altos que os de distribuidores independentes de autopeas. Hugo Maia,
presidente da Fenabrave, observa que as montadoras tm estruturas muito pesadas que
encarecem seus custos e por isso no lhes permite competir com os distribuidores
independentes de autopeas. As montadoras citadas na ao disseram que s iro se pronunciar
quando houver deciso da Justia.
Referncias
McWilliams, Abagail e Dennis Smart, 1993, Efficiency v. structure-conduct-performance:
Implications for strategy research and practice. Journal of Management, vol. 19,
No. 1, pp. 63-78.
1
CAPTULO XII: REGULAO DOS MERCADOS FINANCEIROS
12.1 Economia Monetria
12.2 Sistema Financeiro: porque importante estudar e conhecer os
mecanismos do sistema bancrio e do sistema de crdito
12.3 Funes e Organizao do Sistema Financeiro Nacional
12.4 Justificativas para regular os mercados financeiros
12.5 Alguns nmeros: Uma descrio do setor financeiro no Brasil
(profundidade, crescimento, estabilidade, riscos, concorrncia, oferta
de crdito, etc.
12.6 Direito e instituies dos mercados financeiros: juros e a oferta de
crdito
12.7 Garantias bancrias e oferta de crdito
12.8 Insolvncia e crdito
12.9 Estudo de casos
12.10 Resumo do Captulo
12.11 Glossrio
12.12 Sugesto de leituras
12.13 Exerccios
2
12.1 - Economia Monetria
No h economia sem direito e sem trocas. No clssico As Aventuras de Robinson
Crusoe, de Daniel Defoe, o nufrago que consegue se salvar em uma ilha deserta tem
necessidades bsicas de consumo como qualquer um. Como no existe l um
mercado ou pelo menos uma estrutura econmica ou jurdica digna desse nome
no h com quem trocar nem tampouco quaisquer trocas. S quando chega Sexta-
Feira, o outro nufrago, que se pode iniciar um verdadeiro processo econmico.
Trata-se da produo de excedentes. Existem produtos excedentes porque no
conseguem consumir tudo o que produzem; estragam-se com facilidade e no
servem para nada mais. Uma vez que as necessidades bsicas j tenham sido
preenchidas, outras surgem. Da que decorreria o desenvolvimento da primeira
noo de cultura econmica: as trocas dentro do prprio grupo ou com outros
grupos que possussem contato. So as trocas dos excedentes que passam a
viabilizar o mercado. Se Sexta-Feira no existisse, Robinson Crusoe no teria com
quem trocar o excesso de sua produo.
A troca econmica, neste sentido, dar o que se tem para receber o que se quer.
Historicamente, a primeira forma de troca foi o escambo. O escambo a permuta
pura e simples: preciso ter o que o outro quer, mas (principalmente) querer o que
o outro tem. Posso, naquele determinado momento, j no mais precisar de peles de
lobo para me aquecer, mas de milho para me alimentar. No entanto, a equivalncia
entre espigas de milho e peles de lobo mais complexa do que parece primeira
vista. Como atribuir valor a uma pele de lobo? A troca, entre elementos distintos
traz um outro problema srio, que o da divisibilidade em pequenas unidades. Se
quero permutar uma vaca, mas desejo apenas duas peles de lobo, no ser possvel
realizar o negcio, j que, literalmente, no posso partir a vaca ao meio.
Alm disto, os grupos sociais, extrativistas por excelncia, no se fixavam em um
determinado lugar, exatamente pelo carter rudimentar de suas atividades, e pelo
3
uso que faziam da natureza. Esse nomadismo tornava o processo de permuta
igualmente complicado.
A escolha de um bem padro, como o sal, o chocolate ou qualquer outro, passa a
ser uma etapa natural para as trocas. Escolhe-se um denominador comum, o que
tambm apresenta outras dificuldades adicionais. Como todos os outros valores
passam a ser medidos por este bem-padro, necessrio que ele tambm seja raro: o
passo seguinte estabelecer um produto de aceitao geral, mas que no esteja ao
alcance de todos.
Com a descoberta de um padro de medida, as trocas se facilitam, mas nem por isso
o processo se popularizou. Ainda, so necessrias duas operaes, quando no se
tem o produto-padro. Ou seja, se o meio de troca fosse o sal, para se trocar boi em
cavalo, era necessrio trocar-se boi por sal e sal por cavalo. E lgico, o valor, tanto
do boi quanto do cavalo, no constante: varia de acordo com a raa, a idade, o
peso do animal etc. Os permutadores passam a aceit-la e com ela adquirem outros
bens ou servios, no somente para utiliz-la na satisfao de uma necessidade. O
comrcio, entretanto, s vai deslanchar com a moeda metlica, o meio universal
para a troca.
FOTO MOEDA
A moeda apresenta diversas vantagens sobre o escambo ou sobre quaisquer outros
mecanismos de troca. A primeira e mais imediata a sua divisibilidade em unidades,
da a expresso unidades monetrias. Uma outra vantagem a sua portabilidade, ou
seja, a capacidade que tem de ser mais facilmente manuseada, podendo circular entre
as pessoas. A evoluo natural da moeda metlica, passando pelo lato, cobre ou
prata, deu-se preferencialmente pelo ouro.
4
POR QU O OURO ?
Por qu a escolha sobre o material a ser utilizado recaiu sobre o ouro ?
(a) Segundo suas atribuies naturais e materiais, trata-se de um metal que possui
atributos qumicos de durabilidade, resistncia, que poucos outros tm.
Principalmente pela inalterabilidade de sua composio, imune deteriorao ou
destruio e cuja ao do tempo reduzida ao mnimo; homognea e divisvel,
sem mencionar o fato de que apresenta caractersticas semelhantes com relao a
outros metais. Por conta de tais caractersticas, mais fcil adot-lo como padro
universal.
(b) Tambm se destaca pela a transferibilidade, facilidade de manuseio e transporte.
Pelo pequeno peso, relativamente fcil de ser transportado e manuseado.
(c) Valor mstico e carter simblico: Plato via mgica nestes materiais, smbolos de
beleza, reluzncia e brilho. O ouro, desde pocas imemoriais, era visto como tributo
aos deuses, como bem divino - smbolo de toda aliana do homem com os poderes
superiores.
(d) lgico que, para cincia econmica moderna, existe apenas uma nica
explicao para a escolha dos metais preciosos agirem como moeda: sua raridade e,
como conseqncia, seu custo. Robertson aponta uma "raridade relativa"
1
j que no
seria absolutamente impossvel o seu acesso, o que lhe permite a oferta em
determinados volumes para as relaes de troca, mas mesmo assim no em
quantidades excessivas que impeam o uso.
Da moeda ao papel-moeda e moeda escritural, a histria conhecida.
2
. Seria
importante, agora, descrevermos a noo de sistema monetrio e verificar qual asua
relao com sistema financeiro. Franois Perroux definiu bem o que um sistema
monetrio: "Um sistema monetrio o conjunto de elementos jurdicos, propores e relaes
econmicas e tambm de circunstncias de puro fato, que caracterizam a circulao de moeda nos
limites de uma nao, e nas relaes dessa nao com outras naes. "
3
1
Paul HUGON. Moeda. 3 edio. Rio de Janeiro: Zahar. 1969. pg. .12
2
Sobre o tema em especial, ver em especial Jack WEATHERFORD. The history of money. NY : Three Rivers
Press, 1997
3
Franois PERROUX. Capitalismo. 2edio.So Paulo: Difuso Europia do Livro. 1970.p.32
5
Alguns elementos especficos compem um sistema monetrio, quais sejam, a
unidade monetria, o padro de valor, a lei monetria e aos agentes econmicos a
quem se destinam os trs elementos anteriores. Seno, vejamos.
(a) Unidade Monetria: unidade de conta, distinto dos instrumentos de pagamento.
Na Inglaterra do Sculo XVIII, por exemplo, a unidade monetria era a libra
esterlina, dividida em 20 xlins, enquanto os instrumentos de pagamento (as
moedas em si) eram as guinas de ouro ou o esterlina de prata.
(b) Padro de Valor - O Estado adota um padro (que por muito tempo foi o ouro
e/ou a prata) para atribuir sua unidade monetria um determinado valor. Isso
pode representar uma divisa estrangeira (como no Equador, cuja moeda corrente
est atrelada ao dlar americano) uma "cesta" de divisas, ttulos do governo,
enfim, um padro que se denomina lastro monetrio.
(c) Lei Monetria Trata-se do conjunto de regras e normas que disciplinam a
moeda: desde o privilgio emissor, o curso forado ou poder liberatrio, bem
como quaisquer outros conjuntos normativos que tm como objeto
regulamentar a economia da moeda.
(d) Agentes Econmicos: poupadores, emprestadores e intermedirios Todo
sistema monetrio tem como destinatrio, seja da lei monetria, seja do padro
estabelecido para a unidade monetria em questo, todos aqueles diversos
agentes econmicos que fazem parte da sociedade. Esto nessa importante
categoria os poupadores, os emprestadores e os intermedirios financeiro, bem
como o prprio Estado.
Se a moeda , por excelncia, o instrumento ideal, para intermediar as trocas,
preciso contextualizar a noo do porqu importante o seu estudo e como
funcionam os mecanismos a ela relacionados. Antes precisamos entender e
6
conhecer quais so os princpios que inspiram o sistema de crdito e o sistema
bancrio. o que veremos adiante.
12.2 - Sistema Financeiro: porque importante estudar e conhecer os mecanismos
do sistema bancrio e do sistema de crdito.
Em importante trabalho, Douglass North apresenta algumas condies que
possibilitariam o desenvolvimento econmico.
4
Para ele so as instituies a
principal mola do desenvolvimento. Entre essas instituies, est o Direito, um
conjunto de regras do jogo que sejam caracterizadas pela eficincia e aplicabilidade.
As regras estveis, eficientes e aplicveis permitem obter um ambiente institucional
propcio e favorvel ao desenvolvimento econmico, ao investimento e poupana.
Todo o processo de deciso mais seguro quando se confia na regra do jogo; os
jogadores se comportam segundo tal regra (e se sabe que os transgressores sero
punidos). Ela central para motivar todos a pouparem ou a consumirem; a
investirem ou no. Todos os sinais so evidentes e constantes.
Ter um bom sistema financeiro precondio necessria ainda que no seja
suficiente, para um pas moderno. Como intermediador de recursos, cabe a esse
sistema avaliar e transformar o risco dos devedores em oportunidade aos credores.
o sistema financeiro que permite, tambm, menores custos de transao,
aumentando a criao de valor para o poupador em seu investimento. Se a gesto de
risco e a produo e disseminao de informaes fossem algo banal, no seria
necessrio que certos agentes se especializassem em determinadas funes, como
veremos adiante. Todos estariam aptos a decidir o que fazer com seus recursos
excedentes e como lucrar com isso. Sabemos que no mundo moderno, um meio de
movimentar riqueza o sistema financeiro. S para se ter uma idia da magnitude
4
Douglass C. NORTH. Structure and change in economic history. New York : WW Norton, 1981.
7
do sistema financeiro, quase 98% do PIB (o total da riqueza de um pas) passa pelo
sistema financeiro.
Um sistema financeiro suficientemente maduro propicia, de maneira competitiva, o
aumento da oferta de crdito e da gama de produtos e servios financeiros
disponveis. Seria equivocado compreender o sistema financeiro como sendo
exclusivamente constitudo por bancos. Como ser visto adiante, bancos so apenas
um dos componentes do sistema financeiro, conhecidos como intermediadores
indiretos. Por ora, melhor entender o sistema financeiro como um o conjunto de
instituies que permitem a circulao de riqueza e que facilita a transferncia de
moeda entre os agentes econmicos. No h pas desenvolvido no mundo que no
tenha um sistema financeiro slido e atuante. E como todo sistema slido, ele deve
se guiar por determinados princpios.
Princpios so prescries de grande generalidade que expressam, em linguagem,
certas regras de orientao que sero decifradas e depois internalizadas pelo Direito.
Por exemplo, os princpios de direito servem de base e fundamento para construo
das demais regras positivas dentro do sistema jurdico. Princpios formadores so,
como conseqncia, enunciados de carter geral com funo especfica de definir o
desenvolvimento das demais leis, e sobre os quais tais leis so derivadas.
A respeito de uma descrio para os princpios formadores do mercado financeiro,
Quiroga ensaiou defini-los em cinco tipos diferentes, orientados pelo escopo de
proteo ao cidado.
5
O primeiro princpio o da proteo da mobilizao da poupana
nacional e diz respeito funo da prpria intermediao financeira ou seja, a
mobilizao aquilo que se refere transferncia de recursos dos agentes
superavitrios para os deficitrios com o intuito de criar riquezas.
5
Sobre tal classificao, fundamentalmente, ver a diviso apresentada por Roberto QUIROGA. Os princpios
formadores do Direito do Mercado Financeiro. In: Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais.
I , org. Roberto QUIROGA. So Paulo : Dialtica, 1999. pg. 259.
8
O segundo princpio diz repeito proteo da economia popular, tendo em vista o fato
de que, intermediadores financeiros esto sujeitos quebra e insolvncia, devido
aos riscos inerentes do crdito e das operaes financeiras, e que vem se tornando a
principal razo para se regular. Este princpio formador, no direito brasileiro nasceu
pela expresso erigida na Constituio de 1988, e que celebra a economia popular
como um dos ditames de um sistema financeiro estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do pas e a servir os interesses da coletividade.
O terceiro princpio o princpio da estabilidade da entidade financeira, podendo ele
mesmo estar ligado ao princpio da proteo da economia popular: se o sistema
sofrer colapsos (em funo do desrespeito contratual s obrigaes assumidas, seja
por liquidao extrajudicial ou mesmo falncia) sero os poupadores - a economia
popular - as principais vtimas.
O quarto princpio princpio do sigilo bancrio que foi consagrado em nosso
ordenamento jurdico pela prpria Constituio de 1988 como um dos direitos
individuais (como no artigo 5
o
, incisos X e XII) e que diz respeito s informaes
dos valores depositados ou aplicados, sacados ou pagos pelos cidados, enfim, a
informaes que so resguardadas pela proteo privacidade.
Finalmente, o quinto princpio o da proteo da transparncia de informao, que
trata justamente da necessidade de se oferecer transparncia no tratamento das
informaes ao pblico investidor. o anverso do princpio do sigilo bancrio,
pois, enquanto este protege as informaes individuais, aquele resguarda a
informao dada ao pblico. O escopo de tal princpio justamente o de proteger
aqueles que no tm informaes privilegiadas e que estariam em situao de
desvantagem perante os demais. Por outro lado, garantir a transparncia das
informaes que se d ao depositante tambm forma de reduzir as assimetrias
entre os bancos e seus clientes. Por exemplo, um banco gestor de um fundo tem a
obrigao de informar aos seus cotistas sobre onde, como e porque est a adotar
9
aquela estratgia de investimento. O debate acerca da disclosure (ou disponibilizao
de informaes) exatamente este.
Esses cinco princpios orientaram a elaborao dos vrios diplomas legais que
disciplinam o sistema financeiro nacional. Sobre eles, muito mais poderia ser dito,
mas claro que o importante compreender que o direito brasileiro se inspira em
tais princpios e a partir deles fundamenta suas normas.
Feita essa breve introduo, e tendo conhecido um pouco sobre moeda e economia
monetria e agora, as razes pelas quais se faz importante um estudo do sistema
financeiro, passemos s suas funes e a sua organizao no Brasil.
12.3 - Funes e Organizao do Sistema Financeiro Nacional
A primeira e mais importante funo bsica do sistema financeiro a intermediao
financeira. Em linhas gerais, ela consiste na transferncia de fundos das unidades
econmicas deficitrias para as unidades econmicas superavitrias. Os agentes
econmicos trabalham e recebem renda, salrios, enfim, receitas. Efetuam despesas
para a sua sobrevivncia. Se, aps tais necessidades terem sido satisfeitas, ainda
restarem recursos, podemos denominar os agentes como superavitrios; se no lhes
restarem recursos, so deficitrios.
Como exemplo, podemos verificar os hbitos de consumo das famlias brasileiras,
em mdia, no ano de 2003. Segundo o IBGE apenas 7%, em mdia, do total das
rendas familiares destinado a algum tipo de investimento, seja ele financeiro, seja
ele para a aquisio de um carro novo ou mesmo para reforma da casa.
10
Hbitos de Despesa
60%
22%
7%
11%
Alimentao
Habitao
Impostos
Investimentos
Fonte: VALOR .
Pode-se supor, portanto, que muitos necessitaro de recursos no fim do ms
(agentes deficitrios), enquanto outros o tero em sobra (agentes superavitrios).
Muitos tambm querem satisfazer a sua necessidade de consumo imediatamente,
situao que nos conduz a um segundo conceito importante, que o de crdito. Ele
ocorre quando algum transfere ou promete transferir coisas, presta ou promete prestar servios,
mediante estipulao de contra-prestao futura. Assim, o crdito se exprime em moeda, mas no
desempenha funo de reserva de valor".
6
O crdito um conceito central ao sistema
financeiro, j que com base nesse instituto que os agentes deficitrios podero ver
satisfeitas as suas necessidades, com base, justamente, nos recursos dos agentes
superavitrios.
A partir desse conceito de crdito, surge uma importante distino entre mercado
financeiro e mercado de capitais. Ela diz respeito ao relacionamento entre credor e
devedor, vale dizer se a intermediao entre eles direta ou indireta. Diz-se que, no
mercado financeiro, uma entidade financeira (banco, instituio financeira etc.) se
coloca entre o detentor do crdito e aquele que necessita dos recursos. No mercado
da intermediao financeira, portanto, o relacionamento entre o credor superavitrio
e o devedor deficitrio indireto. Porm, quando esse relacionamento se d de
forma direta, i.e, os consumidores de crdito defrontando-se com os ofertantes de
recursos sem a presena de intermedirios, os agentes encontram-se sob a gide do
6
Geraldo de Camargo VIDIGAL. Teoria geral do direito econmico. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1977
11
mercado de capitais. Agentes econmicos superavitrios vem transferidas suas
poupanas para os agentes deficitrios, em operaes que envolvem ordens de
transferncia, ttulos ou valores mobilirios.
7
7
Para uma abordagem geral sobre a disciplina dos ttulos de crdito e valores mobilirios, ver,
fundamentalmente Klaus W. CANARIS e Alfred HUECK, Derecho de los Ttulos-Valor. Buenos Aires:
Ariel.1988; Waldrio BULGARELLI, Ttulos de Crdito. 17 edio. So Paulo: Atlas. 2001. pp.11 e ss.
12
O quadro abaixo ilustra bem a funo da intermediao financeira.
Uma segunda funo da intermediao financeira, igualmente importante, alm
daquela concernente transferncia de recursos de agentes superavitrios para
deficitrios diz respeito transmutao de recursos.
Transmutar transformar, mudar de forma. Essa funo no to bvia
primeira vista, mas uma das mais importantes funes do sistema financeiro, em
especial na gesto de risco. A questo seria saber como o sistema financeiro pode
fazer isso.
Suponha uma senhora de 75 anos, viva e aposentada. E suponha que neste mesmo
momento ela resolva vender um imvel que seu finado marido a deixou em herana.
No momento em que ela vende esse imvel vista (que um ativo real), ela o
transforma em liquidez (ou seja, em moeda). Suponha, no mesmo instante, um
jovem casal que pretenda se casar e queira adquirir um apartamento prprio, mas
dispe s de 10% do valor total do bem. Nesses dois exemplos, temos uma situao
Intermediadores
Financeiros
Investidores
(Devedores)
Mercado
Financeiro
Poupadores
(Emprestadores)
Funo Direta
= Mercado de Capitais
Funo Indireta
= Intermediao Financeira
13
real, de um agente superavitria e outro deficitrio, mas que no se conhecem. O
jovem casal pretende obter recursos para financiar o restante dos 90% do saldo de
seu apartamento, no prazo mais longo possvel digamos 10 anos , enquanto a
viva quer os seus recursos lquidos a cada dia. A entra o sistema financeiro, a
transformar o ativo lquido da viva numa dvida de longo prazo que ser assumida
pelo jovem casal. No s transforma o depsito vista (ou prazo, se for o caso)
num emprstimo de crdito habitacional, como muda taxas de juros, condies de
risco, prazos etc. A esta funo, sofisticada e complexa, que envolve arte e tcnica,
denominamos transmutao de recursos. Os financistas, com freqncia, referem-
se a ela como um descasamentode taxas, prazos, quando inexiste coincidncia
entre tais fatores.
Uma terceira e ltima funo do sistema financeiro a servir de palco de compensao
entre agentes. Essa funo, igualmente importante, mesmo que mais simples, refere-se
a procedimentos de transferncia de fundos, e liquidao de obrigaes e
pagamentos em qualquer de suas formas. Suponha um posto de gasolina que receba
dezenas de cheques dos mais diversos bancos. Cheques so ttulos de crdito que
representam um direito contra o titular de uma conta corrente bancria, o
correntista. No momento em que o dono do posto deposita tais cheques, estes
passam pela COMPE Compensao de Cheques e Outros Papis, na qual
tambm so compensados outros documentos de crdito (DOCs, boletos de
cobrana). Como participantes da COMPE, destacam-se os bancos comerciais,
bancos mltiplos com carteira comercial e as caixas econmicas.
A compensao nada mais do que uma relao de cadeia de responsabilidades para
a liquidao de crditos e dbitos recprocos seguidos da respectiva converso em
ativos e recursos financeiros entre as contrapartes, obedecidos valores e saldos de
cada um dos participantes. Graas a tal funo, o sistema financeiro pode ser
simplificado e com custos mais reduzidos.
14
O que o Sistema Brasileiro de Pagamentos ?
O Sistema de Pagamentos Brasileiro consiste num conjunto de procedimentos,
regras, instrumentos e sistemas operacionais integrados, empregados para transferir
fundos de um determinado pagador para outro determinado recebedor. Com isso,
encerra uma obrigao de pagamento, interligando o setor real da economia, as
instituies financeiras e o Banco Central.
A reestruturao do Sistema de Pagamentos Brasileiro buscou dirimir o risco
sistmico, por meio da implantao de melhores prticas de pagamento e do netting
multilateral, transferindo-o da alada do Banco Central para as cmaras garantidoras
de pagamento e liquidao. No sistema anterior, a liquidao das operaes com
ativos e de pagamentos ocorria uma vez ao dia, pelo valor lquido dos recursos
envolvidos, na conta Reservas bancrias, mantida pelas instituies detentoras de
depsitos vistas, no Banco Central. Da a necessidade dessa instituio honrar
eventuais dficits, a fim de evitar a ocorrncia do risco sistmico -, que implicaria
efeitos negativos em todo o sistema.
Dentre as mudanas do Sistema de Pagamentos Brasileiro, algumas importantes
podem ser mencionadas:
a) A liquidao das operaes uma a uma e em tempo real pelo sistema de
Liquidao pelo valor Bruto em Tempo Real (LBTR);
b) A reestruturao do Sistema Especial de Liquidao e Custdia (SELIC) e do
Sistema de Transferncia de Reservas (STR);
c) A constituio da Cmara Interbancria de Pagamentos (CIB) e modificaes
no Servio de Compensao de Cheques e Outros papis (COMPE); e,
d) A adaptao ou criao de sistemas de compensao ou liquidao (clearings)
capazes de, atravs da constituio de garantias, assegurar que eventuais riscos no
ocasionem o risco sistmico. As clearings sero responsveis pela liquidao e
devero assegurar princpios de controle e gesto de riscos, pois lhe ser imputado
qualquer prejuzo decorrente de inadimplncia.
15
(Fonte: Relatrio Econmico Sistema de Pagamentos Brasileiro, Associao Nacional das Instituies de Mercado
Aberto, Rio de Janeiro, 2002, pg. 2)
Integrantes do Sistema Brasileiro de Pagamentos:
STR Sistema de Transferncia de Reservas;
CIP Cmara Interbancria de Pagamentos;
Compe Compensao de Cheques e Outros papis;
SELIC Sistema Especial de Liquidao e Custdia;
CETIP Central de Custdia e de Liquidao Financeira de Ttulos;
CENTRAL Central Clearing de Compensao e de Liquidao;
CBLC Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia;
Cmara de Derivativos BM&F;
Cmara de Cmbio BM&F.
Existem diversas modalidades de risco envolvendo as operaes no Sistema
Financeiro. O mais importante deles o que se conhece como risco financeiro. No
caso do Sistema de Pagamentos Brasileiros, duas so as hipteses que podem se
apresentar como risco financeiro (risco de crdito e risco de liquidez), e que esto
presentes em quaisquer sistemas de pagamento que se pretendem afastar com a
implantao do novo SPB:
1) a defasagem temporais entre o momento do vencimento da operao
contratada e o de sua efetiva liquidao fsica ou escritural.
2) a defasagem temporais entre o momento do pagamento contraparte e o da
efetiva entrega da contraprestao do pagamento
O quadro abaixo mostra os principais riscos em sistema de pagamentos:
Principais Riscos Em Sistemas de Pagamentos
Tipo Definio
Operacional Risco de perdas resultantes de falha ou inadequao em
processos, pessoas ou sistemas internos ou de eventos externos.
16
Legal Risco de perda decorrente de uma base legal (leis ou
regulamentao) mal fundamentada, isto , condizente com o
funcionamento dos sistemas de liquidao de ttulos,
principalmente no que se refere a contratos, direitos e outras
garantias.
Risco de Crdito: risco de que uma contraparte no liquide uma
obrigao pelo seu valor total, seja no vencimento, seja a
qualquer tempo posterior. Inclui tanto o risco de perda de
receitas no realizadas de contratos no liquidados com o
participante inadimplente (risco do custo de reposio), quanto o
risco de perda de ttulos entregues ou de pagamentos efetuados
contraparte inadimplente antes da constatao da inadimplncia
(risco de principal)
Financeiro
Risco Liquidez: risco de que uma contraparte no liquide uma
obrigao pelo seu valor total no vencimento, mas em alguma
data futura no determinada.
Fonte: ANDIMA
Para tanto foram criadas certas regras que esto sumarizadas no quadro abaixo:
Regras Aplicveis s Situaes de Insolvncia
Regra Descrio
Defaulters Pay
(Inadimplncia)
O prprio participante em default faz frente cobertura do
dbito.
Survivors Pay
(Sobreviventes)
Demais participantes do sistema so chamados a cobrir
posies em default de um determinado participante.
Third Parties Pay
(Terceiros)
Incorpora um terceiro agente como provedor de liquidez
em ltima instncia.
Fonte: ANDIMA
O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro foi institudo com vistas a liquidar a
posio financeira dos bancos, levando em considerao, primordialmente, o fato de
a autoridade monetria, Banco Central, no poder assumir nenhum tipo de risco na
hiptese do inadimplemento daqueles que titulam as contas das reservas bancrias.
Isso ocorria em face da possibilidade de reduo da defasagem entre a contratao
de operaes e sua respectiva liquidao financeira, como mencionado
anteriormente. Pela lgica do novo sistema, a validao somente ocorre aps a
verificao do saldo disponvel na conta da instituio que comanda a ordem do
17
respectivo dbito, da a respectiva reduo do risco sistmico explorado
anteriormente. Os modelos de liquidao com ttulos podem ser basicamente
classificados de acordo com as modalidades da operao:
Modelos de Sistemas de Liquidao com Ttulos
Modelo Descrio
Gross, Gross Ttulos e Pagamentos considerados operao a operao.
Gross, Net Ttulos transferidos a cada operao com a liquidao
financeira efetuada de forma lquida.
Net, Net Ttulos e Pagamentos realizados de forma lquida.
Fonte: ANDIMA
O quadro abaixo apresenta uma breve descrio das diretrizes do projeto do Novo
Sistema Brasileiro de Pagamentos:
Diretrizes do Projeto de Reestruturao do
Sistema de Pagamentos Brasileiro
Diretriz Descrio
Definio do papel do
Banco Central
- Regulamentao e monitoramento do sistema de pagamentos,
segundo sua esfera de competncia, alm da prestao de servios.
Reduo do risco de
crdito do Banco Central
- Monitoramento em tempo real da conta Reservas Bancrias de
cada instituio e estabelecimento de horrios, no coincidentes,
para o lanamento dos resultados financeiros oriundos das
diferentes cmaras;
- Estabelecimento de contratos entre o BC e os titulares de
Reservas Bancrias e entre o BC e os titulares de Reservas
Bancrias e entre o BC e as cmaras, fixando os deveres e
responsabilidades das partes, inclusive procedimentos em caso de
inadimplncia.
Irrevocabilidade e
incondicionalidade dos
pagamentos
- Em sistemas de transferncia de grandes valores, as ordens, aps
efetivadas, devero ser irrevogveis e incondicionais. Entende-se
por efetivao da ordem o registro do lanamento na conta
Reservas Bancrias, no caso de sistema operado pelo BC ou, no
caso de sistema operado por cmara privada, a confirmao, pela
cmara, de que a transferncia foi realizada.
Riscos dos sistemas
plenamente conhecidos
pelos participantes
- Os regulamentos das cmaras devem ser explcitos quanto s
responsabilidades do participante, da prpria cmara e do BC e,
ainda, quanto aos procedimentos aplicveis no caso de
inadimplemento de qualquer participante, inclusive no que se
refere aos mecanismos de repartio de perdas.
18
Reduo da defasagem
entre contratao e
liquidao das operaes
- Introduo de sistema para transferncia de grandes valores,
operando em tempo real e com liquidao bruta no Banco Central
(STR), e estmulo s iniciativas voltadas para reduo do prazo de
liquidao nas cmaras de ativos.
Criao/adaptao de
cmaras com
mecanismos para
reduo de risco e
contingncia adequada
- Os mecanismos para reduo de risco incluem a sistemtica de
entrega contra pagamento; o estabelecimento de limites bilaterais
pelos participantes e multilaterais pela cmara, monitorados em
tempo real; garantias aportadas pelos participantes s cmaras;
regras de repartio de perdas; e condies para a execuo de
garantias.
Adequao da
Base Legal
- Reconhecimento de crditos decorrentes de compensao
multilateral e execuo segura das garantias aportadas s
cmaras, entre outras disposies.
Fonte: ANDIMA
O sistema financeiro se compe da seguinte maneira e com as seguintes instituies:
rgos de Regulao e Fiscalizao Bancos Mltiplos com Carteira Comercial
Bancos Comerciais
Caixas Econmicas
Instituies
Financeiras
Captadoras de
Depsitos
Vista
Cooperativas de Crdito
Bancos Mltiplos sem Carteira Comercial
Bancos de Investimento
Bancos de Desenvolvimento
Sociedades de Crdito, Financiamento e
Investimento
Sociedades de Crdito Imobilirio
Companhias Hipotecrias
Associaes de Poupana e Emprstimo
Agncias de Fomento
Demais
Instituies
Financeiras
Sociedades de Crdito ao
Microempreendedor
Bolsas de Mercadorias e de Futuros
Bolsas de Valores
Sociedades Corretoras de Ttulos e
Valores Mobilirios
Sociedades Distribuidoras de Ttulos e
Valores Mobilirios
Sociedades de Arrendamento Mercantil
C M N
Conselho
Monetrio
Nacional
Banco Central do Brasil
Comisso
de Valores Mobilirios
Superintendncia
de Seguros Privados
Secretaria de
Previdncia
Outros
intermedirios
ou Auxiliares
Financeiros
Sociedades Corretoras de Cmbio
19
Representaes de Instituies
Financeiras Estrangeiras
Complementar
Agentes Autnomos de Investimento
12.4 - Justificativas para regular os mercados financeiros
Podemos afirmar que a regulao , antes de mais nada, uma maneira de tentar
melhorar os resultados do mercado, partindo-se dopressuposto de que ele no
perfeito. Isso acontece como bem explicado pela literatura econmica, em razo
das falhas do mercado.
Parece bvia a justificativa: se este fosse perfeito, no haveria
nenhuma outra razo para nele interferir.
A regulao, por definio, uma modalidade de interveno estatal. Embora
existam diferentes justificativas para a interveno do Estado, de modo amplo, e sob
as mais diversas terminologias (interveno por induo, por participao ou por
direo)
8
para os efeitos das justificativas aqui apresentadas, a regulao existe como
segunda opo: ela existe para sanar as falhas do mercado. Como conseqncia,
pode-se afirmar que o impulso racional e proclamado da regulao deve ter bases
voltadas para o objetivo de maximizar a eficincia econmica ou defender o
interesse pblico quando o mercado no funcionar a contento.
O Estado pode regular os agentes econmicos por uma srie de motivos desde os
mais evidentes como por exemplo, porque sofre influncias dos grupos de presso
para defesa de qualquer interesse especfico da indstria regulada ou porque tem
objetivos polticos por si mesmo (quando os governantes visam legitimar-se no
poder ou buscando a reeleio) ou ainda, o Estado pode regular pela simples razo
de acreditar que fazendo assim, estar a defender os consumidores e combater os
8
A diviso em interveno por induo, direo e participao apresentada por Eros Roberto GRAU.
Ordem Econmica na Constituio de 1998. 6 edio. So Paulo: Malheiros. 2001. pg. 168
20
monoplios. Enfim, poderamos elencar muitas outras justificativas, porm a anlise
de todos esses critrios ser sempre uma tarefa difcil e sinuosa.
Esse princpio, em tese, pode ser aplicado ao mercado financeiro, no qual o bem
jurdico a ser protegido, em ltima instncia, a confiana do pblico poupador nas
instituies; a fidcia dos agentes econmicos na sua moeda e a certeza jurdica na
execuo de ttulos de crdito, na eventualidade de inadimplncia, so fatores que a
ele se agregam. Ainda que no exista, tambm, um mercado para confiana ou certeza
jurdica, claro que estes so bens difusos que devem ser protegidos pelas
instituies do mercado financeiro.
O QUE SO E COMO SE CLASSIFICAM AS FALHAS DE MERCADO ?
As falhas de mercado so freqentemente definidas como sendo imperfeies ou
inoperabilidades que ocorrem na economia por determinados fatores, especialmente
quando certos pressupostos bsicos de eficincia de mercado (e.g. concorrncia,
livre mercado) no funcionam corretamente. Fbio NUSDEO aborda o tratamento
das falhas de mercado em cinco categorias gerais:
(a) Falhas de mercado em razo da baixa mobilidade de fatores de produo, por
exemplo, mo-de-obra.
(b) Falhas de mercado em razo da dificuldade de acesso s informaes relevantes.
(c) Falhas de mercado em razo da concentrao econmica (por exemplo, as
seguintes deficincias podem ocorrer no mercado: monoplios e monoplios
naturais; oligoplios, abuso de poder econmico, condutas anticoncorrenciais).
(d) Falhas de mercado em razo das externalidades (quando um agente econmico
que no responsvel pela ao, mas mesmo assim incide no seu custo, por
exemplo, um no-fumante que obrigado a respirar a fumaa de um tabagista na
mesma sala)
21
(e) Falhas de mercado em razo da existncia de bens coletivos (como naquelas
situaes em que no se pode precisar quem o proprietrio de determinado
bem).
9
A justificativa para regular o mercado financeiro dual: por um lado, buscar a
eficincia, a eqidade do sistema; por outro lado, evitar crises, ou seja, atingir certo
equilbrio. Para tanto, so estabelecidas normas indicativas, baseadas em trs objetivos
de poltica legislativa: estabilidade, eficincia e eqidade. Assim, todo o sistema
financeiro afetado de forma igual por estes trs objetivos. Eles apresentam
incompatibilidades intrnsecas entre si, como por exemplo, a tentativa de aumentar a
eficincia do sistema, por meio de reduo de controles (e, portanto, menores
custos), poderia acabar gerando maior instabilidade. Da a dificuldade em acertar no
grau e na forma da regulao.
Se evidente que o propsito do Estado para o Sistema Financeiro no pode ser
dividido em categorias estanques distintas, tambm parece claro que a regulao no
pode ser vislumbrada como processo isolado. No pode haver uma regulao com
um nico objetivo exclusivo (por exemplo, edio de regulamentos pelo Conselho
Monetrio Nacional com o propsito de,,unicamente, conferir estabilidade dos
bancos), sem afetar em algum grau um outro objetivo (por hiptese, a sua
eficincia).
A noo da regulao bancria est centrada, principalmente, na tarefa de evitar
crises sistmicas ou quebra generalizada de bancos, por um lado, e na garantia de
funcionamento normal e eficiente dos bancos, por outro. No entanto, equivocado
afirmar que a regulao bancria visa impedir a quebra dos mesmos. Isso seria o
mesmo que afirmar que bancos esto proibidos de quebrar, o que, ao menos no
9
Fabio NUSDEO. Curso de economia: introduo ao direito econmico. 3.ed., So Paulo: Ed. RT, 2001. pg. 138
22
sistema capitalista, revela-se um completo absurdo. Seria mais adequado afirmar que
a regulao bancria tem como objetivo a reduo da possibilidade de quebra,
buscando mecanismos que que assegurem que o sistema financeiro opere com
eficincia.
Nesse setor, como visto, a responsabilidade do Estado, do ponto de vista
regulatrio, origina-se pelo fato de que instituies financeiras (principalmente os
bancos) so especiais. So especiais por diversas razes, mas principalmente por
uma, que o a relao com o destinatrio da regulao: o consumidor do servios
bancrios, e por conseqncia, a sociedade como um todo.
Para a sociedade, do ponto de vista macroeconmico, em resumo, bancos so
especiais primeiro, porque h grande relevncia dos bancos no sistema de crdito e
como participante ativo nos meios de pagamento. Depois, porque os perigos de
uma insolvncia bancria podem se transformar na origem de uma crise sistmica e,
assim, alastrar-se pela economia. Bancos so especiais, tambm, em funo da a
natureza incompleta dos contratos bancrios, pelo fato de que bancos oferecem
contratos lquidos e certos de depsito, por um lado e emprestam de modo incerto.
Finalmente, bancos so especiais pelo efeito do moral hazard e pela natureza
adversa da liquidao de ativos na hiptese de quebra.
O negcio bancrio privado tambm revete-se de caractersticas muito especficas
para a concesso de crdito: a habilidade de pagamento do futuro muturio, seu
carter e histrico de crdito, e, finalmente, as condies de garantias subjacentes ao
negcio. Por outro lado, a correta concesso de crdito implica boa prtica bancria
(baixo volume absoluto de crdito por cliente ou baixa concentrao em
determinados clientes ou setores da economia), alm de cautelosa expanso para
outras atividades no-financeiras e o rigoroso controle entre o perfil e descasamento
entre ativos e passivos da instituio.
23
Todas essas caractersticas fazem com que a regulao bancria merea uma ateno
especial, em nome do interesse pblico, reforadas, ainda, por alguns argumentos
especficos. O primeiro deles diz respeito democratizao do crdito, ou seja, o
acesso de todos potenciais habilitados ao crdito. Somente a regulao, em nome do
interesse maior, pode permitir o acesso ao crdito de alguma forma direcionado, seja
por subsdio, seja por critrios de exigibilidade bancria determinados pelo Banco
Central. Aqui, pode ser citado o caso clssico exemplo da US Community Reinvestment
Act (1977), texto normativo que estabelece a regra diretiva que obriga todos bancos
comerciais americanos a atender demanda de financiamento habitacional,
especialmente em regies ocupadas pela populao mais carente. O argumento
lgico, utilizado para tal imposio, que, sem novos incentivos construo,
aquela rea urbana se degradar.
10
A regulao bancria tambm pode criar linhas especficas para setores especficos
da economia que no seriam de outra forma atendidos. Por exemplo, pequenos
negcios merecem algum tipo de apoio e direo, j que a concesso de crdito para
as atividades a eles relacionadas pode no ser, tradicionalmente, um atrativo aos
bancos comerciais.
Se considerado individualmente, h tambm algumas consideraes relevantes sobre
o consumidor de produtos bancrios. No somente pelos aspectos j citados e
para muitos consumidores a sua instituio financeira representa a nica fonte de
crdito -, mas porque, em geral, a relao bancria uma relao fundada em
obrigaes contratuais de longo prazo e revestidas de confiana mtua. A relao
banco-cliente nica e especial. O contrato bancrio est em ambos os lados de
qualquer balano financeiro: ativo, quando o banco empresta aqueles recursos,
mas tambm passivo, quando o banco deve a outros clientes. Essa relao passa
despercebida pelo consumidor, assim como a a situao futura de uma dada
instituio. No momento em que o depsito realizado, o banco pode estar slido,
10
Rosa Maria LASTRA. Banco Central e Regulamentao Bancria. Trad. Dan M. Kraft, Del Rey, 2000. pg. 67
24
mas no momento do saque, aquela solidez inicial pode ter desaparecido por
completo. Por fim, uma crise financeira pode se difundir com imensas repercusses
e afetar toda a economia.
Em sntese, em funo da especialidade dos bancos, poder-se-ia dizer que so trs as
razes ou justificativas -- pelas quais o Estado regula o setor financeiro
11
, como
aqui descritas:
a) do ponto de vista do consumidor (e cidado), trata-se de protge-lo do risco
desmedido.
b) do ponto de vista sistmico, pretende-se garantir a eficincia, por meio da
reduo dos custos de informao, especialmente ao incrementar a
transparncia nas informaes bancrias; e
c) do ponto de vista concorrencial, garantir que no haver competio
predatria ou monopolstica, e que, na atividade bancria, sero os agentes
tratados de forma igual.
No prximo item sero descritas algumas instituies do Sistema Financeiro no
Brasil e dados tcnicos a ele concernentes. Importante verificar que o
conhecimento das instituies do Sistema Financeiro permite uma maior habilidade
para
11
Jairo SADDI. Crise e Regulao bancria. So Paulo : Textonovo, 2001. pg. 43
25
12.5 - Alguns nmeros: uma descrio do setor financeiro no Brasil (profundidade,
crescimento, estabilidade, riscos, concorrncia, oferta de crdito, etc.
Bancos por controle acionrio: % de participao
O que se v no grfico abaixo que a participao entre bancos pblicos, privados
nacionais e estrangeiros tem variado pouco nos ltimos anos.
pao pblico-privada (relativa a ativos bancrios):
A part
%
38,1
38,7
23,2
0
10
20
30
40
Dez
2001
Jun
2002
Dez Mar
2003
Mai
Bancos pblicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
26
Esta mesma participao, aberta por um perodo maior de tempo, indica que aps o
Plano Real a variao foi maior. Enquanto a participao dos bancos privados
nacionais variou pouco, a participao dos estrangeiros mais do que dobrou graas
s privatizaes.
2002
1997 1998 1999 2000 2001
Jun Dez
Bancos com Controle
Estrangeiro
12,82 18,38 23,19 27,41 29,86 30,04 27,38
Bancos Privados Nacionais 36,76 35,29 33,11 35,23 37,21 35,88 36,93
Bancos Pblicos (+ Caixa
Estadual)
19,06 11,37 10,23 5,62 4,30 5,77 5,87
Caixa Econmica Federal 16,57 17,02 17,06 15,35 10,97 11,37 11,66
Banco do Brasil 14,42 17,44 15,75 15,63 16,76 15,94 17,12
Cooperativas de Crdito 0,37 0,50 0,66 0,76 0,90 1,00 1,04
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Bacen
Numero de instituies no Sistema Financeiro (bancos, corretoras, etc) desde 1985
A quantidade de instituies em funcionamento
TIPO
dez-
93
dez-
94
Dez
-95
dez
-96
dez-
97
dez-
98
dez-
99
dez-
00
Dez
-01
dez-
02
Bancos
Mltiplos
206 210 205 191 179 173 168 163 153 143
Bancos
Comerciais
35 34 35 38 36 28 25 28 28 23
Bancos de
Desenvolvi.
7 6 6 6 6 6 5 5 4 4
Bancos de
Investimento
17 17 17 23 22 22 21 19 20 23
Caixa
Econmica
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Arrendam.
Mercantil
67 72 78 74 78 80 79 77 71 65
Financeiras 41 41 42 47 48 42 41 42 39 46
27
Poupana e
Emprstimo
27 27 23 22 22 21 19 18 18 18
Habitacionai - - - 3 3 4 6 7 7 6
Corretoras 285 240 227 219 200 192 192 186 177 160
Cmbio - 40 44 36 37 36 38 39 41 42
Distribuidora 378 367 323 281 235 207 186 173 156 149
Fomento - - - - - - 5 8 9 9
Total 1065 1056 1002 942 868 813 786 766 724 689
Fonte: Bacen
O mesmo nmero de outros canais de distribuio de produtos e servios
financeiros como cooperativas de crdito ou microcrdito tambm indicam
aumento. Finalmente, instituies em regime especial so aquelas submetidas a
processo de liquidao ou interveno extrajudicial, por problemas de liquidez ou
insolvncia.
Cooperativas 877 946 980 956 1015 1088 1183 1235 1333 1374
Microcrdito - - - - - - 3 6 14 26
Consrcios 485 490 462 446 433 422 406 404 397 375
Regime
Especial
82 87 98 82 89 89 97 84 97 109
Fonte: Bacen
Concentrao: Quanto representam os principais 10 clientes desde 1985
Sobre concentrao bancria, importante notar a relativa concentrao do sistema
financeiro nos dez maiores bancos nacionais (entre privados, pblicos e estrangeiro).
O quadro abaixo indica a participao percentual dos cinco, dez, e vinte maiores
bancos no Sistema Financeiro Nacional.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
5 MAIORES 48,70 50,18 50,53 50,67 50,20 47,94 50,69
10 MAIORES 60,10 61,27 62,68 62,70 64,10 62,38 64,14
20 MAIORES 72,03 75,88 75,44 76,51 78,23 77,32 79,73
28
Os quadros abaixos mostram a distribuio do nmero de instituies do segmento
bancrio e depois, por ativos:
Por nmero de instituies:
PORTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Grandes 28 24 25 23 21 17 16
Mdios 62 63 55 55 56 54 47
Pequenos 141 130 123 116 115 111 104
Total 231 217 203 194 192 182 167
Por ativos:
PORTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Grandes 78,25 79,09 79,70 79,20 79,15 73,99 74,82
Mdios 18,12 18,09 16,91 17,36 17,40 21,83 20,97
Pequenos 3,63 2,82 3,39 3,44 3,45 4,18 4,21
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Banco Central do Brasil
29
Participao como % do PIB do Sistema Financeiro desde 1990
Ano Part. no PIB (em %)
1990 17,28
1991 13,94
1992 25,49
1993 32,76
1994 15,9
1995 8,02
1996 6,91
1997 6,45
1998 6,54
1999 6,27
2000 5,44
2001 6,59
2002 7,69
2003 7,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Contas Nacionais
Os quadros adiante mostram os depsitos bancrios e operaes de crdito por
controle acionrio, indicando que apesar dos bancos pblicos representarem 38%
do sistema financeiro, detm 48% dos depsitos (mas realizam apenas 36% das
operaes de crdito) e os estrangeiros, 23% do sistema, com 16% dos depsitos e
24% do crdito). O quadro seguinte, indica o ndice de imobilizao (porcentagem
de imveis e outros ativos fixos sobre o patrimnio lquido) e mostra claramente a
queda; o ltimo quadro mostra os custos operacionais dos bancos vis-a-vis a taxa de
crescimento dos depsitos. Finalmente o ltimo quadro indica a rentabilidade do
setor.
30
Depsitos dos bancos estrangeiros como % dos depsitos dos bancos brasileiros
Depsitos - bancrio I
Bancos por controle acionrio
%
48,4
35,1
16,5
0
10
20
30
40
50
Dez
2001
Jun
2002
Dez Mar
2003
Mai
Bancos pblicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
31
Operaes de crdito dos bancos estrangeiros como % das operaes de crdito dos
bancos brasileiros
ppt 10
Operaes de crdito - bancrio I
Bancos por controle acionrio
%
31,6
44,3
24,1
0
10
20
30
40
50
Dez
2001
Jun
2002
Dez Mar
2003
Mai
Bancos pblicos Bancos privados nacionais Bancos estrangeiros
32
Imobilizao dos bancos brasileiros
Custo operacional dos : evoluo nos ltimos 10 anos ppt 18/21
ndice de imobilizao - evoluo
SFN
%
34,1
33
36
39
42
45
Jun
2001
Dez
2001
Jun
2002
Dez
2002
Jun
2003
33
Custo operacional dos bancos: evoluo nos ltimos 10 anos
Custo operacional - bancrio I
%
67,4
8,1
0
25
50
75
100
Dez
2001
Jun
2002
Dez Mar
2003
Mai
-20
-10
0
10
20
Custo operacional Taxa de crescimento
34
Rentabilidade bancria
2000 2001
Lucro Patrim. Lquido Lucro Patrim. Lquido
Sistema Bancrio
Total
R$3.313 mi R$83.289 mi R$7.760 mi R$97.67 mi
15 Maiores
Bancos Privados
R$2.400 mi R$43.040 R$5.481 R$50.305 mi
Fonte: Banco Central
35
12.6 - Direito e instituies dos mercados financeiros: juros e a oferta de crdito
Nos itens anteriores descrevemos algumas bases bases conceituais sobre o sistema
financeiro, e que agora podem ser retomados no estudo da funo econmica maior
desempenhada pelas instituies dos mercados financeiros. Essa funo, em grande
parte, desempenhada pelos bancos o o crdito.
O crdito fundamental em qualquer economia moderna. Se pudssemos resumir
em poucas palavras o que ele representa, seria possvel afirmar que ele o resultado
da poupana feita por alguns, que a transferem a outros, permitindo que estes
possam adquirir poder de compra atual e satisfazer suas necessidades de consumo.
No entanto, so necessidades de consumo presentes que incorporam ao universo
das trocas de mercadorias e servios. Estes, por outro lado, s viriam a ser
produzidos no futuro. Na definio lapidar de Carvalho de Mendona, crdito
"aquilo mediante o qual algum efetua uma prestao presente, contra a promessa de uma prestao
futura."
12
.
O mercado financeiro brasileiro formado, fundamentalmente, pelos bancos. Sobre
estes, a definio da lei brasileira cercada de dificuldades, j que, a rigor, qualquer
um mesmo no sendo banco acaba podendo ser enquadrado no tipo legal de
pessoa jurdica que atua na coleta, intermediao e aplicao de recursos..
13
Melhor o definiu a lei francesa, de um modo mais abrangente, porm ao mesmo
tempo, mais preciso: (...) os estabelecimentos de crdito so pessoas jurdicas que efetuam
ttulo de profisso habitual as operaes bancrias. Tais operaes compreendem a recepo de
12
J. Carvalho de MENDONA. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938,
pg. 50.
13
Artigo 17 da Lei 4.595/64: Consideram-se instituies financeiras, para efeitos da legislao em vigor, as
pessoas jurdicas pblicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessria a coleta,
intermediao ou aplicao de recursos financeiros prprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custdia de valor de propriedade de terceiros
36
fundos do pblico, as operaes de crdito colocadas disposio da clientela ou a gesto dos meios
de pagamento.
14
As atividades negociais bancrias podem ser divididas, como na concepo clssica
de Giuseppe Ferri
15
em duas categorias:
1) Exerccio do crdito (aquelas essenciais funo que prpria dos bancos,
seja por meio da coleta dos capitais juntos aos poupadores (polo passivo),
seja pela distribuio de capitais (polo ativo);
2) Servios bancrios, (aquelas que consistem na prestao de determinados
servios). Esta definio reduz a atividade dos banqueiros a duas grandes
searas, as quais compreendem
i. A sua vocao principal, que justamente a de intermediar
recursos dos agentes deficitrios para os superavitrios,
ii. A sua vocao secundria, por prestar servios, tais como a
manuteno de contas-correntes, administrao de recursos de
terceiros, servios de caixas eletrnicos (e no passado, servios
de cofres de aluguel, por exemplo).
16
Ora, se crdito a coleta para posterior distribuio de capitais, nessa operao
incide um custo no tempo que se denomina juros. Aqui seria necessrio encontrar
uma definio comum para o que seja juros. Pontes de Miranda lembra que a
expresso vem de jure ablativo de jus, juris, o que significa direitos.
17
Portanto,
juros, so antes de mais nada, direitos ou o que Keynes denominaria do direito
14
Lei 8446 de 24/0/84. No original: (...) les tablissements de crdit sont des personnes morales qui effectuent titre de
profession habituelle des perations de banque. Les oprations de banque comprennent la rception de fonds du public, les
oprations de crdit ainsi que la mise disposition de clientle ou la gestion de moyens de paiement. (Traduo do Autor).
15
Guiseppe FERRI. Manuale di diritto commerciale. 2.ed. Torino: Unione Tipogrfico Editrice-Torinense, 1971,
pg. 680.
16
Para uma abordagem geral sobre as atividades desenvolvidas pelos bancos, ver obras de Edward REED e
Edward GILL. Bancos Comerciais e Mltiplos. So Paulo: Makron Books. 1995, pg. 6 e ss. e Srgio Carlos
COVELLO. Contratos bancrios. 3ed.rev. So Paulo: Leud, 1999.
17
Pontes de MIRANDA. Tratado de direito privado. Tomo XXIV. 3 edio. So Paulo: Revista dos Tribunais.
1984. pg. 15
37
do credor no tempo.
18
Ainda, Pontes de Miranda definia juros como aquilo que o
que o credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou de no ter recebido o que se lhe devia prestar.
O autor reala que, tanto na primeira como na segunda espcie, o credor foi privado
de um valor que deu ou de um valor que teria a receber e no recebeu.
19
A partir
dessa formulao, dois elementos conceituais dos juros podem ser extrados, quais
sejam:
1) O valor da prestao, a ser realizada ou a quem se destina;
2) O tempo em que permanece a dvida, da o clculo percentual ou outro
clculo adequado sobre o valor da dvida, para certo trato de tempo.
De forma mais simples, os juros so devidos sobre coisas fungveis (que se
intercambiam entre si), embora, ordinariamente em dinheiro, e podem ser
normalmente classificados em remuneratrios ou moratrios. Os primeiros so aqueles
que resultam da manifestao bilateral ou unilateral da vontade, geralmente tendo
por fonte o contrato, ou o acordo de vontades. J os juros moratrios resultam do
retardamento indevido no cumprimento daquela obrigao, isto , do atraso ou
mora em resolver uma determinada avena entre as partes.
20
Podemos concluir, ento, que o juro um custo. Trata-se de insumo do sistema
financeiro meio pelo qual os tomadores (pessoas fsicas ou jurdicas) pagam pela
utilizao da moeda. Sendo custo, fcil perceber que sua composio est atrelada
a inmeros fatores, matrias primas da indstria financeira, ou numa analogia
mais simplista s seguintes variveis:
18
John M. KEYNES. A treatise on money. Cambridge University Press, 1928.
19
Pontes de MIRANDA. op. cit. pg. 15.
20
Assim ver, ainda, a redao dada pelo Artigo 394 do Cdigo Civil de 2002, relativamente mora na
disciplina do inadimplemento das obrigaes: Considera-se em mora o devedor que no efetuar o pagamento e o credor
que no quiser receb-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a conveno estabelecer.
38
a) Preo do dinheiro: custo bsico - como a moeda bem fungvel, h de se
estabelecer um patamar mnimo de oportunidade, ou seja, uma taxa mnima
de referncia, que em nosso caso poupana, ou uma espcie de taxa
preferencial (prime rate), abaixo da qual ningum se dispe a investir seus
recursos. Por exemplo, nenhum banco conseguiria captar nenhum recurso de
qualquer depositante caso oferecesse uma taxa menor do que a poupana:
pelo mesmo risco, os agentes econmicos preferem aplicar seus recursos na
Caixa Econmica ou no Banco do Brasil, instituies financeiras pblicas e
federais que, por fora de lei, no podem se tornar insolventes.
b) custos das restries monetrias: o Banco Central exige que parte dos depsitos
feitos nos bancos sejam nele depositados, muitos sem qualquer tipo de
remunerao., o Banco Central tambm condiciona a aplicao de
determinadas linhas a determinados tipos de crdito. Esses custos devem
refletir tambm na taxa de juros, j que o Banco os repassa para o tomador
final, incorrendo, tambm, em custo de oportunidade, especialmente qunado
opta por manter aqueles depsitos sem remunerao.
c) custo operacionais: compreendem desde os custos de manuteno de agncias,
pessoal, segurana etc., at custos relativos contingncia legal, como
aqueles referentes ao no pagamento das dvidas. Em ltima anlise, trata-se
do risco de o banco no receber o que lhe devido
d) custos fiscais: diz respeito aos impostos incidentes sobre o crdito, sejam eles
de competncia da Unio, dos Estados ou dos municpios.
Como qualquer mercadoria e o juro no passa de uma mercadoria ele est
sujeito aos efeitos da oferta e da demanda lei imutvel da natureza econmica. Se
h mais gente querendo comprar moeda, o preo (juros) sobe; caso contrrio, ele
cai.
39
Voltemos ao tema do crdito.O crdito uma das mais importantes molas para o
desenvolvimento. Henry Thornton
21
, ainda no sculo XIX, entendia que crdito
(como sinnimo da confiana) seria fundamental para o desenvolvimento da
economia. Ele escreveu: a confiana que subsiste entre homens de comrcio no que diz respeito
a suas relaes mercantis (...) Em uma sociedade na qual a lei e o senso do moral so fracos, e o
direito de propriedade, em conseqncia, inseguro, evidente que haver pouca confiana e crdito e,
igualmente, pouco comrcio.
Quase duzentos anos depois, a afirmao continua impressionantemente vlida.
Dentre os assuntos mais debatidos da atualidade, na imprensa e na sociedade,
destacam-se a alta taxa de juros e a pequena oferta de crdito bancrio na economia
brasileira. Diariamente se proclama como grande vilo do desenvolvimento a alta da
taxa de juros j por longos anos e como conseqncia direta de juros altos, a
baixa oferta de crdito. O quadro a seguir estabelece uma comparao entre as taxas
de juros praticadas em alguns pases.
TAXA DE JUROS NO BRASIL : UMA COMPARAO INTERNACIONAL
Pis Taxa Mdia de Juros anual (2003)
Brasil 60,96
Argentina 15,57
Chile 9,31
Mxico 8,49
Tailndia 6,54
Coria 6,35
Estados Unidos 5,48
Zona do Euro (Europa) 4,62
Reino Unido 3,39
Japo 2,39
Fonte: BID (www.bid.org).
40
Primeiro, por oportuno, seria interessante fazer um breve relato sobre o que foi a
to falada limitao constitucional dos juros. Para muitos ingnuos esse assunto
deveria voltar a ser a soluo mgica para a reduo dos juros no Brasil. A Emenda
Constitucional n 40, que trouxe baila a limitao constitucional dos juros, foi
aprovada aps vigorosos debates no Congresso, e buscou fixar juros ao patamar
imutvel de 12% (doze por cento) ao ano mais a correo da moeda, j que o
pargrafo 3
o
do art. 192, hoje excludo, expressamente mencionava juros reais.
Sem a emoo que tem por hbito balizar esse tema, a limitao constitucional dos
juros revelou-se prejudicial ao processo de formao de poupanas. Mesmo que no
tivesse sido inteiramente aplicado tal dispositivo, em funo de uma Ao Direta de
Inconstitucionalidade (ADin n 004-DF)
22
que decidiu que o artigo 192 da
Constituio no poderia ser auto-aplicvel, se no bastasse tais consideraes de
ordem jurdica e macroeconmica, em retrospecto, existiam tambm pelo menos
quatro razes para se impedir qualquer limitao de juros, para que pudesse :
a) evitar erros na formulao de expectativas dos agentes econmicos quanto
inflao futura, o que na prtica suprimiria a liberdade do mercado formar taxas
de juros pr-fixadas;
b) evitar o repasse de custos administrativos e outros nus na concesso do crdito,
o que representaria a inviabilidade das operaes de crdito junto ao varejo e ao
consumidor final;
c) evitar o repasse do componente de risco, que poderia significar o fim da oferta
de crdito para os segmentos que no puderam dar garantias consideradas
adequadas ou suficientes pelos credores;
d) evitar repasse de emprstimos externos no mbito do Sistema Financeiro, j que
certamente haveria conflito de leis na esfera do direito privado, j que tal
21
Henry THORTON. An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great Britain. New York: A.M.
Kelley. 1965. (1 edio 1939)
22
O inteiro teor da ADIn e os respectivos Votos e Acrdo esto publicados na Revista Trimestral de
Jurisprudncia n.147, pp. 816 e ss.
41
limitao de juros no encontra guarida no direito internacional do mundo
moderno;
Felizmente, o artigo 192, por meio da Emenda Constitucional n 40, foi reescrito,
eliminando-se os oito incisos que disciplinavam o captulo (de um s artigo) sobre
Sistema Financeiro Nacional na Carta de 1988. Assim foram revogados todos os
dispositivos que estabeleciam, por exemplo, da autorizao e do funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, previdncia e capitalizao, e dos rgos oficiais
fiscalizador e ressegurador, como, inclusive, os clebres incisos IV e V, que tratavam
do Banco Central, dos requisitos para a designao de membros da diretoria do
banco central e demais instituies financeiras e seus impedimentos aps o exerccio
do cargo. Revogaram tambm outros incisos que cuidavam da criao de fundo ou
seguro, critrios restritivos da transferncia de poupana de regies com renda
inferior mdia nacional para outras de maior desenvolvimento, da transmisso do
controle da pessoa jurdica titular e concedida sem nus e os trs pargrafos que
tratavam entre outros temas, da limitao dos juros. A Emenda Constitucional 40
deu a seguinte redao ao Art. 192 que hoje se l:
O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a
promover o desenvolvimento equilibrado do Pas e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compem, abrangendo as cooperativas de crdito, ser
regulado por leis complementares que disporo, inclusive,
sobre a participao do capital estrangeiro nas instituies
que o integram.
A origem da usura
A usura tem origem bblica. Diz no Velho Testamento, Levtico, 25 (36-37): no
recebas usura dele, nem o executes por mais do que o que tu lhe deste. Teme a teu Deus, para que
teu irmo possa viver em tua casa. No lhe dars o teu dinheiro a usura, nem exigirs dele mais
gro do que o que tu lhe houveres dado. Em outra passagem do Velho Testamento,
Exequiel 18 (31) afirma que ser filho ladro que derrame o sangue ou cometer
qualquer destas faltas entre elas, emprestar a juros e receber mais do que emprestou: acaso
42
viver ele ? No viver. Antes, depois de ter executado todas estas aes detestveis, infalivelmente
morrer, o seu sangue ser contra ele mesmo. Assim que o prprio Direito ps-cristo
celebrou o famoso brocardo: quid sorti accedit, usura est (o que ultrapassa o
principal usura.). So Toms de Aquino, no incio da Idade Mdia ento celebrou
sua formulao de que juros so o custo do dinheiro no tempo e em sendo o
tempo de Deus, seria pecado cobrar por ele. Francisco Cludio de Almeida Santos
descreve: Na Idade Mdia, o juro era simplesmente abominado (Santo Agostinho
denominava-o de mammona iniquitatis), projetando-se nos sculos seguintes esse
preconceito, acolhido pelo pensamento escolstico.
23
Entre ns, foi a famosa Lei da Usura o Decreto n 22.626 de 1933- que resolveu
fixar a taxa de juros no limite de 12% ao ano. Hoje, a limitao da taxa de juros,
prevista nesse diploma normativo como sendo contrria s instituies financeiras,
teve sua interpretao dada pela Smula 596, do Supremo Tribunal Federal, tambm
aplicada pelo Superior Tribunal de Justia, estabelecendo que as disposies do Decreto
n 22.626/33 no se aplicam s taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operaes
realizadas por instituies pblicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Hoje, sustenta-se que a taxa de juros esteja limitada, pelo Cdigo Civil (cf. artigos
406 e 591 do CC 2002 e artigos 1.062 1.262 do CC 1916), tendo sido revogado o
artigo 1 da Lei de Usura . Mantm-se na prtica, a taxa de juros de 12% ao ano. As
instituies que integram o Sistema Financeiro Nacional, entretanto, teriam
permisso para cobrar juros acima desses limites, fixados pelo Conselho Monetrio
Nacional (cf. art. 4, inciso IX, da Lei n 4.595/64 c/c/ Smula 596/STF)
24
.
Voltemos alta taxa de juros e a pequena oferta de crdito bancrio na economia.
Como est claro que no se baixam juros por atos de voluntarismo nem de arroubos
23
Francisco Claudio de Almeida SANTOS. Revista de Direito Bancrio e do Mercado de Capitais v.2. a 1 ,
pg. 70, maio-agosto 1998.
24
Arnaldo RIZZARDO. Contratos de Crdito Bancrio. 6 ed. So Paulo: RT. 2003. pg. 342
43
declamatrios, necessrio mudar os paradigmas vigentes e assim definir os pontos
de natureza econmica e jurdica que, por serem fundamentais, necessrios e
suficientes para tanto, podem apresentar o cenrio institucional apropriado para o
estabelecimento de tais condies entre ns.
Se todos esto de acordo com a premissa acima, a pergunta chave : como se
garante mais crdito? Certamente no forando os banqueiros a emprestar mais. O
Brasil, entre outros exemplos, j tentou direcionar o crdito e aumentou as
exigibilidades bancrias (parcela dos depsitos vista ou prazo que os bancos so
obrigados a emprestar) para graus quase insuportveis porm com pouqussimos
resultados concretos.
O exemplo mais recente diz respeito ao microcrdito, que obriga os bancos a
conceder a pequenos e mdios empresrios emprstimos da ordem de 2% dos
depsitos compulsrios vista. O resultado, como era de esperar, foi extremamente
frustrante. No se amplia por medida legislativa a oferta de crdito; do mesmo
modo, juros no caem na bravata. Hoje, os direcionamentos do crdito representam
amarras e custos de transao que retardam o desenvolvimento. Obrigar uma
instituio financeira a aplicar uma porcentagem especfica em setores pouco
rentveis representa um desestmulo quele produto e os bancos no o faro. Em
larga medida, o crdito habitacional exemplo acabado disso. Sua escassez est
relacionada s altas exigibilidades de aplicao da carteira dos bancos. Da mesma
forma, a reduo dos depsitos compulsrios acarretar a queda dos juros.
Exigibilidades bancrias
As exigibilidades bancrias so crditos direcionados, i.e., tudo aquilo que o Banco
Central obriga, por lei, os bancos emprestarem. Basicamente dividem-se em trs
grandes grupos:
a) Crdito Rural
b) Crdito Habitacional
44
c) Operaes com BNDES
O volume de Recursos Direcionados cresceu 11,2% em doze meses atingindo R$
150,6 bilhes, elevando a importncia relativa desses recursos no total de operaes
de crdito neste ano. Esse resultado deve-se em boa parte s operaes direcionadas
ao crdito rural, que atingiram R$ 41,2 bilhes em setembro de 2003 e apresentaram
um crescimento de 41,3% no perodo. Em seu documento Economia Bancria e
Crdito: Avaliao de 4 anos do projeto Spread Bancrio , o Banco Central afirma que: De
qualquer forma, evidente que as principais causas que explicam a escassez e o custo do crdito no
Brasil continuam presentes e demandando a atuao do Governo e da sociedade para sua
superao. Isto porque, apesar de alguns progressos pontuais, os depsitos compulsrios, os crditos
direcionados e os impostos indiretos continuam onerando o crdito e a intermediao financeira.
Alm disso, ainda existem dificuldades de obteno de informaes, o que traz prejuzos
concorrncia e avaliao do risco de crdito, bem como prevalece no Pas um ambiente institucional
bastante desfavorvel ao crdito, caracterizado por um sistema legal e judicial ineficiente e pr-
devedor.
Vale lembrar ainda, que uma das tentativas de aumentar a oferta de crdito bancrio
foi o crdito consignado em folha. Trata-se de um emprstimo bancrio garantido
pela deduo direta da folha de pagamento dos assalariados,. At agora, os
resultados foram bastante tmidos. Igualmente modesto, mas com maiores
esperanas, est o crdito consignado. Com a edio, em 18 de setembro de 2003,
da Medida Provisria n 130 e do Decreto n 4.840/03 que a regulamenta, os
trabalhadores que possuem registro em carteira esto elegveis a obter emprstimos,
financiamentos e leasings e descontar o valor das prestaes diretamente na folha de
pagamento, com taxas de juros menores que as fixadas pelo mercado.
A agenda do microcrdito se concentra na ampliao do acesso pelas camadas de
mais baixa renda e por empreendedores de micro ou pequena escala aos servios
financeiros. (...) Houve uma acelerao notvel do setor de microfinanas no Brasil a
partir do final dos anos 90 (Figura 3), devido criao e regulamentao de novas
formas institucionais, as OSCIPs (Organizaes da Sociedade Civil de Interesse
45
Pblico) e as SCMs (Sociedades de Crdito ao Microempreendedor), ao lanamento
de um programa de microcrdito de larga escala pelo BNB, CrediAmigo, e ao
apoio financeiro a tais instituies, oferecido pelo BNDES. Apesar dessa acelerao
rpida, a penetrao das microfinanas no Brasil permanece fraca, especialmente se
comparada aos pases vizinhos. A taxa de crescimento da carteira de pequenas IMFs
individuais (a saber, outras que no CrediAmigo) no tem sido notadamente alta, e
grande parte do esforo de crescimento deve-se mais ao estabelecimento de novas
empresas do que a uma expanso rpida das empresas existentes. Entre os fatores
responsveis pela baixa penetrao das IMFs independentes destacam-se: as
dificuldades para expandir o alcance ao cliente sem uma rede de agncias ou
produtos de poupana; a presena de instituies de microfinanas dirigidas
principalmente por governos municipais para atingir objetivos sociais e que
fornecem crdito altamente subsidiado; deficincias regulatrias relativas
complexidade de diferentes marcos regulatrios e a exigncias excessivas de
documentao e de capital.
Fonte: Ana Carla COSTA e Mrcio NAKANE. Brasil: Acesso a Servios Financeiros,
Banco Central, 2003. p.5.
Certo que h questes de risco e de poltica monetria que so igualmente (ou
mais importantes). No entanto ser abordado aqui o arcabouo institucional do
sistema financeiro nacional, em especial, quais seriam os incentivos institucionais
para aumento do crdito. A questo que resta , portanto, saber como possvel
aumentar naturalmente a oferta de crdito. Primeiramente vamos tratar das
garantias bancrias e da execuo de tais garantias na hiptese de inadimplncia.
12.7 Garantias bancrias e oferta de crdito
O quadro abaixo mostra a comparao da oferta de crdito entre vrios pases, entre
eles o Brasil. Veja que h pases com menores economias cujos bancos emprestam
mais, como Venezuela e Chile, por exemplo.
46
H ainda, na literatura econmica, diferenas na razo crdito/PIB para cada pis
no explicadas por diferenas de renda per capita.
25
. Uma das razes apresenta
relao estreita com o Poder Judicirio e com a execuo de garantias, como ser
visto a seguir . Por ora, podemos adiantar que pises com Poder Judicirio mais
ineficientes tm menores volumes de crdito. Numa Federao como o Brasil, at
mesmo diferenas na percepo de questes econmica pelo Poder Judicirio de
cada Estado da Federao so quase to importantes como na renda per capita para
explicar a razo crdito/PIB em cada Estado.
O mercado financeiro brasileiro segmentado, tanto na oferta quanto na demanda.
H, em sntese, e como j vimos no perfil do sistema financeiro acima, uma diviso
entre instituies financeiras pblicas e privadas. Cada uma tem um nicho de
mercado determinada, que pode ser resumido em:
Bancos pblicos mais voltados para operaes de prazo mais longo e certos
setores (e.g. rural e habitao)
Bancos privados: produtos financeiros em geral voltados ao curto prazo e
que se dividem, grosso modo, em Pessoas Fsicas e Pessoas Jurdicas.
J Quanto ao perfil da demanda, isto , o dos dos tomadores de crdito (na
definio acima, os agentes econmicos deficitrios) o mercado se divide em
mercado de varejo, middle-market e corporate. No primeiro inserem-se os servios
destinados a todos os clientes pequenos, aqueles que no tm volume de recursos,
mas so sempre numerosos; o mercado de middle market compreende os servios
para as mdias empresas, as quais, na definio legal, podem ter faturamento anual
at R$ 10 milhes. Finalmente, enquanto os clientes da rea corporate so aqueles
clientes que apresentam faturamento acima desse limite previsto para o middle
market.
47
Feitas essas consideraes sobre os segmentos bancrios, voltemos a discusso dos
juros altos no Brasil. Temos uma elevada taxa passiva, o que pode explicar nossa
poltica monetria mais restritiva, mas no explica inteiramente o elevado spread
bancrio observado no pas. Em linhas gerais, o spread diz respeito diferena entre
a taxa de captao e a taxa de emprstimo praticadas pelos bancos. Em outras
palavras, a diferena de quanto um banco paga ao depositante e quanto ele cobra
do devedor. O quadro a seguir consolida alguns dados a respeito da evoluo do
spread bancrio no Brasil nos ltimos anos:
Evoluo dos spreads bancrios:
Em 2003: Pessoa Fsica
Em 2002: Pessoa Fsica 51,4% Pessoa Jurdica 14,5%
Em 2001: Pessoa Fsica Pessoa Jurdica
Fonte: BANCO CENTRAL. Juros e Spread Bancrio - uma evoluo recente. 2003
A pergunta natural que se segue discusso do spread como esse nmero
formado. A isso podemos chamar da decomposio do spread bancrio
26
que teve
aproximadamente a seguinte composio em 2003, ou seja, para cada R$ 1 de
diferena entre captao e aplicao, incidiram os seguintes elementos:
25
Nesse sentido, ver Armando Castelar PINHEIRO. O Judicirio e a Economia no Brasil. So Paulo: IDESP.
2002
26
Sobre a composio do spread, cf. BANCO CENTRAL. Juros e Spread Bancrio no Brasil. Rio de Janeiro:
DEPEP.1999. pg.18 e ss, que seria, basicamente, constitudo por quatro elementos: (a) absoro de
poupana privada pelo setor pblico (incluindo os depsitos compulsrios); (b) cunha fiscal nas operaes
bancrias; (c) inadimplncia e insegurana jurdica na recuperao de garantias; e (d) custo administrativo e
margem lquida dos intermedirios financeiros.
48
No se pode deixar de mencionar outros fatores que tambm so importantes na
composio de custos de um banco. Um deles o nvel de depsitos compulsrios
que cada instituio recolhe ao Banco Central em razo de poltica monetria; o
outro diz respeito baixa produtividade ou eficincia reduzida de cada instituio,
que aumenta os seus custos operacionais, ou at mesmo certo poder de mercado
que determine o aumento dos lucros da instituio num dado segmento, por
exemplo, naquele em que exista baixa ou restrita concorrncia. Ainda assim, esses
fatores estariam, grosso modo, a definir o critrio de lucro percebido pela
instituio.
preciso avanar no desenvolvimento de mecanismos de garantias, fundamentais
na precificao dos juros. Isto porque, se o devedor no puder (ou no quiser)
pagar, h que ser executado.
A afirmao acima precisa ser melhor explicada. O no-pagamento de uma
obrigao, d-se pela incapacidade de pagar (por exemplo, pelo insucesso no
projeto ou no emprego (tambm denominado de risco comercial); pela
instabilidade econmica (conhecido como risco de mercado) ou por qualquer
outra varivel que esteja fora do controle do devedor e que lhe impede de adimplir
22%
18%
25%
35%
Despesas
Administrativas
Lucro
Impostos
Inadimplncia
49
seus compromissos financeiros, e assim, saldar a sua dvida. No entanto, pode haver
no a incapacidade de pagar, mas a indisposio a pagar, como quando o devedor
simplesmente prefere no pagar. Nesse casos especfico, observa-se uma clara falta
de incentivos para que devedores paguem, situao que gera um elevado grau de
oportunismo por parte do devedor. A relao que se trava aqui de
proporcionalidade inversa. Assim, quanto menores as penalidades para o
inadimplemento de uma obrigao, maior ser o comportamento oportunista do
devedor.
27
Por um lado, o ideal seria selecionar adequadamente os devedores: por exemplo, ter
amplos e precisos bancos de dados com informaes negativas e positivas, hoje
possibilitadas por maior e melhores tecnologias para manipular tais informaes. No
entanto, nem sempre possvel acertar. Em geral um mau pagador bom at um
determinado momento: no instante em que h uma dvida em que ele no pode (no
quer) mais pagar, o bom devedor se torna um mau pagador. Vale dizer em outras
palavras, s se sabe que o mau pagador de fato um mau pagador quando ele deixa
de pagar. Mesmo que os bancos de dados representem um avano na concesso de
crdito, eles devem ser considerados apenas instrumentos adicionais para anlise do
crdito. Ainda assim, a ameaa de inscrever o tomador de crdito em cadastro de
devedores inadimplentes (SPC, Serasa etc.) representa um verdadeiro incentivo para
que ele pague em dia).
28
Contudo, existe hoje um grande debate no Poder Judicirio
sobre a relao da disciplina da proteo do consumidor e o direito do credor de
inscrever o mau pagador nesses cadastros.
Assim, necessrio que sejam incrementados os incentivos para que devedor pague,
como por exemplo, fortalecer as exigncias de garantias pessoais e reais a serem
habilmente pelo credor. Aqui, no caso, importante distinguir leis e, principalmente,
tribunais que no protegem adequadamente os credores. Aspectos processuais como
27
Para uma abordagem do problema do oportunismo, ver interessante estudo de Oliver E. WILLIAMSON.
Why Law, Economics, and Organization? Berkley: UC Berkeley Public Law Research Paper No. 37. December
2000, pg. 6.
50
a prpria morosidade da justia (apontada como o principal problema para a boa
execuo do contrato) influenciam de modo decisivo a rapidez com que um credor
recupera o seu crdito.
28
Armando Castelar PINHEIRO. O componente judicial dos spreads bancrios. Mimeo. pg.2
51
Processo de Conhecimento e Processo de Excecuo
A ao de conhecimento a fase no processo que gera um resultado concreto: um
ttulo executivo judicial. Est se discutindo no Congresso um projeto para unificar
as duas etapas. A exposio de motivos justifica: S aps o longo contraditrio no
processo de conhecimento, ultrapassados todos os percalos, vencidos os sucessivos
recursos, sofridos os prejuzos decorrentes da demora, o demandante logra obter ao
fim a prestao jurisdicional definitiva, com o trnsito em julgado da condenao da
parte adversa. Recebe ento a parte vitoriosa, de imediato, sem tardana maior, o
'bem da vida' a que tem direito? Triste engano: a sentena condenatria ttulo
executivo, mas no se reveste de preponderante eficcia executiva. Se o vencido no
se dispe a cumprir a sentena, haver iniciar o processo de execuo, efetuar nova
citao, sujeitar-se contrariedade do executado mediante 'embargos', com sentena
e a possibilidade de novos e sucessivos recursos. Tudo superado, s ento o credor
poder iniciar os atos executrios propriamente ditos, com a expropriao do bem
penhorado, o que no raro propicia mais incidentes e agravos. Ponderando,
inclusive, o reduzido nmero de magistrados atuantes em nosso pas, sob ndice de
litigiosidade sempre crescente (pelas aes tradicionais e pelas decorrentes da
moderna tutela aos direitos transindividuais), impe-se buscar maneiras de melhorar
o desempenho processual (sem frmulas mgicas, que no as h), ainda que
devamos, em certas matrias (e por que no?), retomar por vezes caminhos antigos
(e aqui o exemplo do procedimento do agravo, em sua atual tcnica, verso
atualizada das antigas 'cartas diretas'...), ainda que expugidos rituais e formalismos j
anacrnicos. Lembremos que Alcal-Zamora combate o tecnicismo da dualidade,
artificialmente criada no direito processual, entre processo de conhecimento e
processo de execuo. Sustenta ser mais exato falar apenas de fase processual de
conhecimento e de fase processual de execuo, que de processo de uma e outra
classe. Isso porque "a unidade da relao jurdica e da funo processual se estende
ao longo de todo o procedimento, em vez de romper-se em dado momento"
(Proceso, autocomposicin y autodefensa, UNAM, 2
a
ed., 1970, n. 81, p. 149).
Fonte: Exposio de Motivos ao Projeto de Lei n 03253/2004(EM n 00034 Ministrio
da Justia, Braslia, 18 de maro de 2004)
Portanto, alm de mudanas na legislao material preciso avanar no
desenvolvimento de mecanismos de garantias, fundamentais na precificao dos
juros, porque, se o devedor no puder (ou no quiser) pagar, existe a possibilidade
de satisfao da dvida pelo bem dado em garantia, e e, com isso, cobrir o prejuzo
do credor. Garantias so exatamente isso: pactos acessrios a uma obrigao
52
principal, por meio dos quais bens ou direitos do garantidor (ou de terceiros) podem
ser envolvidos em demandas judiciais com intuito de ressarcir o credor pelo
inadimplemento do devedor.
A ausncia de um sistema eficiente de execuo de garantias impossibilita alcanar
avanos em relao proteo, cobrana e execuo do crdito bancrio. Por que os
juros de financiamento de veculos so os mais baixos do mercado? A resposta
simples. Em virtude do instituto da alienao fiduciria, criou-se um bom sistema de
garantia, que o o prprio carro adquirido. Desenvolvido na dcada de 1970, esse
sistema permitiu um processo rpido e econmico de retomada do bem, o que, em
ltima anlise, aumenta a certeza do credor de recuperar o que investiu e oferece ao
devedor o correto incentivo de que, se no cumprir pontualmente suas obrigaes,
perder o bem adquirido.
29
Taxa de juros de financiamento de veculo e de cheque especial
O banco sabe que um devedor pode no pagar o montante contratado por diversas
razes. Entre elas, obviamente, a quebra da empresa. Se uma empresa que tinha
crdito ou fluxo financeiro no momento da concesso se v impedida de honrar
29
Entre ns, a alienao fiduciria em garantia (ou venda com reserva de domnio) encontra sua disciplina
jurdica no Decreto-Lei n 911, de 1 de outubro de 1969. Do ponto de vista contratual, ela um negcio
jurdico complexo, fundado por uma relao obrigacional e outra real, justamente pela associao existente
entre uma compra e venda e a garantia dada, que o prprio bem que se pretende adquirir. O devedor (aqui,
adquirente) fica com a posse direta de um bem (mvel ou imvel), que serve de garantia do crdito em favor
do credor (aqui, alienante), at o adimplemento da obrigao principal. Satisfeita a dvida garantida, a
propriedade se transfere, em sua integralidade, ao devedor, porque at ento ela estava reservada ao credor. A
fidcia, que em latim significa confiana, segurana, diz respeito causa do negcio: faltando confiana do
financiador, diminui a garantia dada. Entretanto, uma vez paga a dvida, a propriedade fiduciria, antes
atribuda ao credor-fiduciante, passa, definitivamente, ao devedor-fiducirio. Sobre o tema, cf. Jos Carlos
MOREIRA ALVES. Da alienao fiduciria em garantia. 3edio. Rio de Janeiro: Forense. 1987; Csar FIUZA.
Alienao fiduciria em garantia de acordo com a Lei n 9.514/97. Rio de Janeiro: AIDE. 2000; e Paulo RESTIFFE
NETO e Paulo RESTIFFE. "A alienao fiduciria em garantia e a lei de sociedades annimas". Revista dos
Tribunais. vol.88. n. 764.1999. pg. 60-74.
53
seus compromissos, o mais importante passa a ser a garantia e, conseqentemente,
como execut-la.
No Brasil, na hiptese de falncia, existe um instituto conhecido como concurso de
credores, ou seja, uma vez decretada a quebra, forma-se uma fila: o primeiro a
receber o trabalhador, depois o Fisco e, em seguida, os demais credores (na
seqncia, aqueles que tm garantias e, por fim, os que no a possuem). Ora, na
falncia, em geral, no h o suficiente para os trabalhadores, e muito menos para os
bancos. Nesses casos, os credores financeiros aumentam o prmio dos juros,
especialmente porque esto correndo mais risco. Na grande maioria dos pases, no
entanto, os credores com garantia so pagos antes de qualquer outro. J no Brasil, o
projeto de lei de falncias, em trmite no Congresso Nacional, coloca o trabalhador
em primeiro lugar e os credores com garantia real, e depois o Fisco. um
considervel avano e muito melhor para o pas e para o crdito.
A correta e rpida execuo do crdito bancrio, em ltima anlise, aumenta a
certeza do credor em recuperar o que investiu e desestimula o devedor a deixar de
cumprir pontualmente suas obrigaes, pois, se o fizer, perder o bem adquirido.
Interessante notar que, em passado recente, empreendeu-se uma tentativa de
avanar com medidas de igual inspirao, como por exemplo, as Cdulas de Crdito
Bancrio. Estas infelizmente tm sido pouco utilizadas, justamente por terem sido
objeto de medida provisria.
Alm disso, faz-se necessrio criar sistemas de regime sumrio de execuo do
crdito bancrio, com o objetivo de evitar o prolongamento de cobranas por anos
a fio. Do mesmo modo, preciso que haja a obrigao vinculante de fazer com que
qualquer discusso judicial acerca de crdito bancrio seja precedida do efetivo
pagamento do valor do principal, como condio bsica de ao. Tal medida
reduziria os encargos das demais operaes de crdito e permitiria um procedimento
mais equnime com o credor.
54
O segundo ponto, igualmente preocupante, diz respeito carga tributria que incide
sobre o crdito. Apenas para ilustrar, nos tributos em cascata (PIS, Cofins e CPMF),
a carga fiscal do valor mutuado de 33%, sem contar com o IOF, que incide no
estoque e no no fluxo de capital. ingenuidade achar que o nus tributrio pode
incidir mais ferozmente nos bancos porque eles tm com que pagar. A carga
tributria automaticamente incorporada ao custo do dinheiro e se transforma em
juros mais altos a serem pagos pelo muturio.
Outro aspecto tambm problemtico carece de soluo razovel pelos Tribunais: o
leasing. Em essncia, trata-se de um negcio jurdico complexo, fundado na locao
de um bem com opo de compra. As aes coletivas propostas por ocasio do
repentino aumento do dlar abarrotam desde 1999 os tribunais e representam foco
de graves e fecundas preocupaes que podem, no futuro, sepultar este produto
bancrio. Como bem afirmou a ilustre ministra Nancy Adrighi: [...] preocupar-se com
apenas uma das partes, ignorando por completo os efeitos que a deciso judicial poder ter em
relao a ex adversa, por certo no se coaduna com a noo de jurisdio responsvel e com o
sagrado princpio da igualdade de tratamento.
30
Precisamos entender definitivamente que a natureza da operao de crdito e a dos
juros bancrios esto interligadas. O sistema financeiro, como se afirmou, capta
recursos de agentes superavitrios, transmuta-os produtos em prazos e para pblicos
diferentes e os empresta a agentes deficitrios. Sua mxima o equilbrio. Fica
impossvel buscar o equilbrio se a remunerao dos depositantes estiver desconexa
com aquilo que o banco recebe em juros. E mais: economicamente, os recursos que
o banco empresta no so seus, da a noo de intermediao financeira que
expusemos anteriormente.
30
Nancy ADRIGHI. Contrato de leasing. Indexao pela variao cambial. Possibilidade. Revista de Direito
Bancrio e do Mercado de Capitais. vol. 17. pg. 153 - Jurisprudncia - jul a set-2002 - STJ jul-2002 ago-2002
55
O debate dos juros conduz discusso da aplicao do Cdigo de Defesa do
Consumidor. Apesar da edio da Resoluo n 2.878pelo Banco Central, em 26 de
agosto de 2001, com vistas a regrar os procedimentos a serem observados pelas
instituies financeiras nos contratos de operaes e na prestao de servios com
clientes e com o pblico em geral, pouco se avanou na harmonizao de tais
relaes. No se pretende restringir o direito dos consumidores o que seria
inconstitucional, mas preciso entender que moeda algo especialssimo. Por
exemplo, no faz nenhum sentido reclamar do seu defeito ou de sua
desvalorizao ou revalorizao, num contrato de crdito ou de cmbio depois de
celebrado. Igualmente, necessrio afastar a tutela do inadimplente contumaz que
apenas acentua o que se conhece como seleo adversa, vale dizer, os custos dos bons
pagadores sendo determinados pelos maus pagadores. No se pode admitir
nenhuma incerteza quanto sua execuo, pela simples e boa razo de que a nica
forma de aumentar a oferta de crdito exatamente criar o ambiente institucional
propcio confiana.
Ainda que, para determinados contratos bilaterais, seja admitida a reviso judicial em
virtude da onerosidade excessiva, nos contratos bancrios (unilaterais) esse
expediente tem o condo de aumentar os juros, j que, mais uma vez, causa
incerteza aos agentes econmicos. Por conta de sofisticao e a complexidade dos
custos bancrios, somenta as autoridades monetrias que tem condies de regular
a poltica de juros. Em ltima anlise, esta no deve depender de decises judiciais.
Nossa agenda poderia ser mais extensa, e nela poderamos encontrar outros pontos
falhos. . No entanto, como afirmaram SADDI e WALD
31
: preciso, sempre e em
qualquer lugar, estabelecer parmetros com os quais se possa comparar o alcance das normas
jurdicas. Desnecessrio aprofundar-se nas imensas dificuldades para baixar juros e ampliar a
oferta do crdito bancrio quando no h certeza jurdica. Mais do que urgente, a reflexo acerca
31
Arnoldo WALD e Jairo SADDI. Agenda perdida para baixar os juros. Valor Econmico. 06/03/2003. pg. B2
56
desses temas, por parte de juristas e economistas, num dilogo construtivo com o Poder Pblico, deve
ser motivo de decidida ao para o desenvolvimento que pretendemos para o nosso pas.
57
58
Saiba Mais: O Acordo da Basilia
O primeiro Acordo de Capitais da Basilia foi firmado em 1988, entre pases
originrios do antigo Comit de Regulao Bancria e Prticas de Superviso
formado em 1974 (Sua, Alemanha, Blgica, Frana, Reino Unido, Irlanda do
Norte, Itlia e Japo), e representados pelos seus respectivos bancos centrais. O
Acordo tinha como objetivo a definio e padronizao de normas de controle e
fiscalizao das instituies financeiras, a fim de reduzir os riscos incorridos no setor
financeiro e preservar sua estabilidade, em mbito nacional e internacional.
32
Assim, estabeleceu-se um guia de recomendaes (International Convergence of Capital
Measurement and Capital Adequacy ou Convergncia Internacional para Medidas e
Adequao de Capital) a ser seguido pelas autoridades locais encarregadas de
supervisionar as atividades das instituies financeiras. Tais recomendaes
voltavam-se para a adoo de um modelo de controle que tinha como princpio
fundamental o estabelecimento de padres mnimos de capital e patrimnio lquido,
em funo do nvel de risco das operaes ativas.
33
O Acordo de 1988 fixou um critrio de ponderao das operaes de emprstimo,
conforme o risco a elas relacionado. Nesse sentido, foi determinado que os bancos
mantivessem um patamar mnimo de 8% de reservas em capital contra os riscos de
crdito de seus ativos, aos quais seria atribudo um determinado peso. Por sua vez,
os emprstimos a corporaes receberam uniformemente o peso de 100%, isto , a
exigncia de reservas equivalentes a 8% do valor da operao, enquanto o peso
padro estabelecido para ttulos de dvida pblica de pases da OCDE foi de 0%.
34
32
O Acordo de Basilia insere-se no esquema da regulao prudencial a disciplinar os riscos bancrios. Por
meio desta so empregados mecanismos de controle ex ante que objetivam a proteo do pblico poupador e
o ambiente institucional em que se desenvolve a atividade bancria. Nesse sentido ver Jairo SADDI. Crise e
Regulao Bancria. So Paulo. Textonovo. 2001. pp. 94 e ss; idem. O Novo Acordo da Basilia. Revista de Direito
Bancrio e do Mercado de Capitais. Vol.6.n.20.2003. pp. 47 e ss.
33
Jairo SADDI. O Novo Acordo da Basilia op. cit.p.47
34
Ver nesse sentido, Otaviano CANUTO. Curvas, QIS e Glamour de Basilia. Valor Econmico. 08/10/02.
59
Embora o Primeiro Acordo da Basilia tenha representado um avano importante
para o sistema financeiro como um todo, ele recebeu intensas crticas, o que
despertou o debate acerca da possibilidade de alteraes no pacto original. Com
vistas a contornar referidas crticas que, em janeiro de 2001, o Comit da Basilia
de Superviso Bancria divulgou sua proposta para o Novo Acordo de Capitais
(Acordo da Basilia II). Este teve finalizada, em Maio de 2003, sua terceira e ltima
verso, que foi em seguida discutida pelos pases.
A ltima verso de Basilia II reflete sugestes oriundas dos setores financeiros, de
autoridades governamentais e regulatrias e de diversos outros organismos
interessados. Como conseqncia, o novo pacto prope maior flexibilidade na
determinao de critrios pelos quais os bancos podero fixar os seus requisitos de
capital.
35
Mantm-se, entretanto, a exigncia de uma reserva mnima de capitais em torno de
8%, quanto aos emprstimos bancrios, como tambm o sistema de padronizao
dos pesos das diferentes classes de ativos. Entretanto, para cada tipo de ativo
ttulos soberanos, emprstimos interbancrios, corporaes a diferenciao de
pesos de risco d-se conforme a classificao de risco (rating) feita por instituies
externas ao banco. Alm disso, o novo acordo encerra recomendaes para que as
autoridades de superviso bancria possam garantir a existncia de processos
internos para aferir a adequao de seu capital.
36
Por fim, o Acordo de Basilia II contm uma srie de orientaes destinadas a
incentivar a divulgao de informaes (disclosure), de forma sistemtica, como
tambm uma maior transparncia por parte das instituies bancrias, a fim de
disciplinar o mercado.
Formalmente apenas os bancos dos 13 pases membros do atual Comit de
Superviso da Basilia (Estados Unidos, Canad, Japo, Alemanha, Gr-Bretanha,
35
Jairo SADDI, op. cit.
36
idem ibidem.
60
Frana, Itlia, Holanda, Blgica, Sucia, Sua, Luxemburgo e Espanha) so
obrigados a adotar as novas regras. Porm, especula-se que o Brasil e dezenas de
outros pases devero incorpor-las, pois a observncia das mesmas constitui
condio indispensvel para a admisso de um stardard mnimo de proteo e bom
funcionamento do mercado.
61
12.11 GLOSSRIO
Disclosure: abertura ou disponibilizao de informaes, para fins de maior
transparncia das instituies do sistema financeiro;
Risco Sistmico: quebra generalizada dos bancos capaz de comprometer a estabilidade
e eficincia do sistema como um todo.
Spread bancrio: diferena entre a taxa de captao e a taxa de emprstimo praticadas
pelos bancos, isto , diferena entre o montante pago pelo banco ao depositante e o
valor cobrado pelo banco ao devedor.
Custo Operacional: consiste no custo incorrido para o funcionamento do banco, o que
engloba desde os custos de manuteno de agncias, pessoal e segurana, entre
outros, at custos relativos a contingncias legais.
Sigilo Bancrio: trata-se de importante principio a disciplinar o sistema financeiro nos
pases e diz respeito s informaes dos valores depositados ou aplicados, sacados
ou pagos pelos cidados, as quais devem ser resguardadas pela proteo
privacidade.
Intermediao financeira: trata-se da transferncia de recursos dos agentes econmicos
superavitrios para os deficitrios, permitindo a concesso de crdito para quem
dele precise para a satisfao de necessidades em um determinado momento.
62
7.9 Estudo de casos
Leia o artigo abaixo e depois siga o roteiro para discusso.
Direcionamento de crdito no soluo
Gustavo Loyola - Fonte: Valor Econmico, 30 de Junho de 2003
As medidas anunciadas pelo governo na semana passada para incentivar o microcrdito contm algumas
impropriedades que podero repercutir negativamente no funcionamento do mercado financeiro, at mesmo
prejudicando o objetivo de aumentar a oferta de crdito na economia brasileira.
O aspecto mais negativo das medidas, sem dvida, a ressurreio da obsoleta idia do direcionamento de
crdito, sob forma de um "incentivo" para os bancos comerciais destinarem recursos para o microcrdito, em
contrapartida reduo das exigibilidades de recolhimento compulsrio sobre os depsitos vista.
Esse tipo de mecanismo j foi tentado vrias vezes no Brasil e, em todas as oportunidades, os resultados
foram pfios. Na maioria dos casos, os bancos simplesmente se utilizaram desse "incentivo" para estender
emprstimos e financiamentos para pessoas fsicas e jurdicas que j eram seus muturios. Freqentemente, os
bancos se aproveitaram do menor custo atribudo a essas linhas para reduzir a inadimplncia em suas carteiras
de crdito, refinanciando muturios em atraso. Ou seja, esses mecanismos jamais criaram oferta adicional de
crdito, no mximo serviram para reduzir o custo do crdito para alguns privilegiados clientes preferenciais
dos bancos comerciais.
Alm disso, a criao de linhas de crdito com taxas inferiores s de mercado gera habitualmente situaes de
excesso de demanda, provocando filas de interessados que so selecionados por meio de mecanismos como o
da exigncia de "reciprocidade" ou atravs de critrios no tcnicos.
Um caso exemplar o do crdito rural, segmento em que h um excesso de demanda estrutural e no qual o
racionamento da demanda se d freqentemente pela exigncia de contrapartidas do muturio mediante a
aquisio de outros servios financeiros ofertados pelos bancos.
Por outro lado, a vinculao dos recolhimentos compulsrios a polticas de fomento totalmente inadequada,
pois cria precedente para reivindicaes de grupos organizados da sociedade por linhas favorecidas de
crdito, o que pode levar ao total desvirtuamento desse importante instrumento de poltica monetria. Alis,
essa tem sido a tendncia histrica no Brasil, em que so comuns demandas para destinao de recursos do
compulsrio para financiar pequenas e mdias empresas, crdito educativo etc. Essas demandas so
encorajadas pelo fato de o crdito rural j utilizar, por determinao legal, parte dos recursos vinculados aos
recolhimentos compulsrios sobre os depsitos vista.
Outro inconveniente a ser apontado o uso ineficiente dos escassos recursos humanos e materiais da rea de
superviso bancria do BC na ingente tarefa de fiscalizar o cumprimento das normas do direcionamento de
crdito. No caso em tela, segundo as notcias da imprensa, sero elegveis para se beneficiar da reduo do
compulsrio as operaes de crdito de valor inferior a um determinado teto, cujas taxas de juros sejam iguais
ou inferiores a 2% ao ms. de se imaginar o tamanho do contingente de supervisores do BC que dever
fiscalizar o cumprimento desses parmetros, para que eles sejam efetivos.
No custa nada recordar que as falhas de superviso bancria que contriburam para a crise bancria dos anos
1995/98 originaram-se, em certa medida, dos desvios de funo a que foi submetida por anos a fio a rea de
fiscalizao do BC, sobrecarregada por tarefas como a de verificar o cumprimento de normas de
direcionamento obrigatrio de recursos para o crdito rural e habitacional, alm de outras misses estranhas
funo de superviso bancria.
63
Um outro aspecto preocupante nas medidas anunciadas relaciona-se permisso para a constituio de
cooperativas de crdito abertas, isto , sem vinculao a segmentos profissionais ou econmicos. certo que
o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) trouxe um maior conforto para se liberalizar a abertura de
cooperativas, j que essas instituies no mais representam um risco de crdito direto para o BC, como
ocorria no passado. Entretanto, a fiscalizao rotineira do BC continua sendo necessria sob o aspecto
prudencial, para evitar prejuzos para os depositantes dessas instituies e o desvirtuamento dos objetivos das
cooperativas, o que deve adicionar presso sobre a rea de fiscalizao do BC, num momento em que h uma
aguda carncia de pessoal no Banco Central. Ademais, necessrio considerar que os benefcios esperados da
abertura de cooperativas do tipo Luzatti, em termos de aumento da oferta de crdito, no compensam os
riscos adicionais que esto sendo trazidos para o sistema financeiro.
Alm dessas preocupaes com relao ao contedo das medidas, no nos pareceu adequado o seu anncio
ter sido feito com tanta fanfarra pelo presidente da Repblica. Arriscou-se a imagem pblica do presidente na
divulgao de medidas que tero pouco efeito no conjunto da economia e que, no mximo, beneficiaro um
grupo restrito de brasileiros, o que pode gerar um sentimento de frustrao crescente na sociedade.
louvvel a preocupao do governo com a baixa oferta de crdito na economia brasileira e o alto spread
observado nas operaes bancrias. No entanto, as autoridades no devem perder de vista o fato de que essa
situao somente se reverter por fora de um processo de mudanas necessariamente longo e que contempla
medidas de diversas naturezas.
A tentativa de se apressar a soluo do problema, por meio de atalhos como o uso de recursos do
compulsrio, pode comprometer esse processo, no apenas por aumentar as distores do mercado de
crdito, como tambm por criar iluses passageiras de que o problema j est sendo resolvido.
Gustavo Loyola , doutor em economia pela EPGE/FGV, ex-presidente do Banco Central do Brasil,
scio-diretor da Tendncias Consultoria Integrada
a) A quem se destina o microcrdito ?
b) Quais so as suas vantagens frente aos emprstimos tradicionais ?
c) Por que o autor discorda do uso do mecanismo do direcionamento bancrio
para microcrdito ?
d) Voc concorda com o autor ?
Para pesquisar: voc j ouviu falar no livro O Banqueiro dos Pobres, de Muhammad
Yumus, So Paulo, Ed. tica, 2000. ? Leia a sinopse abaixo e depois d a sua
opinio se o conceito aplicvel :
Sinopse: Criar um banco para emprestar dinheiro aos pobres. Foi colocando essa
idia em prtica que Muhammad Yumus fundou o Banco Grameen, em
Bangladesh, destinado a oferecer um amplo servio de microcrdito para a
populao carente de seu pas. O sucesso foi to grande que logo se expandiu
para o mundo inteiro, mostrando-se no s uma operao vivel do ponto de
vista financeiro como um forte aliado no combate pobreza. Este livro conta a
histria desse sonho levado prtica, expondo s claras as idias de Yumus, que
em muitos aspectos vai contra os princpios tradicionais dos economistas. Longe
da frieza burocrtica dos financistas, seu ponto de vista valoriza o ser humano e
64
mostra-se atento vida e aos hbitos das pessoas, na nsia sincera por emancip-
las.
65
Resumo do Captulo
1. A noo de troca (intercmbio de bens) fundamental para explicar a
economia monetria. O papel do Direito nesse campo regulatrio e institucional,
ao estabelecer e organizar como os negcios sero concludos entre os agentes. A
criao de uma medida padro para intermediar as trocas como ocorreu no tocante
da moeda foi um dos grandes marcos do sistema capitalista. Como visto, a moeda
apresenta uma srie de vantagens: a divisibilidade em unidades, sua portabilidade e a
mensurao de valor de um determinado bem sujeito permuta entre indivduos.
Um sistema monetrio, em sua estrutura, composto por elementos especficos, tais
como uma unidade monetria, um padro de valor, uma lei monetria (que informa
uma sua disciplina especial) e agentes econmicos (poupadores, tomadores e
intermedirios).
2. Quanto ao sistema financeiro, enfatizou-se a importncia de regras estveis,
eficientes e aplicveis na criao de uma ambiente institucional propcio e favorvel
ao desenvolvimento econmico, ao investimento e poupana. As decises
tomadas nesse campo so mais seguras quanto maior for a confiana nas regras do
jogo. A existncia de um sistema financeiro confivel permite reduzir custos de
transao e criar valor para o poupador em seu investimento. A concorrncia
tambm estimula a oferta de crdito e de produtos e servios financeiros para o
pblico tomador e consumidor.
3. A noo de sistema financeiro, como conjunto de instituies que facilitam e
disciplinam a circulao e a transferncia de riquezas tambm vem associada aos
princpios que o informam, orientados pelo escopo de proteo do cidado: o
princpio da proteo da mobilizao da poupana nacional, o princpio da proteo da economia
popular, o princpio da estabilidade da entidade financeira, e o princpio do sigilo bancrio e o
princpio da proteo da transparncia de informao. Quaisquer opes de poltica
legislativa que estejam relacionadas ao sistema financeiro devem levar em
considerao tais princpios, que aparecem, igualmente, em inmeras leis brasileiras.
4. Quanto s funes do Sistema Financeiro Nacional, destacou-se a
importncia da intermediao financeira, que diz respeito, em ltima anlise,
transferncia de recursos dos agentes deficitrios para agentes superavitrios. Esse
66
movimento de bens ocorre a partir dos indivduos que tm recursos disponveis
para aqueles que destes precisam. Negcios jurdicos bancrios - que no trnsito
econmico so freqentemente conhecidos como operaes-, constituem
instrumentos indispensveis para concretizar tal funo do sistema financeiro
nacional. Assim nascem as operaes envolvendo o crdito. Uma outra importante
funo a transmutao de recursos: as instituies financeiras conseguem transformar
ativos lquidos advindos do patrimnio de um determinado agente, superavitrio,
em obrigaes de longa durao a serem assumidas por tomadores, alterando, com
isso, os juros devidos, condies de risco do negcio etc. Uma terceira funo do
sistema financeiro a de estabelecer a compensao entre agentes, valendo-se, para tanto,
de procedimentos de transferncia de fundos, liquidao de obrigaes e de
pagamentos.
5. No que concerne ao desempenho das funes do Sistema Financeiro
Nacional, destaca-se o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Ele pode ser descrito como o
conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e sistemas operacionais integrados,
empregados para transferir fundos de um determinado pagador para outro
determinado recebedor. Fala-se nos riscos existentes nas operaes envolvidas no
Sistema de Pagamentos Brasileiro, presentes em qualquer outro sistema de
pagamentos: operacionais, legais e financeiros (de crdito ou de liquidez).
6. Quanto regulao dos mercados financeiros, existe uma preocupao
institucional do Estado em reduzir os prejuzos decorrentes das falhas de mercado.
Existir um impulso racional e proclamado da regulao, assentado no objetivo conjunto
de maximizao das eficincias econmicas e de proteo do interesse pblico,
especialmente nas situaes em que o mercado no funciona a contento.
Nessa rea
em especial, o bem jurdico a confiana do agente poupador nas instituies, na
estabilidade da moeda e na certeza jurdica relativamente execuo das obrigaes.
Como examinado, o Direito aqui desempenha um papel de estmulo e traz normas
indicativas baseadas em objetivos de poltica legislativa de estabilidade, eficincia e
eqidade.
7. Igualmente, a tarefa da regulao bancria consiste em evitar crises sistmicas
e quebra generalizada de bancos, por um lado, e a garantia de funcionamento
normal e eficiente das instituies, por outro. A idia clara: a ao do Estado no
67
visa impedir a quebra, mas sim evit-la, o que faz com o que ele atraia para si uma
responsabilidade pela regulao dos mercados financeiros. Instituies bancrias so
especiais por vrias razes, como visto, por estarem intimamente ligadas ao
destinatrio das relaes de crdito - o tomador/poupador/consumidor-, por serem
participantes ativas nos meios de pagamento e porque os riscos de uma insolvncia
bancria podem dar ensejo a uma crise sistmica e, assim, alastrarem-se pela
economia. Bancos so especiais, tambm, em funo da a natureza incompleta dos
contratos bancrios: celebram contratos lquidos e certos de depsito, por um lado,
e emprestam de modo incerto a um conjunto potencial de tomadores de crdito,
por outro.
8. Importante ressaltar que as justificativas de regulao financeira esto no
objetivo de democratizao do acesso ao crdito, seja de forma direcionada, seja
por subsdio, seja por critrios de exigibilidade bancria determinados pelo Banco
Central. Do ponto de vista do consumidor (e cidado), trata-se de protge-lo do risco
desmedido; do ponto de vista sistmico, pretende-se garantir a eficincia, por meio da
reduo dos custos de informao, especialmente ao incrementar a transparncia nas
informaes bancrias; e do ponto de vista concorrencial, garantir que no haver
competio predatria ou monopolstica, e que, nas relaes bancrias, os agentes
sero tratados de forma igual.
9. A oferta de crdito, como funo elementar de um sistema financeiro,
decorrente da poupana feita por alguns agentes, que a transferem a outros, que dele
necessitam para satisfazer necessidades de consumo imediatas. Como visto, os
bancos so uma das principais peas do sistema financeiro, com suas atividades
negociais dispostas em duas categorias bsicas: o exerccio do crdito (aquelas essenciais
funo que prpria dos bancos - coleta de capitais juntos aos poupadores e
conseqente distribuio aos tomadores) e servios bancrios, (a intermediao de
recursos dos agentes deficitrios para os superavitrios e a manuteno de contas-
correntes, administrao de recursos de terceiros, servios de caixas eletrnicos).
10. A oferta de crdito tambm est associada aos juros, que simbolizam,
fundamentalmente, o custo do dinheiro, ou o direito do credor no tempo, ou ainda, um
pagamento pelo sacrifcio incorrido pelo credor por ter se desfeito,
momentaneamente, de parcela de seus bens (no caso, dinheiro) em favor do
68
devedor. Os juros se constituem com base no valor da prestao e no lapso
temporal em que a dvida permanece. Podem ser classificados em remuneratrios ou
moratrios: os primeiros so convencionais e os segundos, advindos do
retardamento indevido (atraso ou mora) do cumprimento da obrigao. Apresentam
uma srie de variveis: o custo bsico do dinheiro, os custos das restries monetrias, custos
operacionais e custos fiscais.
11. Como examinado, a economia brasileira apresenta uma alta taxa de juros e
pequena oferta de crdito bancrio. Essa oferta no se multiplica simplesmente por
meio de polticas econmicas de direcionamento do crdito ou da intensificao de
exigibilidades bancrias. Nos ltimos anos, o governo brasileiro empreendeu
tentativas frustradas de aumento de oferta de crdito, tais como o crdito
consignado em folha de pagamento e o microcrdito. Uma das opes seria
justamente a de incrementar os mecanismos de garantia, pessoais e reais, dos
negcios envolvendo crdito, a efetividade na sua execuo em juzo (o que remete
questo da a eficincia do Judicirio). Sabe-se que a ausncia de um sistema
eficiente de execuo de garantias impossibilita alcanar avanos em relao
proteo, cobrana e execuo do crdito bancrio.
12. Finalmente, deve-se observar que pouco avanou a questo da aplicao do
Cdigo de Defesa do Consumidor aos contratos bancrios. A Resoluo BACEN
n 2.878/2001 sobre os procedimentos a serem observados pelas instituies
financeiras quanto aos contratos celebrados e prestao de servios pelos bancos
no concretizou o objetivo de harmonizao das relaes estabelecidas com o
pblico tomador/consumidor. O expediente da reviso judicial com escopo de
reduo da onerosidade excessiva de determinados contratos bilaterais
(freqentemente utilizado no mbito do direito bancrio) traz efeitos adversos
execuo dos contratos bancrios, aumentando os juros e a incerteza para os
agentes econmicos. As autoridades monetrias que teriam condies de regular a
poltica de juros, que independem de decises judiciais.
Exerccios sugeridos
69
1. Estabelea uma relao comparativa entre os objetivos de poltica monetria
e de regulao, pelo Direito, das instituies dos mercados financeiros.
2. Aponte algumas das conseqncias decorrentes do inadimplemento dos
contratos bancrios, analisando, para tanto, os elementos relativos confiana das
partes envolvidas, vinculao intersubjetiva e durao das obrigaes. Em sua
resposta, procure contemplar critrios de pesquisa doutrinria e jurisprudencial.
3. A partir dos princpios informadores do Sistema Financeiro Nacional,
encontre, nas normas da Lei 4.596/64, referncias que tenham contemplado
objetivos de poltica legislativa a eles relacionados. Verifique, ainda, em que medida
o bem jurdico tutelado, a confiana dos poupadores, tenha encontrado tutela
naquele diploma legal.
4. Analise as formas de atuao do Estado no tocante regulao do sistema
financeiro, as conseqncias do ponto de vista institucional (desejveis e
indesejveis) delas decorrentes, associando-as especialidade das instituies
financeiras.
5. Explique algumas das operaes realizadas pelos bancos (comerciais,
mltiplos e de investimentos), enquadrando-as como ativas e passivas. Procure
verificar, em sistemas comparados (e.g. brasileiro, norte-americano e europeus)
como so classificados os bancos, se existe coexistncia entre as modalidades ou
unificao das mesmas.
6. Analise a questo da oferta do crdito e a funo dos juros a ela associada.
Quais seriam os limites de uma interveno judicial nos negcios celebrados entre
os bancos e os clientes e os impactos dela decorrentes sobre a estabilidade dessas
relaes? Para a resposta, considere as particularidades dos juros, a competncia das
autoridades na regulao do sistema bancrio e os custos existentes.
7. Utilizando ferramentas de pesquisa na Internet, especialmente na base de
dados do Banco Central e BNDES, alguns nmeros sobre a relao entre PIB e
crdito direto ao consumidor e crditos direcionados (rural, habitacional e micro-
70
empresa). Verifique, igualmente, as variaes dos spreads bancrios observados nos
ltimos cinco anos no pas.
8. Considere a aplicao do Cdigo de Defesa do Consumidor nos contratos
bancrios como tem sido estabelecida nos ltimos anos pelos tribunais brasileiros.
Que tipos de negcios poderiam ser coerentemente enquadrados no mbito de
proteo daquela lei? Estabelea critrios de interpretao normativa, analisando a
importncia da disciplina geral dos contratos no Cdigo Civil de 2002 e as
particularidades dos contratos bancrios. Observe as diferenas existentes entre
servios prestados pelos bancos e os contratos unilaterais relativos intermediao
financeira por eles celebrados com os clientes.
Sugesto de leituras
CANARIS, Klaus W. e HUECK, Alfred. Derecho de los Ttulos Valor. Barcelona: Ariel.1988
COOTER, Richard e ULEN, Thomas. Law and Economics. 4
th
th Edition. New York:
Pearson Education. 2003.
COVELLO, Srgio Carlos. Contratos bancrios. 3ed.rev. So Paulo: Leud, 1999
LOSS, Louis e SELIGMAN, Joel, Fundamentals of Securities Regulation. 5
th
ed. New
York: Aspen Publishers. 2003
MACEY, Jonathan R, MILLER, Geoffrey P e CARNELL, Richard S. Banking Law
and Regulation. 3
rd
edition. New York: Aspen Publishers, 2001
MELO FRANCO, Afonso Arinos, Histria do Banco do Brasil: histria financeira do Brasil desde
1808 at 1951. Rio de Janeiro: Banco do Brasil. 1979.
REED, Edward e GILL, Edward. Bancos Comerciais e Mltiplos. So Paulo: Makron
Books. 1995.
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de Crdito Bancrio, 4edio. So Paulo: RT, 2003.
ROBERTSON, Dennis Holme. Moeda. 3 edio. Rio de Janeiro: Zahar. 1969.
SADDI, Jairo. Crise e regulao bancrias. So Paulo: Texto novo, 2001. (prefcio de Ren
Garcia Jr.)
71
SUSNTEIN, Cass R. Free Markest and Social Justice. New York/Oxford: Oxford Press.1999
WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism. New York: Free
Press. 1987.
1
CAPTULO XIII: MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
13.1 As polticas legais e pblicas do mercado de trabalho
13.2 A evoluo do Direito do Trabalho: A era Vargas
13.3 Principais linhas e princpios constitucionais do Direito do Trabalho
13.4 Por que reformar ?
13.5 Emprego e empregabilidade: os principais desafios.
13.6 Resumo do Captulo
13.7 Glossrio
13.8 Sugesto de leituras
13.9 Exerccios
2
Getlio Vargas estabeleceu um governo de meias medidas, para um povo adepto
do mais ou menos; um governo oportunista para um povo instvel: um governo que
pouco mandava, para um povo que pouco obedecia. Foi, sucessivamente,
positivista, liberal, ditador sem idias ntidas, social-democrata, fascista, socialista.
Mudava de idias conforme os ventos.
Frase atribuda a Dario Abranches Viotti.
O populismo inaugurado por Getlio Vargas se definiu pela associao intima
entre trabalhismo e projeto de industrializao. O trabalhismo, como promessa de
proteo dos trabalhadores por um Estado paternalista no terreno litigioso entre
patres e empregados. O projeto de industrializao como interesse comum entre
burgueses e operrios. O populismo foi a forma de hegemonia ideologia, por meio
do qual a burguesia tentou e obteve em elevado grau o consenso da classe
operria para a construo da nao burguesa.
Jacob GORENDER. Combate nas Trevas. So Paulo: Ed. tica, 1987.
13.1 As polticas legais e pblicas do mercado de trabalho
O cenrio das relaes trabalhistas que vamos desenvolver no presente captulo
abarca os seguintes elementos que caracterizam as polticas legais e pblicas do
mercado de trabalho: os princpios que o Direito busca proteger, o regime vigente
para o Direito do Trabalho nos dias de hoje, a empresa empregadora, o trabalhador
empregado ou assim considerado, o movimento sindical e o processo de negociao
trabalhista.
3
Antes, algumas definies se fazem necessrias para que se possa melhor
compreender o tema trabalho, e ele se inicia com o inegvel fato de que o homem
precisa de bens e servios de terceiros para viver em comunidade.
Iniciemos com os fatores de produo. A produo de bens e servios resulta da
ao conjunta de quatro fatores: a natureza, o trabalho, o capital e o empresrio.
Segundo Carlos Galves
1
, dos quatro, o mais fundamental o trabalho, pois, o uso
da natureza sempre o pressupe, e o capital resulta de sua ao. O empresrio
realiza uma forma superior de trabalho e por isso recebe um tratamento diferente.
O primeiro fator de produo, a natureza, significa um conjunto dado de recursos,
energia e matrias primas, obviamente com os quais, os outros fatores de produo
interagem; alis, h um espao determinado onde tal exerccio ocorre, uma geografia
determinada que compreende o solo, o subsolo, as massas lquidas do mar e dos
rios, a atmosfera, a fauna e a flora.
O segundo fator de produo o trabalho. Segundo Galves, o trabalho, no sentido
econmico, a atividade humana que tem por objetivo a criao de utilidade, sob a
forma de coisas teis ou de prestao de servios teis, uns e outros servindo para o
consumo ou para a produo. Todas as outras atividades humanas, destitudas desta
finalidade, no so trabalho: o esporte, a arte, etc.
2
Uma segunda (e talvez mais
simples) definio de trabalho pode ser o somatrio de tempo, energia e dedicao
pessoal que um homem presta a outro, com vistas a receber, em trocam uma
recompensa financeira, ou material, ou um mix de ambos, que lhe permite atender
s suas necessidades pessoais e sociais.
3
1
Manual de Economia Poltica Atual. Atualizada por Galeno LACERDA. So Paulo : Ed. Forense, 15ed. pg. 70
2
Idem, ibidem. pg. 89
3
Jean Pierre MARRAS. Relaes trabalhistas no Brasil. Administrao e estratgia. Futura, 2001, pg. 3
4
O terceiro fator de produo o capital. Partindo-se do senso comum, o capital o
acmulo de dinheiro para produo ou para a poupana. Em sentido mais tcnico, o
capital o que se aplica na produo de outros bens econmicos e no no seu
consumo. O capital um tipo de bem econmico sui-generis, j que pode se revestir
de diversas classes: pode ser bens heterogneos (terrenos, edifcios etc.), bens
indiretos; bens intermedirios, bens transformveis, bens reprodutveis.
4
O ltimo fator de produo o empresrio. claro que os demais fatores, a natureza,
o trabalho e o capital, por si s no produzem nada. o empresrio quem combina
estes fatores de produo com um certo objetivo e com um mpeto de coloc-los
em atividade e o faz ao seu prprio risco. O Cdigo Civil assim o define no artigo
966: Considera-se empresrio quem exerce profissionalmente atividade econmica organizada para
a produo ou a circulao de bens ou servios.
Isto posto, podemos entender o trabalho como uma mercadoria que se compra e se vende.
O processo de mercantilizao do trabalho, no sentido de que o trabalho se
transforma em produto que pode ser comprado e vendido num determinado
mercado foi descrito por Karl Marx como mercadoria fora de trabalho. Ele
explicitava que o trabalho contm um elemento essencial de valor contido que o
trabalho e que o empregador que vende qualquer mercadoria, vende o valor-
trabalho nele contido, mas apropria-se de uma parcela conhecida como mais-valia.
Partindo da teoria do valor, exposta por David Ricardo, Marx postulou que o valor
de um bem determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessrio para
sua produo. Segundo Marx, o lucro no se realiza por meio da troca de
mercadorias, que se intercambiam geralmente por seu valor, mas sim em sua
produo. Os trabalhadores no recebem o valor correspondente a seu trabalho,
mas s o necessrio para sua sobrevivncia. O conceito da mais-valia, que est
descrito abaixo pode ser resumido a diferena que existe entre o valor incorporado a
um bem e a remunerao do trabalho que foi necessrio para sua produo.
4
Carlos GALVES. op. cit. pg. 103
5
Tal como Ricardo, Marx acreditava que o valor de troca dependia da quantidade de
trabalho despendida; contudo, a quantidade de trabalho que entra no valor de troca
a quantidade socialmente necessria (quantidade que o trabalhador gasta em mdia
na sociedade, e que, obviamente, varia).
Como fcil depreender, em toda e qualquer das definies acima e da prpria
influncia do pensamento marxista no Sculo XXIX, h uma discordncia
fundamental entre a empresa empregadora e o homem empregado que o chamado
conflito capital trabalho. Esta diferena classista tornou-se, paradoxalmente, um dos
mais importantes pilares do capitalismo, ao mesmo tempo que o seu maior
desafio: a empresa empregadora quer o lucro para o seu acionista e o empregado
quer sempre ganhar mais, seja na forma de salrios, sejam benefcios indiretos. No
h nada de errado nesse conflito, ele apenas reflete a natureza humana, e a natureza
do capitalismo. Historicamente, contudo, o que se observa um certo pndulo que
o afasta do necessrio equilbrio das relaes sociais: ora oscila em favor do capital,
ora do trabalho.
Mais-Valia e o Marxismo: O que a mais-valia segundo o seu autor
Como nasce a mais-valia ? No brota da circulao, mas antes se realiza nela. Os
produtos so vendidos por seu valor, no por mais do que valem. O preo no
excede o seu valor. E, entretanto, mesmo sendo vendido pelo que valem, o
vendedor obtm uma mais-valia. Isto somente possvel por uma de duas razes:
ou porque no foi pago o valor integral pelo qual vende o produto ou porque este
encerra um elemento de valor no-pago pelo vendedor e no compensado por um
equivalente. O vendedor vende o que no comprou: isto o que ocorre com o
trabalho agrcola. Para Turgot, este elemento constitui um elemento gracioso da
natureza. Mas em seguida vamos ver que este dom gracioso se converte
subrepticiamente em trabalho excedente vendido pelo trabalhador agrcola e no
retribudo pelo latifundirio, que, entretanto, a vende ao vender os produtos da
terra.
Karl MARX. Teoria da Mais-Valia-Os Fisiocratas, Global Editora, 1982.
6
No Brasil, contudo, alm do conflito capital-trabalho, a relao trabalhista deve ser
enfocada por um terceiro aspecto que tambm ser abordado neste captulo. Trata-
se do papel do Estado, por meio dos encargos trabalhistas sobre os salrios, j que
uma parte de tais encargos, apropriada por ele, Estado. Portanto, o tema assume
igualmente uma ntida faceta fiscal e, do ponto de vista da Previdncia, responde por
um dos mais srios problemas do Estado Brasileiro. Por outro lado, mesmo que
possa estar claro que a reduo dos encargos trabalhistas deve ser um dos primeiros
passos para a reforma tributria mais ampla, alm dos demais impostos agregam
custo de transao, h um segundo aspecto igualmente importante: a informalidade.
Um dos principais impactos da atual legislao trabalhista empurrar o trabalhador
para a informalidade. Segundo dados mais recentes, a cada 10 empregos, 6 so
informais, ou seja, so empregos no registrados. Nestes empregos informais, onde
no incidem encargos sobre salrios, no h qualquer proteo legal, eliminando
importantes conquistas do trabalhador.
5
Numa primeira anlise, a informalidade do
emprego pode ser benfica tanto ao empregador quanto ao empregado, mas claro
que tal informalidade custa caro ao pas. Para se ter uma dimenso do custo da
informalidade econmica, segundo estudos da Consultoria Mackinsey e do Instituto
Etco, uma reduo de 40% na informalidade do trabalho poderia elevar a taxa de
crescimento do pais em at 3 pontos percentuais do PIB.
6
Isto porque o no-
recolhimento dos encargos trabalhistas pode at representar certo oxignio aos
preos praticados, j que uma economia de custos (estima-se uma vantagem de 20
at 40% sobre os preos praticados)
7
mas, por outro lado, derruba a produtividade,
os investimentos e o desenvolvimento da economia. Quem tem apenas um trabalho
temporrio, por exemplo, vive na incerteza; no h crdito, h falta de planejamento
mesmo do curto prazo, em outras palavras, a informalidade para o trabalhador o
5
Fonte: Mais eficincia com combate informalidade. O Estado de S. Paulo. 11-07-2004, pg. B-3.
6
Em www.etco.org.br
7
A estimativa de www.dieese.org.br
7
limbo. No entanto, do ponto de vista da empresa, muitas vezes, dobrar o custo da
folha de trabalho em razo dos encargos trabalhistas pode no ser uma opo
factvel. Simplesmente as pequenas e mdias empresas no tm condies de arcar
com tais custos. Os encargos trabalhistas neste sentido, so nocivos ao empregado,
a quem se almeja proteger, e ao empregador, que no consegue arcar com tais
custos.
Nem todos tm, contudo, a mesma percepo. Luiz Marinho, Presidente da Central
nica dos Trabalhadores (CUT) afirmou que essa conversa de reduo de encargos
trabalhistas uma cantilena idiota. Tem coisas para fazer, mas no a salvao da
lavoura.
8
uma viso completamente equivocada, alm de tola, como se
demonstrar aqui, pelo prisma de Law & Economics, exatamente porque reflete nos
incentivos errados ao desenvolvimento., A leitura do agente econmico pode ser
traduzida em mais ou menos a seguinte expresso: dado que a fiscalizao pblica
ineficiente e no h incentivos para cumprir as regras da legislao trabalhista, mais
interessante correr risco. Ou seja, mais caro contratar e registrar e seguir a lei no
segui-la. Quem a segue, repassa aos custos, reduzindo, no entanto, a
competitividade no mercado. Para o trabalhador, melhor ter um emprego informal
do que no ter emprego mesmo porque o Estado quem vai se apropriar das
diferenas pagas pelo empregador sem que o empregado possa materialmente
auferir qualquer benefcio. (Mesmo a sade pblica, na forma de servios do INSS
est protegida constitucionalmente a qualquer cidado).
Certo que Marinho pretende fortalecer o movimento sindical, o outro ator
importante no presente contexto, que no se confunde nem com o trabalhador (que
pretende representar) nem com o capitalista. Para ele, os sindicalistas querem
negociar primeiro uma reforma sindical que garanta a representatividade dos
sindicatos e depois discutir os encargos trabalhistas. Para reduzir a informalidade no
mercado de trabalho, o primeiro passo trazer as empresas para a legalidade. Quem
8
Fonte: Mais eficincia com combate informalidade. O Estado de S. Paulo. 11-07-2004, pg. B-3. Idem, ibidem.
8
no recolhe impostos no registra empregados. impossvel considerar a questo
do trabalho e da informalidade sem colocar a legislao trabalhista como o centro
das mudanas. Aqui, o Direito visto com o principal incentivo (ou desincentivo) a
contratar ou a no-registrar. Tome-se, por exemplo, salrios em qualquer folha de
pagamento. Para um salrio de R$ 100,00, o empregador paga, alm do salrio
nominal, quase o mesmo valor em encargos na forma de tributos ou depsitos.
Observada pontualmente essa questo, por exemplo, Jos Pastore
9
estabelece as
componentes do custo do trabalho no Brasil, conceito que compreende os
salrios, indenizaes e encargos sociais devidos pelas empresas. Com relao aos
ltimos, uma unidade fabril do setor industrial chegaria a um custo total de 101,99%
por empregado registrado, considerando-se todos os momentos da relao de
trabalho considerada (contratao, remunerao e resciso):
Grupo A
COMPONENTES DOS ENCARGOS INCIDNCIA (%)
Previdncia Social 20,0
Acidentes do Trabalho 2,0
FGTS 8,0
Salrio-Educao 2,5
Incra 0,2
SESI 1,5
SENAI 1,0
SEBRAE 0,6
Subtotal 35,8
9
Flexibilizao dos mercados de trabalho e contratao coletiva. So Paulo: LTr. 1994, pp.135 e ss.
9
COMPONENTES DOS ENCARGOS INCIDNCIA (%)
Repouso Semanal 18,91
Frias 9,45
Abono de Frias 3,64
Feriados 4,36
Auxlio-doena 0,55
Aviso Prvio 1,32
Subtotal 38,23
Grupo C
COMPONENTES DOS ENCARGOS INCIDNCIA (%)
13 Salrio 10,91
Resciso contratual 2,57
Subtotal 13,48
Grupo D
COMPONENTES DOS ENCARGOS INCIDNCIA (%)
Incidncia do FGTS sobre 13 Salrio 0,87
Incidncia cumulativa Grupo A/B 13,61
Subtotal 14,48
Total 101,99
Adriano Batista Dias
10
ilustra a percepo do sistema: o vis que os encargos sociais
e trabalhistas representam contra o trabalho, encarecendo-o e fazendo-o arcar, do
ponto de vista econmico, com os supostos benefcios, mesmo os conseguidos
atravs de rduas lutas sindicais, pode ser reduzido se parte dos direitos e vantagens
sociais e trabalhistas tm mudada a fonte de financiamento, passando-a dos
encargos que incidem sobre a folha de pagamento para uma fonte cuja incidncia
econmica ltima seja no enviesada contra o trabalho.
10
Adriano B. DIAS. Custos de produo e direitos trabalhistas. Diponvel on-line em http://www. Fundaj.gov.br
10
Um simples demonstrativo, como acima indicado, revela que melhor manter o
empregado na informalidade (e arcar com os riscos de uma fiscalizao) do que
onerar os seus custos produtivos e operacionais. O incentivo informalidade to
intenso entre as pequenas e mdias empresas, que quase 98% das empresas
brasileiras em nmerooptam por permanecer na informalidade e, assim, conseguir
sobreviver num mercado cada vez mais difcil.
11
Por exemplo, a contribuio patronal ao INSS, a seguridade social, atualmente
incidente alquota de 20% sobre salrios. Por ser uma contribuio obrigatria a
todos, ela onera com mais vigor as empresas com mo de obra intensiva, setores
nos quais a folha de pagamentos representa uma maior parcela dos custos ou
insumos do produto final. Ora, tais indstrias de mo-de-obra intensiva, em geral,
operam com baixa tecnologia, ou seja, a maior parte das mdias empresas. A
seguridade social acaba, assim, exercendo um papel perverso de afastar o
trabalhador de seu emprego, ao invs de proteg-lo.
Um segundo aspecto que merece ser levado em considerao o carter universal
de nossa legislao. Ao mesmo tempo em que se espera a aplicao da lei nas
grandes metrpoles e nas minsculas cidades do interior, desprezando as imensas
disparidades regionais entre elas, nosso sistema ignora as particularidades de cada
indstria e de cada setor da economia. Assim, um trabalhador da construo civil
para usar o exemplo de Edward Amadeo
12
, tratado da mesma forma que um
trabalhador da indstria siderrgica, apesar de terem perfis completamente
diferentes pela natureza fabril de cada uma destas atividades.
11
Ver Governo deve rever para cima previso para criao de empregos formais. In Valor Econmico. 02/07/2004; e de
Armando Castelar PINHEIRO, Informalidade: maior e pior do que parece. In Valor Econmico. 23/07/2004.
12
Cf. artigo transcrito no final do presente captulo.
11
guisa de introduo, os grficos a seguir apresentados trazem algumas imortantes
informaes sobre o mercado de trabalho e justificam a abordagem do tema que
estamos a tratar no presente item:
a) Populao Brasileira X Populao Economicamente Ativa
Fonte: para populao residente:
http://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_1980_2010/Estimativas_e_taxas_1980_2010.zip, extrado em
13/04/2004.
Para populao economicamente ativa: microdados da Pequisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE); D-ROM, World Bank.
Elaborao: Coordenao-Geral de Indicadores - Ministrio da Cincia e Tecnologia.
Notas: (1) os valores foram corrigidos pela projeo da populao do IBGE para 1 de julho;
(2) exclusive a populao rural de Rondnia, Acre, Amazonas, Roraima, Par e Amap.
b) Trabalhadores com registro em carteira
Perodo (Anual/ms 12) Populao empregada
setor privado RMs
com registro (%)
Populao empregada
setor privado RMs
sem registro (%)
2001 60.4 23.7
2002 62.0 21.6
2003 59.5 24.6
Fonte: IPEA
Ano Populao residente x
1000 (1)
PEA x 1000 (2)
1990 147.594 64.500
1991 149.926 ...
1992 152.227 72.959
1993 154.513 73.986
1994 156.775 ...
1995 159.016 77.394
1996 161.247 76.420
1997 163.471 78.750
1998 165.688 81.140
1999 167.910 83.043
2000 170.143 77.467
2001 172.386 84.726
2002 174.633 87.542
12
c) ndice de rendimento mdio anual no setor privado por setor da economia
d) Custo da Mo-de-Obra no Brasil e no Mundo
PAS PAGTO POR HORA
Noruega 21.50
Alemanha 21.30
Sucia 20.93
Sua 20.66
Finlndia 20.59
Blgica 18.89
Dinamarca 18.74
Holanda 18.60
ustria 16.92
Itlia 16.29
Canad 15.94
Frana 15.25
Estados Unidos 14.83
Austrlia 12.98
Japo 12.84
Gr-Bretanha 12.42
Espanha 11.60
Irlanda 11.44
Nova Zelndia 8.33
Coria 4.16
Taiwan 3.98
Cingapura 3.78
Portugal 3.57
Hong Kong 3.20
13
Brasil 2.79
Mxico 1.85
Fonte: Convnio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convnios regionais/
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaborao: DIEESE
e) Jornada Semanal de Trabalho (Limite de Horas trabalhadas)
PAS HORAS
Dinamarca 31.80
Espanha 36.70
Austrlia 38.10
Canad 38.20
Frana 38.70
Israel 38.90
Alemanha 9.50
Estados Unidos 40.80
Japo 40.80
Gr-Bretanha 41.60
Brasil 44.00
Chile 44.90
Coria 49.80
Fonte: Convnio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convnios regionais/
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaborao: DIEESE
f) Taxas de Desemprego Grande So Paulo
ANO TOTAL (%) ABERTO(%) OCULTO (%)
1998 18,2 11,7 6,5
1999 19,3 12,1 7,2
2000 17,6 11,0 6,6
2001 17,6 11,3 6,3
2002 19,0 12,1 6,9
2003 19,9 12,8 7,1
2004/jan 19,1 11,9 7,2
2004/fev 19,8 12,6 7,2
2004/mar 20,6 13,3 7,3
2004/abr 20,7 13,2 7,5
2004/jun 19,7 12,3 7,4
2004/jul 19,1 11,8 7,3
Fonte: Convnio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convnios regionais/
14
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaborao: DIEESE
13.2 A evoluo do Direito do Trabalho: A Era Vargas
A Constituio, como vimos, a norma jurdica fundamental que contm todos os
valores considerados pela nao como sendo elementares sociedade. Claro, o
trabalho foi um dos valores sempre consagrados como um dos mais importantes
para a vida social, tanto por ser o principal fator de produo (sem o qual os outros
no existem, como j afirmamos) mas tambm por ser um elemento de coeso
social. No entanto, foi a histria que moldou tal concepo. Para entender melhor
os princpios que norteiam o nosso sistema atual, preciso revisitar um pouco a
histria e entender a evoluo do Direito de Trabalho, sob a inspirao de Getlio
Vargas.
Com a alegao de que, diante da crise mundial provocada pelo Crash de 1929, era
necessrio a continuidade de sua poltica econmica, a candidatura Jlio Prestes,
apoiada pelo ento Presidente Washington Lus, provocou a ruptura do sistema
oligrquico de ento.
13
Surgiu contra So Paulo a Aliana Liberal, que recusou a
contagem dos votos e a pretensa vitria do candidato paulista. Apoiados pelo
Movimento Tenentista, uma Junta Militar comandada pelos Generais Augusto
Tasso Fragoso e Joo de Deus Mena Barreto, alm do Contra Almirante Jos Isaias
de Noronha, depuseram o Presidente Washington Lus, poucos dias antes do
trmino do mandato e com isso, ascendeu ao Governo, Getlio Vargas, em 24 de
Outubro de 1930. No era apenas o presidente que mudava, mas uma era, um pas.
O primeiro decreto anunciou que o governo seria uma ditadura.
14
Revoltosos e vitoriosos, Getlio Vargas passou a sofrer todas as presses e
compromissos que o levaram ao poder. So Paulo, desgostoso de ter sido excludo
13
Para melhor entender a poltica caf-com-leite, vide de Thomas SKIDMORE. De Getlio castello..
14
Hernani DONATO. Brasil. 5 Sculos. Academia Lusada de Cincias, Letras e Artes. pg. 350.
15
do governo e desejando um civil e um paulista no Estado, tentou um contra-golpe
na Revolta, em 1932, para exigir uma Assemblia Constituinte.
15
Sem munio ou
treinamento, o General Gis Monteiro teve relativa facilidade ao esmagar a revolta e
retirar, do Palcio dos Campos Elseos, o Governador Pedro de Toledo. Abria-se,
assim, a possibilidade de adeses polticas a fim de estabelecer uma srie de direitos
sociais do trabalho que inspirados pela Constituio de 1891, dariam muito mais
poder ao Estado e ao Chefe de Governo.
A origem desses direitos sociais de 1934, onde pela primeira vez, incluiu-se um
captulo denominado ordem econmica e social e l que o trabalho aparece, pela
primeira vez, com um importante valor da sociedade. Pela primeira vez tambm,
aparece a organizao do trabalho e do trabalhador.
16
Paradoxalmente, no entanto, a
Carta de 1934 tinha duas vertentes de inspirao: o corporativismo e o pluralismo
sindical. Conforme explica Amauri Mascaro Nascimento
17
, o corporativismo est
expresso na organizao do Poder Legislativo, com a presena, no processo de
elaborao legislativa, ao lado da representao poltica, da representao
profissional e econmica, de modo a acrescentar na Cmara dos Deputados, alm
dos representantes eleitos por sufrgio universal, os deputados classistas,
representando as foras produtivas, o capital e o trabalho. J a vertente do
pluralismo sindical est no fato de pela primeira vez, o reconhecimento dos
sindicatos e das negociaes profissionais que foram erigidos a condio de poltica
de estado.
Sem dvida, o pioneirismo cabe Constituio de 1934 que acabou por introduzir
importantes mudanas em matria trabalhista no Brasil, tais como a indenizao e o
15
A liderana poltica unia-se ao movimento de oposio por desejo de vingana contra os revolucionrios
que haviam impedido a posse de Jlio Prestes, o porta-estandarte do PRP. Eles enfatizavam a invasode
So Paulo por forasteirosapelando assim para o forte orgulho regionalista compartilhado pela classe mdia
e pelos polticos da velha guarda.Thomas SKIDMORE. Brasil: De Getlio Castelo. So Paulo: Ed. Paz e
Terra, 1985, pg. 35.
16
Sobre a perspectiva histrica do tema no Brasil, ver importante trabalho de Antonio Ferreira CESARINO
JR. Direito social brasileiro. 6
a
edio ampliada e atualizada. So Paulo: Saraiva 1970. pp.79 e ss
17
. Direito do Trabalho na Constituio de 1988. So Paulo : Saraiva, 1991, 2ed. pg. 8
16
princpio da regulamentao do exerccio da profisso. Temas como isonomia
salarial, jornada de trabalho, proibio de trabalho noturno para menores de 18 anos
e mulheres, foram algumas das novidades introduzidas por Vargas.
Warren Dean, que estudou a industrializao de So Paulo, descreveu um cenrio
sombrio do ambiente de trabalho nas fbricas que nasciam. Mal iluminadas, mal
ventiladas, muitas nem tinham sanitrios; metade dos trabalhadores tinha menos de
18 anos de idade e muitos deles menos do que 14; o salrio mdio pago nos
primrdios da industrializao era pfio. Getlio era sensvel a respeito desse trao
arcaico da economia brasileira e tinha um real desejo de mudana. Ele amadureceu
politicamente no Rio Grande do Sul, Estado em que um caudilho, Jlio de
Castilhos, editou algumas das primeiras normas trabalhista do pis, ainda no sculo
XIX.
18
Sedimentado no poder e tendo esmagado a oposio, Vargas abriu caminho para se
perpetuar no poder, num regime autoritrio respaldado pelo Exrcito. A
Constituio de 1937, tambm promulgada por Vargas, ia, no bojo do Estado
Novo, as relaes de trabalho para a poltica. Segundo explica Amauri Mascaro
Nascimento, foram os princpios intervencionistas que o assinalaram, foi altamente
restritiva para as relaes coletivas de trabalho, no s quanto concepo de greve,
mas como de organizao social.
19
Se a greve, na Constituio de 1937, vista como anti-social, a organizao social
trazida para o assistencialismo puro e simples. O sindicato nico, somente o
sindicato reconhecido pelo Estado tem o direito de representao legal da categoria
passou a ser financiado por uma contribuio sindical compulsria, uma imposio
estatal.
20
Contudo, do ponto de vista do trabalhador, as principais conquistas na
18
Antenor NASCIMENTO. A herana ficou pesada. Exame, 18/08/2004, pg. 26
19
Idem, ibidem, pg. 9
20
O artigo 138 da Carta de 1937 previa: A associao profissional livre. Somente, porm, o sindicato regularmente
reconhecido pelo Estado tem o direito de representao legal dos que participarem da categoria de produo para que foi
17
Constituio de 1937, foram o repouso semanal remunerado, a licena remunerada
aps um ano de servio, a indenizao quando a lei no garantir a estabilidade, o
princpio legal da sucesso trabalhista e finalmente, o salrio mnimo.
Como todo regime autoritrio precisa se legitimar em apoio, o Estado Novo, com o
fim da II Guerra Mundial, no conseguiu impedir a redemocratizao em marcha.
Mais do que deposto pela oposio, Vargas foi obrigado a encerrar o Estado Novo
por fora do Alto Comando do Exrcito, que em 1945, elevou o General Eurico
Gaspar Dutra presidncia.
21
Quando veio a Constituio de 1946, com o fim do Estado Novo, mesmo tendo
resgatado a livre associao sindical (porm, remetendo lei ordinria a sua
regulamentao) optou-se por manter a estrutura sindical e trabalhista de 1937. A
grande transformao no foi legal, mas estrutural: a Justia do Trabalho, ento
vinculada ao Poder Executivo, passa a fazer parte do Poder Judicirio numa
duplicao das instncias cveis e criminais: a primeira instncia com as Juntas de
Conciliao e Julgamento, a segunda, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a
ltima instncia, o Superior Tribunal do Trabalho (TST). At hoje essa estrutura
vigente.
As Constituies de 1967 e 1969, apesar de terem sido promulgadas no perodo do
regime militar, no alteraram substancialmente as normas de direito coletivo e
individual estabelecidas por Vargas, exceto no que tange s greves, proibidas para o
servio pblico e demais atividades essenciais, sujeitas apreciao pelo TST quanto
sua legalidade. Outra exceo foi a integrao do trabalhador empresa por meio
da participao nos lucros e na gesto e a completa estatizao do FGTS, que
muitas vezes ainda seria usado para finalidades diversas do Estado alm daquela
para a qual foi criada.
constitudo, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associaes profissionais, estipular contratos coletivos de
trabalho obrigatrios para todos os seus associados, impor-lhes contribuies e exercer em relao a eles funes delegadas de poder
pblico.
21
Thomas SKIDMORE. op. cit. pg. 78
18
A Carta de 1988 veio resgatar o sistema sindicalista e corporativista, mas ainda de
forma a manter os princpios da Era Vargas. Para Oliveira Viana, a estrutura criada
por Vargas provou que o propsito que inspirou foi a Constituio de um sistema
gravitando em torno do Ministrio do Trabalho, vivendo sua sombra, dependendo
da burocracia oficial, servil aos interesses do Estado havia sido cumprido.
22
No entanto, se por um lado os debates constitucionais permitiram grandes avanos
na seara das liberdades, por outro, no seria desonerada a estrutura criada por
Vargas, nem a modernizao das estruturas sindicais. Primeiro, por conta da
contribuio sindical, que implica a manuteno de um elo inquebrvel entre o
Estado e os Sindicalistas. Depois, pela obrigatoriedade do voto nas eleies sindicais
e pela estrutura federativa dos sindicatos.
A Constituio de 1988, por sua vez, rica em preceitos programticos: aqueles que
indicam o caminho que o Estado deve seguir no futuro, sem se conhecer contudo,
como se poder chegar l. Por exemplo, nessa matria, nossa carta prdiga.
Expresses como valorizao do trabalho como condio de dignidade humana,
a harmonizao e solidariedade entre as categorias sociais de produo ou a
expanso das oportunidade de emprego produtivo recheiam o texto
constitucional de intenes. claro que elas passaram a compor a estrutura da
Constituio sem que se soubesse, exatamente, como poderiam ser concretizadas.
A prxima seco cuida das principais linhas e dos princpios norteadores desse
sistema inaugurado por Vargas e, at hoje, vigente em nosso sistema.
23
22
Oliveira VIANA. Problemas de Direito Corporativo. So Paulo: LTr. 1996
23
Ver parnorama sobre legado da Era Vargas no no Brasil em A Desconstruo de Getlio. Folha de So Paulo.
Especial A1, 22 de Agosto de 2004. O tema se apresenta extremamente controvertido, especialmente por se
referir a diversas concepes de histria poltica e histria econmica entre os autores brasileiros.
19
13.3 Principais linhas e princpios constitucionais do Direito do Trabalho:
O Trabalho um Direito do ponto de vista Constitucional, mas tambm s pode
existir se presentes algumas pr-condies econmicas. O Professor Amauri
Mascaro Nascimento melhor explicita o conceito de poder-direito do Trabalho: O
direito ao trabalho leva tambm verificao de que o homem, sozinho, no
conseguiu produzir tudo de que necessitava para viver. A sociedade como um todo,
sim, capaz desta produo. Como cada um se beneficia do esforo conjunto da
sociedade, o trabalho um direito, mas tambm um modo pelo qual possvel
cada membro til da sociedade dar a sua contribuio para o todo, somando-se s
atividades dos demais, sendo este a razo pela qual o trabalho, de direito tambm
um dever, um dever social. Todos devem trabalhar para viver do seu trabalho e
todos tm o dever de trabalhar para justificar a retribuio que recebem da
sociedade na satisfao das necessidades comuns, pertencentes a todos e a cada um
de seus membros da sociedade.
24
O sistema legal prev uma tratamento ao trabalhador empregado e um outro ao
desempregado. No que concerne ao empregado existe um extenso rol no artigo 6
o
da Carta de 1988, de cerca 34 direitos assinalados, como se ver adiante.
Ao desempregado, tem proteo dada pela Lei n 4.923 de 23 de dezembro de
1965, que criou o auxlio desemprego, cujos recursos so oriundos do Fundo de
Assistncia ao Desempregado, formado por contribuio da empresa e da Unio
Federal. A Constituio de 1988 tambm indica o desempregado no rol do artigo
201, IV, que estabelece a previso de que os planos de previdncia social mediante
contribuio devem atender e dispensar proteoao trabalhador em situao de
desemprego involuntrio.
24
Amauri Mascaro NASCIMENTO. op cit. pg. 37
20
possvel se falar em trs conceitos de desemprego: o aberto (pessoas que
procuraram trabalho de maneira efetiva nos ltimos 30 dias, nem exerceram
nenhum trabalho nos ltimos sete dias); desemprego oculto pelo trabalho precrio (pessoas
que realizam de forma irregular alguma espcie de trabalho remunerado) e desemprego
oculto pelo desalento (pessoas que no possuem trabalho, nem procuraram nos ltimos
30 dias, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos ltimos 12 meses.)
25
No que concerne ao tratamento dispensado ao trabalhador, o nosso direito positivo
prev regimes de trabalho pblico e privado. O trabalho privado aquele prestado
pessoa de direito privado. Da populao economicamente ativa, h os trabalhadores
no-empregados (como por exemplo, as profisses liberais) cuja situao dada
pelas leis esparsas (como por exemplo, o Estatuto do Advogado e da OAB) ou os
autnomos. J os trabalhadores-empregados se enquadram ou na categoria de
celetistas (esto compreendido no regime da CLT) ou como os trabalhadores rurais,
cuja disciplina legal se d pelo Estatuto do Trabalhador Rural e demais disposies.
J o regime pblico de trabalha se divide em vrias categorias, tais como a dos
servidores pblicos da administrao direta e os funcionrios pblicos autrquicos,
da administrao indireta.
26
Em relao informalidade possvel fazer uma distino formal entre sub-
empregados e empregados sem carteira; aqueles trabalham em condies precrias e muitas
vezes de forma no habitual, o que se conhece, popularmente, como bicos; os
empregados no-registrados, por sua vez, so aqueles que no possuem qualquer
vnculo trabalhista. Do ponto de vista formal, eles no existem para o direito, at
que o Poder Judicirio Trabalhista reconhea o vnculo empregatcio.
25
Jean Pierre MARRAS. op. cit. Pg. 34
26
Maria Syvlia Zanella DI PIETRO. Direito Administrativo. So Paulo: Atlas, 4 ed. pg. 352 define:
servidor pblico expresso empregada ora em sentido amplo para designar todas as pessoas fsicas que prestam
servio e s entidades da Administrao indireta, com vnculo empregatcio; ora em sentido menos amplo, que exclui
os que prestam servio s entidades com personalidade jurdica de direito privado
21
O Servidor Pblico
H quatro princpios constitucionais que regem os servidores pblicos e duas caractersticas
especiais que vamos aqui descrever: a estabilidade e a aposentadoria do servidor pblico. Os
quatros princpios so:
* Alcance
* Regime Jurdico nico
* Isonomia de Vencimentos
* Condio de ingresso
27
O primeiro princpio diz respeito ao alcance do regime que pretende proteger. Todos so iguais
perante a Lei, sem distino. O princpio da igualdade legal, descrito no art. 5
o
da Carta, trata da
igualdade formal perante o Estado e impe o alcance universal do sistema. J o segundo princpio,
o regime jurdico nico est estabelecido no art. 39
o
da Carta e norma cogente para os servidores
da administrao pblica direta, das autarquias e das fundaes pblicas. Na esfera federal a Lei
8.112, de 11 de dezembro de 1990, quem estabeleceu o regime nico a todos os servidores federais.
Isonomia de vencimentos, o terceiro princpio constitucional decorre do mesmo art. 39, no seu
primeiro pargrafo, que determina que a lei deve assegurar aos servidores da administrao direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuies iguais ou assemelheadas do mesmo poder ou
entre servidores dos trs poderes, do Executivo, Legislativo ou Judicirio, desde que ressalvadas as
vantagens de carter individual e as relativas natureza ou ao local de trabalho. O art. 40, pargrafo
4
o
, assegura a isonomia de vencimentos tambm em relao aos inativos. Finalmente, o art. 37,
inciso II, define que a condio de ingresso ser por meio de concurso pblico visando garantir
transparncia e lisura na contratao de servidores.
As caractersticas mais especiais que revestem o regime trabalhista do servidor pblico so:
Estabilidade
Estabilidade a garantia de permanncia no servio pblico assegurada, aps dois anos de
exerccio, ao servio nomeado por concurso, que somente pode perder o cargo em virtude de
sentena judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa. Prevista no art. 41 da Constituio a estabilidade somente beneficiar o
funcionrio pblico, ou seja, aquele investido em cargo.
28
Aposentadoria
Aposentadoria o direito inatividade remunerada assegurado ao servidor pblico em caso de
invalidez, idade ou tempo de servio pblico pelo nmero de anos fixado em lei. Sob ponto de vista
formal, aposentadoria o ato pelo qual a Administrao Pblica concede este direito ao servidor
pblico. (...) Quanto ao servidor pblico, a aposentadoria pode ter carter previdencirio e pode
constituir-se em direito decorrente do exerccio da funo pblica, financiado inteiramente pelo
Estado. A primeira hiptese tem sido adotada para os servidores contratados sob regime da
legislao trabalhista, em consonncia com a Lei Orgnica da Previdncia Social. A segunda
hiptese aplicvel ao servidor sob regime estatutrio; para este, a aposentadoria no depende de
qualquer contribuio; as importncias que recolhe mensalmente ao rgo previdencirio destinam-
se ao atendimento dos encargos da assistncia mdica e da penso mensal, devidas aos beneficirios
27
Idem, ibidem. p. 253 e ss.
28
Idem, ibidem. pg. 377
22
do contribuinte, aps o seu falecimento.
29
vedada a acumulao remunerada de cargos pblicos ,
exceto quando houver compatibilidade de horrios e nos casos explcitos de professor, mdico,
tcnico ou cientista, definidos no art. 37, XVI.
Finalmente, o direito de greve do servidor pblico ser exercido nos termos e nos limites definidos
em lei complementar (art. 37, VI e VII) porm sendo livre o direito associao do servidor
pblico na defesa de seus interesses.
Pode-se conceituar o trabalho em duas vertentes diferentes: por um conceito
restrito, aquele que contm e define o seu carter contratual. Mesmo que tenha
natureza especial, por ser objeto de obrigaes recprocas, j que o trabalhador se
compromete no contrato de trabalho a executar o seu prprio objeto, nesta viso
mais restritiva, a relao de emprego est baseada essencialmente num contrato de
trabalho e naquilo que l est estabelecido (e desde que no conflite com a Lei).
30
Num carter mais amplo, por outro lado, no se pode tomar o trabalho apenas
como fruto de um contrato, mas como qualquer relao humana na qual haja o
exerccio de atividades econmicas subordinadas. Por exemplo, o trabalho
independente, nessa viso, no advm da execuo de um contrato, mas de uma
relao mais ampla, na qual o esforo humano a varivel a determinar a produo
de riquezas, bens e servios.
31
H uma segunda definio de trabalho como sendo relao de subordinao no
eventual, e que tenha natureza tpica ou atpica. Tanto o conceito de subordinao
quanto o de tipicidade surgem em funo da finalidade da empresa e dependem do
seu uso. De toda sorte, pode-se dizer que a relao de trabalho aquela onde
qualquer pessoa fsica preste servio de natureza no eventual a empregador, sob
dependncia deste e mediante salrio e que trabalho eventual aquele que
prestado em sua atividade, mas ocasionalmente.
32
29
Idem, ibidem. pg. 373.
30
Manuel Alonso OLEA. Introduo Direito do Trabalho. So Paulo: Ed. Sulina, 1969, pg. 177
31
Guillermo CABANELLAS. Compendio de Derecho Laboral. Buenos Aires: Ometo, 1968. 53 e ss. e 286;
idem. El Derecho eel Trabajo y sus contractos. Buenos Aires: Ed.Mundo Atlntico.1945. pp.10 e ss.
32
Idem, Compendio de Derecho Laboral. 53 e ss.
23
A disciplina do trabalho na Constituio o que passaremos a discutir agora.
Primeiro, quais so as regras gerais previstas na Carta de 1988 sobre o trabalho ? ,
por um lado, valor supremo da liberdade, mas tambm uma garantia de uma
existncia digna.
Primeiro, o trabalho classificado como um direito social. Com redao dada pela
Emenda Constitucional n 26, de 14/02/2000 o artigo 6
o
celebra que so direitos
sociais a educao, a sade, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurana, a previdncia
social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia aos desamparados, na
forma desta Constituio." E logo adiante, lista num elenco que no pretende ser
exaustivo (pois ainda prev que possam existir outros que visem melhoria da
condio social de trabalhadores urbanos e rurais) lista quais so estes direitos na
forma da Constituio:
I - relao de emprego protegida contra despedida arbitrria ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar, que prever indenizao compensatria, dentre outros
direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntrio;
III - fundo de garantia do tempo de servio;
IV - salrio mnimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais bsicas e s de sua famlia com moradia, alimentao,
educao, sade, lazer, vesturio, higiene, transporte e previdncia social, com
reajustes peridicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculao para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional extenso e complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salrio, salvo o disposto em conveno ou acordo coletivo;
VII - garantia de salrio, nunca inferior ao mnimo, para os que percebem
remunerao varivel;
24
VIII - dcimo terceiro salrio com base na remunerao integral ou no valor da
aposentadoria;
IX remunerao do trabalho noturno superior do diurno;
X - proteo do salrio na forma da lei, constituindo crime sua reteno dolosa;
XI participao nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunerao, e,
excepcionalmente, participao na gesto da empresa, conforme definido em lei;
XII - salrio-famlia pago em razo do dependente do trabalhador de baixa renda
nos termos da lei;
33
XIII - durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias e quarenta e
quatro semanais, facultada a compensao de horrios e a reduo da jornada,
mediante acordo ou conveno coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociao coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remunerao do servio extraordinrio superior, no mnimo, em cinqenta
por cento do normal;
XVII - gozo de frias anuais remuneradas com, pelo menos, um tero a mais do que
o salrio normal;
XVIII - licena gestante, sem prejuzo do emprego e do salrio, com a durao de
cento e vinte dias;
XIX - licena-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteo do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos especficos,
nos termos da lei;
XXI - aviso prvio proporcional ao tempo de servio, sendo no mnimo de trinta
dias, nos termos da lei;
XXII - reduo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de sade,
higiene e segurana;
XXIII - adicional de remunerao para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei;
33
Com Redao dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998
25
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistncia gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento at seis anos
de idade em creches e pr-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenes e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteo em face da automao, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenizao a que este est obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ao, quanto aos crditos resultantes das relaes de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, at o limite de
dois anos aps a extino do contrato de trabalho;
34
XXX - proibio de diferena de salrios, de exerccio de funes e de critrio de
admisso por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibio de qualquer discriminao no tocante a salrio e critrios de
admisso do trabalhador portador de deficincia;
XXXII - proibio de distino entre trabalho manual, tcnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos;
XXXIII - proibio de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condio de
aprendiz, a partir de quatorze anos;
35
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vnculo empregatcio
permanente e o trabalhador avulso.
E como se no bastasse o rol descrito de 34 direitos, distinguem-se os trabalhadores
domsticos dos demais, pelo pargrafo nico, assegurando queles apenas direitos
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como
a sua integrao previdncia social.
34
Com Redao dada pela Emenda Constitucional n 28, de 25/05/2000:
35
Com Redao dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998
26
Completando os direitos sociais, est o direito livre a associao profissional ou
sindical, previsto no art. 8
o
da Constituio de 1988, desde que sejam observados
para a fundao de sindicato, o registro no rgo competente, mas estando vedadas
ao Poder Pblico a interferncia e a interveno na organizao sindical. No
entanto, em matria sindical, foi vedada a criao de mais de uma organizao
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econmica, na
mesma base territorial, (definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
no podendo ser inferior rea de um Municpio).
Richard Posner
36
entende que h uma relao de monoplio quando um s sindicato
representa uma categoria profissional inteira. Para ele deveria haver liberdade de
escolha at para se evitar problemas tpicos da concentrao. Por outro lado,
inegvel que um s sindicato possa ter mais poder de barganha para negociar
dissdios e na defesa de sua categoria.
O papel do sindicato igualmente claro: cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questes judiciais ou
administrativas. Os mecanismos de financiamento da atividade sindical se daro por
contribuio que, em se tratando de categoria profissional, ser descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da representao sindical respectiva,
alm da contribuio prevista em lei.
A liberdade de associao vai alm, ao celebrar que
Art. 8
o
- V - ningum ser obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato
Porm, a liberdade sindical do art. 8
o
V, ope-se ao que est disposto adiante, em
especial sobre a participao do sindicato frente ao empregador:
VI - obrigatria a participao dos sindicatos nas negociaes coletivas de trabalho
36
Economic Analysis of Law. Boston-Toronto-London: Little Brown &Co. 1992. pp.321 e ss.
27
Numa anlise crtica da estrutura sindical brasileira, Almir Pazzianoto elucida:
Sessenta anos e quatro constituies depois, a organizao sindical permanece
praticamente a mesma, resistindo ao tempo e s mudanas, prestigiando o princpio
do unicidade de representao da mesma categoria profissional ou econmica, na
base territorial, a cobrana de contribuies compulsrias, a estrutura confederativa
verticalizada, a soluo judicial dos conflitos.
37
Outro assunto historicamente polmico o direito de greve, assegurado pelo art. 9
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exerc-lo e sobre os
interesses que devam por meio dele defender. A exceo vem no pargrafo 1
o
do
mesmo artigo que disciplina que a a lei definir os servios ou atividades essenciais
e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiveis da comunidade.
A greve um tpico instrumento negocial de presso. Trata-se, curiosamente, de um
direito que j foi um crime. No incio do sculo, a greve era considerada com uma
afronta ao direito patrimonial. Claro, a histria e os regimes democrticos evoluram
no sentido de permitir que a greve se tornasse um legtimo instrumento do
trabalhador.
38
pela greve que o trabalhador manifesta o seu descontentamento e
pela greve que pode pressionar e chegar, em suas reivindicaes, obteno deum
salrio maior ou melhores condies de trabalho. Contudo, o direito sindical
tambm evoluiu e hoje, a greve deve ser considerada como um ltimo recurso da
negociao.
37
Almir PAZZIANOTTO Pinto. Substituio processual e Custo Brasil. Revista de Direito Bancrio e do
Mercado de Capitais. n. 24, 2004. pg. 49
38
Assim por exemplo, interessante a histria observada no direito norte-americano. No final do sculo
XIX, as cortes consideravam as atividades concertadas praticadas pelos trabalhadores, tais como a greve, o
piquete e as recusas de negociao, como hipteses de crime de conspirao. Em outros casos, reporta
Douglas LESLIE (Labor Law. 4
th
edition. St.Paul: West Publishing Co. 2000. pg.4), as cortes passaram a
atribuir a responsabilidade civil s greves e no mais criminal, buscando controlar a atividade sindical nos
Estados Unidos. Somente em 1935 que o Congresso norte-americano editaria a importante Wagner Act
(National Labor Relations Act), que se tornou marco do sindicalismo moderno por sua preocupao
institucional voltada para as polticas pblicas, e que foi seguida pela Taft-Hartley Act de 1943. Esta disciplina
os acordos coletivos e sua execuo nas cortes federais, bem como estabelece regras sobre indenizaes a
serem pagas para terceiros e cidados prejudicados por boicotes e greves. Em 1959, finalmente, promulgada
a Landrum-Griffin Act, que passa a regulamentar a formao institucional dos sindicatos nos Estados Unidos,
trazendo uma srie de regras de responsabilizao pelos abusos cometidos pelos trabalhadores que se
encontrem em estado de greve.
28
Quanto participao dos trabalhadores e empregadores, o artigo 11 da
Constituio de 1988 define que nas empresas de mais de duzentos empregados,
assegurada a eleio de um representante destes com a finalidade exclusiva de
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
39
A participao dos
empregados no lucro das empresas um claro incentivo produtividade. Como se
sabe, h uma diferena entre comprometimento e envolvimento. O incentivo ao
empregado quanto ao comprometimento: se maior for seu empenho para gerar os
resultados pretendidos, maior ser a sua recompensa. A idia premial da participao
nos lucros nasceu do modelo de gesto oriental e um sucesso em todo o mundo.
40
Finalmente, as normas de direito trabalhista e garantias fundamentais dadas pela
Constituio podem ter efeito imediato e parte do inicio da vigncia da prpria
carta, enquanto outros dispositivos necessitam de complementao. Como alguns
dos assuntos listados no art. 6
o
, pedem leis complementares ou ordinrias, h de se
concluir que no pode haver aplicao imediata de regras e obrigaes que
dependem de nova produo legislativa. A participao nos lucros, o aviso prvio
proporcional e alguns outros assuntos ainda esperam definio legal, at hoje no
emanadas pelo Congresso.
O que a Seguridade Social ?
A Constituio definiu Seguridade Social desta forma: o conjunto integrado de aes, de iniciativa
dos poderes pblicos e da sociedade, com a finalidade de assegurar os direitos sade,
previdncia social e assistncia social. A seguridade social assim conceituada foi cogitada no
texto constitucional como mecanismo de integrao; no mais do que isso; como mecanismo de
integrao de trs disciplinas substanciais: a disciplina relativa sade, a disciplina relativa
previdncia e a disciplina relativa assistncia social. (....) mas em que sentido a seguridade social
um fator de integrao ? Primeiramente, sobre o aspecto econmico, porque a seguridade social
39
Art. 11 - Nas empresas de mais de duzentos empregados, assegurada a eleio de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores
40
Com a edio da Lei n 10.101 de 19 de dezembro de 2001, que trata da participao do trabalhador nos
lucros e resultados da empresa, o legislador brasileiro abrir espao para a divulgao de um instrumento de
integrao entre o capital e trabalho e de incentivo produtividade. Salienta, ainda, a possibilidade de
negociao entre a empresa e seus empregados e, inclusive, recurso mediao para soluo de conflitos
decorrente dessa disciplina em especial.
29
traz vrias fontes de receita. Em segundo lugar, ter as fontes oramentrias da Unio, dos Estados
e dos Municpios. Em terceiro lugar, vai ter as fontes resultantes das contribuies de empregadores
e de empregados. Em quarto lugar, ela vai poder beneficiar-se de uma nova forma de tributo, que
eventualmente o legislador resolveu criar, com fundamento no art. 160 da Constituio. (...) os trs
princpios bsicos da seguridade social vo ser os seguintes: primeiro, universalidade subjetiva e
objetiva. (...) significa que a seguridade no se aplica apenas aos trabalhadores como era do feitio da
previdncia social. A seguridade universal, aplicando-se a toda a populao. Alm disso, a
universalidade tambm objetiva, porque a seguridade social no fica limitada, como a previdncia
social, configurao de contingncia. A previdncia social concede prestaes ao segurado quando
este, confrontado com contingncias sociais, sofre a eliminao ou a diminuio do respectivo
rendimento. Em tais hipteses, a previdncia social o socorre com a concesso de uma prestao.
Pois bem, a seguridade social objetivamente universal no sentido de que, em princpio ela no fica
sujeita configurao de contingncia. Ela deve ser prodigalizada simplesmente em face do estado
de necessidade. Este, ento, o princpio bsico da seguridade social. O segundo princpio
importante da seguridade social a pluralidade de receitas. A primeira fonte de receita ser a dos
oramentos dos entes pblicos. A segunda fonte ser, como j se disse, das contribuies tanto de
empregadores quanto de empregados. E a terceira ser aquela resultante de eventual atuao do art.
160 da Constituio. O terceiro princpio bsico da seguridade social o da sua composio
democrtica, em decorrncia do que todos os rgos de gesto da seguridade social, devero estar
presentes: haver representantes no apenas do Estado, mas representantes tambm dos
empregadores, dos trabalhadores e dos aposentados.
Octvio Bueno MAGANO. A seguridade social. In: A Constituio Brasileira 1988 : Interpretaes.
So Paulo : Forense Universitria, 1988.
30
A crise da seguridade social segundo o Governo
(Disponvel em www.mps.gov.br)
O sistema previdencirio dos servidores pblicos est profundamente desequilibrado, em razo de regras
inadequadas de acesso aposentadoria e clculo dos benefcios. O conjunto de mudanas do sistema
previdencirio que propomos busca reverter o crescimento desse grave desequilbrio e garantir que as
aposentadorias da Unio, dos estados, do Distrito Federal e dos municpios continue a ser honrada.
A mudana de regras tem como objetivo fazer com que os trabalhadores do setor pblico recebam benefcios
equivalentes ao seu esforo contributivo, como j ocorre no INSS. Temos convico de que os servidores
no so os responsveis pelo desequilbrio nas contas do sistema previdencirio. Os funcionrios pblicos so
essenciais estrutura do Estado e vm cumprindo sua misso profissional com dedicaoMas o fato que as
regras estabelecidas anteriormente na previdncia dos servidores no garantem equilbrio entre as
contribuies e os benefcios pagos. Precisamos alterar essas regras com urgncia, preservando os direitos j
adquiridos. Quem j cumpriu os requisitos atuais para suas aposentadorias poder exercer seu direito a
qualquer momento, mesmo depois de aprovada a reforma, com base nas regras atualmente em vigor
A nova Previdncia
:: Atuais Servidores Ativos
Como era Como fica
(segundo texto da Emenda Constitucional n 41)
CRITRIO PARA APOSENTADORIA
Os servidores ingressos antes de 16/12/1998
podem se aposentar ao completar 53 anos de idade
e 35 anos de contribuio (mais pedgio de 20%
sobre o tempo que faltava naquela data para
completar o tempo de contribuio), se homem, e
aos 48 anos de idade e 30 anos de contribuio
(mais pedgio), se mulher. Em ambos os casos,
necessrio ter cinco anos no cargo em que se dar a
aposentadoria
Mantm a possibilidade desses servidores se
aposentarem com essa idade. Porm, ser aplicado
redutor de 5% por ano antecipado em relao
idade de referncia (60 anos, homens, e 55 anos,
mulheres) e o clculo de benefcio ser feito pela
mdia das contribuies, como j ocorre no
Regime Geral de Previdncia Social, administrado
pelo INSS. Os servidores que atingirem o direito
aposentadoria nos anos de 2004 e 2005 tero esse
redutor diminudo para 3,5% para cada ano de
antecipao
TETO PARA SUPERAPOSENTADORIAS
A Constituio estabelece como teto a maior
remunerao do ministro do Supremo Tribunal
Federal definida em lei conjunta dos trs Poderes.
No entanto, no houve acordo para apresentao
do projeto de lei
Fixa como teto de aposentadorias no setor pblico
a maior remunerao do ministro do Supremo
Tribunal Federal
APOSENTADORIA PROPORCIONAL
Os servidores ingressos antes de 16/12/1998
podem se aposentar ao completar 53 anos de idade
e 3O anos de contribuio (mais pedgio de 40%
sobre o tempo que faltava naquela data para
completar o tempo de contribuio), se homem, e
aos 48 anos de idade e 25 anos de contribuio
(mais pedgio), se mulher. Em ambos os casos,
necessrio ter cinco anos no cargo em que se dar a
aposentadoria
Prev direito adquirido aposentadoria
proporcional. E extingue essa possibilidade para os
servidores ingressos antes de 16/12/ 1998
31
ABONO DE PERMANNCIA
Existe iseno da contribuio previdenciria para
os servidores ingressos antes de 16/12/1998 que
completarem as condies para aposentadoria, mas
resolverem permanecer trabalhando. A iseno se
mantm at que os servidores completem 60 anos
de idade e 35 anos de contribuio, se homem, e 55
anos de idade e 30 anos de contribuio, se mulher.
Cria abono equivalente contribuio
previdenciria (11% do salrio) para os servidores
que tm direito adquirido e decidam permanecer
em atividade at a aposentadoria compulsria (70
anos)
INTEGRALIDADE E PARIDADE
O valor dos benefcios o ltimo salrio da ativa e
a correo feita sempre na mesma data e pelo
mesmo ndice do reajuste dos servidores da ativa
Mantidas para quem tem direito adquirido s
regras atuais. Para os demais, no vale mais como
regra geral. Ser concedida, excepcionalmente,
apenas como prmio, para os atuais servidores que
trabalharem at os 60 anos de idade, com 35 anos
de contribuio (homens) ou 55 anos de idade,
com 30 anos de contribuio (mulheres). Em
ambos os casos, ser preciso contar 20 anos no
servio pblico, 10 anos na carreira e 5 anos no
cargo. Os critrios da paridade sero definidos em
lei ordinria
SUBTETO PARA JUDICIRIO ESTADUAL
No existe na prtica
Fixa o limite em 90,25% da remunerao de
ministro do STF, o que impor redues salariais
de at R$15 mil para alguns desembargadores
estaduais
:: Atuais Servidores Inativos e Pensionistas
Como era Como fica
(segundo texto da Emenda Constitucional n 41)
CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA
No h contribuio
Na Unio, 11% sobre a parcela que exceder R$
1.440
Nos Estados, no DF e nos municpios, 11% sobre
a parcela que exceder R$ 1.200, respeitando, assim,
diferentes realidades salariais no setor pblico. A
contribuio refora o carter contributivo e
solidrio do regime previdencirio
DIREITO ADQUIRIDO
Preserva direitos adquiridos, no impondo nenhum
reclculo aos valores dos benefcios de
aposentadoria e penso
Preserva direitos adquiridos, no impondo
nenhum reclculo aos valores dos benefcios de
aposentadoria e penso
:: Trabalhadores do INSS
Como era Como fica
(segundo texto da Emenda Constitucional n 41)
Teto de benefcios e de contribuies R$ 1.869,34 Teto de benefcios e de contribuies ser elevado
para R$ 2.400,00, aumentando o grau de cobertura
previdenciria para os trabalhadores
Prev lei que criar sistema especial de incluso
previdenciria para trabalhadores de baixa renda,
garantindo-lhes acesso a benefcios de um salrio
mnimo, o que pode beneficiar 18,7 milhes de
trabalhadores sem previdncia
:: Futuros Pensionistas
Como era Como fica
(segundo texto da Emenda Constitucional n 41)
32
Os benefcios so pagos com valores integrais
tendo como base a remunerao do servidor da
ativa ou a aposentadoria do servidor inativo
falecido
Benefcios de at R$ 2.400 sero pagos na
integralidade. Sobre a parcela que exceder os R$
2.400, ser aplicado um desconto de 30%
:: Futuros Servidores
Como era Como fica
(segundo texto da Emenda Constitucional n 41)
CLCULO DO BENEFCIO
Tem direito aposentadoria integral com base no
ltimo salrio do cargo
Considera a mdia das contribuies
previdencirias feitas durante o perodo
trabalhado, nos mesmos moldes do que j ocorre
no Regime Geral de Previdncia Social,
administrado pelo INSS
TETO
Fixa teto de benefcios idntico ao aplicado aos
trabalhadores filiados ao Regime Geral de
Previdncia Social, administrado pelo INSS, desde
que criados os fundos de previdncia
complementar
Fixa teto de benefcios em R$ 2.400,00, idntico
ao que ser aplicado aos trabalhadores filiados ao
Regime Geral de Previdncia Social, administrado
pelo INSS, desde que criados os fundos de
previdncia complementar
FUNDO DE PENSO
Prev que a criao dos fundos de penso ser
regulamentada em lei complementar (PLP 09). As
entidades devero ser posteriormente institudas
por lei especfica
Cria entidades fechadas de previdncia
complementar (fundos de penso), sem fins
lucrativos e administrados paritariamente por
servidores e entes pblicos, para complementar a
aposentadoria dos servidores. Os fundos sero de
natureza pblica e s tero planos de contribuio
definida
Os princpios que norteiam o Direito do Trabalho
H dois princpios que norteiam diretamente as relaes disciplinadas pelo o Direito
do Trabalho: o primeiro o princpio da norma favorvel, que est baseado num outro
axioma importante, que o princpio da hiposuficincia. Ambos devem ser lidos luz do
interesse pblico maior.
O primeiro princpio se funda na idia de que a Constituio um conjunto de
direitos mnimos, no mximos, e que sempre se deve ser favorvel ao trabalhador,
j que o prprio texto constitucional do art. 6
o
claramente invoca que o trabalho
um direito social e o art.7
o
complementa-o afirmando que so direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, alm de outros que visem melhora de sua condio
social. Amauri Mascaro Nascimento esclarece: Ao declarar que outros direitos
podem ser conferidos ao trabalhador, a Constituio cumpre trplice funo.
33
Primeiro, a elaborao das normas jurdicas, que no deve perder a dimenso da sua
funo social de promover a melhoria da condio do trabalhador. Segundo, a
hierarquia das normas jurdicas, de modo que, havendo duas ou mais normas, leis,
convenes coletivas, acordos coletivos, regulamentos de empresa, usos e costumes,
ser aplicvel o que mais beneficiar o emprego, salvo proibio por lei. Terceiro, a
interpretao das leis, de forma que, entre duas interpretaes viveis para a norma
obscura, deve prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado que de melhor
maneira venha a atender aos interesses do trabalhador.
41
O segundo princpio que inspira o primeiro, e o mais importante, diz respeito ao
princpio da hipossuficincia relativa. Figura do direito econmico, e que tomou
emprestado das polticas neo-sociais da Repblica de Weimar, ao defender, por
exemplo, o pequeno capitalista ou o pequeno industrial da voracidade dos grandes
grupos econmicos com fora e poder de abuso econmico.
42
Dissociados do
conceito de hipersuficientes, que so os auto-suficientes em posio econmica
superior, e do seu antnimo hipossuficientes, aqueles que apresentam debilidade
econmica absoluta, os empregados podem ser caracterizados como
hipossuficientes relativos, pois, na maioria das vezes, apresentam uma debilidade
econmica relativa, ou seja, que julgado por comparao e por critrio de
proporcionalidade em face do empregador.
43
Duas questes surgem da anlise da natureza da relao de emprego: primeiro, a
sobreposio da natureza cogente da lei vis--vis vontade dos contratantes, e, em
segundo lugar, a proteo que dada ao empregado, em decorrncia de sua
hipossuficincia relativa. O primeiro aspecto claramente se materializa quando se
analisa, por exemplo, as dissolues contratuais, nas quais, segundo entendimento
dos tribunais superiores, afasta-se da simples interpretao de clusula contratual ,
41
Amauri Mascaro NASCIMENTO. op.cit. pg. 40
42
cf. Antonio Ferreira CESARINO JR.r.. Enciclopdia Saraiva de Direito. So Paulo: Ed. Saraiva, 1973. pg. 230.
43
Para uma viso moderna do assunto vide de Richard. STONE. Law of Agency. Londres : Cavendish Press,
1998.
34
ressaltando o que est em jogo a lei e lei de carter social, (...), sobrepondo-se, em conseqncia,
aos pactos.
44
Por seu turno, o segundo aspecto mencionado, claramente est materializado na
necessidade de harmonizar as relaes entre empregados e empregadores, patres e
trabalhadores, obrigatrias e cogentes em relao ao parceiro contratual, um respeito
obrigatrio aos normais interesses do outro contratante, uma ao positiva do parceiro contratual
mais forte para permitir ao parceiro contratual mais fraco as condies necessrias para a formao
de uma vontade racional.
45
Assim que o princpio da hipossuficincia relativa
tambm passa a ocupar posio central ao tentar promover o equilbrio entre
relaes desiguais.
Tais princpios devem ser lidos no ideal da prevalncia da vontade pblica sobre a
vontade privada. Santiago Dantas
46
ao discorrer sobre a evoluo dos contratos no
sculo passado, centrou seus estudos na contextualizao da evoluo dos princpios
da autonomia da vontade, da supremacia da ordem pblica e da obrigatoriedade das
convenes, esta ltima limitada pela escusa da fora maior e a evoluo nas normas
pblicas que passaram a reger os contratos.
Para ele, h trs princpios em jogo. O primeiro, a autonomia da vontade, traduz,
na liberdade reconhecida s partes de estipularem o que lhes convier, fazendo de sua conveno
uma verdadeira norma jurdica, que entre elas opera como lei. O segundo, que ao
expressarem sua vontade, tais disposies no podem ofender a ordem pblica e os
bons costumes. Ou seja, o princpio da autonomia da vontade, expresso na liberdade
contratual e na liberdade de contratar, no foi, porm, jamais entendido e afirmado como princpio
absoluto, a salvo de contrastes e limitaes. Assim como nunca se concebeu o direito de propriedade
como senhoria absoluta e ilimitada, afirmando-se pelo contrrio, limitaes legais de ordem pblica e
44
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. Recurso Especial n
o
9.144/Minas Gerais. Ministro Nilson Naves
(Relator). Registro 91047414.
45
Claudia Lima MARQUES. Os contratos de crdito na legislao brasileira de proteo ao consumidor. Revista de
Direito do Consumidor, a 2. n
o
18, abr.-jun. 1996, p. 57.
46
Problemas de Direito Positivo estudos e pareceres n 3. Rio de Janeiro: Forense. 1953. pg.15 e ss.
35
privada aos poderes do proprietrio, assim nunca se afirmou o princpio de autonomia da vontade
como faculdade de contratar tudo que aprouvesse s partes, sem limites e censuras de ordem jurdica
e moral..
Este segundo princpio, o da supremacia da ordem pblica, descreve que h
normas imperativas, isto , inderrogveis pelas partes, nas quais se traduzem as imposies de
ordem pblica; e normas supletivas ou declarativas, isto , aplicveis se as partes no dispuserem de
outro modo, sobre as quais prevalece a autonomia da vontade.
Finalmente, h um terceiro princpio o da obrigatoriedade das convenes
que pode ser considerado simples formulao diversa do da autonomia da vontade, j que ambos
se exprimem na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Mas, enquanto o princpio da
autonomia da vontade mira essencialmente o momento da estipulao e da concluso do contrato, o
da obrigatoriedade mira os seus efeitos e conseqncias. O que as partes, por mtuo acordo,
estipularam e aceitaram, dever ser cumprido (pacta sunt servanda) sob pena de execuo
patrimonial. .
47
Todos esses princpios, da norma mais favorvel e da hipossuficincia relativa,
dentro do conceito de interesse pblico, esto quase que divorciados de alguns
princpios de eficincia. Fazem referncia a um contexto de relaes pouco
colaborativas e mais subordinantes, bem como acentuam uma distncia formal entre
a empresa e os trabalhadores.
Levando em conta uma leitura sobre Law & Economics, vamos agora indagar a
pergunta objetiva do sistema atual: por que reformar a legislao trabalhista no
Brasil ?
47
Idem, ibidem.
36
13.4 Por qu reformar ?
O desemprego, segundo a Organizao Internacional do Trabalho, cresceu cerca de
44% nos ltimos dez anos e h cerca de 88 milhes de desempregados no mundo.
48
So os jovens, ou os entrantes no mercado de trabalho, que mais sofrem nesse
cenrio: cerca de 17% de todos os jovens at 25 anos esto sem trabalho. Na
Amrica Latina, o quadro ainda mais dramtico: cerca de 2 milhes de jovens a
cada ano no tero emprego. O desemprego uma tendncia mundial: novas
tecnologias, novas fontes de matria prima e uma incessante busca para reduo de
custos contribui para que o emprego minge cada vez mais. Com este cenrio, no
h outra razo melhor para se justificar a reforma do nosso arcaico sistema
trabalhista criado por Vargas: preciso urgentemente gerar empregos.
O primeiro grande desafio da empregabilidade no Brasil reside na carga tributria
sobre salrios, por um lado, e em encargos trabalhistas, por outro. Certo de que toda
a discusso tributria deve estar voltada noo do financiamento do Estado que
foi construdo a partir da Constituio de 1988, o que justifica a carga tributria
extremamente elevada. Por ora, vamos entender o porqu tanto carga tributria
quanto encargos acabam por refrear a gerao de empregos no Brasil. O quadro
abaixo mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar nos pases em que mais oneram
salrios, considerando tanto os impostos incidentes como tambm os encargos.
Apenas a Dinamarca, pas reconhecido por suas polticas sociais avanadas, taxa
mais os salrios do que o Brasil:
Pas % de impostos sobre salrios (empregadores &
empregados)
Dinamarca 43,1
Brasil 42,2
Blgica 41,4
Alemanha 41,2
Finlndia 31,7
48
O Estado de S. Paulo. Desemprego atinge 88 milhes de jovens no mundo. 12/08/2004
37
Polnia 31
Sucia 30,4
Turquia 30
Noruega 28,8
Holanda 28,7
ustria 28,6
Uruguai 28,4
Itlia 28,1
Frana 26,5
Canad 25,7
Argentina 25,6
EUA 24,3
Sua 21,5
Espanha 19,2
Portugal 16,5
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Financeiro).
A concluso bvia que, para gerar empregos, necessrio que se cobre menos
impostos, direta e indiretamente, do trabalhador e do empregador. Mas, h do
ponto de vista mais microscpico outras tarefas a realizar: a reforma deve abraar
temas como terceirizao de mo-de-obra, jornada de trabalho, salrio mnimo,
registro em carteira, FGTS, FAT entre tantos outros assuntos da agenda de reforma
trabalhista.
13.5 Emprego e empregabilidade: os principais desafios.
Vimos anteriormente que o grande desafio gerar emprego, j que a ameaa do
desemprego uma realidade inegvel. Nesta seco trataremos de alguns dos itens
da agenda, comeando pelo mais polmico: a terceirizao.
Terceirizao de Mo-de-Obra
38
Adam Smith
49
, ainda no Sculo XVII, advertia para as vantagens da especializao
da mo-de-obra. Para ele, Citar Adam Smith
The state of the mechanical, as well as some other arts, with which it is necessarily connected,
determines the degree of perfection to which it is capable of being carried at any particular time. But
in order to carry it to this degree of perfection, it is necessary that it should become the sole or
principal occupation of a particular class of citizens; and the division of labour is as necessary for
the improvement of this, as of every other art. Into other arts, the division of labour is naturally
introduced by the prudence of individuals, who find that they promote their private interest better by
confining themselves to a particular trade, than by exercising a great number. But it is the wisdom
of the state only, which can render the trade of a soldier a particular trade, separate and distinct
from all others. A private citizen, who, in time of profound peace, and without any particular
encouragement from the public, should spend the greater part of his time in military exercises, might,
no doubt, both improve himself very much in them, and amuse himself very well; but he certainly
would not promote his own interest. It is the wisdom of the state only, which can render it for his
interest to give up the greater part of his time to this peculiar occupation; and states have not always
had this wisdom, even when their circumstances had become such, that the preservation of their
existence required that they should have it.
A alegao de que uma atividade terceirizada caracteriza uma relao de emprego
disfarada uma tolice. A realizao de certas atividades, que compem o processo
fabril ou de servios realizada pelos empresrios, por administradores ou por
trabalhadores e esta relao se materializa, como vemos, em contratos de trabalho,
seja ele determinado, seja ele indeterminado, quando no houver prazo para o seu
trmino.
50
A terceirizao, por sua vez, pode ser definida como a contratao de
um terceiro, pessoa fsica ou pessoa jurdica, para realizar qualquer atividade que se
aproveita empresa. Trata-se de um contrato empresarial, submetido ao regime do
49
The Wealth of Nations. New York: Collier & Son Company. 190914., Book V, Chapter 1.
50
O contrato de trabalho, segundo o art. 267 da CLT s pode ser determinado pelo prazo de 2 anos e
renovados por um nico perodo, o que o transforma automaticamente em indeterminado.
39
Cdigo Civil, por meio do qual se contrata o fornecimento de bens ou a prestao
de servios que se aproveitam realizao das finalidades empresariais.
51
Se um contrato tpico do direito privado e no fraude ao direito trabalhista o
seu norte inspirador a especializao, no a relao de trabalho, mas a vontade das
partes. Gladston Mamede d o seguinte exemplo: um hotel que contrata uma
lavanderia para cuidar das roupas de seus hspedes; um consumidor que compra um
iogurte, ou qualquer outra relao de contrato no faz com que o usurio se torne
trabalhador, ou tenha qualquer vnculo empregatcio. Mamede lembra ainda a Lei no
4.886/65, regulamentando a representao comercial: o representante comercial,
profissional autnomo contratado para promover, distribuir e negociar os bens e
servios do representado, sem ser o seu empregado. A fraude s ocorre quando h
simulao de uma relao de emprego, por exemplo, algum que com habitualidade,
rotina e subordinao, traveste-se de terceirizado. Assim, por exemplo, isso pode
ser exemplificado por um vendedor que s vende um determinado produto e vai
quela loja diariamente. O entendimento entre a distino das linhas divisrias,
terceirizado e empregado pode ser tnue, mas insista-se, so contratos distintos
inspirados por princpios igualmente distintos.
Um segundo exemplo dado por Gladston Mamede ilustra bem a revoluo que j se
iniciou e atende pela alcunha de terceirizao. A Volkswagen inaugurou uma fbrica
em Rezende (RJ), em 1996. Desde ento a montadora terceirizou quase que
inteiramente a produo em unidades de produo, na mesma planta fabril. A Delca
monta a cabina, a VDO o interior da cabina, a Maxion o chassis, a Rockwell os
eixos e a suspenso, a MWM/Cummins o motor e a transmisso e a Michelin, as
rodas. Os empregados de cada uma destas empresas no so empregados da
Volkswagen. A montadora mantm um contrato de fornecimento com cada uma
delas; no entanto, a fbrica dos terceirizados no mesmo local do da Volks.
51
Gladston MAMEDE. A terceirizao e contrato empresarial. Valor Econmico. Pg. E2, 26/07/2004
40
Ignorar os benefcios da terceirizao como forma de especializao e reduo de
custos olhar para o passado. Claro, Getlio Vargas no poderia imaginar que um
dia a fbrica seria uma clula de relaes fabris e no um local inspito que
merecesse a proteo legal do Estado. Contudo, em muitas decises judiciais, nosso
Judicirio continua refratrio ao conceito de terceirizao, impondo muitas vezes,
desnecessrias condenaes aos seus adeptos.
Jornada de Trabalho
Como resposta a reduo da jornada de trabalho, a Ford Motor Company mudou-se
da Blgica para Turquia. A General Motors, da Alemanha para a Polnia A mesma
estratgia seria seguida pela Siemens, que fecharia sua planta na regio da Westfalia e
se transferiria para o Leste Europeu. Ou seja, na medida em que os custos de mo-
de-obra se tornam to elevados, mais vantajoso transferir as operaes para um
outro pas. Neste momento, os sindicatos dos empregados da Siemens valeram-se
de uma estratgia simples, mas efetiva: melhor ter sindicalizado empregado, porm
ganhando menos, do que t-los desempregados. Foi assim que decidiram, em
Assemblia, daquela data, ampliar por 2 anos a jornada de trabalho de 35 para 40
horas semanais, pelo mesmo salrio, transformando porm, o bnus em
produtividade.
52
O caso emblemtico por diversas razes. Aqui, entre ns, j se falou em reduzir a
jornada de trabalho por meio de um dispositivo constitucional, alterando a disciplina
prevista na Constituicao de 1988 sobre a jornada de trabalho para um limite de 40
horas semanais.
53
O Professor Jos Pastore critica a proposta, justificando:
preciso ter muito cuidado com esse tipo de deciso. Se difcil mudar uma lei,
quase impossvel revogar uma conquista constitucional. Uma medida dessa natureza
52
Jos PASTORE. Alongamento da Jornada de Trabalho. O Estado de S. Paulo. 13-07-2004, pg. B-2.
53
Art. 7- So direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alm de outros que visem melhoria de sua condio social:
(...)
XIII - durao do trabalho normal no superior a oito horas dirias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensao de
horrios e a reduo da jornada, mediante acordo ou conveno coletiva de trabalho.
41
colocaria todas as empresas, de norte ao sul do pas e em todos os setores, dentro da
mesma camisa de fora, quando, pela via de negociao, isso pode ser ajustado de
forma diferenciada, de acordo com a regio, setores e conjuntura.
Se nossa Constituio dispe que a jornada de trabalho por dia no seja superior a 8
horas, limite mximo, no impede que outras jornadas sejam fixadas com durao
inferior, como a dos bancrios, por exemplo.
54
Extraordinariamente, leis ordinrias
podem fixar jornadas superiores 8 horas: por exemplo, a jornada de trabalho dos
Aeronautas (Lei 7.183/84 - art. 21), estabelece jornadas de trabalho de 11 , 14 ou 20
horas.
55
O tema da jornada de trabalho nasce, principalmente de uma importante conquista
dos trabalhadores quando conseguiram impor uma limitao aos longos perodos
que trabalhavam, reduzindo-os dos padres desumanos para parmetros mais
razoveis. A justificativa dada no Parlamento Ingls em 1847 mostra que o assunto
era polmico: para que a agitao fosse conduzida tranqilamente, para que
cessasse todas as discusses entre capital e trabalho, para que mais no houvesse
greves, ameaas, injrias em relao aos patres, dentro ou fora do Parlamento,
sugere-se aprovar a medida.
56
54
De fato, existe previso constitucional com relao compensao dos horrios de trabalho da semana
(artigo 7, XIII) e da adoo de regras especiais para turnos ininterruptos e revezamento (artigo 7, XIV).
Como se observa, tais matrias so diretamente submetidas tutela sindical, j que os sindicatos exercero
controle imediato sobre as negociaes (convenes e acordos coletivos) exigidas pela lei para tratamento da
reduo da jornada.
55
Importante seria salientar alguns aspectos sobre as razoes bvias da limitao da jornada de trabalho. Para
Arnaldo SSSEKIND (Instituies de Direito do Trabalho. vol. 2. So Paulo: LTr. 1997. pp. 773 e ss.) trs so os
fundamentos a ela associados. De um lado, a limitao ocorre por uma necessidade biolgica, pela natureza
humana e sua dignidade, j que o indivduo suporta apenas uma determinada quantidade de trabalho, seja este
braal ou intelectual. De outro lado, a limitao se d pelo carter social associado ao trabalho, j que
empregado deve contar com tempo livre para lazer e pratica de atividades culturais e familiares. Por fim,
explicada pelo carter econmico, a restringir o desemprego, especialmente pela distribuio de mais postos
de trabalho na empresa e conseqente aumento de integrao de trabalhadores, combate fadiga e
rendimento superior na execuo do trabalho.
56
A propsito ver Arnaldo SSSEKIND. Durao do trabalho e repousos remunerados. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1950. A primeira lei inglesa impunha um limite de horas de trabalho que era imperativo vontade do
patro e do operrio, fixando a jornada em 10 horas dirias. A Frana seguiu o modelo em 1848,
estabelecendo 10 horas em Paris e 11 horas nas demais provncias. Mais tarde, aps o desfecho da Primeira
Guerra, a OIT teve papel decisivo na divulgao da reduo da jornada de trabalho pelo mundo, sendo o
tema colocado em prtica em muitos pases signatrios da Organizao.
42
Louis Blanc, na Frana, em seu importante manifesto sobre a organizao do
pregava a reduo das jornadas, sob o pretexto de que elas arrunam a sade do
trabalhador e os impede de cultivar a inteligncia, prejudicando a dignidade do
homem.
57
Na mesma toada, a prpria Igreja, tradicionalmente isenta em questes
mais polticas de seus dias, em 1891, resolve, por meio da Encclica Rerum
Novarum, do Papa Leo XIII, determinar que no deve o trabalho prolongar-se
por mais tempo que as foras o permitam.
58
No Brasil, em 1919, o tema veio a baila por meio da OIT Organizao
Internacional do Trabalho, que editou a Conveno n
o
1, na Conferencia de
Washington. O documento estabelecia que a jornada de trabalho deveria ser de 8
horas, acrescentados ao horrio de almoo de 1 hora, mas descanso semanal. Em
1912, proposta do Deputado Figueiredo Rocha, de transformar o regime de
trabalho em jornada fixa de 8 horas havia sido derrubada. Assim, foi somente em
1932, que Getlio Vargas, por meio de uma srie de medidas legais, entre elas, o
Decretos 21.186, 22.033, estabeleceu a jornada de trabalho de comerciantes,
industririos, e outros, como os barbeiros, os farmacuticos etc.
A unificao de normas esparsas foi se dar em 1940, com o Decreto Lei 2.308, mais
tarde alterado pela Consolidao das Leis do Trabalho (1943), impondo regras
especiais, por exemplo, aos bancrios (art. 224 a 226 da CLT), aos ferrovirios, (art.
236 a 247 da CLT), capatazia dos Portos (288 a 292) e assim por diante.
57
L'Organisation du Travail. Paris, 1840.
58
Da Carta Encclica Rerum Novarum Del Sumo Pontfice Len XIII Sobre La Situassem De Los Obreros,
divulgada em 15 de maio de 1891: Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de
cosas de lucro y no estimarlos en ms que cuanto sus nervios y msculos pueden dar de s. E igualmente se manda que
se tengan en cuenta las exigencias de la religin y los bienes de las almas de los proletarios. Por lo cual es obligacin de
los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idneo para atender a la piedad, no exponer al hombre
a los halagos de la corrupcin y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domsticas y
de la aficin al ahorro. Tampoco debe imponrseles ms trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase
que no est conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a
cada uno lo que sea justo.
43
Aquilo que excedesse a jornada legal seria considerado como hora extra, ou seja,
servios extraordinrios que ultrapassem a jornada nominal diria, que de 8 horas,
ou aquela que se estenda alm da jornada mxima semanal, isto , de 44 horas, seria
remunerado com um adicional de 50%.
Salrio mnimo no Brasil: evoluo histrica e impactos sobre o mercado de
trabalho
O salrio mnimo surgiu no Brasil em meados da dcada de 30. A Lei n 185 de janeiro de 1936 e
o Decreto-Lei n 399 de abril de 1938 regulamentaram a instituio do salrio mnimo, e o Decreto-
Lei n 2162 de 1 de maio de 1940 fixou os valores do salrio mnimo, que passaram a vigorar a
partir do mesmo ano. O pas foi dividido em 22 regies (os 20 estados existente na poca, mais o
territrio do Acre e o Distrito Federal) e todas as regies que correspondiam a estados foram
divididas ainda em sub-regio, num total de 50 sub-regies. Para cada sub-regio fixou-se um valor
para o salrio mnimo, num total de 14 valores distintos para todo o Brasil. A relao entre o maior
e o menor valor em 1940 era de 2,67.
Esta primeira tabela do salrio mnimo tinha um prazo de vigncia de trs anos, e em julho de 1943
foi dado um primeiro reajuste seguido de um outro em dezembro do mesmo ano. Estes aumentos,
alm de recompor o poder de compra do salrio mnimo, reduziram a razo entre o maior e o
menor valor para 2,24, j que foram diferenciados, com maiores ndices para os menores valores.
Aps esses aumentos, o salrio mnimo passou mais de oito anos sem ser reajustado, sofrendo uma
queda real da ordem de 65%, considerando-se a inflao medida pelo IPC da FIPE (ver grfico
abaixo).
Em dezembro de 1951, o Presidente Getlio Vargas assinou um Decreto-Lei reajustando os valores
do salrio mnimo, dando incio a um perodo em que reajustes mais freqentes garantiram a
manuteno, e at alguma elevao, do poder de compra do salrio mnimo. Da data deste reajuste
at outubro de 1961, quando ocorreu o primeiro reajuste do Governo de Joo Goulart, houve um
total de seis reajustes. Neste perodo, alm de os reajustes terem ocorrido em intervalos cada vez
menores (o ltimo, de apenas 12 meses), ampliou-se bastante o nmero de valores distintos para o
salrio mnimo entre as diversas regies. Deve-se ressaltar que nos dois primeiros reajustes deste
perodo o aumento do maior salrio mnimo foi muito superior ao do menor, com a razo entre
eles atingindo 4,33 em julho de 1954, seu maior valor histrico.
A partir de 1962, com a acelerao da inflao, o salrio mnimo voltou a perder seu poder de
compra, apesar dos outros dois reajustes durante o Governo de Goulart. Aps o golpe militar,
modificou-se a poltica de reajustes do salrio mnimo, abandonando-se a prtica de recompor o
valor real do salrio no ltimo reajuste. Passou-se a adotar uma poltica que visava manter o salrio
mdio, e aumentos reais s deveriam ocorrer quando houvesse ganho de produtividade. Os
reajustes eram calculados levando-se em considerao a inflao esperada, o que levou a uma forte
queda salarial decorrente da subestimao da inflao por parte do governo.
Em 1968, passou-se a incluir uma correo referente diferena entre as inflaes esperadas e
realizadas, sem, no entanto, qualquer correo referente s perdas entre 1965 e 1968. Neste
perodo, que durou at 1974, houve ainda uma forte reduo no nmero de nveis distintos de
salrio mnimo, que passou de 38 em 1963 para apenas cinco em 1974. Tambm reduziu-se a
relao entre o maior e o menor salrio mnimo, que atingiu a valor de 1,41 no final do perodo.
44
De 1975 a 1982, os reajustes do salrio mnimo elevaram gradualmente seu poder de compra, com
um ganho real da ordem de 30%. Em 1979, os reajustes passaram a ser semestrais, e em valores que
correspondiam a 110% da variao do INPC. Alm disso, manteve-se a poltica de estreitamento
entre os distintos valores, que em 1982 j eram somente trs, e com a razo entre o maior e o
menor salrio no valor de 1,16.
A partir de 1983, as diversas polticas salariais associadas aos planos econmicos de estabilizao e,
principalmente, o crescimento da inflao levaram a significativas perdas no poder de compra do
salrio mnimo. Entre 1982 e 1990, o valor real do salrio mnimo caiu 24%. Deve-se destacar ainda
que em maio de 1984 ocorreu a unificao do salrio mnimo no pas.
A partir de 1990, apesar da permanncia de altos ndices de inflao, as polticas salariais foram
capazes de garantir o poder de compra do salrio mnimo, que apresentou um crescimento real de
10,6% entre 1990 e 1994, em relao inflao medida pelo INPC.
H duas concluses importantes a destacar a partir dos dados do grfico abaixo, que mostra a
evoluo histrica do salrio mnimo desde 1940. Em primeiro lugar, ao contrrio de manifestaes
muito corriqueiras de que o poder de compra do salrio mnimo seria hoje muito menor que na sua
origem, os dados mostram que no houve perda significativa.
Em segundo, foi com a estabilizao dos preos a partir de 1994 que se consolidou a mais
significativa recuperao do poder de compra do mnimo desde a dcada de 50
Fonte: www. fazenda.gov.br
13.5.3 - Carteira assinada: Grau de cobertura
Uma segunda discusso sobre o mercado de trabalho diz respeito ao grau de cobertura
isto , a parcela dos trabalhadores cujos rendimentos so maiores ou iguais ao
salrio mnimo e a informalidade das relaes de trabalho.
45
Quanto ao grau de cobertura do salrio mnimo, a tabela anexa, extrada do website
do Ministrio da Fazenda, mostra a evoluo entre 1960 e 1998. Pode-se verificar
que, mais que 70% dos trabalhadores recebiam salrios menores ou iguais ao salrio
mnimo mais alto da Federao em 1960. Em 1970, 50% dos trabalhadores
ganhavam menos que o mnimo. Mais recentemente, so apenas 13.9% os que
recebem menos que o salrio mnimo. H portanto, uma sensvel melhoria neste
aspecto.
A tabela seguinte traz a mesma informao (grau de cobertura), porm agora
segundo a natureza do vnculo empregatcio (com carteira assinada, sem carteira,
conta-prprias). O que salta vista nestes dados a comparao entre o grau de
cobertura e a informalidade, ou seja, a informalidade aumenta o grau de cobertura (e
portanto da pobreza): quase metade destes trabalhadores recebem at um salrio
mnimo, enquanto entre os trabalhadores com carteira assinada esta proporo no
chega a 10%.
46
Abrindo os dados por regies, vemos que o problema de baixa cobertura maior na
Regio Norte e, principalmente, na Regio Nordeste: isto apenas prova as
disparidades regionais no territrio brasileiro. E evidente, o grau de correlao entre
desenvolvimento, emprego e legalidade.
A tabela anterior indica a razo existente entre o salrio mdio e o salrio mnimo
nos diversos Estados brasileiros. Enquanto em So Paulo e no Distrito Federal o
salrio mdio mais de cinco vezes maior que o salrio mnimo, em outros Estados
do Norte ou do Nordeste aquele no chega a duas vezes. Assim, parece claro que o
impacto decorrente das elevaes do salrio mnimo nos diferentes Estados reflete-
47
se de modo diferenciado na informalidade, no grau de cobertura do salrio mnimo
e na prpria taxa de desemprego.
A distribuio dos ocupados segundo faixa salarial, por posio, indicadas no
quadro abaixo
FGTS
A Lei n
o
9.012, de 1995 a que disciplina o FGTS. Institudo pela Lei n 5.107, de
13 de setembro de 1966, o FGTS constitudo pelos saldos das contas vinculadas
de trabalhadores, regido segundo normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho
Curador, integrado por trs representantes da categoria dos trabalhadores e trs
representantes da categoria dos empregadores, alm de um representante de alguns
rgos estatais, tais como, por exemplo, do Ministrio do Trabalho. A gesto da
aplicao do FGTS cabe Caixa Econmica Federal (CEF) enquanto agente
operador. Inicialmente voltado para uma poltica nacional de desenvolvimento
urbano e para polticas setoriais de habitao popular, saneamento bsico e infra-
estrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal, o FGTS progressivamente
apoiou diversos outros programas com cunho social.
48
Segundo critrios fixados pelo Conselho Curador do FGTS, as operaes do fundo
devem preencher certos requisitos de garantias, tais como hipotecria, cauo de
Crditos hipotecrios prprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos
do agente financeiro; cauo dos crditos hipotecrios vinculados aos imveis
objeto de financiamento; cesso de crditos do agente financeiro, derivados de
financiamentos concedidos com recursos prprios, garantidos por penhor ou
hipoteca entre outros. O objetivo remunerar o saldo das contas do FGTS em 6%
ao ano mais a correo da TR. Alternativamente, em alguns casos foi decidido que o
FGTS tambm poderia servir para compra de aes, no mercado de capitais de
certas empresas estatais.
FAT
O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT um fundo especial, de natureza
contbil-financeira, vinculado ao Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE,
destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao
financiamento de Programas de Desenvolvimento Econmico.
A principal fonte de recursos do FAT composta pelas contribuies para o
Programa de Integrao Social - PIS, criado por meio da Lei Complementar n 07,
de 07 de setembro de 1970, e para o Programa de Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico - PASEP, institudo pela Lei Complementar n 08, de 03 de
dezembro de 1970.
A partir da promulgao da Constituio Federal, em 05 de outubro de 1988, nos
termos do que determina o seu artigo 239, os recursos provenientes da arrecadao
das contribuies para o PIS e para o PASEP foram destinados ao custeio do
Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, pelo menos quarenta por
cento, ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econmico, esses
ltimos a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social -
BNDES. Os recursos que o BNDES empresta advm desse fundo de
financiamento. Essa mesma lei tambm instituiu o Fundo de Amparo ao
49
Trabalhador - FAT e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - CODEFAT. O CODEFAT um rgo colegiado, de carter
tripartite e paritrio, composto por representantes dos trabalhadores, dos
empregadores e do governo, que atua como gestor do FAT.
As cotas individuais do Fundo de Participao PIS-PASEP foram mantidas, como
direito adquirido dos seus participantes. Apenas cessou o fluxo de ingresso de novos
recursos das contribuies naquele fundo, que passaram a custear os programas
acima referidos.
A regulamentao do Programa do Seguro-Desemprego e do abono a que se refere
o artigo 239 da Constituio ocorreu com a publicao Lei n 7.998, de 11 de janeiro
de 1990.
Dentre as funes mais importantes do rgo, esto as de elaborar diretrizes para
programas e para alocao de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e
de propor o aperfeioamento da legislao referente s polticas. Igualmente
importante o papel que exerce no controle social da execuo dessas polticas, nas
quais se renem as as competncias de anlise das contas do Fundo, dos relatrios
dos executores dos programas apoiados, bem como de fiscalizao da administrao
do FAT.
As principais aes de emprego financiadas com recursos do FAT esto
estruturadas em torno de dois programas: o Programa do Seguro-Desemprego (com
as aes de pagamento do benefcio do seguro-desemprego, de qualificao e
requalificao profissional e de orientao e intermediao do emprego) e os
Programas de Gerao de Emprego e Renda, cujos recursos so alocados por meio
dos depsitos especiais criados pela Lei n 8.352, de 28 de dezembro de 1991
(incorporando, entre outros, o prprio Programa de Gerao de Emprego e Renda -
PROGER, nas modalidades Urbano e Rural e o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF).
50
Os Programas de Gerao de Emprego e Renda, voltados em sua maioria para
micro e pequenos empresrios, cooperativas e para o setor informal da economia,
associam crdito e capacitao empregados para a gerao de emprego e renda. Os
recursos extra-oramentrios do FAT so depositados junto s instituies oficiais
federais que funcionam como agentes financeiros dos programas (Banco do Brasil
S/A, Banco do Nordeste S/A, Caixa Econmica Federal e Banco de
Desenvolvimento Econmico e Social). Fazem parte desses programas o PROGER,
o PROGER Rural e o PRONAF.
Alm dos programas para micro e pequenos empresrios, o FAT financia o
PROEMPREGO, que est voltado para setores estratgicos (e.g transporte coletivo
de massa, infra-estrutura turstica, obras de infra-estrutura voltadas para a melhoria
da competitividade do pas), bem como o PROTRABALHO, que busca apoiar
plos de desenvolvimento integrado na Regio Nordeste e norte de Minas Gerais.
Note que tais programas revelam-se fundamentais para o desenvolvimento
sustentado e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.
O Programa do Seguro-Desemprego responsvel pelo trip bsico das polticas de
emprego:
Benefcio do seguro-desemprego - promove a assistncia financeira
temporria ao trabalhador desempregado, em virtude de dispensa sem justa
causa;
Intermediao de mo-de-obra - busca a recolocao do trabalhador no
mercado de trabalho, de forma gil e no onerosa, reduzindo os custos e o
tempo de espera de trabalhadores e empregadores;
Qualificao profissional - por meio do Plano Nacional de Qualificao do
Trabalhador (PLANFOR), visa capacitar trabalhadores e elevar sua
empregabilidade, contribuindo para sua insero e reinsero profissional.
51
As aes do Programa do Seguro-Desemprego so executadas, via de regra,
descentralizadamente, por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE, agncias
privadas ligadas s entidades sindicais e entidades contratadas pelas Secretarias
Estaduais de Trabalho, alm de outras parcerias (sistemas de educao profissional,
universidades, Sistema S, sindicatos de trabalhadores, entre outros), e contam com a
participao das Comisses de Emprego locais.
As Comisses de Emprego, que possuem a mesma estrutura do CODEFAT
(carter permanente, deliberativo, tripartite e paritrio), tambm tm papel
importante no Programa de Gerao de Emprego e Renda, uma vez que cabe a elas
a definio das prioridades locais de investimento, que orientam a atuao dos
agentes financeiros.
Montou-se, portanto, em torno do Fundo de Amparo ao Trabalhador, um arranjo
institucional que procura garantir a execuo de polticas publicas de emprego e
renda de maneira descentralizada e participativa. Isto permite a aproximao entre o
executor das aes e o cidado que delas se beneficiar, conferindo-lhe a
possibilidade de participar e exercer seu controle, por meio dos canais adequados
13.8.6 Carteira de Trabalho:
Finalmente, possvel mencionar alguns aspectos relacionados Carteira de
Trabalho e Previdncia Social. Legado da Era Vargas, instituda pelo Decreto n
21.175, de 21 de maro de 1932, e posteriormente regulamentada pelo Decreto n
o
22.035, de 29 de outubro de 1932, ela tornou-se documento obrigatrio para toda
pessoa que venha a prestar algum tipo de servio a outra pessoa, seja na indstria,
no comrcio, na agricultura, na pecuria ou mesmo de natureza domstica.
A Carteira de Trabalho e Previdncia Social hoje, por suas anotaes, um dos
nicos documentos a reproduzir com tempestividade a vida funcional do
52
trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas,
como seguro-desemprego, benefcios previdencirios e FGTS.
Reduo da pobreza e mudanas no mercado de trabalho
Assim como importante discutir o grau de cobertura do salrio mnimo (e no apenas o seu valor
a cada momento do tempo), importante entender que outros fatores alm do salrio influem
no bem-estar social das famlias. Investimentos em educao e sade, bem como em infra-estrutura
bsica, melhoram o bem-estar da populao sem que se manifestem do poder de compra dos
salrios. Os dados so abundantes quanto s melhorias nas condies de vida da populao mais
pobre como resultados destes investimentos nos ltimos anos.
Quanto renda, a medida mais adequada para medi-la no o salrio nem, em particular, o salrio
mnimo, mas sim a renda familiar per capita, isto , a renda da famlia dividida pelo nmero de
familiares. Esta medida toma em considerao alteraes demogrficas (como a reduo no nmero
de filhos) e mudanas estruturais no mercado de trabalho (como o crescimento da participao das
mulheres no mercado de trabalho).
H pelo menos dois fatores que fazem com que a renda familiar per capita venha crescendo em
relao ao salrio mnimo no Brasil. Em primeiro lugar, o fato de que a proporo de chefes de
famlia que recebe salrio mnimo menor que a proporo mdia e, alm disso, vem caindo ao
longo dos anos. Em 1981, a proporo de chefes de famlia ganhando menos que o salrio mnimo
era de 21.3%. Em 1998, esta proporo havia cado para 11.7% enquanto para o total de
trabalhadores a proporo era 13.9%.
O segundo ponto fundamental o crescimento da participao de outros membros da famlia, que
no o chefe, na fora de trabalho. Nota-se que em 1981, a taxa de participao de conjugues no
mercado de trabalho era de 27%, enquanto em 1998 chegava a 48.2%. Entre os filhos, a
participao cresceu de 24.5% para 27.1% no mesmo perodo.
Como conseqncia destes dois fatores, a renda domiciliar per capita tem crescido em relao ao
salrio mnimo. Os dados mostram que nas duas ltimas dcadas, esta relao passou de 0,82 em
1981 para 2,27 em 1998. Tal crescimento explica a forte queda no mesmo perodo da proporo de
pessoas vivendo com renda familiar per capita inferior a um salrio mnimo. Vemos que este nmero
era de 79,1% em 1981, e em 1998 havia se reduzido para 45,8%, o que representa uma reduo de
mais de 40%.
Impacto Fiscal do Aumento do Salrio Mnimo
Como temos chamado ateno, deve-se ter em conta o impacto fiscal (tanto no ano em curso
quanto permanente) de um aumento do salrio mnimo. No que o resultado fiscal seja um fim em
si mesmo, pois no este o caso. O ajuste fiscal e a mudana do regime fiscal, ambos em curso no
Brasil, so pr-condies para a retomada do crescimento da economia, do emprego e da renda,
como alis, j se pode observar em meses recentes.
A ttulo de exemplo, os dados mostram o efeito de longo prazo (isto , permanentes) sobre os
gastos da previdncia dos aumentos reais dos benefcios em 1995 e 1998.
O impacto fiscal do aumento do salrio mnimo se d sobre as contas da Previdncia Social, as
despesas com seguro-desemprego e abono salarial, os gastos com a LOAS e as folhas de pagamento
das trs esferas do governo. Deve-se enfatizar o impacto de 12 meses, uma vez que ele nos oferece
uma aproximao mais confivel do impacto permanente destes reajustes.
Observa-se que, em mdia, para cada Real de aumento no valor do salrio mnimo ocorre um
aumento da ordem de R$ 200 milhes nos gastos do Governo Federal. Deste total, quase 75% vm
do impacto sobre a previdncia. Quase 65% dos benefcios pagos pela Previdncia so no valor de
um salrio mnimo, o que corresponde a 35% do total dos valores dos benefcios. Isso explica
porque o impacto do aumento do salrio mnimo sobre as contas da Previdncia to forte.
O impacto sobre as folhas dos estados e dos municpios pode parecer pouco expressivo se
olharmos apenas para o seu valor (R$ 4 milhes para o total dos estados, e R$ 11 milhes para os
municpios, considerando-se apenas os servidores na ativa). O grande problema aqui que, em
53
municpios pequenos e de regies menos desenvolvidas, este impacto pode ser enorme em termos
relativos. Entre as Prefeituras da Regio Nordeste, onde este problema deve ser mais grave, 37% do
total de servidores pblicos municipais recebem salrios num valor menor ou igual a um salrio
mnimo. A anlise dos percentuais de aumento para os servidores estaduais e municipais, agregados
por estado da federao indica haver um srio risco de diversos municpios destes estados onde este
percentual mais elevado, no terem como suportar estes aumento.
54
13.6 - Resumo do Captulo
Na primeira parte foram destacadas as polticas legais e pblicas relacionadas ao
mercado de trabalho, especialmente com relao aos seus institutos, objeto de
proteo, princpios informadores e a relao tradicionalmente concebida entre
empregado e empregador. Nesse sentido, fez-se referncia aos fatores de produo
associados ao mercado de trabalho, o bem jurdico trabalho como sendo conceito
central nesse contexto e, tambm, alguns aspectos relevantes sobre a atual
configurao da legislao trabalhista no Brasil. Assim como acontece com a
informalidade nas relaes de trabalho, outros efeitos socialmente indesejveis esto
associados manuteno de um regime trabalhista institucionalmente desgastado no
pas.
Sobre a Era Vargas, em especial, foram mencionados os resultados da evoluo do
direito do trabalho desde a dcada de 30 no Brasil, especialmente pela promulgao
da CLT, assim como a formao do carter constitucional dessa disciplina em nosso
direito positivo. Transitando entre o assistencialismo, o corporativismo e a proteo
do sindicalismo no pas, as Constituies foram, sem dvida, instrumentos que
marcaram vieses tambm preocupadas com a realidade do mercado de trabalho no
Brasil, porm de difcil concretizao. Na Constituio de 1988, em especial,
proteo geral e ampla conferida ao trabalhador (empregado e desempregado), de
acordo com o extensivo rol de direitos trabalhistas previstos no artigo 6
o
. Foram
igualmente abordados outros importantes institutos relacionados ao mercado de
trabalho, como o direito de greve, a livre associao profissional e a conseqente
liberdade de formao de sindicatos, bem como suas implicaes e possveis crticas.
Tambm foram descritos alguns dos princpios mais importantes que informam o
Direito do Trabalho, tais como a hipossuficincia relativa, fundada na condio de
debilidade econmica relativa do trabalhador e determinada por comparao e
critrio de proporcionalidade ante o status do empregador. Igualmente, tratou-se da
natureza da relao de trabalho e da harmonizao das relaes entre empregado e
55
empregador, a observncia dos princpios da autonomia da vontade, da supremacia
da ordem pblica e a obrigatoriedade das convenes. Como visto, eles esto muitas
vezes divorciados de alguns dos princpios de eficincia que norteiam as premissas
de Law & Economics.
Em relao aos desafios do emprego e empregabilidade, discutimos a questo da
jornada de trabalho e o sentido de sua limitao, o grau de cobertura da carteira de
trabalho, os fundos criados para servir de apoio ao trabalhador no Brasil. Sobre
estes, deve ser destacada a importncia do FGTS e do FAT. Finalmente,
Glossrio
Temas de Direito do Trabalho na Constituio de 1988
Ao; prazo de prescrio - CF art. 7, XXIX
Acidente de trabalho; seguro e indenizao - CF art. 7, XXVIII
Aposentadoria - CF art. 7, XXIV e art. 202
Automao do trabalho; proteo aos - CF art. 7, XXVII
Aviso prvio - CF art. 7, XXI
Benefcios da previdncia social;
Reajuste - CF art. 201, 2
Cargo de direo de comisses internas de preveno de acidentes; dispensa -
proibio - CF DT, art. 10, II, a
Colegiados dos rgos pblicos; participao - CF art. 10
Contribuio social - CF 195, II e 8
de baixa renda; ajuda aos dependentes - CF art. 201, II
Desemprego involuntrio; proteo - CF art. 201, IV
Despedida arbitrria ou sem justa causa; indenizao compensatria - CF art. 7, I e
DT, art. 10
Discriminao; proibio - CF art. 7, XXX e XXX
Dissdios individuais e coletivos; conciliao e julgamento - CF art. 114
56
Doena, invalidez, morte, velhice e recluso; benefcios da previdncia social - CF
art 201, I
Domsticos; direitos - CF art. 7, pargrafo nico
Empregada gestante; dispensa - proibio - CF DT, art. 10, II, b
Empregado; produtividade; participao nos ganhos - CF art. 218, 4
Frias remuneradas - CF art. 7, XVII
Fundo de garantia do tempo de servio - CF art. 7, III
Greve - CF art. 9
Igualdade de direitos - CF art. 7, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV
Licena gestante - CF art. 7, XVIII
Licena-paternidade - CF art. 7, XIX
Participao nos lucros e gesto da empresa - CF art. 7, XI
Repouso semanal - CF art. 7, XV
Representao legal nas empresas - CF art. 11
rurais; habitao - CF art. 187, VIII
Rurais e urbanos; direitos assegurados - art. 7
Salrio e remunerao - CF art. 7, IV a X, XII, XVI, XVII, XVIII, XXIII, XXX e
XXXI
Salrio de contribuio; previdncia social - CF art. 201, 3 e 4 e 5 e art. 202,
caput e I, II e III
Seguro-desemprego - CF art. 7, II
Setor privado; dirigentes e representantes sindicais; anistia - CF DT, art. 8, 2
Sindicatos - CF art. 8
Acidentes do; previdncia social; assistncia - CF art. 201,I
Base da ordem social - CF art. 193
Convenes e acordos coletivos - CF art. 7, XIII e XXVI
do menor - CF art. 7, XXXIII e art. 227, 3, I, II e III
Formao para; plano nacional de educao - CF art. 214, IV
Insalubre ou perigoso - CF art. 7, XXIII
Inspeo do; competncia da Unio - CF art. 21, XXIV
57
Jornada de - CF art. 7, XIII e XIV
Manual tcnico e intelectual; distino; proibio - CF art. 7, XXXII
Mercado de; assistncia social; integrao - CF art. 203, caput e III
Noturno - remunerao - CF art. 7 IX
Ofcio, profisso ou atividade econmica; livre exerccio - CF art. 5, XIII e art. 170,
pargrafo nico
Segurana e higiene do; normas - CF art. 7, XXII
Servio extraordinrio; remunerao - CF art. 7, XVI
Valores sociais do - CF art. 1, IV
Sugesto de leituras
FARIA, Jos Eduardo. A crise do direito do trabalho no Brasil. Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de So Paulo. So Paulo. v.80. 1985. pp.197-209.
GRZETICH, Antonio. La subordinacion en el sector informal. Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. n.7. 1995. pp.57-100
HARPER, Michael C., ESTREICHER, Samuel e MELTZER, Bernard D. Labor
Law Cases Materials and Problems: Cases, Materials, and Problems. 4
th
Edition. New York-
Boston-Toronto: Little Brown & Co. 1996.
IRTI, Natalino. Un inquieto dialogo sul corporativismo. Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile. v.41. n.1. 1987. pp.237-45
LESLIE, Douglas L. Labor Law. 4
th
edition. St.Paul: West Publishing Co. 2000.
POSNER, Richard. Economic Analysis of Law. Boston-Toronto-London: Little Brown
and Co. 1992. pp.321 e ss.
58
SUSSEKIND, Arnaldo. Alcance e objeto da flexibilizao do Direito do Trabalho. In A
Transio do Direito do Trabalho no Brasil: Estudos em Homenagem a Eduardo G.
Saad. So Paulo: LTr. 199, pp.33-37
___________________. Instituies de Direito do Trabalho. 6 edio. So Paulo: LTr.
1997. (1 e 2 volumes)
Revista Trabalho & Doutrina. Vol. 21 e Vol.23. So Paulo: Saraiva. 1999.
WILLIAMSON, Oliver E. The Economics Institutions of Capitalism- Firms, Markets,
Relational Contracting, New York/London: Free Press. 1987. pp.206-272
Exerccios:
1. Leia o artigo abaixo e depois de refletir sobre as colocaes do autor, sugira trs
alteraes na legislao trabalhista que voc faria, caso fosse eleito Presidente da
Repblica:
Murro em Ponta de Faca
Em 2001, foram julgados 2.380.741 processos trabalhistas, o equivalente a um processo para cada
13 trabalhadores empregados com carteira assinada. Foram pagos R$ 4,080 bilhes a reclamantes
em processos julgados por uma Justia Trabalhista que custou R$ 4,3 bilhes. Ou seja, a relao
entre valores pagos a reclamantes e o custo da ao judicial praticamente de 1 para 1, sem contar
o que custam os advogados, fiscais e procuradores do trabalho. Sairia mais barato para o Pas no
mnimo 1/4 de porcentagem do PIB se as empresas cumprissem o contrato de trabalho e a lei.
Por que no cumprem?
Uma resposta que deve ser mais barato para a empresa pagar ao trabalhador na Justia que
durante a vigncia do contrato. As empresas alegam que, j que o trabalhador vai cobrar os diretos
na Justia de qualquer maneira, ento melhor resolver tudo de vez na presena de um juiz. As
empresas dizem ainda que elevado o custo demanter ou contratar advogados para lidar com
demandas judiciais, mas mesmo assim o enorme nmero de aes sugere que deve ser mais barato
pagar na Justia que pagarem dia. Evidentemente, no deveria ser mais barato se o juiz, diante da
59
lei, do contrato e das evidncias, fizesse o empregador pagar o que deve. As empresas
economizariam, no mnimo, custas dos advogados.
Uma razo est em que, de acordo com a prpria Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), o juiz
deve buscar a conciliao entre as partes. De fato, o art. 764, pargrafo 1. da CLT diz que os
juzes e Tribunais do Trabalho empregaro sempre os seus bons ofcios e persuaso no sentido de
uma soluo conciliatria dos conflitos. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, em
cerca de 45% dos casos h um acordo entre o trabalhador e a empresa. Ora, se a empresa sabe que,
em no cumprindo a lei, poder negociar a dvida perante um juiz com probabilidade de vir a pagar
menos que o devido, por que pagar em dia?
Se a CLT exigisse que o juiz cumprisse a lei e o contrato de trabalho, e que arbitrasse o valor da
dvida da empresa com base em evidncias e provas, a empresa no teria incentivos para
descumprir a lei e o contrato. O empresrio poderia ainda argumentar que o custo de conhecer os
meandros da legislao trabalhista maior que o custo de constituir uma advogado para defender
seus interesses perante o juiz. pouco convincente. Talvez mais razovel seja argumentar que a
legislao, por ser universal, no considera as peculiaridades de cada empresa, e induz algumas a
descumprirem a lei mesmo sob o risco de serem autuadas e multadas, e terem de constituir
advogados.
Considere-se o seguinte exemplo. Uma empresa de construo civil inicia obra cuja durao
prevista de dois anos e contrata 100 trabalhadores. O mesmo nmero que contratou uma
siderrgica. Encerrada a obra, incerto se outra obra se seguir. A produo na construo civil
descontnua por natureza. A produo de ao contnua e, por razes tecnolgicas, o grau de
oscilao de produo muito baixo. Portanto, a probabilidade de que a empresa de construo
demitir todos os trabalhadores daquela obra daqui a dois anos muito maior que na siderrgica. O
custo de demisso sem justa causa nos dois setores exatamente o mesmo (aviso prvio mais 40%
do FGTS), mas, como a rotatividade da fora de trabalho muito maior na construo civil que na
siderurgia, o valor esperado do custo salarial horrio muito maior no primeiro setor que no
segundo. evidente que o incentivo para a informalidade na construo maior que na siderurgia.
A falta de negociao direta entre empresas e sindicatos e a impossibilidade de que para certos itens
da pauta o negociado domine o legislado fazem com que a lei seja, em vrios casos, incompatvel
com a produtividade do trabalhador, a tecnologia empregada e a estrutura de concorrncia
domercado em que opera a empresa. Insistir em lei to abrangente, sem dar espao para adaptaes
negociadas, dar murro em ponta de faca, e o resultado o elevado custo dos conflitos trabalhistas
na Justia e a informalidade.
O problema da legislao trabalhista est no fato de que deixa pouca margem negociao. H
duas excees que confirmam a regra. No artigo 7. da Constituio, prev-se a irredutibilidade do
salrio e da jornada de trabalho, salvo o disposto em conveno ou acordo coletivo. Essa clusula
oferece espao para negociao dado que salrio horrio e jornada so a base econmica de
qualquer relao de trabalho. Mas no to simples. A CLT considera ilegais alteraes contratuais
que possam ser interpretadas como lesivas ao trabalhador. Fora isso, todo o resto do artigo 7.
(salrio mnimo, 13. salrio, frias e abono de 1/3 do salrio, FGTS, salrio noturno maior que
diurno, horas extras, licenas maternidade e paternidade, aviso prvio, etc.) e da CLT no so
passveis de negociao.
Esse conjunto de regras incompatvel com a realidade de muitas empresas. H Estados no Norte
e Nordeste do Pas, por exemplo, em que parte considervel dos trabalhadores, devido a seu grau
de instruo e produtividade, ganha menos que um salrio mnimo. Se alm do salrio mnimo a
legislao exige uma srie de outros direitos mais o pagamento da contribuio para a previdncia,
bvio que grande parte da populao ocupada encontra-se no setor ilegal ou informal. No governo
FHC o piso salarial foi regionalizado, o que d a governadores e a legislativos estaduais a
60
oportunidade tornar o salrio mnimo mais compatvel com o mercado de trabalho local. Mas a lei
no pegou, e todos os anos os holofotes continuam apontando para Braslia para a definio do
salrio mnimo nacional.
A informalidade e o tamanho da Justia do Trabalho so conseqncias do abismo que existe entre
as exigncias da lei, de um lado,e de outro, as condies econmicas e incentivos das empresas para
cumpri-la. Se a lei desse mais espao para a negociao e os juzes do trabalho fizessem cumprir os
contratos, a informalidade e o prprio aparato judicirio seriam menores.
cedo para dizer se o governo encaminhar uma proposta de reforma trabalhista que ataque esses
pontos. Pela histria da Central nica dos Trabalhadores e do prprio PT, seria de se esperar uma
reforma cuja nfase estivesse na valorizao dos sindicatos e da negociao coletiva. importante
que os trabalhadores e patres se organizem livremente, tornando as entidades mais representativas.
Isso ajuda a tornar as negociaes mais sensveis aos interesses das partes.
Mas pouco. Sem lidar com a relao entre a lei e a negociao, com mais espao para a segunda, e
o papel da Justia do Trabalho, os ganhos de eficincia associados reforma sero muito
pequenos.
Edward Amadeo, foi Ministro do Trabalho e scio da Tendncias Consultoria Integrada
(Artigo originalmente publicado no Estado de S. Paulo, 25/07/2004)
2. Considerando a questo da informalidade no mercado de trabalho, busque
associar suas causas dificuldade de reduo dos ndices de desemprego no Brasil.
3. Estabelea as possveis distines existentes entre flexibilizao de direitos
trabalhistas e reforma da legislao trabalhista. Procure pesquisar nas fontes
doutrinrias o tratamento desses temas.
A organizao do trabalho na abordagem de Oliver Williamson
A organizao coletiva do trabalho serve como forma para a reduo de custos de
transao nas relaes que seriam estabelecidas individualmente entre empresa e
trabalhadores. Imagine se a empresa tivesse que adotar um regime individual
especfico de relacionamento com para cada trabalhador dentro do e uma ambiente
de trabalho. Isso certamente geraria possveis discriminaes formais, que poderiam
ser desejveis ou indesejveis e prejudiciais em determinadas situaes. O
desenvolvimento dose recursos humanos (o que Williamson denomina chama de
human assets, na concepo clara de que o trabalho constitui um importante ativo da
61
empresa), a resoluo de conflitos por meio de negociaes coletivas, adaptao do
ambiente de trabalho, a considerao da dignidade presente nas relaes, sero
possveis benefcios que variam de acordo com a intensidade e forma de acordo
com as relaes que a empresa adota para estruturar as relaes de trabalho
existentes e os prejuzos potenciais sobre a organizao coletiva do trabalho.
Assim, no primeiro caso, a saber, a estrutura das relaes, pode ser que a empresa
utilize uma estrutura simples e arcaica para disciplinar complexas relaes de
trabalho. Isso teria conseqncias provavelmente negativas e fragmentrias
(disruptives consequences) para a empresa e seus trabalhadores, especialmente pelo num
desgaste da relao entre eles estabelecida. Pode ser tambm, que se utilizada uma
estrutura complexa para disciplinar certas relaes de trabalho que sejam simples,
certamente haver um risco de a empresa incorrer em custos excessivos. Assim, o
prprio arcabouo jurdico e institucional de que esta se vale para moldar tais
relaes varia em maior ou menor complexidade.
A eficincia encontrada nos casos de organizao do trabalho aquela decorrente da
melhor forma de envolvimento entre empresa e trabalhadores. Para verificar um
arranjo timo desse arcabouo, algumas variveis so analisadas por Williamson,
como a existncia de um o controle eficiente simbolizado pelo regramento das
relaes de trabalho, e como elas se desenvolvem e de mecanismos de a valorao
das formas de organizao do trabalho, isto e, como seria possvel estimar,
preventivamente ou posteriormente, as medidas que foram adotadas pela empresa
para a coordenao dos fatores de produo e a no sentido de estabelecer uma
organizao de trabalho.
59
59
cf. Oliver E. WILLIAMSON, Oliver E. The Economics Institutions of Capitalism- Firms, Markets, Relational
Contracting, New York/London: Free Press. 1987. p. 242
CAPTULO XIV: TPICOS EM LAW & ECONOMICS
Proteo do Direito do Consumidor
A tutela do consumidor est protegida na Constituio Federal, atravs do princpio
da proteo ao consumidor, elencado nos artigos 5, XXXII, e 170, V, alm do
artigo 48, do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias, que determinou a
criao de um Cdigo de Defesa do Consumidor (CDC). Por serem disposies
importantes, vamos analisar cada uma delas: Primeiro, o art. 5
o
, XXXII determina
que o Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. portanto
uma obrigao do Estado dentro da legalidade; ou seja, deve haver uma lei que
obrigue a competncia do Estado de defender o consumidor. Depois, o art. 170:
afirma que: a ordem econmica, fundada na valorizao do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existncia digna, conforme os ditames
da justia social, observados os seguintes princpios: ... V defesa do consumidor.
Aqui, o que se v no apenas uma obrigao do Estado em promover a tutela do
consumidor, mas ele far tal defesa inspirado nos princpios da valorizao do
trabalho humano e na livre iniciativa.
O esprito da Constituio de 1988 suscitou diversas polmicas, como j se afirmou.
Enquanto uns caracterizaram-na pelo seu carter liberal, limitando o Estado a aes
quase que exclusivamente polticas, outros salientaram seu cunho mais
programtico.
1
. No entanto, a ndole liberal da Carta, est expressa exatamente pelos
valores consagrados no art. 170: os valores sociais da livre iniciativa e da justia
social, colocando-os no mesmo plano de outros valores maiores de uma sociedade,
quando reafirmou-se o ideal da construo de uma sociedade livre, justa e solidria
1
Eros GRAU analisa com percucincia: "Que a nossa constituio de 1988 uma constituio dirigente, isto
inquestionvel. O conjunto de diretrizes, programa e fins que enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade
realizados, a ela conferem o carter de plano global normativo, do Estado e da sociedade. O seu art. 170
prospera, evidenciadamente, no sentido de implantar uma nova ordem econmica". Eros GRAU. A ordem
econmica na Constituio de 1988. Interpretao e crtica. p. 199.
(artigo 3, inciso I). Acertadamente, como previram alguns na poca de sua
promulgao, a sensatez a favor da liberdade nas afirmaes de longo prazo no
estava traduzida em mecanismos seguros de viabilizao do curto prazo.
2
E finalmente, o Ato das Disposies Transitrias, o apndice do texto
constitucional que determina como ser a transio, do momento em que a Carta
promulgada (05 de outubro de 1988) at 6 meses depois: o artigo 48 dispe: O
Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgao da Constituio,
elaborar cdigo de defesa do consumidor..
1
O cdigo em questo, como se sabe,
foi editado, atravs da Lei n 8.078, em 11.09.1990, no cento e vinte e dias depois,
mas quase dois anos depois. esta a lei do consumidor, que dispe sobre a
proteo do consumidor e d outras providncias.
O objetivo deste captulo simplesmente alinhavar alguns dos princpios e
conceitos que importam nesta discusso. Antes contudo, vale um breve histrico do
Direito do Consumidor.
Origens do Direito do Consumidor
O ser humano consumidor, e podemos definir, precariamente, que aquele que
adquire. No curso da histria da humanidade, o que podamos facilmente observar
era a fragilidade do adquirente (consumidor) na relao. Isto porque, se entende o
consumidor at hoje como parte fraca de uma relao de subordinao s condies
e interesses que o titular dos bens ou servios (o fornecedor) impe.
Luiz Otvio de Oliveira Amaral coloca o direito do consumidor como uma espcie
de direito humano.
3
Com a evoluo dos direitos do homem, os conceitos
individualistas deram lugar aos coletivos, tendo, aqui no Brasil, atingido seu ponto
mximo com a edio da Carta de 1988, onde o consumidor ganhou de fato status
2
Geraldo VIDIGAL. A ordem econmica na Constituio Brasileira de 1988. p. 376.
3
Idem, ibidem
de rea do Direito. certo dizer que o consumidor ganhou espao ao lhe ser
assegurado, constitucionalmente, o direito proteo dentro da relao de consumo, no
artigo 5, inciso XXXII. A expanso industrial e do consumo, provocaram grandes
transformaes na economia mundial, que acabaram por exigir uma maior proteo
ao consumidor.
Caio Tcito, sobre a ampliao dos direitos humanos mostrava a tendncia de
ampliao do mbito dos direitos humanos de modo a abranger j no mais os direitos
pertinentes a uma ou mais pessoas determinadas, ou at mesmo direitos coletivos de categorias
especficas, ligados por uma relao jurdica bsica (como, por exemplo, os acionistas de uma
sociedade annima, ou os membros de um condomnio) mas para alcanar os interesses de grupos
integrados por uma pluralidade de pessoas indeterminadas, embora vinculadas por um mesmo
interesse comum. E, entre os modelos dessas classes de pessoas, destacava que aos consumidores
sobreleva a qualidade dos produtos ou a defesa contra manipulaes de mercado (RDA, v.
157/10-11).
4
No mercado de consumo, fcil destacar a diferena entre aqueles que se utilizam e
acessam o mercado, e aqueles que tm domnio sobre os meios (titulares de bens e
servios). Da uma necessria e importante distino entre consumidor e fornecedor.
A origem da proteo ao consumidor antiga. Mas havia um outro instituto
assemelhado, primitivo e com diferentes implicaes. Tratava-se da proteo da
economia popular. Na Constituio Federal de 1934, precisamente nos artigos
115 a 117, tm-se as primeiras manifestaes visando proteger a economia popular.
Observa-se assim uma produo legislativa posterior que visa a proteo economia
popular em muitos aspectos, como por exemplo os decretos-lei ns 869/38 e
9.840/46, que dispunham sobre crimes contra a economia popular, a Lei n
4.137/62 que reprimia o abuso do poder econmico, e a Lei n 7.347/85 que
4
TCITO, Caio. Direito do Consumidor, in O Direito na Dcada de 1990: novos aspectos. So Paulo : Editora
Revista dos Tribunais, 1992, p. 16.
regulou a ao civil pblica visando a proteo dos interesses difusos, entre outras
espcies normativas.
O Prof. Fbio Konder Comparato observa sobre o tema: esse ingresso recente da figura
do consumidor nos textos constitucionais bem compreensvel, pois o prprio direito do consumidor,
em seu conjunto, como realizao de uma poltica pblica, algo de novo na evoluo do Direito. Se
se quiser datar sua origem, pode-se dizer que ela remonta a 1962, ano em que o Presidente
Kennedy publicou sua famosa mensagem, definindo quatro direitos fundamentais dos consumidores:
o direito segurana, o direito informao, o direito de escolha e o direito de ser ouvido ou
consultado.
5
A Comisso das Naes Unidas sobre Direitos do Homem, quando da sua 29
sesso, realizada em Genebra, utilizou-se dos princpios fundamentais, expostos
pelo Presidente Kennedy, considerando-os como vlidos, e essenciais coletividade
dos consumidores.
medida que eram percebidos avanos nos direitos humanos, ao trabalhador,
principalmente, lhe eram asseguradas novas conquistas. A grande parcela de
consumidores constituda de agentes econmicos que so tambm trabalhadores
assalariados, das mais diversas reas como o captulo que trata das relaes de
trabalho demonstra. Ora, na proporo em que o trabalhador ganhava espao e
respeito, o consumo crescia. Neste ponto, a ONU tem participao ativa, atravs de
discusses e debates acerca do tema, alm de suas resolues (vide Resoluo n
o
2.542/69 e Resoluo n
o
39.238/85).
Analisando os avanos histricos do direito do consumidor, Luiz Otvio de Oliveira
Amaral preleciona: a revoluo industrial tornou extremamente complexa a chamada economia
de mercado. Os oligoplios arruinando a livre concorrncia, o crescente poder psicossocial da
indstria e do comrcio, levaram o Estado liberal e clssico, pouco a pouco, a desenvolver uma
5
COMPARATO, Fbio Konder. A Proteo ao Consumidor na Constituio Brasileira de 1988, in Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Econmico e Financeiro, n 80, outubro-dezembro / 1990, p. 66
estrutura de regulao de todo o processo produtivo. E se verdade que o princpio dos princpios da
economia capitalista, a concorrncia, precisa ser mantida, isto s pode ser realizado pela ordem
jurdica, isto , pelo Estado. A ordem jurdica (e o Estado) j pressupe, por si s, a possibilidade
de situaes de interveno estatal no domnio econmico. A economia de mercado j no sinnimo
de livre concorrncia ou de livre iniciativa privada. (...) Em uma conjuntura econmica onde a
substituio de importaes significa maior protecionismo ao processo de industrializao e
conseqentemente ao comrcio, mais, ento, a ineludvel necessidade de proteo ao consumidor, se
faz presente.
6
Com a edio do CDC, na esteira do princpio constitucional que visa tratar
igualmente as pessoas (princpio da isonomia, elencado no caput do artigo 5 da
Constituio), o tratamento diferenciado dado ao consumidor vem a confirmar a
desigualdade existente e a tentativa de equilibrar a relao de consumo. Portanto, so
dois os princpios que norteiam o chamado Direito do Consumidor: o equilbrio
das relaes entre fornecedor e consumidor (cujos conceitos veremos adiante) e a
premissa para que este equilbrio seja atingido, que a presuno da hipossuficincia
do consumidor.
A relao entre fornecedores e consumidores por muito tempo no foi objeto de
grandes estudos e medidas que protegessem o plo fraco e desamparado da relao.
Com o advento do CDC, claro seu objetivo, qual seja, estabelecer o equilbrio da
relao de consumo, na qual, quase sempre, um plo age por interesse e coberto por
poder, e o outro, por necessidade e vulnervel. O Prof. Comparato observa: o regime
da produo em massa, instaurado com a chamada revoluo industrial, acabou afeioando a
sociedade em dois grandes grupos: produtores e consumidores.
7
6
AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. op. cit., p. 34.
7
COMPARATO, Fbio Konder, A proteo do Consumidor: importante captulo do direito econmico, in
Defesa do Consumidor: textos bsicos, / coordenao: Luiz Amaral. Braslia : Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor, 1987, p. 34
Para estudarmos o assunto, e conforme comentamos, devemos ter definidos
claramente os plos da relao de consumo, mas antes necessrio investigar o
papel do consumidor na base constitucional brasileira. o que veremos adiante.
O consumidor e a Constituio Federal
O direito do consumidor tem seu bero constitucional, como vimos, na
Constituio Federal de 1934, precisamente nos artigos 115 a 117, onde temos as
primeiras manifestaes de proteo da economia popular.
No entanto, na Carta Magna de 1998, em seus artigos 5, XXXII e 170, V, que o
consumidor ganha status e passar a gozar das garantias constitucionais plenas, como
um dos direitos e garantias fundamentais.
Assim, o CDC estabelece, segundo o seu artigo 1
o
normas de proteo e defesa do
consumidor, de ordem publica e interesse social numa evidente preocupao
latente com os direitos individuais consumeristas. Segundo Claudia Lima Marques,
A Lei 8.078/90 tem clara origem constitucional (artigo 170, artigo 5 e artigo 25 DCT, todos
da Constituio Federal de 1988-CF/88), subjetivamente direito fundamental e principio macro,
ordenador da ordem econmica do pas. E igualmente lei geral principiolgica em matria de
relacionamentos contratuais e de acidentes de consumo.
8
Portanto, em sendo matria relevante com princpios prprios, vamos passar, agora
sim, ao estudo dos seus principais conceitos: o de consumidor e o de fornecedor.
O conceito de consumidor
8
Claudia Lima MARQUES. Direito do Consumidor.
No sentido mais amplo que o vocbulo consumidor por alcanar, este a pessoa
que consume uma coisa.
9
Fbio Konder Comparato define consumidor como sendo os que no dispem de
controle sobre os bens de produo e, por conseguinte, devem se submeter ao poder dos titulares
deste.
10
J Waldrio Bulgarelli classifica o CDC como sendo um microssistema legal
autnomo pois no seu entendimento uma lei completa, quase autnoma, com incurses
no Direito privado, no campo administrativo, no plano processual e na rbita penal.
11
Para ele,
a lei busca adentrar nos problemas decorrentes da relao de consumo, aonde a
sociedade brasileira reclamava uma ateno especial diante dos problemas de
desequilbrio j mencionado.
12
O consumidor deve ser aquele que utiliza ou adquire um determinado produto,
disponvel no mercado de consumo, ou tornar-se usurio de um servio, tambm
disponvel no mercado, em ambos os casos, sempre mediante remunerao.
A noo de fragilidade do consumidor clara. Na relao de consumo, conforme
afirmamos anteriormente, o consumidor quem est em desvantagem. Consumidor,
em primeira anlise, aquele que consome. A hipossuficincia est implcita na idia
de proteo ao consumidor, seja pelo poder econmico de um fornecedor, seja pelo
9
De Plcido e Silva. Vocabulrio Jurdico, 11 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1993.
10
COMPARATO, Fbio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, Forense, 1.978
11
BULBARELLI, Waldrio. Direito do Consumidor, in O Direito na Dcada de 1990: novos aspectos, So Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 1992, p. 35.
12
O professor Bulgarelli observa a existncia de dois motivos relevantes, que por si s justificam a edio do
CDC: A justificativa de uma lei deste tipo encontra-se em pelo menos dois aspectos: a) A primeira, de
carter geral, a de que a sociedade civil brasileira, medida que se consolida o capitalismo na sua projeo
mais acentuada, que a da produo e distribuio em massa, vai tomando conscincia de que necessita de
proteo mais efetiva em relao ao modelo jurdico criado anteriormente, e conseqentemente que a poltica
jurdico-legislativa deve deixar de lado a postura adotada at agora de privilegiar sempre a empresa, para levar
em conta os interesses daqueles a quem a produo destinada, e que se convencionou chamar de
consumidor. b) A outra, mais especfica, de certa forma antecedente quela, pois refere-se constatao de
que os mecanismos jurdicos existentes revelam-se a cada dia insuficientes e incapazes de tornar efetiva a
proteo que deve ser dispensada queles que se encontram em situao de inferioridade perante as empresas,
tanto no que toca a reparao dos danos causados, como no que se refere a preveno., ibidem
prprio conceito do consumidor, aquela definio lapidar de Jean Clais-Auloy, que
tem como ato de consumo aquele que visa satisfao de uma necessidade pessoal
ou familiar.
13
Ainda, Waldrio Bulgarelli coloca o consumidor como aquele que se encontra numa
situao de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relao atual ou potencial, ftica sem
dvida, porm a que se deve dar uma valorizao jurdica, a fim de proteg-lo, quer evitando quer
reparando os danos sofridos.
14
O CDC nos d quatro definies de consumidor, utilizando-se da tcnica de
equiparao, a fim de estender ou restringir a sua aplicao. Assim entende o
Desembargador Antonio Janyr DallAgnol Jnior, afirmando que utiliza-se o
Cdigo, com alguma freqncia, da tcnica da equiparao, ao efeito de estender ao
menos parte de suas regras a outras situaes ou relaes jurdicas. Confira-se o que
ocorre com o art. 2, nico, o art. 17 e, sobretudo, o art. 29.
15
Desta forma,
encontramos tuteladas certas relaes jurdicas, que dificilmente conseguiriam o ser,
seno por outra norma especfica. Ademais, esto vinculadas estas equiparaes
relaes jurdicas que, de alguma forma, so remetidas relao de consumo e/ou
ao fornecedor.
Estes quatro conceitos de consumidor, elencados no CDC so melhores explicados
por Odete Carneiro de Queiroz: o Cdigo nos oferece quatro conceitos desse plo da relao
jurdica ora analisada. Comeamos por um conceito padro,standard, insere segundo os termos do
artigo 2 um elemento teleolgico, ao prescrever que consumidor o destinatrio final do bem ou
servio. A seguir, no pargrafo nico do mesmo artigo, amplia o legislador o seu espectro de
abrangncia ao equiparar o consumidor coletividade de pessoas que foram partcipes das relaes
13
PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Cdigo de Defesa do Consumidor, in Revista dos
Tribunais, abril de 1991, vol. 666, p. 51
14
BULGARELLI, Waldrio. A Tutela do Consumidor na Jurisprudncia Brasileira e de lege ferenda, in A
Tutela dos Interesses Difusos, So Paulo, Max Limonad, 1.984
15
DALL AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Direito do Consumidor e Servios Bancrios e Financeiros
Aplicao do CDC nas Atividades Bancrias, in Revista de Direito do Consumidor, n 27, julho/setembro 1998,
p. 9
de consumo, ainda que indeterminveis. Sopesando os graves consectrios que podero advir de uma
negligente prestao de produto ou de servio at mesmo para pessoas que no figuraram nessa
relao, estende o Cdigo sua proteo s vtimas dos acidentes de consumo, colocando sua
disposio todos os meios protetivos para fazer valer seus direitos. Assim, o artigo 17 coloca sobre
sua tutela os atingidos pelos eventuais acidentes referidos, permitindo que os mesmos possam
responsabilizar ditos fornecedores pelas leses provocadas por suas atividades no mercado de
consumo. Logo, esse terceiro ou bystander, ter o benefcio da proteo criada para o consumidor,
uma vez que houve a equiparao expressa feita pelo legislador. Nem se argumente que tal vtima
em nenhum momento se afigura como consumidor, pois a lei diz que o ser, atravs de uma
equiparao criada por uma fico legal cujo escopo deliberado outro no , seno a proteo efetiva
da vtima. Por fim, o ltimo e quarto conceito que o legislador nos oferece de consumidor o fixado
no artigo 29, que visa a proteo de todo aquele que estiver exposto s prticas comerciais. E nesse
caso a extenso ainda mais abrangente pois todo aquele que est exposto a tais prticas, seja at
mesmo outro fornecedor, aproveitar da tutela oferecida pelo Cdigo. Trata-se de uma definio de
poltica legislativa como tem sido apontada pela doutrina.
16
Clara fica assim a inteno do legislador de proteger todos os partcipes da relao de
consumo, que de alguma forma encontram-se em desvantagem perante o outro plo.
De uma forma geral, podemos colocar, conforme conceitos econmicos j
explorados anteriormente neste livro, a existncia de dois tipos bsicos de bens, ou
seja, bens de produo e bens de consumo. Destes, os primeiros no encontram
proteo do diploma legal que visa a proteo dos consumidores. Os bens de
produo so aqueles que se destinam produo de outros, atravs de processos
industriais e de produo, por meio de sua transformao. Em contrapartida, os
bens de consumo destinam-se ao mercado de consumo, para que os indivduos,
assemelhando-se, deste conceito, aquele estabelecido no Cdigo Civil ptrio, relativo
aos bens consumveis.
16
QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. O Cdigo do Consumidor e os Contratos Bancrios, in Aspectos Atuais
do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, 2 volume / coordenador Roberto Quiroga Mosquera. So Paulo
: Dialtica, 2.000, pp. 190-191
Podemos classificar os consumidores conforme o bem consumido, diferenciando-
se, desta forma, os consumidores no conceito econmico daquele protegido pelo
CDC. Observamos assim, conforme entendimento da doutrina, a existncia de bens
naturalmente consumveis e juridicamente consumveis.
17
Tais conceitos encontram-
se crivados no artigo 86 do Novo Cdigo Civil.
18
So bens de consumo ou de uso
aqueles adquiridos pelo consumidor (conceito econmico) como destinatrio final
(conceito jurdico CDC), para uso prprio, incluindo-se a sua famlia. Ensina
Arnoldo Wald: a lei de defesa do consumidor amplia, num sentido, e restringe, no outro, o
conceito de bens de consumo do Cdigo Civil, pois abrange tanto os de consumo como de uso (que se
degradam com o tempo), mas exclui da sua acepo os bens juridicamente consumveis mantendo,
to-somente, os naturalmente consumveis, pelo fato de se referir (a defesa do consumidor), aos
produtos adquiridos pelo destinatrio final, o que no ocorre com os produtos utilizados para a
alienao a terceiros (os livros e jias acima referidos), pois quem aliena, evidentemente, no
destinatrio final.
19
Desta forma, excludos esto os consumidores intermedirios, que no adquirem
como destinatrios finais. O conceito de destinatrio final deve estar muito claro,
pois como prev o CDC, no artigo 2, consumidor o destinatrio final do bem ou
servio. Neste conceito devem estar inseridos, no somente a aquisio do bem ou
servio, mas sua destinao. Ora, o que o dispositivo legal visa a soluo para o
desequilbrio existente nas relaes entre o fornecedor e o consumidor (destinatrio
final), pois este ltimo foi reconhecido e considerado como o plo vulnervel da
relao de consumo. Na maioria das vezes este no tem como discutir ou buscar um
acordo com o fornecedor, aquele que possui o poder e controle sobre os meios de
produo.
17
Anotao de WALD, Arnoldo, O Direito do Consumidor e suas Repercusses em Relao s Instituies
Financeiras, in Revista dos Tribunais, abril de 1991, vol. 666, p. 17, nota 15: Arnoldo Wald, Direito Civil
Parte Geral, 6 ed., 1989, p. 146; Clvis Bevilqua, Cdigo Civil Comentado, v. I/296 e 297; Carvalho Santos,
Cdigo Civil Brasileiro Interpretado, 1944, pp. 41-44.
18
So consumveis os bens mveis, cujo uso importa destruio imediata da prpria substncia, sendo
tambm considerados tais os destinados alienao.
19
WALD, Arnoldo, op. cit, p. 13
A vulnerabilidade encontrada na relao de consumo pode ser considerada sobre trs
pontos de vista: tcnica, jurdica e ftica.
A vulnerabilidade tcnica aquela que encontramos no CDC. Inerente, por fora de
lei ao consumidor no-profissional, ela assim foi estabelecida pelo legislador,
observados os dados histricos da relao de consumo. presumida para aquele
consumidor, podendo-se, entretanto, atravs da tcnica de equiparao, ser
estendida ao consumidor-profissional nos casos previstos no CDC (vide arts. 2 e
pargrafo nico, 17 e 29).
Outra vulnerabilidade, a jurdica, decorrncia da falta de bagagem cientfica, por
parte dos consumidores, de reas tcnicas e especficas do conhecimento humano
(jurdicos, econmicos). A quase totalidade dos consumidores no tem preparo
especfico, sujeitando-se a possveis armadilhas do plo poderoso da relao de
consumo. No caso do consumidor no-profissional, o CDC presume esta
vulnerabilidade, e estendida s pessoas fsicas desprovidas daquele conhecimento
especfico.
Por fim, observamos a vulnerabilidade presente numa situao real, no nvel scio-
econmico, aonde temos uma pessoa fsica (ou jurdica), dentro de uma relao de
consumo torna-se subordinada s condies e interesses que o titular dos bens ou
servios impe. Esta a vulnerabilidade ftica. O detentor do bem ou servio busca
vantagem sobre seu poder econmico, visando impor-se em face do consumidor.
Voltando, assim, problemtica do destinatrio da norma, podemos afirmar que
para a sua definio deve ser observada a especialidade da tutela do CDC, somada
sua finalidade. Prev o diploma legal uma situao especfica aonde observamos a
figura do destinatrio final (art.2, caput), aonde este bem ou servio seja adquirido
sem a pretenso de recoloc-lo no mercado de consumo, ou seja como destinatrio
final econmico do bem, deve existir a inteno de consumo, desgaste, utilizao do
bem ou servio, no permitindo que seja novamente objeto de produo. Ora,
aquele que adquire um bem com a inteno de revend-lo, ou seja, futuramente
negoci-lo, visando lucro, sem t-lo transformado, permanecendo o bem no estado
em que se encontrava, no est ele enquadrado como destinatrio final.
Mas o CDC prev equiparaes. Nestes casos, o conceito de destinatrio citado
anteriormente fica prejudicado, pois colocadas as excees no seu campo de
aplicao, por diversas vezes iremos nos deparar com a falta de preenchimento do
requisito destinatrio final, como exemplo, a previso do artigo 17 do CDC, onde
um terceiro, vtima, no partcipe da relao direta de consumo, mas afetado por
esta, tem sua proteo garantida pelo Cdigo.
Cludia Lima Marques, leciona: o destinatrio final o endverbraucher, o consumidor final, o
que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utiliz-lo (destinatrio final ftico), aquele que
coloca um fim na cadeia de produo (destinatrio final econmico) e no aquele que utiliza o bem para
continuar a produzir, pois ele no o consumidor-final, ele est transformando o bem, utilizando o bem
para oferec-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor.
20
A aplicabilidade das normas do CDC, e sua extenso decorrente da vulnerabilidade
mencionada anteriormente. Desta forma, o legislador buscou criar recursos para o
combate de prticas comerciais abusivas, que acabam por lesar os consumidores
equiparados, evitando-se, tambm, prejudicar outros consumidores e a estabilidade e
harmonia da economia como um todo, mais especificamente o mercado consumidor.
20
MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor : o novo regime das relaes contratuais, 3
ed. ver., atual. e ampl., incluindo mas de 250 decises jurisprudenciais. 2 tir. So Paulo : Editora Revista
dos Tribunais, 1998. (Biblioteca de direito do consumidor; v. 1), p. 150
A empresa pode ser consumidora? Se o conceito clssico de destinatrio final pressupe
o uso privado, no produtivo, do bem consumido, primeira vista parece-nos que a
resposta deveria ser negativa. Neste ponto observamos correntes com diferentes
posicionamentos em nossa doutrina
21
. Contudo, grande parcela da doutrina ptria
entende que uma interpretao restritiva dos conceitos do CDC no aquela que o
legislador buscava ao permitir a equiparao, ou a existncia do consumidor-equiparado.
Observamos caso em que se faz necessria sua extenso. Para que possa determinar o
alcance desta extenso do conceito de consumidor, devemos observar a diferenciao
entre os bens consumidos e bens insumidos.
Caio Tcito ao lecionar sobre o tema: excludos, portanto, os consumidores intermedirios,
aqueles que se valem de produtos ou servios, como bens de produo. Lembra, oportunamente, Geraldo
Vidigal, que no se confundem os vocbulos consumir e insumir, como so distintas a utilizao de bens
ou servios nas relaes de consumo e sua integrao como insumos de uma atividade produtiva.
(Cadernos IBCB 22, Lei de Defesa ao Consumidor, pp. 17/18).
22
Marcos Maselli Gouva, analisando sob a tica econmica, expe: De acordo com a teoria
clssica, o processo econmico concebido como interao de quatro momentos: produo, circulao,
distribuio e consumo. Ora, conquanto bens possam ser utilizados (insumidos) na produo, na
21
GOUVEA, Marcos Maselli, coloca a divergncia doutrinria citando Tupinamb M. Castro do Nascimento
e Toshio Mukai como defensores da teoria que o bem transformado, utilizado na produo de um novo
produto um bem consumido, enquanto que para Geraldo Vidigal a colocao destinatrio final remete ao
conceito econmico de consumidor, O conceito de consumidor e a questo da empresa como destinatria
final, in Revista de Direito do Consumidor, n 23-24, julho/dezembro 1997, pp. 187-192
22
TCITO, Caio, op. cit., p. 17.
circulao e na distribuio, somente ser correto consider-los consumidos se tal utilizao, com
esgotamento total ou parcial do valor do bem, se der na etapa final do processo etapa de consumo, onde
o bem diretamente empregado na satisfao de uma necessidade econmica. Enfim, somente ser
consumidor o destinatrio final no do bem, mas do processo econmico.
23
Ora, na esteira do supra transcrito, faz-se necessria a anlise da necessidade econmica.
Para que estejamos diante de uma empresa destinatria final, esta dever utilizar-se de
bens, no como instrumentos para a produo de novos bens (insumos), e sim para uma
satisfao direta e imediata de sua necessidade econmica.
24
Da extramos que quando
uma empresa est adquirindo insumos necessrios prtica de suas atividades, ou seja,
quando adquire bens ou servios considerados necessrios para o desenvolvimento de
sua atividade-fim, no estaremos diante de uma relao de consumo.
O conceito de fornecedor
Na definio do artigo 3 do CDC, fornecedor : toda pessoa fsica ou jurdica, pblica
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produo, montagem, criao, construo, transformao,
importao, exportao, distribuio ou comercializao de produtos ou prestao de
23
GOUVEA, Marcos Maselli. O conceito de consumidor e a questo da empresa como destinatria final, in
Revista de Direito do Consumidor, n 23-24, julho/dezembro 1997, p. 189
24
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda, no Dicionrio da Lngua Portuguesa, coloca como significado
da palavra insumo: S.m. Econ. Combinao dos fatores de produo (matrias-primas, horas trabalhadas,
energia consumida, taxas de amortizao, etc.) que entram na produo de determinada quantidade de bens
ou servio.
servios. Os pargrafos 1 (
25
) e 2 (
26
) do mencionado artigo definem, respectivamente,
produto e servio.
Cabe aqui a definio dada por Plcido e Silva, aonde fornecedor todo comerciante ou
estabelecimento que abastece, ou fornece, habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gneros
e mercadorias a seu consumo.
27
Na definio de fornecedor est inserido o conceito de empresrio.
28
O Fornecedor
oferece bens ou servios ao mercado, observando-se o destinatrio final como adquirente
desta relao de consumo. Adalberto Pasqualotto, analisando a extenso do conceito de
fornecedor, observa: Como fornecedora, a pessoa jurdica encontra plena justificao de sua presena
nas relaes de consumo. No se exclui dessa condio a pessoa fsica, principalmente se levarmos em
conta os profissionais liberais. Os fornecedores pessoas jurdicas podem ser privados ou pblicos. Ficam
includos, portanto, os entes estatais ou paraestatais, sob todas as suas formas (autarquias, companhias
de economia mista e empresas pblicas), que prestam servios coletividade, mormente os de fornecimento
de energia eltrica, gua, telefonia etc. Tambm os entes despersonalizados respondem perante o
consumidor, o que inclui as sociedades de fato e quaisquer formas de cooperao ou atividade comum.
29
25
Produto qualquer bem, mvel ou imvel, material ou imaterial.
26
Servio qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remunerao, inclusive as de
natureza bancria, financeira, de crdito e securitria, salvo as decorrentes das relaes de carter trabalhista.
27
De Plcido e Silva, op. cit., p. 318
28
COELHO, Fabio Ulhoa conceitua, para o direito moderno, empresrio como sendo toda pessoa, fsica ou
jurdica, que articule o trabalho alheio com matria-prima e capital, com vistas a produzir ou circular
mercadorias ou prestar servios para o mercado., Manual de Direito Comercial, 6 ed., ver. atual. e aum.. So
Paulo : Saraiva, 1995, p. 10
29
PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos Fundamentais do Cdigo de Defesa do Consumidor, in Revista dos
Tribunais, abril de 1991, vol. 666, p. 52
Na viso de Caio Tcito o fornecedor aquele que tem por obrigao o dever de lealdade
e de transparncia nas relaes que envolvem o consumidor
30
. Tcito, baseado na
definio do CDC, assim conceitua o fornecedor: No plo oposto da relao de consumo situa-
se o fornecedor, pessoa fsica ou jurdica, pblica ou privada, nacional ou estrangeira, ou mesmo entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades diversas que importem na colocao de bem ou servios
disposio dos consumidores (art. 3).
31
Ora, podemos estabelecer que para figurar no plo da relao de consumo como fornecedor,
dever esta pessoa, necessariamente, estar disponibilizando ao mercado de consumo um
bem, ou servio, queles denominados consumidores, que estaro vinculados ao titular
dos bens ou servios a partir do momento em que se utilizarem dos bens ou servios na
como destinatrios finais.
Devemos alertar que, conforme a citada tcnica da equiparao, existe a extenso ao menos
parte das regras do CDC a outras situaes ou relaes jurdicas. Nestas situaes,
observamos sempre a preocupao e a proteo da Lei em proteger o consumidor nas
hipteses em que, em decorrncia da relao de consumo, ao fornecedor imputada certa
responsabilidade, seja sobre o produto, seja sobre o servio.
Cludia Lima Marques, no tocante ao conceito de fornecedor, transcrito acima, analisa o
texto legal, dividindo-o em fornecimento de produtos e de servios, a saber: Quanto ao
fornecimento de produtos o critrio caracterizador desenvolver atividades tipicamente profissionais, como
30
TACITO, Caio, op. cit., p. 20
31
TACITO, Caio, op. cit., p. 17
a comercializao, a produo, a importao, indicando tambm a necessidade de uma certa
habitualidade, como a transformao, a distribuio de produtos. Estas caractersticas vo excluir da
aplicao das normas do Cdigo todos os contratos firmados entre dois consumidores, no profissionais. A
excluso parece-me correta, pois o Cdigo ao criar direitos para os consumidores, cria deveres, e amplos,
para os fornecedores. Quanto ao fornecimento de servios, a definio do art. 3 do CDC foi mais concisa
e, portanto, de interpretao mais aberta, menciona apenas o critrio de desenvolver atividades de
prestao de servios. Mesmo o 2 do art. 3 define servio como sendo qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remunerao, no especificando se o fornecedor necessita ser um
profissional . A remunerao do servio o nico elemento caracterizar, e no a profissionalidade de que o
presta. A expresso atividades no caput do art. 3 parece indicar a exigncia de alguma reiterao ou
habitualidade, mas fica clara a inteno do legislador de assegurar a incluso de um grande nmero de
prestadores de servios no campo de aplicao do CDC, dependncia nica de ser o co-contratante um
consumidor.
32
No ensinamento acima, observamos clara a excluso daqueles contratos firmados entre
consumidores, em decorrncia dos princpios elencados neste estudo, pois a finalidade do
Cdigo a proteo do consumidor dentro da relao de consumo, aonde existe a
desigualdade entre os plos partcipes.
Jos Geraldo Brito Filomeno, comentando o CDC, observa o fato do legislador, ao fazer
uso do termo fornecedor, acabou por estender o conceito, abrangendo inmeras
32
MARQUES, Cludia Lima, op. cit., pp. 162-163
possibilidades, como o comerciante, o banqueiro, o fabricante, entre outros.
33
Assim ele
argumenta: Nesse sentido, por conseguinte, que so considerados todos quantos propiciem a oferta de
produtos e servios no mercado de consumo, de maneira a atender s necessidades dos consumidores, sendo
despiciendo indagar-se a que ttulo, sendo relevante, isto sim, a distino que se deve fazer entre as vrias
espcies de fornecedor nos casos de responsabilizao por danos causados aos consumidores, ou ento para
que os prprios fornecedores atuem na via regressiva e em cadeia da mesma responsabilizao, visto que
vital a solidariedade para a obteno efetiva de proteo que se visa a oferecer aos mesmos
consumidores.
34
Neste contexto, o fornecedor enquadra-se dentre aquele que pratica atividades voltadas
ao mercado, este de consumo, excluindo-se aquelas situaes aonde o produto no seja
destinado ao destinatrio final, na qualidade de prestador de servios ou detentor de
produtos disponibilizados aos consumidores.
33
FILOMENO, Jos Geraldo Brito. Cdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto
/ Ada Pellegrini Grinover...[et. al.]., 6 ed. Rio de Janeiro Forense Universitria, 1999, p. 39
34
FILOMENO, Jos Geraldo Brito, op. cit., pp. 39 e 40
Leia e comente o seguinte texto:
A Boa F nas Relaes de Consumo
Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Palestra proferida ao II Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor,
realizado de 8 a 11.3.94, em Braslia).
A norma-objetivo do art. 4, de carter nitidamente protetivo do consumidor, tem seu contraponto
no princpio da harmonizao de interesses conflitantes, de tal sorte que aquela necessidade de
proteo deve ser compatibilizada com a de desenvolvimento econmico e tecnolgico. E o que
tem a ver a boa-f na conciliao desses interesses?
Em primeiro lugar, devo dizer que a boa-f aparece aqui como princpio orientador da
interpretao e no como clusula geral para a definio das regras de conduta. Expressa
fundamental exigncia que est base da sociedade organizada, desempenhando funo de
sistematizao das demais normas positivadas e direcionando sua aplicao. um marco referencial
para a interpretao e aplicao do Cdigo, o que seria at de certo modo dispensvel, pois no se
concebe sociedade organizada com base na m-f, no fosse a constante convenincia de acentuar a
sua importncia.
O princpio da boa-f est mencionado no texto do art. 4, III, como critrio auxiliar para a
viabilizao dos ditames constitucionais sobre a ordem econmica (art. 170 da CF). Isso traz tona
aspecto nem sempre considerado na boa-f, consistente na sua vinculao com os princpios scio-
econmicos que presidem o ordenamento jurdico nacional, atuando operativamente no mbito da
economia do contrato. Isso quer dizer que a boa-f no serve to-s para a defesa do dbil, mas
tambm atua como fundamento para orientar interpretao garantidora da ordem econmica,
compatibilizando interesses contraditrios, onde eventualmente poder prevalecer o interesse
contrrio ao do consumidor, ainda que a sacrifcio deste, se o interesse social prevalente assim o
determinar. Considerando dois parmetros de avaliao: a natureza da operao econmica
pretendida e o custo social decorrente desta operao, a soluo recomendada pela boa-f poder
no ser favorvel ao consumidor. Assim, por exemplo, nos contratos de adeso de consrcio para
aquisio de bens, a clusula que limita a devoluo do numerrio (devidamente corrigido) somente
para o final do plano deve ser preservada, apesar de no satisfazer ao interesse do consorciado em
obter a imediata restituio do que pagou, porquanto o interesse social mais forte reside na
conservao dos consrcios como um instrumento til para a economia de mercado, facilitando a
comercializao das mercadorias, e estimulando a industrializao, finalidade esta que no deve ser
desviada ou dificultada com o interesse imediatista do consumidor individual que se retira do grupo.
O que est conforme o ensinamento de Rodot: "a escolha dever ser feita de modo a assegurar
prevalea o interesse que se apresenta mais vantajoso em termos de custo social".
A aproximao dos termos ordem econmica - boa-f serve para realar que esta no apenas um
conceito tico, mas tambm econmico, ligado funcionalidade econmica do contrato e a servio
da finalidade econmico-social que o contrato persegue. So dois os lados, ambos iluminados pela
boa-f: externamente, o contrato assume uma funo social e visto como um dos fenmenos
integrantes da ordem econmica, nesse contexto visualizado como um fator submetido aos
princpios constitucionais de justia social, solidariedade, livre concorrncia, liberdade de iniciativa
etc., que fornecem os fundamentos para uma interveno no mbito da autonomia contratual;
internamente, o contrato aparece como o vnculo funcional que estabelece uma planificao
econmica entre as partes, s quais incumbe comportar-se de modo a garantir a realizao dos seus
fins e a plena satisfao das expectativas dos participantes do negcio. O art. 4 do Cdigo se dirige
para o aspecto externo e quer que a interveno na economia contratual, para a harmonizao dos
interesses, se d com base na boa-f, isto , com a superao dos interesses egosticos das partes e
com a salvaguarda dos princpios constitucionais sobre a ordem econmica atravs de
comportamento fundado na lealdade e na confiana.
Essa interveno na economia do contrato, quando se d por fora da boa-f, significar uma
modificao na planificao acordada entre as partes, alterando a relao custo-benefcio. Enquanto
na execuo linear da obrigao, eventual aumento do custo entra no mbito de risco assumido
voluntariamente pelas partes, j tal aumento, quando decorre da aplicao do princpio da boa-f,
no nasce diretamente das clusulas contratuais acordadas. Ento se pe a questo de saber se a
alterao por fora da boa-f pode levar a um agravo que modifique a relao custo-benefcio de
forma to substancial que influa na avaliao da convenincia do negcio. Isso interessa para
decidirmos sobre a intensidade da exigncia no cumprimento dos deveres, segundo resultem
diretamente do contrato ou da boa-f. H quem sustente que, na primeira hiptese, o devedor
somente poderia se exonerar demonstrando a leso enorme, presente na celebrao do negcio, ou
modificao superveniente que quebrou a base do negcio e tornou insuportvel o nus para o
cumprimento da prestao devida; j o dever decorrente da boa-f, aumentando o risco e o custo
do negcio para alm do acordado, poder ser afastado com a simples demonstrao de que o
cumprimento do dever criou parte um sacrifcio aprecivel, que um conceito econmico de
intensidade menor que o de onerosidade excessiva. A mim, no entanto, parece que essa distino
quanto fora vinculante dos deveres, conforme a origem que tenham, somente poderia ser aceita
depois de admitido o pressuposto de que o princpio da boa-f se coloca em plano inferior ao do
autonomia da vontade, quando ocorre exatamente o contrrio: a autonomia da vontade que deve
ceder s exigncias ticas da boa-f objetiva. Logo, no procede a teoria de que o simples "sacrifcio
aprecivel" a uma das partes seria suficiente para isent-la do cumprimento de dever decorrente da
aplicao da clusula geral da boa-f, porquanto desta resulta a formulao de uma norma jurdica
de incidncia plena sobre a relao obrigacional.
Você também pode gostar
- Livro RepublicademocraciaDocumento754 páginasLivro RepublicademocraciaabortoliAinda não há avaliações
- Balanço Goverrno Lula 2003-2010 Sintese PesquisavelDocumento310 páginasBalanço Goverrno Lula 2003-2010 Sintese PesquisaveladppaulaAinda não há avaliações
- Livro Interpretes Do Brasil Indice-Apresentacao PesquisavelDocumento9 páginasLivro Interpretes Do Brasil Indice-Apresentacao PesquisaveladppaulaAinda não há avaliações
- Artigo A-Economia-Política Transformação Nordeste Furtado-A-unger Carlossalvioteixeira PesquisavelDocumento14 páginasArtigo A-Economia-Política Transformação Nordeste Furtado-A-unger Carlossalvioteixeira PesquisaveladppaulaAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento17 páginasApresentaçãoadppaula100% (1)
- Revista FGVIBREDocumento3 páginasRevista FGVIBREadppaulaAinda não há avaliações
- Solucoes EProvas Antigas Micro 2 GraduacaoDocumento306 páginasSolucoes EProvas Antigas Micro 2 GraduacaoadppaulaAinda não há avaliações
- A Synopsis of Choice Theory - MIT Game TheoryDocumento16 páginasA Synopsis of Choice Theory - MIT Game TheoryadppaulaAinda não há avaliações
- Caderno de Micro - 3a Prova (PB)Documento46 páginasCaderno de Micro - 3a Prova (PB)Lucas SampaioAinda não há avaliações
- A Synopsis of Choice Theory - MIT Game TheoryDocumento16 páginasA Synopsis of Choice Theory - MIT Game TheoryadppaulaAinda não há avaliações
- Escolha Sob IncertezapyndickDocumento13 páginasEscolha Sob IncertezapyndickadppaulaAinda não há avaliações
- A Teoria Dos JogosDocumento21 páginasA Teoria Dos JogosadppaulaAinda não há avaliações
- Introdução A Teoria Da Escolha - IMPADocumento167 páginasIntrodução A Teoria Da Escolha - IMPAadppaulaAinda não há avaliações
- Limites Da Teoria Neoclássica Do Monopólio NaturalDocumento6 páginasLimites Da Teoria Neoclássica Do Monopólio NaturaladppaulaAinda não há avaliações
- Oquee EconometriaDocumento21 páginasOquee EconometriaadppaulaAinda não há avaliações
- Apostila de Teoria Da Produção PDFDocumento13 páginasApostila de Teoria Da Produção PDFadppaulaAinda não há avaliações
- Cap 6 DagerenciaacontabilidadedecustosDocumento18 páginasCap 6 DagerenciaacontabilidadedecustosadppaulaAinda não há avaliações
- 3 Teoria Dos Jogos Aed Ufmg3Documento27 páginas3 Teoria Dos Jogos Aed Ufmg3Pedro BragaAinda não há avaliações
- EPI Cap4 TeoriadaProducaoDocumento11 páginasEPI Cap4 TeoriadaProducaoadppaulaAinda não há avaliações
- 14 Teoria Do Consumidor Cap10 e 11 ContDocumento24 páginas14 Teoria Do Consumidor Cap10 e 11 ContadppaulaAinda não há avaliações
- 3 Teoria Dos Jogos Aed Ufmg3Documento27 páginas3 Teoria Dos Jogos Aed Ufmg3Pedro BragaAinda não há avaliações
- Iniciantes Na Pesca de PraiaDocumento4 páginasIniciantes Na Pesca de Praiakoyot_mingoAinda não há avaliações
- AmbevDocumento92 páginasAmbevWildson Justiniano Pinto38% (8)
- Aula de Microeconomia I - Princípios de EconomiaDocumento14 páginasAula de Microeconomia I - Princípios de EconomiaAdalberto PregestorAinda não há avaliações
- COPEI - DOCUMENTO DA FAU - FEDERAÇÃO ANARQUISTA URUGUAIA (Histórica)Documento43 páginasCOPEI - DOCUMENTO DA FAU - FEDERAÇÃO ANARQUISTA URUGUAIA (Histórica)guerradeclasses100% (1)
- Xi-033 Medição e Verificação de Performance Energética e Hídrica em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento SanitárioDocumento22 páginasXi-033 Medição e Verificação de Performance Energética e Hídrica em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento SanitárioPlínio PiresAinda não há avaliações
- A Capoeira Como Prática Educativa TransformadoraDocumento12 páginasA Capoeira Como Prática Educativa TransformadoraRonisson GuimaraesAinda não há avaliações
- 004692-Albano Macie Tese de DDS - Forças Armadas Na Segurança Interna de Moçambique Final - 2Documento515 páginas004692-Albano Macie Tese de DDS - Forças Armadas Na Segurança Interna de Moçambique Final - 2avamacieAinda não há avaliações
- Apostila de Direito Financeiro e Finanças PúblicasDocumento13 páginasApostila de Direito Financeiro e Finanças PúblicasAline Cristina Silva DinizAinda não há avaliações
- A Subjetividade e A Objetividade em Michel Foucault e Karl Marx - Algumas Considerações PDFDocumento7 páginasA Subjetividade e A Objetividade em Michel Foucault e Karl Marx - Algumas Considerações PDFJosé JúniorAinda não há avaliações
- A Organização Do Espaço Geográfico Mundial No Século XXDocumento7 páginasA Organização Do Espaço Geográfico Mundial No Século XXJeziel JesusAinda não há avaliações
- Ciclos Económicos - Resumo Economia C 12º AnoDocumento3 páginasCiclos Económicos - Resumo Economia C 12º AnoIsabelaAinda não há avaliações
- BRANDÃO - A Comunidade TradicionaisDocumento15 páginasBRANDÃO - A Comunidade TradicionaisFernando SoaresAinda não há avaliações
- Aviso À NavegacaoDocumento105 páginasAviso À NavegacaoAline Totoli100% (1)
- Livro EmpreendedorismoDocumento53 páginasLivro EmpreendedorismoAnderson Henrique Oliveira JorgeAinda não há avaliações
- Call Center v12 Ap01 OkDocumento198 páginasCall Center v12 Ap01 OkJoão Oliveira SilvaAinda não há avaliações
- Nazismo e FascismoDocumento21 páginasNazismo e FascismoJean D'AngeloAinda não há avaliações
- 481852299-Historia Ceara de Airton de Farias-Cap30 PDFDocumento23 páginas481852299-Historia Ceara de Airton de Farias-Cap30 PDFElias RochaAinda não há avaliações
- Bibliografia Adam SmithDocumento11 páginasBibliografia Adam SmithJosias MacedoAinda não há avaliações
- Livro O Que É Burocracia - Max Weber - Diagramação Final - CFADocumento88 páginasLivro O Que É Burocracia - Max Weber - Diagramação Final - CFARonaldo Augusto de Alcantara0% (1)
- 2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroDocumento4 páginas2.O Primeiro Reinado em Revisão - Gladys RibeiroFabioPaulaDuarte0% (1)
- Indústria 4.0 Uma Caracterização Do Sistema de ProduçãoDocumento15 páginasIndústria 4.0 Uma Caracterização Do Sistema de ProduçãoantoniacomiAinda não há avaliações
- Fichamento Dos Cáp. 1, 2 e 3 Do Livro "Curso de Economia" de Fábio NusdeoDocumento10 páginasFichamento Dos Cáp. 1, 2 e 3 Do Livro "Curso de Economia" de Fábio Nusdeodknow75Ainda não há avaliações
- Contabilidade Básica - Carderno de QuestõesDocumento292 páginasContabilidade Básica - Carderno de QuestõesThiago Poggi Lins100% (3)
- Joao Zacarias. Projecto REVISTO 3Documento25 páginasJoao Zacarias. Projecto REVISTO 3Jossias MoianeAinda não há avaliações
- As Madeiras Na Construção Civil - Martins e Araújo PDFDocumento213 páginasAs Madeiras Na Construção Civil - Martins e Araújo PDFvilaneneAinda não há avaliações
- América en Larga Duracion PDFDocumento352 páginasAmérica en Larga Duracion PDFNicole MachadoAinda não há avaliações
- Comendador Joaquim José de Souza Breves. Poder e Riqueza Na Trajetória de Uma Família Durante As Transformações Da Segunda Escravidão No Vale Do Paraíba Sul Fluminense (1850 A 1889)Documento155 páginasComendador Joaquim José de Souza Breves. Poder e Riqueza Na Trajetória de Uma Família Durante As Transformações Da Segunda Escravidão No Vale Do Paraíba Sul Fluminense (1850 A 1889)Pedro Henrique Garcia Pinto De AraujoAinda não há avaliações
- Matriz EsDocumento48 páginasMatriz EsKeyssiane AlencarAinda não há avaliações
- A ERA DO ILUMINISMO - 8º ANO (Prof. Joca)Documento12 páginasA ERA DO ILUMINISMO - 8º ANO (Prof. Joca)Joclesfran Alexandre da SilvaAinda não há avaliações
- A Urbanização Da Sociedade Questões para o Debate PDFDocumento3 páginasA Urbanização Da Sociedade Questões para o Debate PDFrebeca_borges_1Ainda não há avaliações
- Dirigir 105Documento67 páginasDirigir 105susanammartinsAinda não há avaliações