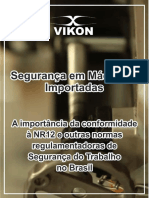Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Historia Apontamentos
Historia Apontamentos
Enviado por
plagiooriginal0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações15 páginasTítulo original
historia apontamentos.docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações15 páginasHistoria Apontamentos
Historia Apontamentos
Enviado por
plagiooriginalDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 15
1
O novo ordenamento poltico e socioeconmico (1834-1851)
A ao reformadora de Mouzinho da Silveira:
Mouzinho da Silveira nomeado por D. Pedro IV para ministro da Fazenda e da Justia
(interino).
As suas reformas tinham como objetivos, como ele prprio definiu:
liberalizar a economia para que o pas pudesse ultrapassar os prejuzos da perda
do Brasil;
salvaguardar a institucionalizao jurdica da liberdade individual (extinguir os
direitos senhoriais);
fazer entrar Portugal no grmio da Europa (coloc-lo ao nvel civilizacional de
outros pases).
Reformas efetuadas:
Na agricultura:
abolio dos dzimos, morgadios e os forais.
libertando os camponeses das dependncias tradicionais.
No comrcio:
extingue as portagens internas, reduz os impostos sobre exportaes
(complementado pelo Cdigo Comercial de Ferreira Borges de 1833).
Na indstria:
acaba com os monoplios (Companhia das Vinhas do Alto Douro).
Na administrao:
divide o pas em provncias, comarcas e conselhos;
cria Registo Civil para todo os recm-nascidos.
Na justia:
cria hierarquia de circunscries (submetendo todos os cidados mesma lei).
Nas finanas:
criou um sistema de tributao nacional;
substitui o Errio Rgio pelo Tribunal do Tesouro Pblico.
Na cultura:
mandou abrir aulas;
funda a Biblioteca Pblica do Porto.
Joaquim Antnio de Aguiar (o "mata-frades") ministro da Justia de Maria II
legislao entre 1834-35:
Fez:
2
a extino do clero regular;
a nacionalizao dos bens das ordens religiosas;
venda em hasta pblica dos bens das ordens religiosas, da Coroa, das Rainhas e do
Infantado para pagamento das dvidas.
A Revoluo de Setembro:
levantamento popular a 9 e 10 de Setembro de 1936, preparada por foras de
oposio ao Governo vigente.
grandes dificuldades econmicas devido guerra civil e o povo vivia na misria;
revoltosos enviam uma carta rainha D. Maria II, pedindo:
a reposio da Constituio de 1822;
a nomeao de um ministrio que lhes fosse favorvel;
a formao de novas Cortes Constituintes.
D. Maria, sem o apoio do povo, cede ao poder aos setembristas.
Governo setembrista governado por Passos Manuel e S da Bandeira:
Principais Medidas:
investimento de capitais em frica, como alternativa ao mercado brasileiro;
reforma do ensino primrio, secundrio e superior com destaque para a criao de
liceus por Passos Manuel;
protecionismo industria nacional;
criao da Constituio setembrista de 1836, substituindo a Constituio de 1822:
conciliava a Carta com a Constituio de 1822;
retira o poder moderador ao Rei;
refora a soberania nacional.
As suas reformas foram incompletas em muitos sectores e ineficazes em outros, o que
levou ao seu fracasso.
Projeto Cabralista:
O governo setembrista estava instvel devido a uma constante oposio dos cartistas
e das faes mais esquerdistas e radicais do Liberalismo que se sentiam tradas pelos
que assumiram o governo. Isto levou a que se criasse uma poltica cada vez mais
autoritria no cumprimento da ordem.
Pasta da Justia (confiada a Costa Cabral) foi o setor mais importante do governo.
Costa Cabral torna-se, assim, o homem mais forte e poderoso do regime.
3
Costa Cabral, num golpe de estado (1842), proclama a restaurao da Carta
Constitucional, identificando-se com os interesses da alta burguesia e torna-se
ministro do Reino.
Medidas para o progresso do pas:
Fomento industrial:
fundao da Companhia Nacional dos Tabacos;
difuso da energia a vapor.
Desenvolvimento de obras pblicas:
criao da Companhia das Obras Pblicas de Portugal (construo e
reparao de estradas, etc.)
Reforma fiscal e administrativa:
Cdigo Administrativo de 1842;
criao do tribunal de Contas para fiscalizar as receitas e despesas do
estado.
Leis da Sade Pblica:
p.ex: proibio do enterro dentro das igrejas.
1847-48 novo perodo de guerra civil (despoletada por levantamentos populares):
Devido:
ao descontentamento com as medidas tomadas (aumento da burocracia);
poltica ditatorial e repressiva de Costa Cabral;
ms condies de vida:
ms colheitas;
inflao;
salrios baixos;
impostos pesados.
Duas fases:
Revoluo da Maria da Fonte (Abril/Maio 1846):
queda do governo;
exlio de Costa Cabral.
Patuleia (1846-47):
segunda revoluo que envolve quase todo o pas (opondo populares
(miguelistas e setembristas) s foras estatais (do governo do duque da
Saldanha);
4
o governo de duque de Saldanha pede ajuda Espanha e Inglaterra,
vencendo a guerra civil;
a guerra termina com a assinatura da Conveno de Gramido (1847);
segundo governo de Costa Cabral; to impopular quanto o primeiro.
Inicio da Regenerao:
o governo de Costa Cabral fez com que setembristas e miguelistas se unissem;
inicia-se em 1851 o golpe militar da Primavera chefiado por marechal-duque
de Saldanha que afastou Costa Cabral e instalou a Regenerao e, com ela, o
liberalismo cartista e moderado.
Transformaes econmicas do sculo XIX
A segunda Revoluo Industrial
O desenvolvimento da Revoluo Industrial
comandado pelo esprito capitalista dos empresrios, fez-se custa do
aperfeioamento dos meios e processos de produo para que se produzisse:
melhor em qualidade;
mais em rapidez;
em quantidade e diversidade;
ao menor custo possvel;
para mercados mais alargados.
a modernizao e inovao tcnicas foram fatores decisivos na prosperidade das
indstrias e na possibilidade de sobrevivncia concorrncia e, por isso, muitos
empresrios comearam a investir na investigao cientfica. O que permitiu:
a revoluo tcnica e tecnolgica dos processos produtivos;
a revoluo dos transportes e comunicaes.
Estes progressos aumentaram o poder do Homem na transformao e no domnio da
Natureza e a qualidade de vida material das populaes.
Principais progressos tcnicos:
Desenvolvimento da siderurgia (1880):
o ao substitui o ferro na construo de mquinas, de meios e vias de
transporte e na construo civil;
Grande avano na indstria qumica:
5
corantes artificiais para a indstria txtil;
novos medicamentos como a aspirina, inseticidas e fertilizantes.
Desenvolvimento da indstria metalrgica:
ocupava-se na produo de metais.
Novas fontes de energia:
descoberta do petrleo, gs, gasolina e gasleo;
1886 inveno do motor de exploso (Daimler) que funcionava a petrleo;
1897 inveno do motor movido a leo pesado (gas oil);
inveno da lmpada eltrica (Edinson) que substitui a iluminao a gas.
aplicao da eletricidade a diversos mecanismos, contribuindo para revolucionar a
vida do cidado comum:
o comboio eltrico (1879);
o telefone (1876);
o cinema (1895);
a radiofonia (1897);
metropolitanos e carros eltricos.
Progressos nos transportes:
aplicao da energia a vapor do comboio (1830) e no navio (1860);
vantagens:
facilidade de circulao de matrias primas, produtos industriais e
pessoas.
utilizao do motor de exploso em automveis e avies
altera-se a noo de distncias;
a bicicleta torna-se um meio de transporte e uma modalidade desportiva de
sucesso.
Concentrao industrial e bancria; racionalizao do trabalho
A maquinofatura origina uma nova unidade de produo a fbrica.
local de produo caracterstico da Revoluo Industrial.
edifcios especializados ao ramo de atividade a que se destinavam.
destinada a produzir o mais possvel ao menos custo, concentrava cada vez maior
nmero de operrios e maquinaria e instrumentos necessrios produo de um
produto concentrao tcnica.
6
coexistncia de muitos operrios no mesmo espao de trabalho obrigou:
regulamentao de uma disciplina laboral
introduziu horrios rgidos e capatazes para vigiar o ritmo de atividade,
impedindo que este afrouxasse ao longo da jornada.
a necessidade de vencer a concorrncia e a nsia pelo lucro levou:
a uma maior preocupao com a rentabilizao do trabalho dos operrios. Isto
conduziu a uma racionalizao mais cuidada do trabalho fabril. Assim, pela
diviso do trabalho e especializao de tarefas se chegou organizao de
cadeias de montagem (nas fbricas).
a automatizao dos atos e dos gestos desmotivante fazia com que os
operrios realizarem mais trabalho no mesmo tempo aumentando o lucro dos
patres.
Concentrao monopolista (a partir de 1870)
Criam-se monoplios de produo:
surgem grandes fbricas (concentrao geogrfica) que renem avultados capitais
por aes (concentrao financeira), onde trabalham numerosos operrios
(concentrao da mo-de-obra) os quais vigiam numerosas mquinas
(concentrao tcnica).
Os bancos mais poderosos foram absorvendo os mais pequenos. Beneficiam do
desenvolvimento industrial, fazendo emprstimos ou investindo diretamente nas
companhias industriais.
Mtodos de racionalizao do trabalho:
Taylorismo:
Frederick Taylor expe um mtodo para tornar mais rentvel a produo.
procedimentos:
dividir a produo de um objeto numa srie de movimentos essenciais que
cada um dos operrios tem de executar;
pr-definir o tempo necessrio para a realizao de cada um desses gesto
simples;
Produo de objetos em srie e iguais estandardizao;
medida que foi sendo aplicado, contribuiu para a diminuio do custo do
produto acabado;
O taylorismo ajudou a consolidar a produo e o consumo em massa.
Fordismo:
7
Henry Ford aplicou o taylorismo produo de automveis:
introduziu a linha de montagem nas suas fbricas;
aumentou os salrios dos seus operrios, motivando-os para o trabalho e at
para a compra dos automveis.
S os mais ricos conseguiam aplicar estas alteraes.
Para sobreviver concorrncia, muitos industriais e empresrios foram obrigados
a recorrer aos bancos e a outras formas de financiamento, acabando por cair na
dependncia do capitalismo financeiro (que passou a controlar a industria).
os donos das fbricas passaram a ser os que entravam com o capital, os
trabalhadores entravam com os seus conhecimentos tcnicos e fora de
trabalho, que vendiam ao patro pelo valor do salrio.
O modo de produo industrial e capitalista definia-se por estas caractersticas:
concentrao dos trabalhadores e dos meios de produo em instalaes prprias
("fbricas");
mecanizao crescente do processo produtivo e permanente atualizao do
mesmo e equipamento utilizado;
disciplinao do trabalho operrio e racionalizao de todo o processo laboral,
com vista a produo e consumo em massa e obteno de lucros;
separao entre o patronato (capital) e os trabalhadores (trabalho).
Ao longo do sculo XIX formavam-se unidades fabris cada vez maiores.
no nmero de operrios;
tamanho das instalaes;
capacidade produtiva.
O que levou criao de novos departamentos (p.ex administrao, escritrio e
tesouraria etc.). Estava criada a empresa industrial.
Concentrao industrial
Motivada por:
necessidades de crescimento;
constantes crises econmicas;
livre concorrncia entre as indstrias.
obrigando-as a fortalecerem-se economicamente os seus rivais e resistir
melhor aos perodos de recesso.
8
As exigncias do crescimento fez com que muitas empresas tivessem de recorrer ao
crdito para evitar falncia e/ou permitisse o seu maior desenvolvimento.,
transformando assim muitas empresas em sociedades por aes.
Tipos de concentrao de produo:
concentraes verticais uma empresa controla todo o processo de fabrico de
um produto industrial (associando a si outras indstrias da regio cujas produes,
sendo distintas, concorriam para o mesmo produto) de forma a obter maior lucro
em cada fase de produo;
concentraes horizontais agrupamento de empresas de um mesmo ramo que
combinam entre si condies de produo que consideram melhores para vencer
a concorrncia a nvel interno e externo.
A industrializao da economia agrcola e o capitalismo rural
Revoluo agrcola
a industrializao teve um grande impacto na economia rural, provocando a revoluo,
com consequncias demogrficas, sociais e culturais.
origem na Inglaterra e Holanda no sc. XVII, mas s chega ao resto da europa no sc.
XIX
Consistiu na:
mercantilizao da economia agrcola
adeso dos proprietrios da terra com esprito capitalista
utilizando novas tcnicas para modernizar:
as prticas;
os utenslios;
os processos produtivos.
rentabilizando o trabalho agrcola, produzindo mais, com menos mo-de-obra e a
menores custos, visando uma comercializao rpida e lucrativa.
A industrializao da agricultura europeia beneficiou:
dos progressos cientfico-tcnicos;
possibilitaram:
a melhoria da utensilagem e a mecanizao do trabalho agrcola;
maiores conhecimentos sobre o processo agrcola.
Apareceram as primeiras escolas agrcolas.
9
Daqui resultou uma agricultura evoluda.
do alargamento dos transportes e maior rapidez das comunicaes;
rpida distribuio pelos mercados;
ajudaram a construir mercados internos.
do crescimento do capitalismo financeiro.
As alteraes do liberalismo poltico e econmico tambm beneficiaram a
agricultura.
Estas condies levaram a que empresrios capitalistas invistam cada vez mais nos
campos. Apareceu assim o capitalismo rural.
Levadas pela emigrao europeia, estas novas prticas agrcolas tiveram sucesso nos
novos pases da Amrica (Canad, EUA, Argentina), Austrlia e frica Central.
Fazendo grande concorrncia produo europeia, levando pases europeus a
utilizarem medidas protecionistas.
A geografia da industrializao
A hegemonia inglesa
Fatores que mantm a sua hegemonia desde o sculo XVIII:
estruturas poltico-econmicas e sociais modernas e avanadas por serem
pioneiros do liberalismo;
1 potencia na produo txtil (algodo) e metalrgica (ferro);
uso da energia a vapor em grande escala;
posse da maior extenso de caminhos-de-ferro;
controle do comrcio internacional graas frota mercante e ao avanado sistema
financeiro;
grande crescimento demogrfico e urbano.
No final do sc. XIX perde a preponderncia para os EUA.
O arranque de novas potncias
O xito econmico da Gr-Bretanha incentivou outros pases a iniciar os seus prprios
processos de industrializao de forma a competirem com a Gr-Bretanha e a
emanciparem as suas economias da tutela tecnolgica e financeira da mesma.
Frana:
foi o 2 pas a industrializar-se, no entanto s alcanou a fase de maturidade na 1
dcada do sculo XX;
industrializao assente na eletricidade e produo automvel.
10
dificuldades:
falta de matria prima (carvo);
existncia de uma agricultura de subsistncia.
Alemanha:
inicio da industrializao em meados do sculo XIX, nomeadamente pela
construo de caminhos-de-ferro pela empresa Krup;
aps a sua unificao (no final do sculo XIX), comea a competir com a Inglaterra;
a partir do sculo XX, suplanta a industria inglesa na produo de ao;
paralelamente, promoveram a construo naval e no final do sculo
desenvolveram-se nas indstrias qumicas e eletricidade;
fatores favorveis:
abundncia de carvo, aumentando as suas reservas de minrio aps ter
conquistado Frana a regio Alscia-Lorena (guerra franco-prussiana 1870-
71).
Estados Unidos da Amrica:
inicio da industrializao por volta de 1830, destrona a hegemonia inglesa a partir
de finais do sculo XIX;
fatores favorveis:
abundncia de matrias primas, possuindo um territrio quase virgem;
rpido crescimento demogrfico;
possuir uma agricultura moderna e mecanizada, desenvolvendo o capitalismo
rural;
concentrao empresarial (p. ex nas indstrias siderrgicas);
energia eltrica fornecida pelas quedas de gua;
mercado interno em constante crescimento;
pautas aduaneiras protecionistas moderadamente praticadas.
desenvolveram-se em todos os setores;
o crescimento da produo industrial permitiu a abundncia de capitais,
incrementando as atividades financeiras e bancrias;
passaram a financiadores no sculo XX, possuindo certa de 3,6 milhes de dlares
em investimentos no exterior.
Japo:
11
primeiro pas asitico a modernizar-se atravs de uma industrializao (inicio na 2
metade do sc. XIX) acelerada e surpreendente graas politica de desenvolvimento
seguida pelo imperador Mutsu-Hito:
apoio produo industrial (seda, construo naval e siderurgia) seguindo
modelos ocidentais e abertura do pas ao exterior.
forte crescimento demogrfico fornece mo-de-obra e consumidores indstria;
forte imperialismo militarista que o Japo comeara a exercer no Pacfico
proporcionaram o alargamento dos mercados e os estmulos necessrios grande
produo.
Industrializao:
iniciou-se no setor txtil;
surgiram novos setores de ponta, como a construo naval, siderurgia, indstria de
armamento e indstrias qumicas.
A permanncia de formas de economia tradicional
a par do mundo industrializado, a maior parte do planeta mantinha-se um mundo
"atrasado":
no imprio Austro-Hngaro, Russo e na Europa Meridional o arranque industrial
tardio;
nas colnias da Amrica Latina e na frica no existiu desenvolvimento;
nos pases desenvolvidos (em algumas zonas) mantm-se a agricultura de subsistncia
e a atividade artesanal.
A agudizao das diferenas
As crises do capitalismo. A confiana nos mecanismos autorreguladores do
mercado.
Liberalismo, Capitalismo e Industrializao;
crescimento econmico irreversvel:
abundncia dos produtos;
baixa dos preos;
melhores condies de vida material.
crescimento no regular;
constantes flutuaes de mercado no comportamento:
12
da produo;
dos preos;
do emprego;
dos salrios;
dos lucros.
Gerando crises econmicas violentas que abalavam toda a economia,
diminuam a qualidade de vida das populaes e provocavam
instabilidade social e poltica. *
Economistas destacam, na evoluo econmica global do sc. XIX, trs tipos de
oscilaes rtmicas entre preos, salrios e lucros, a que chamam de ciclos
econmicos:
Kitchin:
estudou os ciclos mais custos, cujas oscilaes se faziam a intervalos de 3 a 5
anos.
Junglar:
estudou as flutuaes que ocorriam em perodos de tempo de 6 a 10 anos,
compreendendo, cada um, uma tendncia expansiva e outra depressiva.
Kondratieff:
enquadrou essas oscilaes curtas em perodos mais latos, que duravam entre
50 a 60 anos e tambm abarcavam duas fases de tendncias distintas.
* Crises de superproduo devido produo excedentria:
abundncia da oferta em relao procura, provocava descidas dos preos, colocando
em risco:
os lucros esperados;
a sobrevivncia financeira das empresas.
recurso destruio dos stocks armazenados, para evitar as descidas de
preos, tentando repor o equilibro entre a oferta e a procura;
diminuio das vendas e dos preos:
cortes drsticos nas despesas;
reduo da mo-de-obra contratada:
desemprego.
reduo dos salrios;
diminuio do horrio de trabalho;
subemprego.
13
reduo nos gastos em matrias-primas, em energia e outros.
levando a crise a outros setores.
recorrncia ao crdito:
endividamento das empresas
se a crise se perlongasse, havia paragem de produo e fechamento de fbricas ou
abrir falncia:
desemprego.
as pequenas empresas deixavam-se absorver pelas empresas mais fortes ou
associavam-se a elas atravs dos processos de concentrao industrial.
Gerava-se, assim, uma fase depressiva na economia:
descida dos preos e salrios;
desemprego e subemprego;
diminuio ou paragem da produo;
falncias.
Por vezes gerava-se novamente uma nova fase expansiva:
crescimento progressivo:
da produo;
do emprego;
do aumento da procura;
aumento dos lucros, etc.
Sendo estas crises caratersticas da economia industrial e capitalista, a maior parte delas
iniciaram-se no sector industrial, estendendo-se depois aos restantes sectores
econmicos. Mas houve tambm crises originadas na agricultura ou at no sector
financeiro.
Criao de mecanismos auto-reguladores:
ajudaram a sanear a economia e a entrar em nova fase expansiva. Prticas como:
destruio voluntria dos stocks produzidos;
lock-out temporrio das fbricas;
desenvolvimento do crdito;
tipos de concentrao industrial monopolista;
forma de contornar a concorrncia e dominar os mercados.
inovao tcnica e econmica.
Estas crises cclicas do capitalismo foram altamente seletivas:
s as indstrias e as economias mais fortes sobreviveram:
14
agudizao das diferenas e das dependncias entre as indstrias mais fortes e as
mais fracas, e entre os pases e as zonas econmicas mais avanadas e
industrializadas e as mais atrasadas, com economias tradicionais.
gerava um ciclo vicioso: a baixa produtividade do setor agrcola s permitia
rendimentos baixos; as fracas poupanas das populaes eram insuficientes
para acumular os capitais necessrios ao investimento, impedindo a
modernizao tcnico-produtivas que poderiam aumentar a produtividade e
diminuir a dependncia em relao aos pases ricos.
O mercado internacional e a diviso internacional do trabalho
Mercado/comrcio internacional:
beneficiado:
pelo crescimento demogrfico mundial;
pelo desenvolvimento dos transportes;
pelo aumento da produo industrial e agrcola;
pelo impulso do capitalismo.
em expanso durante todo o sculo XIX at ao eclodir com a Primeira Grande Guerra;
mais pases envolvidos em trocas de carcter mundial e multilateral;
os europeus detinha 2/3 do comrcio mundial e foram responsveis pelo seu
desenvolvimento:
exportavam produtos manufaturados, maquinarias e capitais;
importavam produtos agrcolas e matrias primas a pases menos
desenvolvidos para desenvolver a sua indstria;
os pases ricos e industrializados saam beneficiados economicamente:
as necessidades europeias excederam uma tal procura noutros
continentes que impulsionaram o desenvolvimento da economia agrcola
nos EUA, Canad, Austrlia e Argentina (por arrastamento).
Formao de zonas econmicas especializadas e complementares;
a especializao resultou:
da adequao do potencial natural de cada regio procura existente nos
mercados e s leis da livre concorrncia.
consiste na produo em grande escala, racionalizada e modernizada de um
produto para afastar pequenos competidores e impor-se no mercado.
15
os lucros obtidos eram usados para equilibrar a balana comercial,
compensando as importaes de matrias primas.
Repartio mundial do trabalho:
adveio da especializao;
evidente entre pases ricos e pases pobres:
nos pases ricos:
situavam-se indstrias de ponta;
a maioria da populao ativa trabalhava na indstria e servios.
nos pases pobres:
a economia baseava-se na explorao da Natureza e no trabalho no
especializado.
Apesar destas desigualdades, isto foi um fator de estmulo ao progresso
econmico, exercendo efeitos de arrastamento sobre os pases menos
desenvolvidos que procuraram adequar as suas economias s necessidades e
presses dos mercados.
Os pases menos industrializados complementavam a economia. Esta dependncia
favorecia os pases industrializados.
importavam produtos manufaturados dos pases ricos;
exportavam produtos agrcolas e matrias primas.
Este desequilibro levou alterao da poltica livre-cambista (sistema que
defendia circulao econmica):
regresso s polticas protecionistas a partir da dcada de 1860 na Europa.
procurando fomentar a acelerao do desenvolvimento industrial.
nos finais do sculo XIX, pases como a Alemanha, ustria, Itlia, Espanha,
Portugal, Blgica, Sucia, Sua, Rssia e os EUA tinham adotado estas
polticas.
Você também pode gostar
- NR12 - Segurança em Máquinas Importadas - VIKON Setembro 2017 - 29 SlidesDocumento29 páginasNR12 - Segurança em Máquinas Importadas - VIKON Setembro 2017 - 29 SlidesBeatriz BauerAinda não há avaliações
- Comércio Exterior - Brasil ExportadorDocumento50 páginasComércio Exterior - Brasil ExportadorcarlosenhaAinda não há avaliações
- Pinus Na Silvicultura BrasileiraDocumento226 páginasPinus Na Silvicultura BrasileiraYuri BaranhukAinda não há avaliações
- Resumo - A Historia Da Riqueza Do Homem - Ate Cap 12Documento25 páginasResumo - A Historia Da Riqueza Do Homem - Ate Cap 12Mauricio Gomes83% (6)
- Modelo Ricardiano Das Vantagens ComparativasDocumento9 páginasModelo Ricardiano Das Vantagens ComparativasLeonardo FernandesAinda não há avaliações
- Redes SolidáriasDocumento4 páginasRedes SolidáriasMarceloWolffAinda não há avaliações
- Regis Bonelli, Pedro Veiga - A Dinâmica Das Políticas Setoriais No Brasil Na Década de 1990 Continuidade e Mudança RBCEDocumento24 páginasRegis Bonelli, Pedro Veiga - A Dinâmica Das Políticas Setoriais No Brasil Na Década de 1990 Continuidade e Mudança RBCELuiz Adriano MorettiAinda não há avaliações
- Apresentacao Grupo2 - Evolucao ComercioDocumento26 páginasApresentacao Grupo2 - Evolucao ComercioCristina CarvalhoAinda não há avaliações
- UEM Vestibular de Inverno 2009 - Prova 1Documento15 páginasUEM Vestibular de Inverno 2009 - Prova 1Camiseta MilhoAinda não há avaliações
- DocumentosDocumento4 páginasDocumentosFelipe GasparAinda não há avaliações
- O Mundo Na Era Da Globalização by Anthony GiddensDocumento73 páginasO Mundo Na Era Da Globalização by Anthony GiddensLuiz FerrnandoAinda não há avaliações
- AtualidadesDocumento31 páginasAtualidadesMathias GonzalezAinda não há avaliações
- A Grande Reação Kaiagang - Danilo BragaDocumento153 páginasA Grande Reação Kaiagang - Danilo BragaKELLE CLESIA DOS SANTOS ARAUJOAinda não há avaliações
- 0 A Economia Brasileira de FinsDocumento50 páginas0 A Economia Brasileira de FinsSolRiosAinda não há avaliações
- Luiz Missagia - Legislação AduaneiraDocumento18 páginasLuiz Missagia - Legislação AduaneiraSilvia Regina OliveiraAinda não há avaliações
- Por Que Os Brasileiros Devem Aprender EspanholDocumento7 páginasPor Que Os Brasileiros Devem Aprender EspanholElaine Guimaraes100% (3)
- 2600 Euros em Reais - Pesquisa GoogleDocumento1 página2600 Euros em Reais - Pesquisa GoogleJaqueline ModestoAinda não há avaliações
- Sueyde - Fernandes - de - Oliveira Calcio e Silicio em GerberaDocumento63 páginasSueyde - Fernandes - de - Oliveira Calcio e Silicio em GerberaamandaAinda não há avaliações
- 6° e 7° SEMESTRE 2019 - PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR - Novas Tendências para o Comércio Internacional BrasileiroDocumento7 páginas6° e 7° SEMESTRE 2019 - PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR - Novas Tendências para o Comércio Internacional BrasileiroAlex NascimentoAinda não há avaliações
- FILGUEIRAS, Luiz. "O Neoliberalismo No Brasil-Estrutura, Dinâmica e Ajuste Do Modelo EconômicoDocumento28 páginasFILGUEIRAS, Luiz. "O Neoliberalismo No Brasil-Estrutura, Dinâmica e Ajuste Do Modelo Econômicopedro pinhoAinda não há avaliações
- Os Programas de FMI e Do Banco Mundial em MoçambiqueDocumento17 páginasOs Programas de FMI e Do Banco Mundial em MoçambiqueAMANCHAUia100% (3)
- Comercio ExteriorDocumento70 páginasComercio Exteriorrondaba100% (3)
- A Trajetoria Do CEFET-RNDocumento133 páginasA Trajetoria Do CEFET-RNSouzarnAinda não há avaliações
- III Congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais e Do VI Simposio de Rochas Ornamentais Do Nordeste PDFDocumento379 páginasIII Congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais e Do VI Simposio de Rochas Ornamentais Do Nordeste PDFPaulo Thales PereiraAinda não há avaliações
- Módulo 4. Comércio Exterior - Revisão Da Tentativa2 CREMILDO MUNDLOVODocumento7 páginasMódulo 4. Comércio Exterior - Revisão Da Tentativa2 CREMILDO MUNDLOVOcremsamuAinda não há avaliações
- Cadeias Produtivas Roteiro para Estudo de Sistemas AgroalimentaresDocumento63 páginasCadeias Produtivas Roteiro para Estudo de Sistemas AgroalimentaresÉrik Januário da SilvaAinda não há avaliações
- Manual Traffic Import v2Documento90 páginasManual Traffic Import v2IDL Express Assessoria AduaneiraAinda não há avaliações
- Exportação Gemas e Jóias PDFDocumento110 páginasExportação Gemas e Jóias PDFRobin Bahr JuniorAinda não há avaliações
- Banco Nacional de Angola - Taxas de Câmbio Dos Bancos Comerciais e Das Casas de Câmbios 33Documento2 páginasBanco Nacional de Angola - Taxas de Câmbio Dos Bancos Comerciais e Das Casas de Câmbios 33jambajungo100% (2)
- Cap. Modelo Ricardiano-ProvaIDocumento21 páginasCap. Modelo Ricardiano-ProvaIChristiane MonteiroAinda não há avaliações