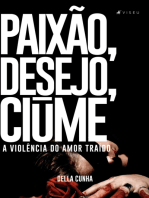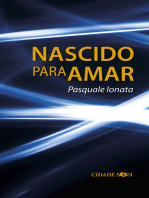Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Nosso Relacionamento
Enviado por
Lucas Girard0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
252 visualizações5 páginasCapítulo do livro "Pós-História", do filósofo Vilém Flusser.
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoCapítulo do livro "Pós-História", do filósofo Vilém Flusser.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
252 visualizações5 páginasNosso Relacionamento
Enviado por
Lucas GirardCapítulo do livro "Pós-História", do filósofo Vilém Flusser.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
Nosso Relacionamento
FLUSSER, V. Pós-História, São Paulo: Livraria Duas Cidades,1983, p.153
– 160
Atualmente tendemos a perceber o mundo que nos cerca como sendo
contexto de
relações, e não de objetos ou de processos, como acontecia
anteriormente. O mundo está
deixando de ser “situação” ou “evento”, e está passando a ser
“campo”. Não se trata, em tal transformação, de mudança apenas dos
nossos modelos de conhecimento. Igualmente estão mudando nossos
modelos de experiência: estamos vivenciando o nosso ambiente como
teia. E isto está se tornando mais óbvio quando se trata da nossa
vivência da sociedade que nos cerca. A sociedade vai sendo
vivenciada e captada sempre mais claramente como aquela rede de
relações devido à qual não apenas somos o que somos, mas devido à
qual somos “tour court”. Não importa o que eu seja, o sou em relação
com um outro qualquer, e se me assunto “eu”, o faço porque em outro
qualquer me chama “tu”. Sou “pai” em relação com meu filho, “chefe”
em relação ao meu empregado, “escritor” em relação ao meu leitor, e
todas as demais “definições” do meu estar-no-mundo são relações
semelhantes que me prendem à rede da sociedade. Se, graças a um
esforço de abstração, conseguir “suspender” todas as definições, não
terei descoberto núcleo “absoluto” qualquer que possa chamar a
“essência de mim mesmo” (“alma”,
“identidade”), mas terei descoberto que o termo “eu” designa espécie
de gancho imaginário sobre o qual as relações que sou estão
penduradas. Descobrirei que, abstraídas as relações que me prendem
à rede da sociedade, sou estritamente nada. A visão relacional implica
não apenas na descoberta da vacuidade dos objetos e dos processos,
mas sobretudo na descoberta da vacuidade da existência no mundo.
Pois parece que tal ontologia relacional leva à ética e a
comportamentos altruísticos. Se tudo o que sou são as relações que
me prendem ao outro, e se estou me tornando consciente disto,
parece que me comportarei em função do outro. E se os pronomes
“eu”, “tu”, “nós” e “vós” são revelados, não nomes de pessoas, mas
de relações, parece que a consciência vai se
“politizar”, no sentido de intersubjetividade responsável para o outro e
pelo o outro. Isto parece ser a conseqüência da ontologia relacional,
porque “relação” implica a possibilidade de diálogo intersubjetivo, de
troca de pergunta e resposta. Ontologia relacional parece “superação”
do egoísmo individualista por altruísmo “superindividualista”. Na
realidade, por certo, não é isto que está acontecendo. Estamos
presenciando, pelo contrário, despolitização massificante. A explicação
de tal conseqüência surpreendente da ontologia relacional está no
modelo que sustenta nossa noção de “campo”. Trata-se de modelo
dinâmico complexo. A família pode servir de exemplo de como tal
modelo funciona. É concebida enquanto no composto de relações do
tipo “pai-filho”, “marido-esposa”, “sogro-genro”. Tais relações se co-
implicam e ramificam. A relação “pai-filho” implica a relação “tio-
primo”.A família enquanto nó de relações é por sua vez relacionada
com outros nós que vão formando o tecido dinâmico e sempre
cambiante da sociedade. Toda relação tem inúmeros aspectos,
emocionais, culturais, econômicos, políticos, biológicos, éticos, jamais
esgotáveis. Em suma: a família se revela caixa preta jamais
inteiramente explicável, e captável apenas se concentrarmos a
atenção sobre seu input e output. Revela-se ciberneticamente
manipulável. Isto vale para todas as demais categorias sociais, como
seja “classe”, ou “povo”. São elas reveladas nós de relações que se
formam e desformam ao longo de um jogo de permutações, que
surgem ao acaso e passam a necessárias para a continuação do jogo.
Uma vez esgotadas as virtualidades inerentes ao jogo social, a
sociedade se decompõe, os nós se desfazem, e surge estágio final do
jogo, entropia. Isto é: a sociedade passa a massa amorfa. De maneira
que o modelo subjacente à nossa noção de “campo” não implica
comportamento altruístico, mas comportamento lúdico: não
“consciência política”, mas “técnica social e politologia”. Pois não
apenas concebemos a sociedade enquanto jogo transcendível e
manipulável: vivemos destarte. Vivenciamos nossas relações sociais
enquanto encontros casuais, lances de jogo. Isto está tornando
extremamente dinâmico o tecido da sociedade. Estamos nos
movimentando no contexto social com irresponsabilidade acelerada, e
esbarramos, em tal movimento, contra número crescente de “outros”.
Tal mobilidade social nossa, geográfica, econômica, informacional,
intelectual, sensacional, vai nos tornando sempre mais ricos, no
sentido de envolver-nos em relações sempre mais numerosas.
Simultaneamente tal mobilidade vai revelando sempre melhor a
vacuidade do núcleo no qual tais relações se concentram. Estamos
desempenhando número crescente de papéis no jogo social, e
sabemos sempre melhor
de tratar-se, em tais papéis, de máscaras que encobrem nada. Tal
enriquecimento irresponsável da vida social se nos afigura como
“liberdade”. Somos livres para atar e desatar inúmeras relações, e tais
vão se tornando progressivamente frouxas, porque vão revelando
sempre melhor que fundamentalmente nada atam. De modo que o
enriquecimento crescente das relações que somos, tal
“liberdade”crescente, está acompanhado da sensação da solidão
crescente. O jogo social vai se revelando jogo absurdo. A razão disto é
que o modelo de “campo” desmitizou a sociedade, amputou suas
dimensões míticas e históricas, desistencializou-a. Isto se torna óbvio
se considerarmos o
conceito da fidelidade. É ele típica categoria do pensamento finalístico,
para o qual a sociedade, longe de jogo relacional, se apresentava
como comunidade de destino, mágica e miticamente. Era possível
distinguir-se nela entre dois tipos de relação: as predeterminadas e as
livremente assumidas. O homem foi jogado, pelo destino, nas relações
predeterminadas (família, povo, classe), e criava, ele próprio, as
relações livres (amorosas, profissionais, amistosas). Não que tais
relações livremente assumidas tivessem rompido os desígnios do
destino. Pelo contrário: eram resultados de gestos que assumem o
destino. Se um homem e uma mulher se encontraram e passaram a se
amar um ao outro, tal encontro aparentemente casual se foi revelando
predestinado. A relação que surgiu de tal encontro, por exemplo o
casamento, era relação predestinada. Mas era relação livremente
assumida não obstante. Porque era relação baseada em fidelidade. A
fidelidade é a livre escolha do destino, amor fati. A fidelidade é o
fundamento da liberdade, e aonde não há fidelidade, não há liberdade.
Pois atualmente o próprio conceito de fidelidade passou a ser arcaico e
ridículo. Ocorre em filmes Kitsch e em discursos demagógicos. Ainda
na Idade Média constituía a fidelidade a própria matéria da qual a
sociedade era feita. Era a fidelidade que ligava o cavalheiro ao
soberano, o mestre ao ofício, o servo ao senhor, o discípulo ao mestre.
E sobretudo ligava o
homem e a mulher no casamento. Atualmente tudo isto não passa de
demagogia. Não somos fiéis, somos parceiros de jogo: do jogo de
bridge, do jogo sexual, do jogo do funcionamento. Seria sumamente
ridículo se quiséssemos manter a fidelidade ao aparelho no qual
estamos funcionando. A fidelidade é relação pessoal, e os aparelhos
não são pessoas. Nada é pessoa, com efeito: nem o parceiro de bridge,
nem o do casamento. Tudo é aparelho, caixa preta. Nosso modelo de
“campo”, resultado da ontologia relacional, elimina o conceito de
“pessoa”. Somos incapazes da vivência, e até da concepção, da
fidelidade. O que implica que somos incapazes da liberdade no
significado existencial desse termo. Esta é a razão porque a maioria
entre nós nem sequer ressente a falta da liberdade. A pequena minoria
que sofre a consciência do absurdo do jogo social, inventou substituto
de fidelidade, chamado “engajamento”, que possa proporcionar
sensação da liberdade. Tal minoria reconhece que liberdade é o gesto
de assumir responsabilidade, e que isto é a única estratégia que dá
sentido ao jogo da sociedade. Tal qual a fidelidade, o engajamento
assume responsabilidade. Sacrifica a disponibilidade, a mobilidade
social, em prol de específico relacionamento. Mas há profunda
diferença entre fidelidade e engajamento. O engajamento se
fundamenta sobre decisão deliberada, a fidelidade sobre
espontaneidade. Ninguém se decide para ser fiel: a fidelidade é
mantida. Para dize-lo em termos arcaicos, convenientes ao assunto:
engajamento é fidelidade sem amor. De maneira que a substituição da
fidelidade pelo engajamento é sintoma, não apenas
da nossa incapacidade para a liberdade existencial, mas sobretudo da
nossa incapacidade para o amor. E engajamento é gesto de assumir
relação impessoal: engajamo-nos, não em um outro (homem ou Deus),
mas em “objetos”(pensamentos, atos, movimentos, ideologias).
Fidelidade, como confiança, é categoria religiosa. A palavra latina
“fides” designa ambos os termos. A fidelidade é o lado ativo, a
confiança o lado passivo da fé. Sou fiel a Deus, a minha mulher, ao
meu amigo, porque tenho confiança neles. Pois, dada a crise de
confiança, sou incapaz para manter fidelidade. Mas posso engajar-me
sem confiança. Porque engajamento é o ato deliberado de sacrifício do
distanciamento crítico. O engajamento atual dos comunistas
conscientes, por exemplo o engajamento dos réus nos processos de
Moscou, é disto prova. Ao contrário do que pensam alguns,
engajamento não é categoria religiosa. É ele gesto de sacrifício que se
sabe absurdo. Engajamento é gesto de jogador, estratégia deliberada.
Mas, tal análise de nossa existência em sociedade não articula a
verdade toda. A nova ontologia relacional, segundo a qual nos
reconhecemos enquanto vacuidades nas quais se concentram
relações, sejam elas “intencionalidades” centrífugas, sejam
“intencionalidades”vindas de fora, implica nova abertura da existência
humana. Se sabemos sermos vacuidades, e se nos vivenciamos
concretamente como tais, é que somos abertos. Abertos rumo à morte,
rumo ao nada, em sentido mais radical que as gerações passadas. A
sensação do
absurdo que nos invade, e que forma a base do nosso estar-no-mundo,
não nos torna apenas jogadores: nos torna também jogados rumo à
morte. E o modelo de “campo”, o da caixa preta, não é
necessariamente o único do qual podemos nos servir para captarmos o
nosso estar-no-mundo. Outro modelo se oferece. Pela abertura que
sabemos que somos, e que vivenciamos enquanto abertura rumo ao
nada, somos capazes para perceber outras aberturas nas quais
reconhecemos nossa própria abertura. Vacuidades que absorvem a
nossa “intencionalidade” dentro da nossa abertura. Graças a essa
nossa abertura somos capazes, melhor que as gerações precedentes,
de reconhecer a nossa própria solidão absurda rumo a morte nos
outros. Não reconhecer os outros enquanto “pessoas”,
por certo mas reconhecer nossa própria vacuidade nos outros. Se tal
encontro casual e precioso se estabelece, somos tomados de
embriaguez “sui generis”: reconhecemos a nossa própria morte no
outro. Tal embriaguez é próxima à proporcionada pela droga “arte”.
Trata-se, com efeito, de ars amatoria, a qual está ligada,
subterraneamente, com a ars moriendi. Precisamente por vivermos
absurdamente, por sermos incapazes de confiança e de fidelidade,
estamos abertos para tais encontros embriagantes, raros mas
“alterantes”, nos quais a solidão para a morte vira solidão participada.
Isto sugere modelo de vivência e de conhecimento do outro, fundado
sobre a vacuidade,
que não tem paralelo no passado. Modelo de fim de jogo. Não se trata,
em tal modelo, de “querer alterar o outro”, mas de ser alterado pelo
outro. Não se trata de modelo “político”no significado histórico desse
termo. Não se trata de modelo para modificar a sociedade. Trata-se,
pelo contrário, de modelo que procura captar a alteração que se
processa em mim próprio durante tais encontros. Mas não é por isto
que tal modelo pode ser considerado “privatizante”, ou
“despolitizante”. Pelo contrário: tal modelo permite vislumbrar,
embora vagamente, novo tipo de relacionamento social, fundado sobre
a consciência do absurdo da existência humana. É sumamente
incômodo falar-se em tais aspectos. Incômodo, porque se trata de
experiências concretas, as quais são, por definição, inarticuláveis. No
entanto, não é isto que caracteriza a ars amatoria, como toda arte: o
esforço impossível de articular o inarticulável? Pois creio que tal arte
do amor, em situação que sabemos absurda, é a única resposta da
qual dispomos para fazermos face ao abismo que se abriu debaixo dos
nosso pés, e que tal arte não pode ser deliberada, mas surge
espontaneamente. E creio ser ela a única alternativa ao suicídio, já que
é suicídio no outro.
Você também pode gostar
- A maça da rainha má: Conversando sobre relações tóxicas e abuso emocionalNo EverandA maça da rainha má: Conversando sobre relações tóxicas e abuso emocionalAinda não há avaliações
- Mediação de Conflitos: O Sistema e o Processo na Resolução de Conflitos Interpessoais e SociaisNo EverandMediação de Conflitos: O Sistema e o Processo na Resolução de Conflitos Interpessoais e SociaisAinda não há avaliações
- O Fim da Intimidade: Voyeurismo e Exibicionismo nas Redes SociaisNo EverandO Fim da Intimidade: Voyeurismo e Exibicionismo nas Redes SociaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Por que casamos: Sexo e Amor na Vida a DoisNo EverandPor que casamos: Sexo e Amor na Vida a DoisAinda não há avaliações
- O que mais você quer de mim?: O desafio de viver relações significativasNo EverandO que mais você quer de mim?: O desafio de viver relações significativasAinda não há avaliações
- Relações Comunitárias - Relações de Dominação - ResumoDocumento7 páginasRelações Comunitárias - Relações de Dominação - ResumoDaniAinda não há avaliações
- A Dimensão Ética de Sermos Uns Com Os OutrosDocumento3 páginasA Dimensão Ética de Sermos Uns Com Os Outrosqamaru84Ainda não há avaliações
- A Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeNo EverandA Síndrome do Amor Bandido: Hibristofilia: o amor e a prisão de estar em liberdadeAinda não há avaliações
- Vozes Caladas: uma análise criminológica da unidade materno-infantil do centro de reeducação feminina em Ananindeua/PANo EverandVozes Caladas: uma análise criminológica da unidade materno-infantil do centro de reeducação feminina em Ananindeua/PAAinda não há avaliações
- Resumo - Sociedade Dos IndivíduosDocumento8 páginasResumo - Sociedade Dos IndivíduossimbiozyAinda não há avaliações
- TRAIÇÕES (Gabriella Turnaturi)Documento18 páginasTRAIÇÕES (Gabriella Turnaturi)ProfissionalAinda não há avaliações
- Falar de Si, Falar Dos OutrosDocumento7 páginasFalar de Si, Falar Dos OutrosJUAN ALEJANDRO DE OLIVEIRA CARNEIROAinda não há avaliações
- Aula 7 - Giddens e BaumanDocumento3 páginasAula 7 - Giddens e BaumanEduardo VSAinda não há avaliações
- Comunicação e identidade: Quem você pensa que é?No EverandComunicação e identidade: Quem você pensa que é?Ainda não há avaliações
- Atividade 3Documento6 páginasAtividade 3António Costa100% (1)
- A Solidão Feminina e Suas Delicadas Relações A Partir Dos RomancesDocumento17 páginasA Solidão Feminina e Suas Delicadas Relações A Partir Dos RomancesCamilaKurpiasAinda não há avaliações
- Alteridade Uma Possibilidade No CasalDocumento17 páginasAlteridade Uma Possibilidade No CasalHugo Guimarães CarneiroAinda não há avaliações
- Um Olhar sobre a Solidão e os Relacionamentos InterpessoaisNo EverandUm Olhar sobre a Solidão e os Relacionamentos InterpessoaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A3 - Perspectivas Fenomenologicas e Existestencialista Sobre o AmorDocumento19 páginasA3 - Perspectivas Fenomenologicas e Existestencialista Sobre o AmorJefferson AlmeidaAinda não há avaliações
- BRUM, D. Mathias - Resenha - A Sociedade Dos IndivíduosDocumento12 páginasBRUM, D. Mathias - Resenha - A Sociedade Dos IndivíduosMathias BrumAinda não há avaliações
- Separados pelo casamento numa solidão a dois: AmorNo EverandSeparados pelo casamento numa solidão a dois: AmorAinda não há avaliações
- Direitos Humanos em Movimento: da (in) visibilidade à concretização - Volume 2No EverandDireitos Humanos em Movimento: da (in) visibilidade à concretização - Volume 2Ainda não há avaliações
- Texto 1 - A Sociedade Dos IndividuosDocumento5 páginasTexto 1 - A Sociedade Dos IndividuosRenildo BarbosaAinda não há avaliações
- GOLDSMID, Rebeca - FERES-CARNEIRO, Terezinha (2011) - Relação Fraterna.Documento17 páginasGOLDSMID, Rebeca - FERES-CARNEIRO, Terezinha (2011) - Relação Fraterna.Natália BarrosAinda não há avaliações
- Homem e Mulher e Seus Vínculos SecretosDocumento9 páginasHomem e Mulher e Seus Vínculos SecretosPablo Santos Lira100% (1)
- Resenha - A Socieddae Da TransparênciaDocumento4 páginasResenha - A Socieddae Da TransparênciaGuilherme Ribeiro PintoAinda não há avaliações
- A Importancia Dos Laços Afetivos Na Pos ModernidadeDocumento6 páginasA Importancia Dos Laços Afetivos Na Pos ModernidadeBrenda RomãoAinda não há avaliações
- Antropologia Filosófica - Da AmizadeDocumento4 páginasAntropologia Filosófica - Da AmizadeCauan Elias1822Ainda não há avaliações
- Giddens - A Transformação Da IdentidadeDocumento9 páginasGiddens - A Transformação Da IdentidadeBela LugosiAinda não há avaliações
- Amor Romântico Na Literatura InfantilDocumento4 páginasAmor Romântico Na Literatura InfantilVictor Di LourençoAinda não há avaliações
- Biblioteca 1280730Documento23 páginasBiblioteca 1280730Alex BrunoAinda não há avaliações
- Foucault - Da Amizade Como Modo de VidaDocumento5 páginasFoucault - Da Amizade Como Modo de VidaCoridon Gide100% (1)
- Tempos Voláteis Um Estudo Do Amor Contemporâneo No Contexto Do FeminicídioDocumento6 páginasTempos Voláteis Um Estudo Do Amor Contemporâneo No Contexto Do FeminicídioDenise BacellarAinda não há avaliações
- Violência & Internet: A era da informação e a vida cotidianaNo EverandViolência & Internet: A era da informação e a vida cotidianaAinda não há avaliações
- Revolução sistêmica: Uma jornada de transformação rumo ao próximo nível de consciência humanaNo EverandRevolução sistêmica: Uma jornada de transformação rumo ao próximo nível de consciência humanaAinda não há avaliações
- Conjulgalidade e Subjetividades ContemporâneasDocumento13 páginasConjulgalidade e Subjetividades ContemporâneasBárbara PessoaAinda não há avaliações
- Resumo Comentado Fundamentos Do Pensamento Na Vida CotidianaDocumento3 páginasResumo Comentado Fundamentos Do Pensamento Na Vida CotidianaLara Siqueira100% (1)
- Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidadeNo EverandProblemas de gênero: Feminismo e subversão da identidadeAinda não há avaliações
- Justiça como Alteridade: a superação da vingança pelo perdão difícilNo EverandJustiça como Alteridade: a superação da vingança pelo perdão difícilAinda não há avaliações
- Sapatos vermelhos são de puta: Desafiando as crenças do patriarcadoNo EverandSapatos vermelhos são de puta: Desafiando as crenças do patriarcadoNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Nosso Céu Flusser, V. Pós-História, São PauloDocumento3 páginasNosso Céu Flusser, V. Pós-História, São PauloLucas GirardAinda não há avaliações
- Pala Além Das Máquinas - Vilém FlusserDocumento7 páginasPala Além Das Máquinas - Vilém FlusserBianca ArcadierAinda não há avaliações
- Nossa MoradaDocumento3 páginasNossa MoradaLucas GirardAinda não há avaliações
- Nossa Espera Flusser, V., Pós-História, Vinte InstantâneosDocumento3 páginasNossa Espera Flusser, V., Pós-História, Vinte InstantâneosLucas GirardAinda não há avaliações
- Unicórnios - Vilém FlusserDocumento1 páginaUnicórnios - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Máscaras - Vilém FlusserDocumento1 páginaMáscaras - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- A Perda Da Fé - Vilém FlusserDocumento5 páginasA Perda Da Fé - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Do Espelho - Vilém FlusserDocumento3 páginasDo Espelho - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Criação Cientifica e Artística - Vilém FlusserDocumento3 páginasCriação Cientifica e Artística - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Notação Musicalmicrotonal para o Programa Pure Data - Marcus Alessi BittencourtDocumento7 páginasNotação Musicalmicrotonal para o Programa Pure Data - Marcus Alessi BittencourtdundunAinda não há avaliações