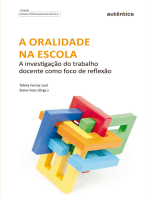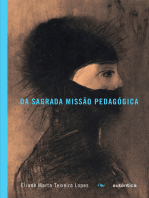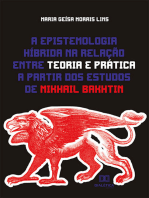Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 1. Abordagens de Leitura. Kleiman PDF
Aula 1. Abordagens de Leitura. Kleiman PDF
Enviado por
Stéphanie GirãoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aula 1. Abordagens de Leitura. Kleiman PDF
Aula 1. Abordagens de Leitura. Kleiman PDF
Enviado por
Stéphanie GirãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Abordagens da leitura
Abordagens da leitura
Angela B. Kleiman*
Resumo
E ste trabalho tem por objetivo evidenciar as abordagens da leitura
da Lingstica Aplicada, tanto na pesquisa quanto no ensino da
leitura ao longo de vinte e cinco anos de pesquisa sobre o assunto
nesse campo. Na primeira parte do texto, examinamos as transfor-
maes terico-metodolgicas da pesquisa na rea; na segunda, foca-
lizamos as transformaes no campo didtico, reconstituindo as abor-
dagens didticas mediante a anlise de texto em trs livros didticos
com a finalidade de determinar o perfil de leitor pressuposto nos
manuais, comparando-o com a caracterizao do sujeito leitor na
pesquisa.
Palavras-chave: Leitura; Pesquisa; Ensino; Livro didtico.
N
uma mesa-redonda interdisciplinar como esta, em que participam estu-
diosos das diversas cincias da linguagem, o termo abordagens, no plu-
ral, aponta para a diversidade e pluralidade de enfoques possveis de serem
adotados quando se estuda a leitura. Essa diversidade, sem dvida, ser mostrada
no decorrer dos trabalhos da Mesa. Meu objetivo o de evidenciar as abordagens
da Lingstica Aplicada, tanto na pesquisa quanto no ensino da leitura ao longo
de vinte e cinco anos de pesquisa sobre o assunto dessa disciplina no Brasil. As
abordagens didticas sero reconstitudas mediante a anlise de texto em trs li-
vros didticos (LD) com a finalidade de determinar o perfil de leitor pressuposto
nos manuais, comparando-o com a caracterizao do sujeito leitor na pesquisa.
*
Universidade Estadual de Campinas.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004 13
Angela B. Kleiman
AS ABORDAGENS DE PESQUISA NA LINGSTICA APLICADA
A concepo hoje predominante nos estudos de leitura a de leitura como
prtica social que, na Lingstica Aplicada, subsidiada teoricamente pelos estu-
dos do letramento. Nessa perspectiva, os usos da leitura esto ligados situao;
so determinados pelas histrias dos participantes, pelas caractersticas da insti-
tuio em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da situ-
ao, pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo social.
Tudo isso reala a diferena e a multiplicidade dos discursos que envolvem e
constituem os sujeitos e que determinam esses diferentes modos de ler.
O enfoque diacrnico sobre a pesquisa da leitura nos mostra a existncia de
pelo menos duas etapas no desenvolvimento das abordagens na Lingstica Apli-
cada desde a segunda metade da dcada de 70, perodo em que comeou a pesquisa
sobre o tema; uma abordagem psicossocial e uma abordagem scio-histrica.
A partir da segunda metade da dcada de 70, aproximadamente, os estudos
sobre a leitura em lngua materna tiveram um grande desenvolvimento, sem dvi-
da impulsionados pela mdia, que, a cada ano, depois dos resultados do vestibu-
lar, noticiava uma nova crise de leitura no Brasil. Nessa poca, predominou a
investigao sustentada pelas cincias psicolgicas a Psicolingstica e a Psico-
logia Cognitiva. Era o leitor quem ocupava um lugar proeminente e central na in-
vestigao subsidiada por essas disciplinas, pois interessava o seu funcionamento
cognitivo durante o processo de compreenso da lngua escrita (ver Fig. 1). Embo-
ra o perfil desse leitor fosse radicalmente diferente do sujeito dos modelos beha-
vioristas, que propunham um modelo de processamento linear elementar para a
leitura (que consistia em processar o material grfico verbal medida que ia sen-
do lido, da slaba palavra, da palavra ao grupo de palavras etc.), havia uma con-
tinuidade epistemolgica em relao pesquisa anteriormente desenvolvida, uma
vez que o foco ainda residia no leitor e em seus processos, mesmo que o leitor
nesse novo modelo fosse inteligente, imprevisvel, criativo, um leitor capaz de
antecipar-se ao estmulo, de fazer hipteses e de inferir de modos diversos para
alm de qualquer estmulo (v. KLEIMAN, 2000).
Uma segunda vertente terica importante para a abordagem psicossocial
foi a Lingstica Textual (coincidindo o auge dos estudos da leitura com o dos
estudos sobre o texto). O texto e os mecanismos que lhe conferiam textualidade
e que podiam ter conseqncias na sua legibilidade passaram a constituir impor-
tantes variveis a serem avaliadas na compreenso a partir da dcada de 80. Em
decorrncia da influncia dos estudos lingstico-textuais, a pesquisa se ocupou
em explicar aspectos da compreenso ou da incompreenso dos sujeitos em situ-
aes mais complexas que relacionavam a compreenso e a legibilidade textual
14 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004
Abordagens da leitura
presena ou ausncia de mecanismos de textualizao; s tipologias de texto vi-
gentes na poca (e mais tarde aos gneros); intertextualidade.
1975- Leitor reage
Vertentes terico-metodolgicas a estmulos
Psicolingstica
Psicologia cognitiva
compreenso T
funcionamento cognitivo Leitor sujeito cognitivo
relao linguagem faculdades mentais do leitor inteligente
faz hipteses
Lingstica textual faz inferncias
mecanismos de textualizao mobiliza saberes em novas
tipologia textual e imprevisveis combinaes
legibilidade/intertextualidade ...
Figura 1. Abordagem psicossocial da leitura e representao do leitor na pesquisa.
A verdadeira ruptura epistemolgica na pesquisa sobre a leitura aconteceu
na dcada de 90, com a emergncia dos estudos do letramento, que passaram a
subsidiar teoricamente a pesquisa sobre a leitura na Lingstica Aplicada.
Diversas abordagens scio-histricas na pesquisa sobre a leitura comea-
ram a ser desenvolvidas no incio da dcada de 90, algumas mais influentes do
que outras no cenrio nacional. Dentre as duas talvez mais importantes temos
uma de inspirao francesa, a da Histria Cultural da Leitura, e uma de inspira-
o anglo-saxnica, a concepo scio-histrica da escrita dos estudos de letra-
mento, fortemente influenciada por antroplogos ingleses, como Street (1984),
e americanos, como Heath (1983). Esta ltima abordagem, subsidiada pela An-
lise Crtica do Discurso, a Pragmtica, as Teorias de Enunciao e a Sociolings-
tica Interacional, passou a dominar o campo na Lingstica Aplicada. O objeto
de pesquisa nessa disciplina a leitura como prtica social, especfica de uma
comunidade, os modos de ler inseparveis dos contextos de ao dos leitores, as
mltiplas e heterogneas funes da leitura ligadas aos contextos de ao desses
sujeitos. Os modos de ler interessam pelo que nos podem mostrar sobre a cons-
truo social dos saberes em eventos que envolvem interaes, textos multisse-
miticos e mobilizao de gneros complexos, tais como uma lio numa aula
versus um cartaz numa assemblia versus um panfleto numa troca comercial. O
pesquisador procura entender o funcionamento da escrita nas prticas locais das
diversas instituies e visa, ainda, a problematizar o uso da escrita, desnaturali-
zando sua relao com o poder. A pesquisa sobre a leitura incorpora novos obje-
tos construdos em campos afins e, muitas vezes, busca reconstruir, no dilogo
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004 15
Angela B. Kleiman
ou no discurso, a histria social do leitor. As metodologias utilizadas como
entrevistas, observao participante propiciam o estabelecimento de relaes
pessoais que facilitam a adoo dos objetivos da pesquisa crtica: a responsabili-
dade de contribuir para a criao de programas sociais que favoream os grupos
de leitores ou no leitores pesquisados.
A Figura 2, a seguir, representa esquematicamente a abordagem.
1990-
Vertentes terico-metodolgicas
Estudos do letramento
Cincias Sociais (Antropologia, Etnografia e
Prticas locais de leitura
Histria)
Leituras ordinrias
Textos multimodais
Sociolingstica interacional
Mltiplos domnios discursivos
Teorias da enunciao
Letramento nas comunidades
Anlise crtica do discurso
Problematizao da escrita
Interao
Gnero
Discurso
...
Figura 2. Abordagem sociohistrica da leitura e objeto dos estudos de letramento.
AS ABORDAGENS DIDTICAS
Consideraremos as abordagens didticas atravs do prisma das atividades
propostas no LD, pois, apesar do seu descrdito na comunidade acadmica, ele
instrumento fundamental do professor, provavelmente o que mais influi no pla-
nejamento de suas atividades didticas. A anlise abranger basicamente o mes-
mo perodo das duas etapas j discutidas e limitar-se- a uma anlise da represen-
tao do leitor infervel da composio da unidade de leitura no LD. Por sua li-
mitao, a anlise mais do que nada exploratria de uma metodologia que nos
parece interessante para a reconstruo das abordagens para o ensino da leitura,
centrada nas inferncias baseadas na anlise dos manuais didticos.
Ao olharmos para os livros didticos da dcada de 70, parece que a pesquisa
e o ensino andam na contramo um do outro. A abordagem psicossocial da leitu-
ra foi precedida por uma longa etapa em que os estudos behavioristas dominavam
o campo, fato este evidente, por exemplo, na proposta de modelos como o de
Gough (1975, ver KLEIMAN, 1989), que previam um leitor que precisava rece-
ber um estmulo visual, uma letra, para uni-la a um estmulo visual anterior para
assim formar uma slaba, procedendo dessa forma em todos os nveis de signifi-
16 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004
Abordagens da leitura
cao: letra por letra at completar uma slaba, slaba por slaba, at completar
uma palavra, palavra por palavra at completar uma frase e assim sucessivamente.
Por outro lado, o leitor previsto pelo LD antes da reforma da Lei 5.692, de
11 de agosto de 1971, em que se fixou a Lngua Portuguesa como contedo da
matria Comunicao e Expresso, no era um leitor que apenas reagia aos est-
mulos visuais. O interlocutor infervel nos livros usados antes, durante e imedi-
atamente aps o ano da reforma era um leitor relativamente independente, que
podia, certamente, ter problemas de compreenso, mas que era capaz de deter-
minar por si s a existncia e o tipo de problema, ou seja, um leitor engajado em
processos de auto-avaliao do prprio conhecimento. Esse perfil de leitor est
subjacente aos conselhos prticos oferecidos ao aluno no exemplo a seguir, reti-
rado de um manual de 5a srie:1
CONSELHOS PRTICOS
I.COMO SE DEVE PREPARAR UMA LEITURA EM CASA
1 Leia o texto com tda a ateno possvel.
2 Caso o ttulo no o indique, procure descobrir, antes de mais nada, qual o as-
sunto.
3 Leia com ateno o vocabulrio que segue as lies, tentando encontrar
nle o sentido das palavras que ainda no conhece.
4 Se o vocabulrio no esclarecer alguma dvida sua, recorra a um dicionrio da
lngua. (No se esquea de que nos dicionrios os verbos esto registrados na for-
ma do infinitivo, os substantivos no singular, os adjetivos no singular masculino.)
/... ... ... ... /
Nesse manual, que no contm nenhuma ilustrao ao longo de 270 pgi-
nas, o interlocutor previsto um leitor capaz de realizar atividades metacogniti-
vas prprias de leitores maduros, flexveis, independentes, como a atividade de
monitorao da prpria compreenso (itens 2o e 3o no exemplo). O modelo de
leitura subjacente era um modelo interativo, sugerindo que tanto o texto como
os conhecimentos do leitor interagiam constantemente durante o processo da
leitura (item 1o, 2o e 4o). Ou seja, o modelo no diferia do modelo em vias de
construo na pesquisa pelos tericos da Psicologia Cognitiva.
A relao entre o material verbal e no verbal, com predomnio da lingua-
gem sobre a imagem (ver Fig. 3), indicava que era a primeira a valorizada. O tex-
to ps-moderno, multissemitico ou multimodal comum na mdia hoje (KRESS
& VAN LEEWEN, 1995; VIEIRA, 2004), no fazia parte do conjunto de recur-
sos considerado necessrio para ensinar algo. Por extenso, podemos imaginar
1
TERSARIOL, Alpheu. Portugus: leitura e gramtica, 5a srie 1o Grau. 4. ed. So Paulo: Lisa Livros
Irradiantes. p. 263. Embora a consultada tenha sido publicada em 1972, o nmero da edio (4a) e o
ttulo da obra atestam para a sua circulao antes da reforma.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004 17
Angela B. Kleiman
que o leitor pressuposto era uma criana que conseguia concentrar sua ateno
por um tempo relativamente extenso no material verbal que predominava no
manual didtico, sem o apoio de muitas ilustraes, cores e outros sinais para cha-
mar a sua ateno. Na Figura 4, a seguir, modelo de uma pgina tpica de um LD
em uso nessa mesma poca,2 a imagem que inicia a unidade desempenha o papel
de coadjuvante na interpretao da linguagem; a relao poderia ser descrita, se-
guindo Barthes (1967) como uma relao de co-dependncia, pois seria o texto
verbal que elaboraria os muitos e vagos sentidos evocados pela imagem. Em ou-
tras palavras, a imagem ancorando o texto permitiria mltiplas hipteses de lei-
tura que a leitura do texto verbal restringiria.
Unidade
Ttulo do texto
Figura 3. Pginas de LD, 5a srie, circa 1970.
A relao entre material verbal e material imagtico nos textos mudou dra-
maticamente nos ltimos 30 anos. Do texto (quase) monomodal anterior re-
forma de ensino, passamos, depois da reforma, ao que parece ser um texto mul-
tissemitico nos livros de Comunicao e Expresso, com variadas cores, dese-
nhos e formas que fariam parte da composio da unidade, como podemos ver
no exemplo apresentado na Figura 4.
Mas ao observarmos a relao entre a ilustrao e o material verbal, vemos
que, ao contrrio do que acontece nos textos multimodais, como os jornalsticos
ou as propagandas veiculadas em revistas e jornais, em que a imagem no de-
2
A unidade que serviu de modelo encontra-se em MATTOS, Geraldo; BACK, Eurico. Nossa lngua.
5 srie. So Paulo: FTD, 1973.
18 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004
Abordagens da leitura
pendente do texto verbal mas co-partcipe da significao, na composio a se-
guir, a imagem inicial exibe uma relao de dependncia do texto verbal, sem que
se estabelea, no entanto, uma relao polissmica entre a imagem e a linguagem,
pois apenas um dos sentidos ilustrado. Na unidade que serviu de modelo para a
Figura 4, num livro didtico em uso em 1978,3 o texto para leitura (A rvore do
dinheiro, um conto popular sobre uma inveno de Malasartes para enganar
incautos) e os recursos imagticos no se complementam. Assim, os desenhos
tipo gibi, o tamanho, forma e cor das letras do ttulo (letras trmulas de cor rosa
no original) no parecem significar pelo seu valor simblico (por exemplo, rosa e
feminidade, letras trmulas e terror): sua funo estaria limitada a prender a aten-
o de um leitor a quem no se credita mais a possibilidade de engajamento con-
tnuo, independente, na leitura do texto verbal.
Figura
Figura tipo
Ttulo
Figura 4. Pginas de LD, 5 Srie, fins da dcada de 70.
Conclumos que o grande nmero de ilustraes, cores, tamanho e forma
de letras aponta para um perfil de leitor pressuposto que teria dificuldades para
se manter engajado na leitura de um trecho verbal sem esses recursos grficos.
Em combinao com outros elementos da unidade, como o tipo de perguntas
feitas a esse leitor (predominncia de perguntas de localizao de informao e
raridade de perguntas inferenciais), a composio aponta para um leitor bem
diferente daquele leitor intelectualmente engajado que emerge da pesquisa: o do
3
FERREIRA, Reinaldo Mathias. Comunicao. Atividades de linguagem. 5 srie, 1 Grau. 2. ed. So
Paulo: Editora tica, 1978.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004 19
Angela B. Kleiman
LD teria problemas para se engajar cognitivamente, para fazer inferncias, para
levantar hipteses.
Afortunadamente, o perfil pressuposto pelos autores de LD um quarto de
sculo mais tarde, est mais prximo daquele leitor capaz de se relacionar de for-
ma independente com o material verbal. A diferena fica clara ao compararmos
duas unidades de LD, com o mesmo texto verbal (Sfot Poc, de Lus Fernando
Verssimo), pela mesma dupla de autores, um publicado em 1994, o outro em
2000,4 desenhados na na Figura 5. Nas duas pginas modeladas segundo o texto
(a) 5 Srie dcada de 90
(b) 5 Srie 2000
Figura
Figura
Figura 5. Pginas de duas edies do LD: mesma autoria, mesmo texto verbal, diferentes imagens.5
4
Este ltimo estaria revisado, segundo os autores, para se conformar aos PCN. No descartamos
tambm o papel desempenhado pelo programa de avaliao do LD, PNLD.
5
Os modelos para o texto so FARACO, Carlos; MOURA, Francisco. Linguagem nova. 5a srie. So
Paulo: Editora tica, 1994 e FARACO, Carlos; MOURA, Francisco. Linguagem nova. 5a srie. So
Paulo: Editora tica, 2000.
20 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004
Abordagens da leitura
de 2000 (Fig. 5b), a relao entre imagem e texto verbal mostra que continua a
valorizao da linguagem, situando-se, assim, na contramo do tipo de material
que esses alunos de quinta srie encontram fora da escola, nos outdoors, nas re-
vistas, na Internet. Na escola continua a prevalecer o letramento verbal, relegan-
do-se a um segundo plano os conhecimentos sobre textos multimodais que a
maioria dos alunos j tm (cf. KRESS & VAN LEEUWEN, 1995). Porm, a re-
lao entre linguagem imagtica e verbal que os autores estabelecem nesse texto
de ancoragem para as hipteses (a imagem inicial) e de ilustrao dos sentidos
(a imagem dentro do texto), com a imagem contribuindo para a significao (o
caos, a dificuldade de comunicao tematizada no texto) mesmo que seja desem-
penhando um papel secundrio. No texto da dcada de 90 (Fig. 5a), por outro la-
do, a imagem parece mais desvinculada do texto verbal, sem contribuir para os
sentidos, ou enfeitando a pgina, ou elaborando apenas algum detalhe, como na
imagem de uma mulher e um homem, supostamente os pais do protagonista,
meros figurantes da histria.
CONSIDERAES FINAIS
Nesta apresentao, discutimos uma relao entre as abordagens de pes-
quisa e as de ensino que parecem indicar que o ensino, infervel das etapas que
distinguimos nos LD para o ensino de lngua portuguesa nos ltimos 30 anos,
estaria na contramo dos resultados da pesquisa. Porm, essa situao tem uma
interpretao diferente quando o fator temporal, o tempo necessrio para a trans-
posio de conceitos do mbito acadmico ao mbito escolar levado em conta.6
Os resultados da pesquisa esto refletidos nos manuais didticos, mas a pesquisa
tem um longo caminho a percorrer at chegar aos seus intermediadores, os auto-
res dos LD. Hoje, o leitor mais capaz que se reflete na composio lingstico-
imagtica das unidades est tambm evidente nos exerccios de anlise do mate-
rial verbal: perguntas globais e inferenciais no so raras, refletindo claramente
(inclusive nas bibliografias citadas nos manuais do professor) os resultados da-
quilo que denominamos abordagens psicossociais da pesquisa em Lingstica
Aplicada.
Em relao aos resultados das pesquisas mais recentes, da ltima dcada,
sua migrao para a escola est sendo facilitada pela existncia de textos norma-
tivos e formadores, como os PCN. Transpostos para o ensino, os resultados
6
No foi esse o nico fator importante desconsiderado nesta apresentao. Outros elementos impor-
tantes e influentes foram as sucessivas legislaes para a democratizao do ensino.
SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004 21
Angela B. Kleiman
dessas pesquisas resultam na diversificao nos modos de usar a escrita, particu-
larmente atravs da incluso de leituras ordinrias, de textos de gneros no
literrios ou no acadmicos.
Faltam, no entanto, outras concepes das prticas socioculturais contem-
porneas, que visem ao desenvolvimento de outros letramentos, os que envol-
vem a leitura de textos multimodais que, ao reconhecer o papel da imagem na
construo de sentidos, deselitizam a relao com o texto escrito, que envolve os
cdigos mais inacessveis aos grupos que a escola deve atender.
Abstract
T he aim of this paper is to describe Applied Linguistics approaches
to reading research, on the one hand, and to the teaching of read-
ing, on the other, over a period of 25 years of reading studies in the
area. In the first part of the article, we examine theoretical and meth-
odological changes in reading research; in the second part, we focus
on changes in the teaching of reading. We derive teaching methods
from the reading lessons in three textbooks in order to determine
the reader profile that was presupposed in those books and we com-
pare this profile to the reader profile implicit in research over the
same period of time.
Key words: Reading; Research; Teaching; Textbook.
Referncias
BARTHES, R. Elements of semiology. London: Cape, 1967.
GOUGH, P. B. One second of reading. In: SINGER, H.; RUDDELL, R. B. (Org.).
Theoretical models and processes of reading. Delaware: International Reading Asso-
ciation, 1976.
HEATH, S. B. Ways with words. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
KLEIMAN, A. B. Modelos tericos: fundamentos para o exame da relao teoria e pr-
tica na leitura. In: KLEIMAN, A. B. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1989.
KLEIMAN, A. B. Vinte anos de pesquisa sobre a leitura. In: ROSING, T.; BECKER, P.
(Org.). Ensaios. Passo Fundo: UPF, 2000.
KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading images. The grammar of visual design. Lon-
don: Routledge, 1995.
STREET, B. V. Literacy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University
Press, 1984.
VIEIRA, J. A. Novas perspectivas para o texto: uma viso multissemitica. Ms. 2004.
(Indito).
22 SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1 sem. 2004
Você também pode gostar
- Referenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemNo EverandReferenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemAinda não há avaliações
- Em busca do prazer do texto literário em aula de LínguasNo EverandEm busca do prazer do texto literário em aula de LínguasAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre a Produção Escrita no Contexto EscolarNo EverandReflexões Sobre a Produção Escrita no Contexto EscolarNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Vivências em literatura: formação de leitores, discurso e pesquisaNo EverandVivências em literatura: formação de leitores, discurso e pesquisaAinda não há avaliações
- Produção Literária Juvenil e Infantil Contemporânea: Reflexões acerca da pós-modernidadeNo EverandProdução Literária Juvenil e Infantil Contemporânea: Reflexões acerca da pós-modernidadeAinda não há avaliações
- As Estratégias Didáticas No Processo De Ensino/aprendizagemNo EverandAs Estratégias Didáticas No Processo De Ensino/aprendizagemAinda não há avaliações
- Literatura e subjetividade: Aspectos da formação do sujeito nas práticas do ensino médioNo EverandLiteratura e subjetividade: Aspectos da formação do sujeito nas práticas do ensino médioAinda não há avaliações
- A oralidade como objeto de ensino: reflexões sobre o trabalho com a oralidade em sala de aulaNo EverandA oralidade como objeto de ensino: reflexões sobre o trabalho com a oralidade em sala de aulaAinda não há avaliações
- Discursos, identidades e letramentos: Abordagens da análise de discurso críticaNo EverandDiscursos, identidades e letramentos: Abordagens da análise de discurso críticaAinda não há avaliações
- Leitura de textos multissemióticos: (re)visitando habilidadesNo EverandLeitura de textos multissemióticos: (re)visitando habilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- Letramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNo EverandLetramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Avaliação do texto escolar - Professor-leitor/Aluno-autorNo EverandAvaliação do texto escolar - Professor-leitor/Aluno-autorNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Maria Junqueira Schmidt: Um Projeto de Fé em Favor da FamíliaNo EverandMaria Junqueira Schmidt: Um Projeto de Fé em Favor da FamíliaAinda não há avaliações
- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)Ainda não há avaliações
- Marta Morais Da Costa. - Literatura - Leitura e AprendizagemDocumento234 páginasMarta Morais Da Costa. - Literatura - Leitura e Aprendizagemlanehimura257% (7)
- A Retextualização de Gêneros: leitura interacional do gênero contoNo EverandA Retextualização de Gêneros: leitura interacional do gênero contoAinda não há avaliações
- A (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoNo EverandA (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoAinda não há avaliações
- Introdução à literatura para crianças e jovensNo EverandIntrodução à literatura para crianças e jovensNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Variação Linguística como objeto de ensino na educação básicaNo EverandA Variação Linguística como objeto de ensino na educação básicaAinda não há avaliações
- ET1 Multimodalidades e LeiturasDocumento80 páginasET1 Multimodalidades e LeiturasSantiago Bretanha100% (2)
- A formação do leitor literário juvenil: uma proposta de diálogo entre o verbal e o visualNo EverandA formação do leitor literário juvenil: uma proposta de diálogo entre o verbal e o visualAinda não há avaliações
- Livro Estrategias de Leitura em Lingua PortuguesaDocumento105 páginasLivro Estrategias de Leitura em Lingua PortuguesaJilbertto100% (1)
- "Relação com o Saber" de Jovens no Ensino Médio Modos de Aprender que se Encontram e se ConfrontamNo Everand"Relação com o Saber" de Jovens no Ensino Médio Modos de Aprender que se Encontram e se ConfrontamAinda não há avaliações
- Círculo de Leitura no Ensino Médio:: Vivências e Recepções com o Texto LiterárioNo EverandCírculo de Leitura no Ensino Médio:: Vivências e Recepções com o Texto LiterárioAinda não há avaliações
- A alfabetização sob o enfoque histórico-crítico: Contribuições didáticasNo EverandA alfabetização sob o enfoque histórico-crítico: Contribuições didáticasAinda não há avaliações
- A BNCC na prática: Propostas de trabalho para o ensino de Língua PortuguesaNo EverandA BNCC na prática: Propostas de trabalho para o ensino de Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- Angela Kleiman - Oficina de Leitura 2005Documento104 páginasAngela Kleiman - Oficina de Leitura 2005Priscila Marinho67% (3)
- Protótipo Didático para o ensino de Língua Portuguesa: práticas de multiletramentos na sala de aulaNo EverandProtótipo Didático para o ensino de Língua Portuguesa: práticas de multiletramentos na sala de aulaAinda não há avaliações
- Da cibercultura, literatura à leitura digital: uma proposta de ensinoNo EverandDa cibercultura, literatura à leitura digital: uma proposta de ensinoAinda não há avaliações
- Interferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] finalNo EverandInterferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] finalAinda não há avaliações
- Rojo Multiletramento Na Escola ArtigoDocumento4 páginasRojo Multiletramento Na Escola ArtigoRegina CorciniAinda não há avaliações
- Análise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesNo EverandAnálise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesAinda não há avaliações
- A diversidade linguística em sala de aula: concepções elaboradas por alunos do Ensino Fundamental IINo EverandA diversidade linguística em sala de aula: concepções elaboradas por alunos do Ensino Fundamental IIAinda não há avaliações
- Formação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a incertezaNo EverandFormação docente e profissional: Formar-se para a mudança e a incertezaAinda não há avaliações
- Leitura e Multiplos Olhares PDFDocumento6 páginasLeitura e Multiplos Olhares PDFJucely RegisAinda não há avaliações
- A oralidade na escola: A investigação do trabalho docente como foco de reflexãoNo EverandA oralidade na escola: A investigação do trabalho docente como foco de reflexãoAinda não há avaliações
- Angela B. Kleiman - A Formacao Do LeitorDocumento25 páginasAngela B. Kleiman - A Formacao Do LeitorMarco Marzulo100% (1)
- A pedagogia da variação linguística na escola: experiências bem sucedidasNo EverandA pedagogia da variação linguística na escola: experiências bem sucedidasAinda não há avaliações
- Leitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNo EverandLeitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Letramento,ensino e pesquisa: Práticas educativas em açãoNo EverandLetramento,ensino e pesquisa: Práticas educativas em açãoAinda não há avaliações
- Formação permanente do professorado: Novas tendênciasNo EverandFormação permanente do professorado: Novas tendênciasAinda não há avaliações
- Literatura infantil brasileira: uma nova / outra históriaNo EverandLiteratura infantil brasileira: uma nova / outra históriaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A epistemologia híbrida na relação entre teoria e prática a partir dos estudos de Mikhail BakhtinNo EverandA epistemologia híbrida na relação entre teoria e prática a partir dos estudos de Mikhail BakhtinAinda não há avaliações
- Práticas de Ensino de Linguagens: Experiências do ProfletrasNo EverandPráticas de Ensino de Linguagens: Experiências do ProfletrasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Os sentidos da alfabetização: São Paulo: 1876-1994No EverandOs sentidos da alfabetização: São Paulo: 1876-1994Ainda não há avaliações
- Avaliação da aprendizagem escolar: passado, presente e futuroNo EverandAvaliação da aprendizagem escolar: passado, presente e futuroAinda não há avaliações
- Guião de Leitura Os Lusíadas adptJB Caps - IVaVIIDocumento5 páginasGuião de Leitura Os Lusíadas adptJB Caps - IVaVIIAna SchmittAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Raymond - Cultura e Materialismo (Fichamento)Documento4 páginasWILLIAMS, Raymond - Cultura e Materialismo (Fichamento)Mario Victor MargottoAinda não há avaliações
- Transcrição de Mario de AndradeDocumento8 páginasTranscrição de Mario de AndradeLucio MartinsAinda não há avaliações
- Vinicius de Moraes Com Paixão - Poesia, Corpo, Música e Religião (Raabe Andrade)Documento72 páginasVinicius de Moraes Com Paixão - Poesia, Corpo, Música e Religião (Raabe Andrade)Raabe AndradeAinda não há avaliações
- Manual Educador IIDocumento161 páginasManual Educador IIMariana Matos100% (2)
- Os Gémeos e A FeiticeiraDocumento12 páginasOs Gémeos e A FeiticeiraJoão Machado da GraçaAinda não há avaliações
- Bibliografia Historia Do Brasil e Mundial (CACD)Documento6 páginasBibliografia Historia Do Brasil e Mundial (CACD)Anderson MansuetoAinda não há avaliações
- F. A. Pereira Da Costa e o Folklore Pernambucano: Escritas Da HistóriaDocumento10 páginasF. A. Pereira Da Costa e o Folklore Pernambucano: Escritas Da Históriakeli_ferraz4473Ainda não há avaliações
- Marco Feliciano - Tempo de AvivamentoDocumento98 páginasMarco Feliciano - Tempo de AvivamentoDimov Naty100% (4)
- Preceptor, Supervisor, Tutor e Mentor: Quais São Seus Papéis?Documento11 páginasPreceptor, Supervisor, Tutor e Mentor: Quais São Seus Papéis?Lilian Carneiro De CarvalhoAinda não há avaliações
- Oleos Essenciais Na AcupunturaDocumento90 páginasOleos Essenciais Na AcupunturaVanessa Dornela100% (2)
- Simulado Cespe PortuguêsDocumento24 páginasSimulado Cespe PortuguêsLivia_Do_Vale_8839Ainda não há avaliações
- Treinamento de GoleirosDocumento14 páginasTreinamento de GoleirosCristiano Alves100% (1)
- A Coruja e A ÁguiaDocumento5 páginasA Coruja e A ÁguiaJamily BelleliAinda não há avaliações
- As Aliancas Da Fe PDFDocumento34 páginasAs Aliancas Da Fe PDFwilkerAinda não há avaliações
- FGV 2014 TJ RJ Tecnico de Atividade Judiciaria Prova de Base para CNDocumento15 páginasFGV 2014 TJ RJ Tecnico de Atividade Judiciaria Prova de Base para CNBeatriz BarbosaAinda não há avaliações
- Teoria Da Conspiração - Judas - O Melhor Amigo de JesusDocumento50 páginasTeoria Da Conspiração - Judas - O Melhor Amigo de JesusDelDebbio100% (1)
- Anais EventoDocumento1.702 páginasAnais EventoRenato Mesquita RodolfoAinda não há avaliações
- Técnicas de MumificaçãoDocumento19 páginasTécnicas de MumificaçãoCintia FonsecaAinda não há avaliações
- Apostila Vacuo Nilo Indio Do Brasil PDFDocumento35 páginasApostila Vacuo Nilo Indio Do Brasil PDFRafael MonteiroAinda não há avaliações
- Lar Escola Dr. Leocádio José Correia - História de Uma Proposta de Formação Na Perspectiva Educacional Espírita... FUCKNER, CM. 2009.Documento329 páginasLar Escola Dr. Leocádio José Correia - História de Uma Proposta de Formação Na Perspectiva Educacional Espírita... FUCKNER, CM. 2009.Sidney OrnellasAinda não há avaliações
- 2015 - Inverno - IntegradoDocumento15 páginas2015 - Inverno - IntegradoCristiane AldavezAinda não há avaliações
- Sistemas Divinatorios Dos BuzioDocumento66 páginasSistemas Divinatorios Dos BuzioFelipe AlmeidaAinda não há avaliações
- IV Simpósio de Gênero e Sexualidade - Gêneros, Sexualidades e Conservadorismos: A Política Dos Corpos, Os Sujeitos e A Disputa Pela Hegemonia Dos Sentidos CulturaisDocumento722 páginasIV Simpósio de Gênero e Sexualidade - Gêneros, Sexualidades e Conservadorismos: A Política Dos Corpos, Os Sujeitos e A Disputa Pela Hegemonia Dos Sentidos CulturaisEliane Martins de Freitas100% (1)
- O AntiCristoDocumento32 páginasO AntiCristoPalavra & Prece EditoraAinda não há avaliações
- Moedas Gregas Na Colecao Do Museu Histor PDFDocumento212 páginasMoedas Gregas Na Colecao Do Museu Histor PDFJoão Jorge Moreira NetoAinda não há avaliações
- Os Militares e A RepúblicaDocumento6 páginasOs Militares e A RepúblicaperigobuAinda não há avaliações
- Mórmons e RacismoDocumento3 páginasMórmons e RacismoJosie SodiAinda não há avaliações
- Cronologia RedentoristaDocumento47 páginasCronologia RedentoristaPereiraManoelAinda não há avaliações
- Paper História Do DireitoDocumento3 páginasPaper História Do DireitoFelipe ChavesAinda não há avaliações




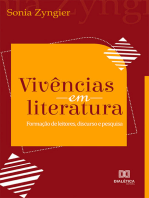

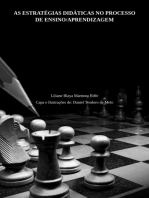














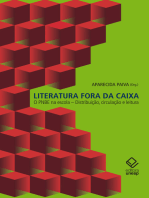









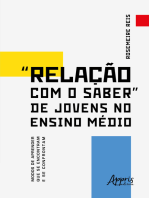

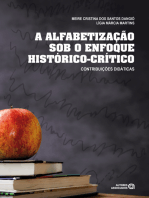




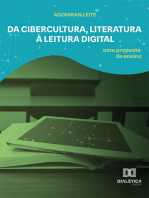
![Interferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] final](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/475503054/149x198/bfdcb251f9/1707247709?v=1)