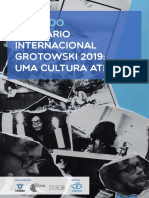Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Beckett Pedagogo
Beckett Pedagogo
Enviado por
Luciana TondoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Beckett Pedagogo
Beckett Pedagogo
Enviado por
Luciana TondoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
DOI: 10.11606/issn.2238-3867.v16i2p5-23
sala preta
Em Pauta
Beckett, pedagogo do ator:
práticas de esgotamento
Beckett and his actor’s pedagogy: Exhaustion practices
Tatiana Motta-Lima
Tatiana Motta-Lima
Atriz, diretora de teatro e professora adjunta da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Stefanie Liz Polidoro
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 5
Tatiana Motta-Lima
Resumo
Os textos de Samuel Beckett convidam o ator a descobrir lugares insuspeita-
dos do ser. Eles podem ser vistos como mapas que indicam modos de ser/
fazer ou, dizendo de outra maneira, modos de subjetivação que “bagunçam”
nossas ideias/práticas mais imediatas de indivíduo, sujeito, personalidade, e,
portanto, de ator/atuação e de formação de atores. O que está em jogo são
novas relações entre textualidade, oralidade, corporeidade e subjetivação.
Nesse sentido, Beckett pode ser visto com um pedagogo (ainda que muito
sui generis) do ator. Seus textos podem ser pensados como pedagógicos,
já que ensinam/convocam a uma atuação “outra”: múltipla, desmembrada,
falhada, apagada, extremamente autoconsciente e que, ao mesmo tempo,
acha “alegre ainda não ter estabelecido com o menor grau de precisão o
que é”. Uma das perguntas centrais dessa pedagogia beckettiana poderia
ser: como formar o ator sem produzir uma reificação individualista? Como
formá-lo promovendo – e/ou a partir de – novos modos de subjetivação?
Palavras-chaves: Beckett, Pedagogias do ator, Subjetividade, Modos de
subjetivação, Corpo.
Abstract
Samuel Beckett’s writings invite the actor to discover unsuspected places
in himself. They can be seen as maps that indicate ways of being/doing or,
in other words, modes of subjectivation that “mess up” our most immedi-
ate ideas/practices of individual, subject, personality, and therefore actor/
acting and training of actors. The issue involves new relations among textu-
ality, orality, corporeality, and subjectivation. In this sense, Beckett can be
seen as someone that developed an actor’s pedagogy (even though very
sui generis). His texts can be thought of as pedagogical, since they teach/
call upon “another” way of acting: multiple, dismembered, failed, erased,
extremely self-conscious, and which, at the same time, finds it “joyful not
to have established what it is with the least degree of accuracy”. One of the
central questions of this beckettian pedagogy could be: how to train the
actor without producing an individualist reification? How to train him pro-
moting – or starting from – new modes of subjectivation?
Keywords: Beckett, Actor pedagogies, Subjectivity, Modes of subjectivation,
Body.
6 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
Venho ministrando, há alguns anos, a oficina “quanto a mim vai ser ale-
gre que não foi dado estabelecer com o menor grau de precisão o que sou”
(BECKETT, 1989, p. 110), uma oficina baseada em determinados fragmentos
de textos d’O Inominável de Beckett e do Livro do Desassossego de Pessoa.
E agora, há bem pouco tempo, comecei o que chamamos de um experimento
cênico,“hentre hos hanimais hestranhos heu hescolho hos humanos”1, que se
debruça também sobre estes textos. O que me levou a estes fragmentos pas-
sa por uma miríade de memórias, afetos, pensamentos e também de pergun-
tas. Creio que eles apontam para o ator, e para aqueles interessados na sua
formação, uma problemática sobre modos de subjetivação e ainda oferecem
determinado “artesanato”, modos de fazer (ou de mal fazer, veremos isso mais
à frente) que deixam pistas importantes para a atuação e para a pedagogia
da atuação.
Neste texto, vou me concentrar mais em Beckett. Mas, tenho acredita-
do que a dobradinha Beckett-Pessoa permite vislumbrar diferentes linhas de
fugas desse eu – indivíduo identitário – a que estamos submetidos. Não vou
apresentar conclusões – não as tenho – mas o movimento ou o exercício do
que vem sendo a minha investigação sobre esses textos/temas, principalmen-
te no campo pedagógico, mas também no campo artístico estrito senso, se é
que esses espaços possam ser separados.
Figura 1 – Foto de Maria Duarte para o experimento cênico Hanimais hestranhos.
Na foto: Leonardo Samarino, Jefferson Zelma e Matheus Gomes da Costa.
1 Poema visual de Arnaldo Antunes (2006, p. 67).
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 7
Tatiana Motta-Lima
Em Beckett e Pessoa, vejo a possibilidade de ler uma pedagogia outra
para o ator, que pode ser utilizada para encenar um texto desses autores ou
servir para outros textos/cenas. Assim, é necessário dizer que não vou falar
de um estilo de atuação que permitiria interpretar os textos becktianos ou
pessoanos. Vejo os textos de Beckett e Pessoa como pedagógicos porque
colocam o ator cara a cara com o que me parecem ser questões centrais
da atuação: quem é este ‘eu’ que atua? Com que ‘eu’ se atua? Para que
‘eu’ se atua? Ou, como atuar pode ser deparar-se com diferentes modos de
subjetivação?
A pergunta feita por Grossman a partir dos textos de Beckett pode ser
feita à maioria dos processos de criação atoral, ou, ao menos, àqueles que
me interessam: “Qual sujeito sem figura se fará intérprete de uma figura
sem sujeito?” (GROSSMAN, 2004, p. 80). Um ‘sujeito sem figura’, aquele
que não foi cooptado inteiramente pelos processos de enunciação, de re-
presentação, aquele aonde ainda há espaço para o inominável, o irrepre-
sentável, para o que não se quer ver. Uma ‘figura sem sujeito’, aquela que
revela, já que puro artifício, a linguagem como mecanismo, como máquina
de produzir indivíduos.
Um sujeito sem figura pode ser aquele que se percebe afeito ao que
Cassiano Quilici nomeou de “A Experiência da Não Forma”: afeito àquilo “que
foge ao domínio das representações, que emerge nas lacunas e fissuras do
simbólico, que flutua numa região de incertezas”, e que “tende a ser ignorado
e esquecido”. A arte aparece como que sustentando “uma abertura para o que
não cai nas malhas da representação”, o que se desloca para fora das percep-
ções “construídas e interpretadas segundo padrões habituais aprendidos e
herdados” (QUILICI, 2015a, p. 120-121).
Acredito que a questão mais importante que devemos enfrentar na for-
mação de atores – e alguns de nós a temos enfrentado – diga respeito a
investigar com um olhar agudo o modo como temos experienciado, em sala
de aula de atuação (e nos palcos), as noções de eu/pessoa/sujeito/indivíduo.
Não adiantaria pensarmos/praticarmos novas linguagens, técnicas, repertó-
rios corporais ou teóricos; não adiantaria opormos performance a teatro (ou
performer a ator), narrativas lineares a narrativas fragmentadas, ficcional a
biográfico se essas investigações não estivessem vinculadas à percepção
8 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
e à criação de modos de subjetivação que passam, necessariamente, pelo
corpo do ator.
Pode haver – se isso nos interessa – uma relação entre uma formação
em uma dada prática artística e um modo singular de constituir a própria exis-
tência e é sobre isso que venho me interrogando. Na verdade, creio que há
sempre uma relação entre artesanato, técnica e produção de subjetividade,
mesmo que não queiramos ver. Nossos modos de fazer partem de determi-
nados modos de compreender o que é o sujeito (o que somos) e, ao mesmo
tempo, acabam por construí-lo.
A questão é que se não nos debruçamos sobre essa relação entre mo-
dos de fazer (o artesanato) e modos de subjetivação, corremos o risco de
reproduzirmos, com os mais diferentes dispositivos, e com as melhores inten-
ções, subjetividades assujeitadas. O eu-indivíduo acaba por comer, recortar
e nomear experiências díspares a partir de um mesmo ponto de vista, pro-
duzindo uma enunciação identitária para aquilo que poderia ter potencial de
construção de diferença e devir.
Como diz Pelbart, no seu texto Biopolítica (2007), no biopoder, o poder
teria tomado de assalto a vida. Ele incidiria sobre nossas maneiras de per-
ceber, sentir, amar, pensar, criar. A normatização, aqui, não é vista como um
poder externo ao sujeito. Ao contrário, ela nos compõe (e recompõe perma-
nentemente), nos organiza.
Quando se fala, então, em formação de artistas como processo de cria-
ção de si, deve-se perceber que esse processo só pode se dar como um
processo de resistência ao biopoder, resistência que passa pela crítica e pela
autocrítica, por algum modo de interrupção, ao que parece, em uma primeira
instância, nos construir/constituir. Tal processo se dá também pela criação de
dobras e linhas de fuga (construção de estratégias) em relação àquele que
em mim quer interpretar, nomear, estacionar aquilo que é, por sua própria
constituição, dinamismo e diferença.
Um exemplo: o trabalho do ator sobre sua memória individual pode tanto
andar na direção de uma reificação do indivíduo, do sujeito, como servir de
ponte para um ‘fora’ ou um ‘neutro’ (no sentido dado por Blanchot), servir de
ponte para algo que seria impessoal. E isso vai depender de como pensamos
e praticamos a subjetividade. Optaremos por uma memória que nos narra – e
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 9
Tatiana Motta-Lima
que nos faz sempre idênticos a nós mesmos, ou, o que parece muito mais
interessante, nos abriremos para uma memória que nos chama – que chama
aquilo que é outro em nós?2
Peter Brook disse, em 1962, que o que era burguês, classe média, e con-
tinuava sendo no teatro, era a “maneira de considerar os homens” (BROOK,
1983, p. 3). Creio que quando se trata de formação de atores – mesmo no
século XXI – não estamos tão longe dessa afirmação, porque é justamente no
ator (a partir dele, sobre ele, em agenciamento com ele) que estaria em jogo
a exploração de outros modos de subjetivação ou, se quisermos, também de
dessubjetivação. E essa exploração não tem sido, parece-me, o principal foco
de nossas preocupações no chamado teatro “pós-dramático”, mesmo – ou,
talvez, sobretudo – no que diz respeito a uma insistência na diferença entre
ação e representação.3
Assim, o convite feito neste texto é aquele de pensar uma experiência
de formação teatral que primeiro: ultrapasse uma formação em seu sentido
instrumental, e isso sem desconsiderar a importância do artesanato, pois é
na relação com o dispositivo, e não fora dele, em qualquer abstração do pen-
samento, que se constrói o lócus de uma possível percepção outra de si, que
pode dar-se um outrar-se (eu outro, tu outras, ele outra…). Segundo: pensar a
formação de ator para fora de uma reificação individualista.
Como abordar o ator, como formá-lo sem essa reificação? O individua-
lismo – este modo de fazer sujeito – coloca para o ator, como sabemos, uma
série de problemas, recortando-os – e mesmo cegando-os – para as relações
e os devires, fazendo-os insistir em ser um centro (o centro) a partir do qual
objetos, colegas, materiais , espectadores circulam – o que em outro texto
chamei de ator-imã (MOTTA-LIMA, 2009) – , incitando-os mais à comunica-
ção (que produz signos) que à experiência dos processos vitais.
Então, que relação com o corpo, com a voz, com os vivos e os não-vi-
vos – outros, objetos, materiais –, com a enunciação, para que se coloque em
questão a presença autoritária de um sujeito representacional sobre um corpo?
Como o corpo abre mão de ser – ou ser apenas – espaço de representação de
2 Escrevi, para esta mesma revista Sala Preta, o artigo intitulado “Experimentar a Memória
ou Experimentar-se na Memória” que aprofunda essas questões.
3 Recomendo, para melhor analisar essas noções e desnaturalizá-las: Qulici, 20152, p. 107-116.
10 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
um indivíduo? Que novo regime de visibilidade, que olhar de professor susten-
taria, suportaria e mesmo demandaria esse “inominável”? E, se o sujeito-ator
não é o indivíduo, como então? Ou, parafraseando Beckett: “quem, agora?”
(BECKETT, 1989, p. 5)
A resposta, se bem entendemos a força do biopoder, não pode ser res-
pondida apenas ao se propor um novo modo de fazer, um novo método. Não
há exercícios e modelos que funcionem para todos e todas, a todo o tempo,
pois os modos de subjetivação assujeitada que nos estruturam, que estrutu-
ram alunos e alunas, professoras e professores, estão sempre prontos a se
apropriar de qualquer técnica ou método. Mas, se a resposta não está em um
modo de fazer, “Onde, agora? Quando, agora?” (BECKETT, 1989, p. 5). Talvez
ela esteja em um determinado modo de perguntar e na força que temos para
suportar e manter estas(s) pergunta(s). Talvez esteja na coragem de abrir
mão, largar, abandonar o já sabido e aprendido (e, assim, de certa maneira,
abandonar-se, abandonar aquilo que nos narra – nos constitui – como indiví-
duos e atores já (re)conhecidos).
Nesse sentido, Beckett, no seu Inominável é quase modelar. Vou abor-
dá-lo (e a seu texto) como se fosse um pedagogo para o ator, aquele que
anunciei no título deste artigo. Um Beckett criador, talvez, de um antimétodo
ou, ainda mais importante do que isso, um perguntador valente e incansável
das perguntas que podem fazer sentido na formação de atores.
Ele age como alguém que recorda aos pedagogos de atores e aos pró-
prios atores sobre o que se debruçar para não cair nas citadas do modelo
individualizante de pessoa. Beckett não é um modelo de ação pedagógica,
não explica o que deve ser feito, mas pode ser um modelo para a ação peda-
gógica, que coloca perguntas, provoca desestabilizações, ou desfaz aquelas
certezas que pareciam, à primeira vista, mais úteis e potentes. Transpor estas
perguntas – espécie de quedas no abismo – para o campo da formação de
ator, inventar esse Beckett pedagogo – e não creio que ele gostaria minima-
mente deste título – tem sido a minha brincadeira favorita.
Beckett – e seu Inominável – mostra-nos todo o tempo como a lin-
guagem – sua linearidade, dicotomia, sua mania de construir narrativas em
torno de causas e consequências, sua necessidade de tudo explicar e pos-
suir, de tudo localizar, de aglutinar em enunciações conhecidas experiências
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 11
Tatiana Motta-Lima
díspares e sem nome, podem encarcerar o sujeito. Seu projeto é fazê-la, a
linguagem, cair no descrédito:
Como nós não podemos eliminar a linguagem subitamente, nós deverí-
amos ao menos fazer todo o possível a fim de contribuir para sua queda
no descrédito. Cavar um buraco após o outro nela, até que o que se
espreita atrás dela – seja isso alguma coisa ou nada – comece a vazar
através. Eu não posso imaginar um objetivo superior para um escritor
hoje. (BECKETT apud CAVALCANTI, 2006, p. 21)
Estamos encarcerados no corpo da mesma maneira que estamos en-
carcerados na língua? Parece-me que sim. O corpo – seus apetites e sen-
sações – acaba, em certa medida, por se transformar em linguagem, ser
aprisionado nas nomeações. Assim, para seguir com Beckett e desacreditar
a linguagem, é preciso desacreditar (ou ao menos desconfiar) da narrativa,
nomeável e identitária daquele que fala, identidade muitas vezes espelhada
no corpo do falante.
Segundo Fábio de Souza Andrade: “O único caminho possível para che-
gar a esse discurso depurado é uma via negativa, que passa pela demonstra-
ção de tudo aquilo que ele [personagem, ator] não é, da insuficiência mentiro-
sa dos múltiplos aspectos que ele já assumiu no passado” (ANDRADE, 2001,
p. 147). Para Grotowski, a formação do ator também deve se dar em uma via
negativa: menos aquisição hábil de aparatos de construção do que queda
daquilo que bloqueia o fluxo da vida em uma dada estrutura – seja exercício,
cena, improvisação, encontro, etc. Grotowski diz: “não um estado pelo qual
‘queremos fazer aquilo’, mas ‘desistimos de não fazê-lo’” (GROTOWSKI, 1986,
p. 15). O ator da via negativa é campo de uma possível atualização dos fluxos,
da vida: perderia o nome, barraria a enunciação, renunciaria à expressão pela
curiosidade do que passa através.
Outra imagem potente para compreender o trabalho de Beckett e que
também se une à vida negativa – e à famosa exaustão grotowskiana – é a
imagem do Esgotado de Deleuze. Diferente do cansado que esgota a reali-
zação (estou cansado e não posso fazer – subjetivamente -, uma coisa que
pode ser feita – objetivamente), o Esgotado esgota o possível (e, para De-
leuze, o possível são os objetivos, os projetos, as preferências, as disjunções
exclusivas – ou quente ou frio – , as significações, as necessidades).
12 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
Deleuze se pergunta: ele esgotaria o possível porque está esgotado ou
estaria esgotado porque esgotou o possível? Ele se esgotaria ao esgotar o
possível e inversamente. O que estaria em jogo aqui, no esgotamento do
possível, é um esgotamento do eu construído exatamente a partir e através
desse possível. O esgotado de Beckett e o exaurido de Grotowski são, de cer-
ta maneira, primos. Ao esgotarem-se, expõem um corpo/eu agido pela lingua-
gem e pelo intelecto, agido pelo poder, ao mesmo tempo em que vislumbram
outros modos de subjetivação, outros corpos.
E, nesse “fim de mim”, há, tanto para Beckett quanto para Grotowski,
uma “falta que promete”. A citação é de Malone Morre: “Minha história termina-
da, ainda vou estar vivendo. Falta que promete. É o fim de mim. Não vou mais
dizer eu” (BECKETT, 1986, p. 137).
Mas, poderia também citar Grotowski: “Se se pede ao ator para fazer o
impossível e ele o faz, não é ele-o ator que foi capaz de fazê-lo, porque ele-o
ator pode fazer somente aquilo que é possível, que é conhecido. É o seu ho-
mem que o faz” (GROTOWSKI, 2007, p. 176). Aqui, a promessa se concretiza
no percepção/surgimento de uma alteridade.
Deleuze diz que muitos autores se contentam em proclamar a morte do
“eu”. Mas, que Beckett vai além: mostra como o ‘eu’ se decompõe, incluindo o
mau cheiro e a agonia (DELEUZE, 2010, p. 72). O psicanalista Marcus Quin-
taes reconhece o trabalho analítico como algo semelhante. Em uma palestra,
citou James Hillman dizendo que o processo analítico era “menos uma supe-
ração e um livrar-se do que uma decadência, uma decomposição do modo
como estamos compostos. Os alquimistas chamaram a isso ‘putrefactio’”
(HILLMAN, 2008).
Vamos, então, ao que chamei de putrefactio becketiano, recolhido não
com o intuito de explicar Beckett, ou o Inominável, mas de recolher pistas,
nos textos de Beckett, para vislumbrar, a partir delas, uma possível pedagogia
para o ator. Textos de Pessoa também aparecerão aqui e ali.
Para facilitar a apresentação, transformei essas pistas em seis tópicos
aos quais dei títulos (creio que ainda existem muitos outros tópicos, mas mi-
nha investigação está começando…).
Então,
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 13
Tatiana Motta-Lima
Putrefactio 1: Chega desta puta primeira pessoa
É justamente isso que diz Beckett em O Inominável. Vejamos: “Logo
chega desta puta primeira pessoa, é demais por fim, não se trata dela, vou
me causar aborrecimentos. Mas, não se trata também de Mahood, ainda não.
De Worn, menos ainda. Bah, pouco importa o pronome desde que não nos
deixemos enganar por ele” (BECKETT, 1989, p. 61).
Beckett convidaria – lendo-o como este pedagogo inventado – o ator a
não se enganar pelos pronomes, seja o ‘eu’ do ator/performer, seja o ‘ele’ da
personagem ficcional. É na instabilidade, ou no alargamento, ou na abertura
ou no abandono temporário do(s) pronome(s) que o que é inominável, desco-
nhecido, pode aparecer, que a criação pode se dar.
Fábio de Souza Andrade disse que: “o inominável […] é ele próprio uma
rede de palavras, um prisioneiro do presente da enunciação relativizado pela
instabilidade da própria identidade” (ANDRADE, 2001, p. 165). O que me inte-
ressa aqui é esse processo possível de relativização: o que poderia relativizar
a enunciação, que procura permanentemente forjar causas e efeitos decorren-
tes, escrever narrativas lineares, é justamente a instabilidade da identidade.
Quando o eu não reconhece suas palavras e/ou não se reconhece nas suas
palavras, ou as vê como possibilidade de construção ficcional, justamente por
essa não identificação, ele abre um espaço de liberdade, um vazio, um gap.
Andrade cita ainda Robert Champagni quando este diz que O Inominável
é: “Um monólogo menos conduzido que assombrado pela primeira pessoa,
percorrido pelo pronome convertido em variante expandida do ponto de inter-
rogação” (CHAMPAGNI apud ANDRADE, 2001, p. 150). Em O Inominável, a
primeira pessoa é verdadeiramente uma assombração, ela está lá como um
fantasma ao qual não se acredita demasiadamente. Ela é mais um ponto de
interrogação do que um ponto final. A primeira pessoa aceita sua instabilida-
de, aceita ser reconduzida a uma pergunta (eu, quem?) – lugar de onde não
deveria ter saído. Além disso, há um cansaço, um esgotamento (a manuten-
ção de uma identidade é exigente/cansativa para o ser e sua ‘natureza’ fluida
e instável). Está-se, então, disponível a abandonar esta pesada ficção – o que
é o mesmo que experimentar abandonar-se (SAFATLE, 2016).
14 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
Uma boa pista para o ator: distanciar-se e desconfiar das respostas
habituais, mecânicas, padronizadas, talvez aquelas às quais ele tenha mais
apego. A atenção, liberta do trabalho de tudo reunir sob o nome ‘eu’, pode cor-
rer por outras veredas, abrir-se justamente para o que não é ‘eu’, uma atenção
flutuante, uma escuta não objetivante, um olhar/boca/estômago que não quer
tudo deglutir imediatamente.
Sobre a questão da liberdade, Beckett dizia em sua primeira peça,
Eleutheria:
Sempre quis ser livre. Não sei por quê. Não sei também o que isso signi-
fica, ser livre. Mesmo que me arrancassem todas as unhas não saberia
dizê-lo. Porém, longe das palavras, sei o que é isso. Eu sempre desejei
isso. E ainda o desejo. É só o que desejo. Primeiro era prisioneiro dos
outros. Então, abandonei-os. Logo, tornei-me prisioneiro de mim mesmo.
Foi pior. Então, me abandonei. (BECKETT apud MARFUZ, 2014, p. 13)
Tenho experimentado a imagem de que o ator é palco para a cena e não
personagem dela. Palco, por exemplo, para as sensações, entendidas, num
viés deleuziano, como “o produto não subjetivo, não interiorizado, de relação
de forças que constituem (e deformam) as formas” (GARCIA, 2012, p. 130).
Palco para a vida, palco para os trecos – objetos, roupas – e, palco para o
próprio sujeito. As figuras que aparecem em cena são o palco dos aconteci-
mentos, o humano é pensado como instalação.
Dizer “chega desta puta primeira pessoa”, no trabalho do ator, pode ser
também abrir-se a outras potências, não humanas. Peter Brook, ao se depa-
rar com um determinado tipo de literatura, onde personagens eram ‘forças’,
teve que fazer apelo às máscaras para que os atores pudessem fazer um
salto para fora do ‘homem’ (BROOK, 1994, p. 282-305). Não estar, como diz
Beckett, só “crrac, entre os vivos”, ou entre os homens, mas poder outrar-se,
inclusive para fora do antropocentrismo: “Acreditam eles que eu acredito
que sou eu quem fala? Isso também é deles. Para me fazer acreditar que
tenho um eu meu e que posso falar dele, como eles do seu. É ainda uma ar-
madilha, para que eu me veja de repente, crrac, entre os vivos” (BECKETT,
1989, p. 64)
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 15
Tatiana Motta-Lima
Putrefactio 2: Não estar muito presente
“Quando a atriz Billie Whitelaw pergunta a Beckett, em pleno ensaio, se
a personagem Mother, de Passos, está viva ou morta, ele responde: Digamos
que você não está muito presente” (MARFUZ, 2014, p. 53).
Nosso pedagogo nos dá aí uma segunda pista. Educar o ator para que
ele não esteja muito presente, educá-lo também para ausência. Um ator au-
sentado. A corporeidade não aponta para a presença de um sujeito-perso-
nagem-ator, mas para a decomposição desta tríade. O ator pode ser vértice
para a presença de uma força dessubjetivante.
Grossman, falando sobre Beckett, diz que ele produz uma “língua em
um movimento incessante de desfiguração. […] se traindo, se apagando e
renascendo, inventando incansavelmente um ritmo que impede o sentido de
tomar forma, de se fixar em forma, em figura (GROSSMAN, 2004, p. 52). A
pergunta que nasceria para a pedagogia atoral, e que me interessa, seria:
como pesquisar/inventar com o ator esse mesmo ritmo que impede a identifi-
cação entendida como estabilização das formas?
Talvez experimentar alguma paragem. Fazer amizade com o silêncio,
com o vazio, com o não saber, com um determinado tipo de esquecimento,
possa ajudar. Ou, por outro lado, uma atenção que possa seguir – velozmen-
te – os contatos, afirmar os caminhos do fluxo orgânico, do corpo-canal. Do
mesmo jeito, trabalhar na percepção dos detalhes, dos cacos – cacos de ges-
tos, cacos de coisas, cacos de sensações – pode ser de valia para que não
se esteja muito ali.
Gosto de pensar neste ator como quem está aprendendo seu ofício a
partir deste trecho de Fernando Pessoa: “Desenrolo-me como uma meada
multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos
espetadas e se passam de umas crianças para as outras. Cuido só que o
polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica
diferente. E recomeço” (PESSOA, 2006).
Ou aprendendo com Willie, de Dias Felizes, a testemunhar uma deter-
minada opacidade: “Sensação estranha. (pausa. ação). Sensação estranha
de que alguém me olha. Eu fico nítida, depois flú, depois desaparece, depois
16 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
novamente flú, depois novamente nítida, e assim por diante, indo e vindo,
passado e voltando, no olho de alguém” (BECKETT, 2002, p. 15).
Putrefactio 3: Fazer mal, dizer mal, ver mal.
Assim como ele é, ator, assim como ele se conhece e se nomeia, ele
faz (ou quer fazer) as coisas bem (integralmente, de maneira coesa, sem
vazios ou gaps, evitando a todo custo a instabilidade e a diferença). E, para
isso, ele convoca seu intelecto a controlar seus processos (antes mesmo de
conhecê-los), a disciplinar seu corpo/voz – Grotowski diria, de maneira crítica,
a adestrar, a marionetar seu corpo/voz – controlando os impulsos vitais e os
processos de deriva.
Fazer mal, dizer mal e ver mal. Escolhi nomear assim esse segundo pu-
trefactio, para afirmar que o ator necessitaria perceber/criar novos regimes de
sensibilidade, de visibilidade, de oralidade. É preciso mal ver o já visto (e, às
vezes, mesmo fechar os olhos), para poder ver diferente. Mal dizer (e mesmo
maldizer) aquilo que aparece como já dito – e mesmo bendito por todo um
regime da oralidade atoral – para poder ensaiar dizer o não dito (lembrar aqui
das críticas de Novarina e de sua “Carta aos Atores”). É preciso agir longe do
princípio de causalidade e enunciação – um corpo produtor de signos a serem
lidos – para ser agido pela vida que corre no corpo, para encontrar um corpo,
como dizia Grotowski, da (e para a) organicidade4 (MOTTA-LIMA, 2012).
Há, nesse putrefactio 3, um necessário movimento de resistência e de
escape àquilo que bloqueia o fluxo da vida. E escapar pode ser, em um pri-
meiro momento, suspender, colocar em dúvida, estranhar o já sabido. Gros-
sman se pergunta: “Como não fixar em um quadro aquilo que o olho vê? Ver
mal (Artaud dizia: ver de soslaio). Como não fixar em texto o que o sujeito diz?
Dizer mal. Como melhor mal ver? Fechar os olhos”. Poderíamos continuar com
Grossman e dizer que “mal ver” é também não fixar um único ponto de vista.
Ela ainda se pergunta: “Como melhor mal dizer?” Não estabelecer um lugar
(um ‘eu’) estável de enunciação. E como melhor mal escutar? Como um psi-
canalista, uma escuta flutuante (GROSSMAN, 2004, p. 76-79).
4 Trabalhei de forma bastante exaustiva sobre o conceito/prática da organicidade nos mar-
cos 3 e 4 do meu livro (2012, p. 164-290).
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 17
Tatiana Motta-Lima
Leminski (1986, p. 145-157), no posfácio à Malone Morre, mostra como
Beckett escrevia com um “emprego quase intoxicante de “modificadores”, do
tipo “talvez”, ”quem sabe”, “de certa maneira”, “visto de um certo ângulo”, “se
não me engano”. É como se nada se fechasse de uma vez por todas. Há um
processo de tensão com o já estabelecido, com as formas corretas de fazer.
Como criar estes mesmos tipos de “modificadores” na formação e cria-
ção atoral? E também na condução do formador de atores?
Putrefactio 4: Fracassar
Beckett disse: “eu trabalho com a impotência, a ignorância […]. Minha
exploração é essa zona falhada do ser que tem sido posta de lado pelos ar-
tistas como coisa inútil – como coisa, por definição, incompatível com a arte”
(BECKETT apud CAVALCANTI, 2006, p. 20). Como construir uma pedagogia
de ator que explore justamente as zonas falhadas, os fracassos de encaixe na
máquina-mundo e na máquina-teatro?
Grossman diz: “Fracassar é um processo sem fim (em Beckett, não aca-
bamos nunca de acabar), movimento daquele que, constantemente, trai a
propensão da escrita a tomar forma, da imagem a se fixar” (GROSSMAN,
2004, p. 78).
Leminski mostra este processo quando nota que além daqueles índices
de indeterminação, há aqueles que ele chama de “anuladores”, e que fazem
com que frase, ideia e sujeito da enunciação fracassem: “Muitas vezes, Be-
ckett conduz aquela longa frase, cheia de reentrâncias, golfos e baías, para
concluir dizendo: “ou não é nada disso”, ou “o que seria impossível”, ou “que
bom se fosse verdade”, bombas frasais de efeito retroativo, que destroem a
validade da frase que se acaba de anunciar” (LEMINSKI, 1986, p. 156).
Tenho pensado este fracasso como um desamparo, seguindo certas
ideias de Safatle que vê a arte como força de despossessão do sujeito, como
acontecimento capaz de nos abrir para afetos que nos desamparem da nossa
condição de indivíduo: “Estar desamparado é deixar-se abrir a um afeto que
me despossui dos predicados que me identificam. Por isso, é um afeto que
me confronta com uma impotência que é, na verdade, forma de expressão do
18 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
desabamento de potências [fracassos, portanto] que produzem sempre os
mesmos atos, sempre os mesmos agentes” (SAFATLE, 2016, p. 21).
Como professores, creio que não podemos ter medo de lidar com o de-
samparo (ou a angústia) que podem surgir nestes processos, já que ele pode
ser o disparador de processos de diferenciação. Aqui, Safatle também nos
ajuda quando afirma em uma conferência ministrada na UFRJ em 11 de abril
de 2016: “Há uma experiência de emancipação vinculada à afirmação do de-
samparo, mas ela não pode ser pensada em moldes tradicionais como uma
experiência de autonomia”. Não produzir a autonomia de um dito sujeito, mas
uma emancipação, pelo desamparo.
Como vimos, na via negativa, toda nossa força que rejeita a organicida-
de, por exemplo, fazendo outra coisa, que resiste se ocupando da construção
identitária, fracassa. Algo – um desbloqueio de outras forças e formas – se faz
nesse, e justamente por causa desse, fracasso.
Putrefactio 5: Mania de comparecer aos próprios des-
encontros5
Em Beckett, o despedaçamento da figura vai de par com uma
intensa narração de relatos autobiográficos que, entretanto, problemati-
zam a coerência, a estabilidade e a homogeneidade do sujeito falante.
São relatos em que elas falam de si para si mesmas e que, em vez de
servirem ao seu autoconhecimento, vêm justamente colocá-lo em xeque.
Ao narrar a sua própria história, a personagem fala de ‘si mesma’ como
se fosse de um outro, testemunhando o desmoronamento (pela lingua-
gem) de uma sua suposta unidade, fixidez, imutabilidade e permanência.
(CAVALCANTI, 2006, p. 56)
O “pedagogo” Beckett oferece aqui algumas imagens ao professor de
atores: fala da importância de experimentar ganhar uma distância dentro da-
quilo que se faz, de poder produzir, enquanto se age, um testemunho da pró-
pria ação. Brook falava da relação do ator com seu personagem – mas pode-
mos desdobrar esse pensamento para uma relação do ator consigo mesmo
– como da relação entre a mão e a luva. Um comprometimento que não perde
5 Essa frase foi retirada do Poema “A Disfunção”, de Manoel de Barros (2001).
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 19
Tatiana Motta-Lima
um espaço de ar, a luva, embora adquira o formato da mão, não está grudada
nela, não é a mão – que permite, dando continuidade à metáfora, um espaço
de testemunho, que lida com o vazio “entre”.
Como experimentar com o ator estes desencontros, esse testemunho?
Isso diz respeito a todo um trabalho sobre a atenção, a percepção ao mo-
mento presente. Talvez possamos brincar de perceber o ver, o pensar, o falar,
o ouvir-se falar, o agir, o movimentar a boca não mais como partes de uma
única operação realizada por um sujeito unívoco e coerente, mas como pe-
daços testemunháveis – e objetiváveis – daquilo a que damos o nome de “eu”.
E talvez essa experiência da sensação construa a experiência de uma im-
pessoalidade, como, muitas vezes, assinalou Fernando Pessoa. Lembro-me
particularmente do poema “Apontamentos”, onde os “cacos absurdamente
conscientes […] conscientes de si mesmos” ofereceriam ao narrador maiores
sensações do que àquelas que tinha “quando me sentia eu” (PESSOA, 2010).
Quando a sensação de uma inteireza surge, ela não é um apossar-se de
algo, ela não nasce da expressão de um sujeito, mas é como uma canaliza-
ção mais sutil ou aguda de inúmeros vetores (ou forças, ou entidades, como
queiramos chamar). E, neste sentido, inteireza seria o oposto de identidade.
Estar inteiro seria dar vazão, seria ausentar-se, seria trabalhar modos de va-
cância. Deixar que a vida corra ou escorra ou escoe por você. Mas do que
buscar algo que te pertença, é você que oferece a algo a tua pertença. Você
se faz vacância para dar vazão. Você caça – no sentido de não resistir, de
desistir de não fazer – momentos de vida fugidios (não para tê-los, mas para
a eles pertencer).
Safatle fala, inclusive, que o vínculo social/político se daria exatamente
nesse inassimilável. Nós nos encontraríamos/reconheceríamos naquilo que
em todos é provisório, precário, instável. E esta pode ser uma boa dica para
pensarmos a relação deste trabalho de ator, que aqui interessa, com o seu
espectador. Mas, é um ponto para tratarmos em outro momento.
Putrefactio 6: Rir (do/de si)
Rir é também uma maneira de tomar distância do ‘eu’. Rir de si pode ser
rir do próprio si. Afastar-se. ‘Olhar mal’ o sofrimento, ‘ouvir mal’ as súplicas e
20 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
choros. Não fazer sujeito no sofrer. Uma espécie de dor sem sofrimento. Uma
imagem do Inominável pode nos auxiliar aqui: Beckett fala em lágrimas que
escorrem sem cessar no rosto da personagem. Embora ela possa descrever
a sensação, estas lágrimas escorrem sem causa ou consequência determi-
nadas. Como algo que chora ou quer chorar. E não como um eu que chora
porque algo lhe ocorreu. Um choro impessoal que podia nascer de um riso.
O riso pode instaurar também momentos de uma lucidez mais relacionada
com o corpo, diferentemente do cinismo e da ironia nos quais o mental tem,
parece-me, trabalho preponderante. No riso, tomar distância não é apartar-se
do corpo, mas vivenciá-lo de outra maneira. Não levar-se tão a sério. Rir de
si, para rir do si. E esta espécie de riso está permanentemente presente em
O Inominável. O riso que nasce também da constatação – em detalhes e não
genérica ou abstrata – de nossa condição desamparada.
Enfim…
Para acabar, é preciso lembrar que este aqui é um exercício no qual a
filosofia, a teoria, fornece os meios de construção de um campo semântico
que torna possível pensar modos de subjetivação múltiplos, para além da
reificação individualista, na formação do ator. Estes termos impactam sobre a
representação do sujeito como indivíduo e propõem outros modos de pensar
criação atoral, formação do ator e, também a conduta do professor/formador.
Contudo, o indivíduo não é apenas, ainda que isso não seja pouco, um modo
de se conceber. Ele também é um modo de sentir, agir, sofrer, amar. Assim,
o ator (e o professor) pode se encher de palavras filosóficas e ser constan-
temente recapturado pela definição individualista de sujeito. É no trabalho
artístico, no trabalho sobre o ator, que se estabelece esse campo de batalha
entre o sujeito indívíduo e a produção de um corpo prenhe de virtualidades.
É ali que se interdita, se combate, por meio da máquina crítica e sensível da
via negativa, por meio do humor, por meio do fracasso, do esgotamento e da
interrupção, as artimanhas do sujeito indivíduo.
Há por fim, no Inominável um desejo por silenciar, um desejo de silêncio,
desejo que nunca se presentifica. Este desejo é como uma seta no caminho
da dessubjetivação. Para falar dele, encontrei um texto de Kafka com o qual
gostaria de finalizar este texto. Chama-se Desejo de se Tornar Índio. E, se a
tradução fosse de um deleuziano, talvez pudesse chamar-se “devir-índio”:
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 21
Tatiana Motta-Lima
Se realmente se fosse um índio, desde logo alerta e, em cima do cavalo
na corrida, enviesado no ar, se estremecesse sempre por um átimo so-
bre o chão trepidante, até que se largou as esporas, pois não havia es-
poras, até que se jogou fora as rédeas, e diante de si mal se viu o campo
como pradaria ceifada rente, já sem pescoço de cavalo nem cabeça de
cavalo (Kafka, 1991, p. 47).
The And.6 Ou, “é preciso continuar, não posso continuar, vou continuar”.7
Referências bibliográficas
ANDRADE, F. S. Samuel Beckett: o silêncio possível. São Paulo: Ateliê, 2001.
ANTUNES, A. Como é que chama o nome disso: Antologia. São Paulo: Publifolha,
2006.
BARROS, M. Tratado geral das grandezas do ínfimo. Rio de Janeiro: Record, 2001.
BECKETT, S. Dias felizes. Tradução Bárbara Heliodora. Rio de Janeiro: Banco de
Peças Teatrais, Biblioteca da UNIRIO, 2002.
______. Malone morre. Tradução Paulo Leminski. São Paulo: Brasiliense, 1986.
______. O Inominável. Tradução Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1989.
BROOK, P. A máscara: saindo de nossas conchas. In: ______. O ponto de mudan-
ça: 40 anos de experiências teatrais: 1946-1987. Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 1994. p. 267-305.
______. Em busca de uma fome. Cadernos de Teatro, n. 96, p. 1-8, jan./mar. 1983.
CAVALCANTI, I. Eu que não estou aí onde estou: o teatro de Samuel Beckett. Rio
de Janeiro: 7 letras, 2006.
DELEUZE, G. Sobre o teatro: um manifesto de menos: o esgotado. Tradução Fátima
Saadi, Ovídio de Abreu e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.
GARCIA, G. C. Dizer o Indizível: histeria e heteronímia. Revista Poiésis, v. 19, p.
119-135, jun. 2012.
GROSSMAN, E. La defiguration: Artaud, Beckett, Michaux. Paris: Minuit, 2004.
GROTOWSKI. J. Em busca de um teatro pobre. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 1986.
______. O Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski: 1959-1969. São Paulo: Pers-
pectiva; Fondazione Pontedera Teatro, 2007.
HILLMAN, J. A grande mãe, seu filho, seu herói e o Puer. In: ______. O livro do Puer:
ensaios sobre o arquétipo do Puer Aeternus. Tradução Gustavo Barcellos. São
Paulo: Paulus, 2008. p. 65-116.
6 Poema Visual de Arnaldo Antunes, 2006, p.154.
7 Texto final de “O Inominável” de Beckett (1989).
22 Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016
Beckett, pedagogo do ator: práticas de esgotamento
KAFKA, F. Contemplação/O Foguista. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
LEMINSKI, P. Beckett, o apocalipse e depois. In: BECKETT, S. Malone Morre. Tradu-
ção Paulo Leminski. São Paulo: Brasiliense, 1986.
MARFUZ, L. Beckett e a implosão da cena: poética teatral e estratégias de ence-
nação. São Paulo: Perspectiva, 2014.
MOTTA-LIMA, T. Atenção, porosidade e vetorização: por onde anda o ator contempo-
râneo? Revista Subtexto, n. 6, p. 27-36, dez. 2009.
______. Experimentar a memória ou experimentar-se na memória: apontamentos
sobre a noção de memória no percurso artístico de Jerzy Grotowski. Sala Preta,
v. 9, p. 159-170, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2238-3867.
v9i0p159-170>. Acesso em: 6 dez. 2016.
______. Palavras Praticadas: o percurso artístico de Jerzy Grotowski (1959-1974).
São Paulo: Perspectiva, 2012.
PELBART, P. P. Biopolítica. Sala Preta, v. 7, p. 57-66, 2007. Disponível em: <http://dx.
doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v7i0p57-66>. Acesso em: 6 dez. 2016.
PESSOA, F. Livro do Desassossego. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
______. Poemas de Álvaro de Campos: Obra Poética IV. Porto Alegre: LP&M, 2010.
QUILICI, C. A experiência da não forma. In: ______. O Ator-performer e as poéticas
da transformação de si. São Paulo: Annablume, 2015a. p. 117-123.
______. Ação e Representação nas Artes Performativas. In: ______. O Ator-perfor-
mer e as poéticas da transformação de si. São Paulo: Annablume, 2015b. p.
107-116.
SAFATLE, V. O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo.
Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
Recebido em 17/10/2016
Aprovado em 28/10/2016
Publicado em 21/12/2016
Revista sala preta | Vol. 16 | n. 2 | 2016 23
Você também pode gostar
- Planejamento ANUAL de História BNCC 6º A e B 2024 - Prof Laryssa TomazDocumento7 páginasPlanejamento ANUAL de História BNCC 6º A e B 2024 - Prof Laryssa TomazGessyca Toledo100% (1)
- Teatro MaeterlinckDocumento224 páginasTeatro MaeterlinckMaria Clara CoelhaAinda não há avaliações
- Anais Do Seminario Internacional Grotowski 2019 Uma CulturaDocumento158 páginasAnais Do Seminario Internacional Grotowski 2019 Uma CulturaMaria Clara CoelhaAinda não há avaliações
- O Sol Nascerá Cifra PDFDocumento1 páginaO Sol Nascerá Cifra PDFMaria Clara CoelhaAinda não há avaliações
- O Abre Alas - Canto e Piano - Cifra PDFDocumento4 páginasO Abre Alas - Canto e Piano - Cifra PDFMaria Clara CoelhaAinda não há avaliações
- Banho de Folhas Cifra em Luedji LunaDocumento2 páginasBanho de Folhas Cifra em Luedji LunaMaria Clara Coelha100% (1)
- Sim Bolismo e Sinestesia Cegos Maeterlinck PDFDocumento7 páginasSim Bolismo e Sinestesia Cegos Maeterlinck PDFMaria Clara CoelhaAinda não há avaliações
- Fonoaudiologia Treino Do Fonema DDocumento6 páginasFonoaudiologia Treino Do Fonema DElaine SantosAinda não há avaliações
- Avaliação RenascimentoDocumento3 páginasAvaliação RenascimentoKeila Caetano Carvalho100% (1)
- A Descoberta Do Homem - Sofistas - Protagoras - Gorgias - ProdicoDocumento7 páginasA Descoberta Do Homem - Sofistas - Protagoras - Gorgias - ProdicoMateus KavalaAinda não há avaliações
- Resumo - Formas Elementares Da Vida ReligiosaDocumento2 páginasResumo - Formas Elementares Da Vida ReligiosaDébora VasconcellosAinda não há avaliações
- Juntura e SândiDocumento3 páginasJuntura e SândiMaría Graciela SánchezAinda não há avaliações
- ESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO (Marcelo Muller)Documento258 páginasESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO (Marcelo Muller)Eduardo OliveiraAinda não há avaliações
- Arisi, B. Vagina Sovina...Documento28 páginasArisi, B. Vagina Sovina...segataufrnAinda não há avaliações
- Arte e Mídia: Aproximações e Distinções - Arlindo MachadoDocumento16 páginasArte e Mídia: Aproximações e Distinções - Arlindo MachadoCecília De LuccaAinda não há avaliações
- Homem e SociedadeDocumento68 páginasHomem e SociedadeJuliana da SilvaAinda não há avaliações
- Miriam Alves - Poeta e Prosadora - Templo Cultural DelfosDocumento8 páginasMiriam Alves - Poeta e Prosadora - Templo Cultural DelfosAnonymous rAy5swiQJAinda não há avaliações
- Liturgia São FranciscoDocumento3 páginasLiturgia São FranciscoJamille SilvaAinda não há avaliações
- Atividade de Arte-Semana 23 - 7º AnoDocumento2 páginasAtividade de Arte-Semana 23 - 7º AnoJúlia CarvalhoAinda não há avaliações
- Marketing PessoalDocumento10 páginasMarketing PessoalAntonio LimaAinda não há avaliações
- Empresas JunioresDocumento4 páginasEmpresas JunioresJúnior LinharesAinda não há avaliações
- Apostila Pro-Universitario 3 PDFDocumento40 páginasApostila Pro-Universitario 3 PDFCristiane ToledoAinda não há avaliações
- Resenha Do Artigo de Daniel SarmentoDocumento7 páginasResenha Do Artigo de Daniel SarmentoRaul SousaAinda não há avaliações
- Evolucionismo SocialDocumento2 páginasEvolucionismo SocialTainan BegaraAinda não há avaliações
- Funcao Poetico-Critica em Jorge de Sena - Problematicas Do Poeta Moderno, A - Danilo Rodrigues Bueno PDFDocumento139 páginasFuncao Poetico-Critica em Jorge de Sena - Problematicas Do Poeta Moderno, A - Danilo Rodrigues Bueno PDFAnonymous u80JzlozSDAinda não há avaliações
- A Má-Fé Da JustiçaDocumento34 páginasA Má-Fé Da JustiçaLeyla LoboAinda não há avaliações
- Plano Da Disciplina Fudamentos SocioantropológicosDocumento2 páginasPlano Da Disciplina Fudamentos SocioantropológicosAnthropos1Ainda não há avaliações
- Como Falam Os BrasileirosDocumento21 páginasComo Falam Os BrasileirosEdina Ferreira100% (1)
- Da Etica Ambiental A Bioetica Ambiental AntecedentesDocumento19 páginasDa Etica Ambiental A Bioetica Ambiental AntecedentesGustavo Vinícius BenAinda não há avaliações
- Identidade e Diáspora PDFDocumento10 páginasIdentidade e Diáspora PDFLucila Lima da SilvaAinda não há avaliações
- Pauta Curriculo Paulista Fundamentos Pedagogicos 02Documento17 páginasPauta Curriculo Paulista Fundamentos Pedagogicos 02José Mauro SousaAinda não há avaliações
- AulaDocumento10 páginasAulaSilvio Lucio100% (1)
- Avivamento PregaçãoDocumento6 páginasAvivamento PregaçãoWilson RochaAinda não há avaliações
- MDM Mythras Imperativo PDFDocumento43 páginasMDM Mythras Imperativo PDFPriscilinha150067% (3)
- 7826 Uma Abordagem de Tratamento Psicologico para A Compulsao AlimentarDocumento162 páginas7826 Uma Abordagem de Tratamento Psicologico para A Compulsao AlimentarCarla OliveiraAinda não há avaliações
- Nelson Delgado - Livro Brasil Rural em DebateDocumento364 páginasNelson Delgado - Livro Brasil Rural em DebateDavid MWAinda não há avaliações