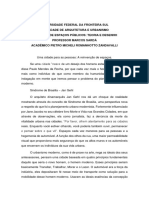Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ampliacoes Do Conceito de Patrimonio Edi PDF
Ampliacoes Do Conceito de Patrimonio Edi PDF
Enviado por
Cindy TrindadeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ampliacoes Do Conceito de Patrimonio Edi PDF
Ampliacoes Do Conceito de Patrimonio Edi PDF
Enviado por
Cindy TrindadeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Reconceituações
Contemporâneas
do Patrimônio
reconceituações.indb 1 12/12/2011 13:15:44
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REITORA
Dora Leal Rosa
VICE-REITOR
Luiz Rogério Bastos Leal
EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
DIRETORA
Flávia Goulart Mota Garcia Rosa
CONSELHO EDITORIAL
Alberto Brum Novaes
Ângelo Szaniecki Perret Serpa
Caiuby Alves da Costa
Charbel Niño El-Hani
Cleise Furtado Mendes
Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti
Evelina de Carvalho Sá Hoisel
José Teixeira Cavalcante Filho
Maria Vidal de Negreiros Camargo
reconceituações.indb 2 12/12/2011 13:15:45
Reconceituações
Contemporâneas
do Patrimônio
Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes
Elyane Lins Corrêa (Orgs.)
C O L E Ç Ã O
ARQUIMEMÓRIA
Salvador
EDUFBA
2011
reconceituações.indb 3 12/12/2011 13:15:45
©2011 by autores
Direitos para esta edição cedidos à EDUFBA
Feito o depósito legal
PROJETO GRÁFICO DA COLEÇÃO, CAPA E DIAGRAMAÇÃO
Matheus Menezes Silva
FOTO DA CAPA
Hirosuke Kitamura
REVISÃO
Cida Ferraz
NORMALIZAÇÃO
Adriana Caxiado
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS - UFBA
Reconceituações contemporâneas do patrimônio / Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes,
Elyane Lins Corrêa, organizadores. - Salvador : EDUFBA, 2011.
254 p. - (Coleção ArquiMemória ; v.1)
ISBN 978-85-232-0743-4
1. Patrimônio cultural. 2. Patrimônio cultural - Conservação e restauração. 3.
Patrimônio cultural - Proteção. I. Gomes, Marco Aurélio A. de Filgueiras. II. Corrêa,
Elyane Lins. III. Série.
CDD - 363.69
Editora filiada à:
EDUFBA
Rua Barão de Jeremoabo, s/n Campus de Ondina
Salvador - Bahia CEP 40170 115 Tel/Fax (71) 3283 6164
www.edufba.ufba.br
edufba@ufba.br
reconceituações.indb 4 12/12/2011 13:15:46
AG R A D EC IM E N TO S
Este primeiro volume da Coleção Arquimemória não teria sido realizado
sem o incentivo, a colaboração e o apoio de muitas pessoas. Por isso
agradecemos aos colegas autores que atenderam nosso convite para
participar deste projeto; ao Instituto de Arquitetos do Brasil, organizador
do evento que deu origem a este trabalho, especialmente nas pessoas de
Paulo Ormindo David de Azevedo e Nivaldo Vieira de Andrade Júnior,
bem como a Daniel Colina, a Esterzilda Berenstein de Azevedo e a Ana
Mércia Campos; à Caixa Econômica Federal, que viabilizou sua publicação,
principalmente através de Eleonora Mascia, Gisele Costa Cravo e Ana Paula
Costa Pinto, que compõem seu corpo técnico; e à Editora da Universidade
Federal da Bahia, especialmente sua diretora, Flávia Goulart Garcia Rosa,
e seus colaboradores Matheus Menezes Silva, Alana G. C. Martins, Gabriela
Nascimento, Adriana Caxiado, Cida Ferraz e Susane Barros. Por fim,
agradecemos ainda a todos aqueles que, direta ou indiretamente, com
sugestões e encorajamentos, foram indispensáveis no longo processo de
produção deste livro.
Os Organizadores
reconceituações.indb 5 12/12/2011 13:15:46
reconceituações.indb 6 12/12/2011 13:15:46
Sumário
Prefácio 09
PAULO ORMINDO D. DE AZEVEDO e NIVALDO VIEIRA DE A. JÚNIOR
Apresentação 13
MARCO AURÉLIO A. DE FILGUEIRAS GOMES e ELYANE LINS CORRÊA
La restauración después de Cesare Brandi 19
MARÍA MARGARITA SEGARRA LAGUNES
Conservação e valores 49
pressupostos teóricos das políticas para o patrimônio
LEONARDO BARCI CASTRIOTA
As últimas ruínas 67
ELYANE LINS CORRÊA
Tendências contemporâneas na teoria da restauração 101
HONÓRIO NICHOLLS PEREIRA
Patrimônio cultural e problemas urbanos 117
NESTOR GOULART REIS
Preservação e urbanismo 129
encontros, desencontros e muitos desafios
MARCO AURÉLIO A. DE FILGUEIRAS GOMES
Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil 145
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR
Espaços livres urbanos, paisagem e memória 171
MARIA ARUANE SANTOS GARZEDIN
reconceituações.indb 7 12/12/2011 13:15:46
Patrimônio material e imaterial 193
dimensões de uma mesma ideia
MÁRCIA SANT’ANNA
As lacunas nos tombamentos de terreiros de candomblé 199
permanências do patrimônio afro-brasileiro na cidade
FÁBIO MACÊDO VELAME
Requalificar a Feira de São Joaquim 231
espaço político da cidade informal
NAIA ALBAN
Sobre os autores 253
reconceituações.indb 8 12/12/2011 13:15:46
9
Prefácio
Coleção ArquiMemória
PAULO ORMINDO D. DE AZEVEDO e NIVALDO VIEIRA DE A. JUNIOR 1
Na década de 1980, o Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, preocupado com a
preservação da memória construída frente à expansão caótica de nossas cidades,
realizou dois grandes seminários, com o nome de ArquiMemória: um primeiro em
São Paulo, em 1981, e outro em Belo Horizonte, em 1987, para definir a posição do
órgão perante essa questão.
Durante 21 anos, a continuidade dessa discussão foi adiada, entre outras ra-
zões, pela falta de interlocutores, devido à dissolução da SPHAN/Pró-Memória e
ao desaparelhamento de muitas fundações culturais estaduais. Mas nesse período
muita coisa mudou no Brasil e no mundo e aprofundou-se o conhecimento des-
ses temas na academia e em outros fóruns da sociedade civil. Surgiram, por outro
lado, novos atores e modelos de gestão. Mas havia pouca interação entre os três
níveis de poder e dos mesmos com as comunidades locais e o setor privado.
A questão patrimonial é fundamental para a sociedade brasileira e, em parti-
cular, para os arquitetos, que lidam cotidianamente com o patrimônio construído.
O tema interessa aos arquitetos duplamente, como cidadãos e como profissionais
que planejam, projetam e constroem. Por esta razão, era preciso que o IAB voltasse
1. Coordenadores do III Encontro e da Coleção ArquiMemória
reconceituações.indb 9 12/12/2011 13:15:46
10 Prefácio
a discutir a questão patrimonial dentro de uma perspectiva de desenvolvimento
integrado.
Por iniciativa do Departamento da Bahia do IAB, realizou-se, entre 8 e 11
de junho de 2008, no Centro de Convenções de Salvador, o ArquiMemória III –
Encontro Nacional de Arquitetos sobre Preservação do Patrimônio Edificado, que
reuniu cerca de 600 profissionais, entre arquitetos, restauradores, urbanistas,
gestores públicos, professores, doutorandos e agentes, para discutir não apenas a
preservação do melhor do nosso passado, senão o futuro das nossas cidades, pois
sem criação hoje não teremos patrimônio a preservar no futuro. Ressalte-se que
esse foi o único fórum a discutir com toda a sociedade a política de preservação,
nas últimas duas décadas.
Dentre as conferências, mesas redondas, comunicações e exposição de estu-
dos de caso, destaque para dois convidados internacionais. A arquiteta e profes-
sora da Universidade de Roma, Maria Margarita “Maya” Segarra Lagunes, vence-
dora dos concursos internacionais para restauração do Túmulo de Adriano, em
Roma, e do Teatro Romano de Spoleto, e o arquiteto português Eduardo Souto
Moura, autor de interessantes projetos de conversão de monumentos históricos
em equipamentos contemporâneos, como o convento/pousada de Santa Maria
do Bouro e a antiga Alfândega do Porto transformada em Museu dos Transportes
e Comunicações, e cujo trabalho acaba de ser reconhecido com o Pritzker 2011,
o mais importante prêmio mundial da área da arquitetura.
Ao final do seminário os participantes relembraram às autoridades federais,
estaduais e municipais que:
• o conceito atual de patrimônio cultural, que inclui tanto as manifestações
materiais quanto imateriais, antigas e novas, de forma integrada, não pode
excluir qualquer período, incluindo o contemporâneo;
• a diversidade, mais que a unidade, é um dos valores do patrimônio cultural
e como tal deve ser preservada;
• a questão do patrimônio deve ser tratada dentro de sua dimensão urbana e/
ou territorial e usando os instrumentos do planejamento;
• a requalificação do patrimônio edificado é indissociável da recuperação da
qualidade de vida de seus ocupantes;
reconceituações.indb 10 12/12/2011 13:15:46
Paulo Ormindo D. de Azevedo e Nivaldo Vieira de A. Júnior 11
• é urgente a regulamentação dos novos instrumentos de preservação pre-
vistos na Constituição de 1988 e a complementação da legislação vigente,
especialmente no que se refere aos conjuntos urbanos;
• as políticas do setor devem integrar os três níveis de poder, a sociedade
civil organizada e o setor privado;
• as decisões relativas a grandes intervenções em monumentos ou sítios ur-
banos devem ser compartidas com a comunidade;
• na restauração do patrimônio edificado devem, sempre que possível, ser
utilizadas as tecnologias construtivas tradicionais; e
• os diálogos como este, entre autoridades e a sociedade civil, em particular
com os arquitetos, urbanistas e gestores urbanos, devem ser realizados ro-
tineiramente.
Dada a riqueza das conferências e palestras apresentadas em Mesas Redondas,
a Comissão Organizadora do ArquiMemória III instituiu uma Comissão Editorial
que, após rigorosa seleção, programou reuni-las em uma coleção. Além do pre-
sente volume, sobre os valores e a abrangência atual do conceito de patrimônio,
estão programados outros, abordando temas como:
• Estado e Sociedade na Preservação do Patrimônio Edificado; Reabilitação
do Patrimônio Edificado: requalificação urbana e reciclagem edilícia; e os
Desafios da Preservação do Patrimônio Edificado Recente.
Esse seminário não teria sido possível sem o copatrocínio do Governo do Estado
da Bahia, através da Secretaria de Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e da Secretaria de Turismo, bem como do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia da Bahia – CREA-BA e da Caixa Econômica Federal, esta
um agente de importantes ações de requalificação dos centros de nossas cidades.
Queremos agradecer, ainda, o apoio dado pelo Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFBA, pelo CNPq, pela
Capes e pela FAPESB.
Esta Coleção ArquiMemória, que sai pela Editora da Universidade Federal da
Bahia – EDUFBA, tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, dado o crescente
interesse dessa instituição pela recuperação das áreas centrais de nossas cidades.
reconceituações.indb 11 12/12/2011 13:15:46
12 Prefácio
Devemos um agradecimento especial ao então Vice-presidente da Caixa, Arq.
Jorge Hereda, pelo apoio que deu ao IAB-BA na realização do ArquiMemória III
e na publicação do presente volume, e aos colegas Marco Aurélio A. de Filgueiras
Gomes e Elyane Lins Corrêa, pela dedicação e empenho na edição deste volume.
reconceituações.indb 12 12/12/2011 13:15:46
13
Apresentação
MARCO AURÉLIO A. DE FILGUEIRAS GOMES e ELYANE LINS CORRÊA
(Organizadores)
Fenômeno nascido com a modernidade, a questão patrimonial ganha na contem-
poraneidade uma dimensão até agora inédita: permeia os mais diversos discursos,
ganha variados matizes, transforma-se em objeto de políticas que definem e re-
definem o que entra ou não no rol do que merece ser preservado para as próximas
gerações, torna-se objeto de diferentes escalas de atenção - da estritamente local à
mundial -, enjeu de reivindicações políticas de minorias, tema debatido nas mais
variadas mídias, atrativo turístico, produto à venda, peça central no marketing ur-
bano e elemento-chave de diferentes estratégias urbanísticas: objeto, enfim, de
uma polifonia discursiva de que poucos temas conseguem tornar-se alvo.
Mas que não nos iludamos com tanta notoriedade: se nunca se falou tanto em
patrimônio – além da dificuldade de pensar e definir, hoje, o que é ou não patrimô-
nio, quais as técnicas adequadas à sua conservação e como deverá se dar sua gestão
-, é bem possível que também nunca se tenha destruído tanto a herança cultural
de nossas sociedades como no presente. Assim, a par das transformações urbanas
ocorridas a partir dos anos sessenta, a cidade e seu patrimônio já não respondem
aos conceitos, valores, parâmetros e técnicas anteriores a eles relacionados.
O objetivo deste livro que abre a coleção ARQUIMEMÓRIA é claro: reunir um
conjunto de textos que nos permita examinar o tema do patrimônio sob diferentes
luzes e ângulos. A riqueza do tema torna-o objeto de múltiplas abordagens em di-
reconceituações.indb 13 12/12/2011 13:15:46
14 Apresentação
ferentes disciplinas: impossível, portanto, qualquer veleidade de completude no
exame desta questão. O conjunto de artigos aqui reunidos representa, portanto,
um dentre inúmeros outros recortes possíveis. O fato de originarem-se todos eles
de discussões desenvolvidas no quadro de um evento organizado pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil-Departamento da Bahia, como salientado no prefácio desta
obra, delimita o âmbito e os enfoques aqui privilegiados, mais atinentes ao uni-
verso dos arquitetos e urbanistas. As abordagens, entretanto, são bem diversas.
Numa deferência à questão que, de certa forma, contribuiu para lançar as
bases da discussão sobre o patrimônio – aquela de seu restauro, objeto de im-
portantes teorizações desde as primeiras décadas do século XIX – abrimos esta
coletânea com um texto de María Margarita Segarra Lagunes, em que a auto-
ra se lança a uma crítica pós-brandiana da prática do restauro na arquitetura.
Passados quarenta e cinco anos da publicação da Teoria do Restauro, de Brandi,
a autora considera possível estabelecer pontos de discrepância, sobretudo no
que concerne à aplicação dessa teoria ao restauro na arquitetura. Segundo ela,
em seu nome teriam sido cometidos erros filológicos e técnicos de que o pró-
prio autor da teoria teria discordado. Tendo como referência exemplos italianos
recentes, Segarra Lagunes explora matizes que atualizam a polêmica extremista
do século XIX, centrada na ‘conservação absoluta’ e na ‘reconstrução estilís-
tica’, passando através de uma série de posições que se situam em pontos não
definidos, precisamente porque preferem recorrer ao caminho da ambiguidade,
mudando de uma esfera a outra sem constrangimento e sem assumir posições
radicais ou perfeitamente delineadas.
A partir deste ponto, ampliamos o espectro de questões aqui tratadas, con-
templando sucessivamente as redefinições contemporâneas do patrimônio, sua
dimensão urbana e urbanística, as complexas relações entre o material e o imate-
rial, os desafios do “como agir” para preservar aquilo que, por definição, está vivo
e plenamente inserido na vida contemporânea.
Colocando-se nessa linha de questionamentos, Leonardo Barci Castriota exa-
mina como a questão dos valores vem se tornando cada vez mais importante no
campo da conservação, e como estes valores determinam as escolhas adotadas
nas políticas de preservação. Mesmo em muitos casos conflitantes, esses valo-
res (artísticos, estéticos, históricos, éticos, funcionais, econômicos) serão sempre
um fator decisivo nas práticas do campo do patrimônio, determinando as diver-
reconceituações.indb 14 12/12/2011 13:15:46
Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes e Elyane Lins Corrêa 15
sas escolhas tomadas pelas comunidades e órgãos de preservação. Defende que a
dimensão axiológica seja cada vez mais explícita nas ações de conservação, em
decorrência da ampliação e dos deslocamentos nos campos da estética e da his-
tória: da restrita e limitada noção de “patrimônio histórico e artístico” para a no-
ção ampliada de patrimônio cultural – sem falar na introdução de novos grupos e
agentes, na democratização do acesso aos bens culturais e no reconhecimento de
que a noção de patrimônio cultural é uma construção social.
Em perspectiva distinta, Elyane Lins Corrêa examina a estética do descartável
e da reciclagem, que antes atingia apenas os produtos e objetos, mas que alcan-
çou as obras de arte, os edifícios, os monumentos históricos, áreas inteiras das
cidades e até os corpos humanos. Se antes se destinavam às classes consideradas
mais incultas e populares, com produtos e objetos de pouca durabilidade e de
pouca qualidade estética, atualmente o descartável e a reciclagem, ao contrário,
constituem-se em sinal de “crédito social”, sendo uma das características tanto
do mundo da objetividade como da subjetividade contemporâneas.
Honório Nicholls Pereira analisa a questão da conservação a partir da
“virada cultural” dos anos sessenta e da “virada comunicativa” dos anos oiten-
ta, que trouxeram à conservação-restauração um novo arcabouço conceitual.
O debate deslocou-se do eixo estético-histórico para o antropológico-cultural,
resultando em novas propostas teóricas e em novas abordagens práticas, passan-
do-se do restrito conceito de “Patrimônio Histórico e Artístico” ao conceito mais
amplo de “Patrimônio Cultural”, bem como dos aspectos materiais aos imateriais
ou intangíveis da produção social. Essa inflexão é vista através das mudanças que
ocorreram em algumas tradicionais categorias de análise, tais como aquelas re-
ferentes ao objeto da restauração, aos operadores de valor, aos instrumentos le-
gais, procedimentos práticos etc. Nestas mudanças se ponderam as possibilidades
(e os conflitos) que surgiram com a adoção do conceito de significância cultural,
incluindo as possibilidades deste ser utilizado como uma diretriz na mensuração
e no monitoramento de impactos durante o processo de planejamento e gestão,
além de seu uso como ferramenta útil nos processos de negociação e tomada de
decisão, nos quais se identificam alterações no papel dos conservadores-restau-
radores e nas tendências profissionais. Por fim, o princípio da sustentabilidade
cultural é avaliado como um parâmetro ético que poderá garantir à conservação-
-restauração a vigência de propósitos de longo prazo.
reconceituações.indb 15 12/12/2011 13:15:46
16 Apresentação
A seguir, entramos numa discussão que busca explorar a dimensão urbana
e urbanística do patrimônio. Em seu texto, Nestor Goular Reis analisa a relação
entre as políticas de preservação do patrimônio cultural, as de planejamento ur-
bano, as de preservação do meio ambiente e as de regulação do mercado imobili-
ário. Partindo de um relato histórico-cronológico, o autor discute as mudanças e
a ampliação dos critérios de preservação e tombamento, que atingem de bairros
inteiros a proposta de tombamento de favelas. Ele nos propõe assim uma discus-
são sobre os limites das atuais normas de preservação, as importantes alterações
conceituais nos critérios adotados, e quais podem ser os novos objetivos para a
identificação e reconhecimento do patrimônio cultural de nosso país.
Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes desdobra a questão em dois momentos
de análise: no primeiro deles, volta-se para a discussão sobre a necessidade de
lutarmos por novas concepções das relações entre cidade e cultura, visto o esgo-
tamento das visões que priorizam a cenografia, o mercado e a esfera privada nos
espaços ditos “históricos”. No segundo momento, interroga-se sobre os limites
de uma ação de preservação voltada unicamente para o patrimônio urbano cons-
truído, quando, na realidade, é a própria noção de cidade construída pela moder-
nidade que parece estar ameaçada.
A seguir, Nivaldo Vieira de Andrade Junior discute como se constituiu no
Brasil uma pauta voltada para a definição do patrimônio e para sua preservação,
tendo como foco a ampliação cronológica, estilística e tipológica daquilo que
é considerado como patrimônio em um país continental como o nosso, com a
diversidade cultural que lhe é peculiar, chamando a atenção para a pertinência
(e urgência) de colocarmos em questão uma série de conceitos arraigados entre os
especialistas da área no Brasil.
Passando ao mundo da natureza culturalizada e subjetivada, Aruane Garzedin
discute como, nas últimas décadas, o conceito de patrimônio cultural passou a
incluir a sua dimensão paisagística, ou seja, aquela relativa à expressão física e
material da relação homem x ambiente. Lembra que, no entanto, esse avanço
conceitual ainda não tem plena correspondência no universo das ações, onde se
delineia, em geral, uma visão fragmentada que envolve instrumentos, métodos
e instituições distintas, sem maior integração entre si. Apesar da vegetação na
cidade ser um elemento fundamental da paisagem urbana, ela não tem mereci-
do o mesmo destaque como objeto de preservação do patrimônio histórico que
reconceituações.indb 16 12/12/2011 13:15:46
Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes e Elyane Lins Corrêa 17
os elementos construídos, sua preservação decorrendo predominantemente
de justificativas ambientais, pautadas por métodos das ciências biológicas, ou,
no máximo, por razões estéticas associadas aos belos cenários.
O último bloco de questões propostas por esta coletânea tem como foco o
chamado patrimônio imaterial, cuja discussão já havia sido pontuada nos textos
de Leonardo Barci Castriota, Honório Nicholls Pereira e Nivaldo Vieira de Andrade
Junior. Aprofunda-a Márcia Sant´Anna, que nos lembra como a prática ocidental
de preservação, fundada na conservação do objeto, na sua autenticidade e numa
codificação legal baseada na limitação do direito de propriedade, não responde
mais à noção expandida de patrimônio cultural que se disseminou por todo o
mundo, mediante a incorporação dos aspectos imateriais ou processuais da cul-
tura. Ela nos lembra como os bens culturais de natureza material têm uma face
imaterial que se vincula aos valores coletivos a eles atribuídos e, ainda, aos que
resultam do seu uso e de sua apropriação social: patrimônio material e patrimônio
imaterial resultam, assim, em diferentes dimensões, de uma mesma ideia.
É exatamente este o caminho para o qual aponta o texto de Fabio Velame, ao
explorar os limites de uma política de preservação de manifestações imateriais
que se pauta, entretanto, por critérios herdados do trato com a imobilidade das
construções e dos monumentos. Através de um minucioso estudo, ele explo-
ra os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização do
Terreiro Omo Ilê Aboulá, que é o terreiro matriz do culto aos Eguns (o culto
aos mortos ilustres, os ancestrais), localizado em Ponta de Areia, na ilha de
Itaparica. O autor retraça percursos e faz a história tornar-se memória através
da voz de informantes privilegiados. Esses discursos remetem a práticas que
rompem as fronteiras físicas do próprio terreiro, as fazem ganhar as ruas da ci-
dade, penetrar nas ameaçadas matas que lhe são próximas e entrar nas águas da
Baía de Todos os Santos, levando-nos, assim, a encarar criticamente as balizas
impostas por nossas próprias matrizes culturais.
Partilhando com este texto o desejo de pensar os desafios da preservação dos
bens imateriais, daquilo que é dinâmico e mutável, o artigo de Naia Alban Suarez
revela-nos as dificuldades para a proteção da célebre Feira de São Joaquim, em
Salvador, espaço que, ao mesmo tempo que condensa importantes valores da
cultura baiana, tenta responder a renovados desafios que assegurem sua própria
sobrevivência.
reconceituações.indb 17 12/12/2011 13:15:46
18 Apresentação
Enfim, os percursos reflexivos cujos registros o leitor tem em mãos são, por-
tanto, longos, apontam em diferentes direções, desdobram-se em inflexões,
constroem e desconstroem certezas, semeiam dúvidas, sugerem, enfim, novos
caminhos e desafios. Esperamos que eles contribuam para enriquecer o nosso
olhar sobre as múltiplas heranças que nos cabe proteger, sem que elas percam
aquilo que é próprio da cultura: a sua capacidade de um infindável diálogo com
um sempre renovado presente.
reconceituações.indb 18 12/12/2011 13:15:46
145
Ampliações do conceito de
patrimônio edificado no Brasil
NIVALDO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR
Em seu livro A alegoria do patrimônio, Françoise Choay, baseada no contexto eu-
ropeu, afirma que o conjunto de bens que compõe o patrimônio edificado passou,
a partir da década de 1960, por uma expansão tipológica, cronológica e estilística.
Não por acaso esta ampliação ocorre em um período caracterizado pela defesa da
diversidade e pela apologia a múltiplas referências culturais.
Assim, nos países europeus, o universo patrimonial, antes limitado “a jusan-
te” – nas palavras de Choay (2001, p. 13) – pela arquitetura do início do século
XIX, passou a incluir a arquitetura eclética do século XIX, a arquitetura moderna,
a arquitetura vernacular, o patrimônio industrial, bairros-jardim e vilas operárias,
dentre outros exemplares.
No Brasil, contudo, essa ampliação cronológica, estilística e tipológica não
ocorreu da mesma forma que na Europa e podemos observar que, frente à comple-
xidade de um país continental como o nosso, e com a diversidade cultural que lhe é
peculiar, isto assume diferentes características em cada um dos contextos regionais.
O IPHAN E A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL
Como alerta Maria Cecília Londres Fonseca (2005, p. 181), o tombamento é “[...] a
prática mais significativa da política de preservação federal no Brasil”. Tendo sido
reconceituações.indb 145 12/12/2011 13:16:07
146 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
criado simultaneamente ao próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN)1, através do Decreto-Lei Federal nº 25/37, o tombamento é
muitas vezes equivocadamente entendido como o único instrumento legal volta-
do à preservação do patrimônio edificado.
A importância desse instrumento decorre não somente das suas implicações
no direito de propriedade, mas também porque, através da análise do acervo de
bens tombados pelo IPHAN e pelos demais órgãos voltados à preservação do pa-
trimônio cultural (sejam eles municipais, estaduais ou mesmo institucionais),
é possível identificar as continuidades e rupturas na valoração dos diversos perí-
odos, tipologias e estilos arquitetônicos, trazendo à luz os preconceitos e os pro-
cessos de revalorização de determinadas categorias de monumentos.
Como se sabe, no Brasil, à diferença da maioria dos outros países, os mesmos
artistas e intelectuais que implantaram e difundiram a arte e a arquitetura mo-
dernas, como Mário de Andrade, Lucio Costa e Carlos Drummond de Andrade,
foram responsáveis pela implementação das primeiras políticas públicas voltadas
à preservação do patrimônio cultural. Até meados dos anos 1960, a seleção de bens
para tombamento pelo IPHAN privilegiou exclusivamente a arquitetura colonial,
especialmente o barroco dos séculos XVII e XVIII, e a arquitetura moderna da
escola carioca, liderada pelo próprio Lucio Costa e por nomes como Oscar Niemeyer,
Affonso Eduardo Reidy e pelos irmãos M. M. M. Roberto. Tanto a arquitetura neo-
clássica produzida no Rio de Janeiro, entre a chegada da Missão Artística Francesa
e o terceiro quartel do século XIX, quanto a arquitetura moderna de matriz corbu-
siana da escola carioca foram continuamente apresentadas pelos artistas e intelec-
tuais do IPHAN como uma “evolução” da arquitetura do período colonial.2
Neste panorama de construção da identidade nacional e de escrita de uma
determinada versão da história da arquitetura brasileira, categorias inteiras de
1. Tendo em vista as diversas denominações que o órgão federal responsável pela preservação do patrimônio
cultural brasileiro teve desde a sua criação, em 1937, como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), optamos por utilizar a sigla atual IPHAN, independentemente do período abordado.
2. O discurso que apresenta a arquitetura moderna brasileira como uma “evolução” da arquitetura do perí-
odo colonial foi recorrente, não apenas em textos, mas também em imagens, como demonstra a sequên-
cia de esquemas que Lúcio Costa desenhou e publicou em 1937 para ilustrar, no ensaio “Documentação
Necessária”, o processo de ampliação das relações entre a fenestração e o plano cego de fachada na arqui-
tetura residencial brasileira, do século XVII a 1930 (COSTA, 2007, p. 92). Pretensamente mais generalista
ainda é o esquema intitulado “Semelhança entre o partido da arquitetura rural [colonial] e a contempo-
rânea”, desenhado por Sylvio de Vasconcellos e que ilustra o seu artigo “A Arquitetura Colonial Mineira”,
de 1956 (VASCONCELLOS, 1997, p. 358).
reconceituações.indb 146 12/12/2011 13:16:07
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 147
edificações, como a arquitetura eclética, a arquitetura ferroviária e industrial,
a arquitetura do ferro, o art nouveau, o art déco, o neocolonial e até mesmo outras
vertentes da arquitetura moderna não vinculadas à escola carioca não tiveram vez.
Além do “barroco” e do “moderno”, entendidos como duas etapas de um mesmo
processo evolutivo, apenas uma certa arquitetura neoclássica foi valorizada desde
a criação do órgão – o estilo imperial realizado pelo francês Grandjean de Montigny
no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX –, em detrimento de outras
manifestações, como o neoclassicismo precursor de Giuseppe Antonio Landi em
Belém do Pará, no terceiro quartel do século XVIII, tombado em 1941 – embora
inicialmente fosse reconhecido apenas o seu valor histórico, uma vez que é inscri-
to somente no Livro de Tombo Histórico e não no Livro de Tombo das Belas Artes,
como que lhe negando o status de obra de arte.
No que diz respeito à arquitetura eclética, “[...] o tombamento do ecletismo,
mais que esquecido, foi explicitamente rejeitado”, como confirma Gustavo Rocha-
Peixoto (2000, p. 22), e até mesmo à arquitetura neocolonial, nacionalista e formal-
mente ancorada na arquitetura do período colonial, eram negados, pelos modernos,
os vínculos com a nossa melhor tradição colonial: “Para os arquitetos modernistas,
a semelhança de sua arquitetura com a colonial não era de aparência ou de efeito,
como ocorria com as construções neocoloniais”. (FONSECA, 2005, p. 188)
Desta forma, até o início da década de 1960, os tombamentos de bens dos
séculos XIX e XX – à exceção, como vimos, de alguns exemplares do neoclássico
imperial e da arquitetura moderna da escola carioca – são extremamente raros e
motivados quase sempre pelo seu valor histórico. A inscrição no Livro de Tombo
Histórico, em 1952, de um chalé eclético construído em Petrópolis, em 1918, por
exemplo, é devida ao fato de nele ter residido Santos Dumont, o inventor do avião.
Evidentemente, existem as exceções que confirmam a regra, e uma bastante sig-
nificativa é a inscrição, em 1942, nos livros de Tombo Histórico e de Belas Artes,
do Palacete Azul, em Belém, um importante exemplar da arquitetura neoclássica
do século XIX.
Segundo Maria Cecília Londres Fonseca (2005, p. 188),
[...] a atribuição de valor artístico a estilos estéticos e arquitetônicos re-
centes é um fato característico do processo de constituição dos patri-
mônios históricos e artísticos nacionais, a partir da década de 1960 [...]
Até então, considerava-se necessário observar um recuo histórico míni-
reconceituações.indb 147 12/12/2011 13:16:07
148 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
mo para a inclusão de bens nos patrimônios – recuo esse que, em geral,
se situava em meados do século XIX.
Não nos parece que este seja exatamente o caso da atuação do IPHAN. Aliás,
parece bem mais provável que a negação do valor artístico a todo esse leque de
manifestações culturais se deva efetivamente a preconceitos e à afirmação de
uma arquitetura moderna brasileira apresentada como uma evolução da arqui-
tetura colonial, bem como de um neoclassicismo, ao mesmo tempo, universal e
“abrasileirado”.
Esta afirmação pode ser justificada de diversas formas. Em primeiro lugar,
porque, como vimos, somente a partir do início da década de 1960 a obra ne-
oclássica de Antonio Giuseppe Landi, em Belém, realizada na segunda meta-
de do século XVIII, – portanto, contemporânea ao barroco mineiro, consagra-
do pelo IPHAN como o apogeu da arquitetura brasileira pré-moderna – come-
çou a ter seus valores artísticos reconhecidos pelo órgão federal de preservação.
Em segundo lugar, desde 1947 o IPHAN passou a realizar tombamentos de bens de
arquitetura moderna: naquele ano é tombada a Igreja de São Francisco, na Pampulha,
e no ano seguinte, o Edifício-Sede do Ministério da Educação e Saúde, ambos re-
cém-construídos e ambos inscritos no Livro de Tombo das Belas Artes. Em 1956, por
sua vez, seria inscrito no Livro de Tombo de Belas Artes um outro exemplar da arqui-
tetura moderna da escola carioca: a Estação de Hidroaviões no Rio de Janeiro.
Somente a partir da década de 1960, haverá uma efetiva ampliação do patri-
mônio no Brasil, que passará a abarcar, de forma menos tendenciosa, edificações
ligadas aos mais diversos estilos, tipologias e períodos históricos.
Em 1964 – ano do golpe que instalou a ditadura militar no Brasil – é tombado
o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, uma construção da primeira década do sé-
culo XX, executada em estrutura metálica importada da Escócia. Sua inscrição no
Livro de Tombo das Belas Artes incorpora definitivamente a arquitetura do ferro e
o art nouveau ao acervo de bens tombados, e se constitui em um reconhecimento
do valor artístico – e não somente histórico – deste tipo de bem.
Em 1967, dando continuidade a essa incorporação da arquitetura pré-fabrica-
da ao patrimônio nacional, foi inscrito no Livro de Tombo de Belas Artes o Palácio
de Cristal de Petrópolis, pavilhão de exposições montado em 1884 e caracterizado
pela estrutura metálica importada da França e pelos fechamentos em cristal biso-
tado importado da Bélgica.
reconceituações.indb 148 12/12/2011 13:16:07
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 149
Por outro lado, o reconhecimento dos valores artísticos do Teatro José de
Alencar e do Palácio de Cristal não impede que, naqueles mesmos anos, diver-
sos exemplares das arquiteturas eclética e neoclássica tardia fossem inscritos
somente no Livro de Tombo Histórico, como é o caso do Teatro Amazonas,
em Manaus (1881-1896), edifício eclético de feição classicizante; do edifí-
cio neoclássico da Casa da Alfândega de Salvador (1861); e do Sobrado Grande
da Madalena, em Recife (meados do século XIX), todos tombados em 1966.
Nos dois anos seguintes, foram inscritos apenas no Livro de Tombo Histórico o
Palácio dos Azulejos de Campinas, SP (1878), a Estação Rodoviária de Paraibuna,
RJ (meados do século XIX), a Academia Pernambucana de Letras, em Recife
(1860) e três residências vizinhas localizadas no bairro de Botafogo, no Rio de
Janeiro (final do século XIX).
A negação de valor artístico aos bens da segunda metade do século XIX pelos
intelectuais modernos, que dominaram a atuação do IPHAN nas suas primeiras dé-
cadas, muitas vezes não é sequer dissimulada, como podemos observar no parecer
emitido por Lucio Costa, em 1963, referente ao tombamento do edifício neoclássico
do Teatro da Paz, em Belém (1874-1878). Lucio Costa (apud PESSÔA, 2004, p. 190)
se mostra sucinto e parece quase contrariado, ao ratificar a proposta de tombamen-
to: “[...] de acordo, uma vez que conste, na respectiva ficha de tombamento, a res-
salva de se tratar de ‘curiosidade artística’ e não de obra de arte propriamente dita”.
Postura análoga é adotada por Costa quando, no mesmo ano, foi solicitado a se pro-
nunciar sobre o possível tombamento de um sobrado azulejado da 2ª metade do
século XIX – edifício com platibanda, telhas francesas e arcos ogivais prestes a ser
demolido – localizado à Praça Cairu, em Salvador: “[...] se o tombamento é o único
meio legal de impedir a demolição do imóvel, concordo com a proposta do Chefe
do 2º Distrito”. (COSTA, 1963 apud PESSÔA, 2004, p. 194) Seguindo a determinação
de Costa, ambos os edifícios foram inscritos apenas no Livro de Tombo Histórico: o
Teatro da Paz em 1963 e o sobrado azulejado de Salvador em 1969.
A partir da década de 1980, a inscrição no Livro de Tombo de Belas Artes do
IPHAN, de edifícios e até mesmo de conjuntos arquitetônicos da segunda metade
do século XIX e do início do século XX, se torna cada vez mais comum e até cor-
riqueira.
No caso específico do Rio Grande do Sul, onde se destaca a arquitetura ecléti-
ca construída pelos imigrantes alemães e italianos a partir da segunda metade do
reconceituações.indb 149 12/12/2011 13:16:08
150 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
século XIX, a atuação do IPHAN vai se intensificar consideravelmente a partir dos
anos 1980. Até então, existiam pouquíssimos bens tombados pelo IPHAN naque-
le Estado, a maior parte deles ligados às missões jesuíticas ou a eventos históri-
cos significativos, como a proclamação da República Rio-Grandense (1835-1845)
ou a Revolução Federalista (1893-1895). A partir daí, foram tombados o edifício
eclético que atualmente abriga o Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre;
o pórtico central e os armazéns portuários com estrutura pré-fabricada em ferro,
também em Porto Alegre (datados de 1922 e tombados em 1983); a Caixa d’Água
de Pelotas, (construída entre 1872 e 1875 com elementos de ferro pré-fabricados
e importados, tombada em 1984); a Casa da Neni, em Antônio Prado, construção
em madeira representativa da cultura da imigração italiana datada de 1910 (tom-
bada em 1985); e a Casa Presser, em Novo Hamburgo, com estrutura em enxaimel
– exemplar típico da arquitetura rural da imigração alemã datada da década de
1830 (tombada em 1985 e 1986).
Em 1990, são tombados o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Antonio
Prado (formado por 47 exemplares da arquitetura eclética de origem italia-
na, construídos a partir do último quartel do século XIX) e o Palacete Argentina,
em Porto Alegre (edifício eclético de 1901). Em 2000, é tombado o Conjunto
Arquitetônico do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
em Porto Alegre, formado por edifícios ecléticos, como a Escola de Engenharia
(1906), a Faculdade de Direito (1908), o Instituto Parobé e Curtumes & Tanares
(1912) e a Faculdade de Medicina (1912), e por edifícios modernos construídos a
partir da década de 1950.
Embora nas últimas décadas o IPHAN tenha gradativamente passado a incor-
porar, através do tombamento, uma série de edificações representativas de outros
estilos e tipologias arquitetônicas, o acervo de bens tombados em nível federal
ainda é, em sua esmagadora maioria, formado por construções e conjuntos urba-
nos do período colonial. Além disso, percebe-se claramente uma diferença entre a
atuação do órgão nas diferentes regiões do país: enquanto em Estados como Bahia,
Minas Gerais e Pernambuco – detentores de um acervo colonial significativo e nos
quais o IPHAN concentrou sua atuação entre as décadas de 1930 e 19603 – esta
3. O levantamento realizado por Silvana Rubino (1996) demonstra que a seleção dos bens representativos da
identidade nacional para tombamento pelo IPHAN não era limitada somente em termos estilísticos, tipoló-
gicos ou cronológicos, mas também em termos geográficos. Dos 689 bens tombados pelo IPHAN ao longo
dos 31 anos que correspondem à fase heroica, nada menos que 492 (72,2% do total) estão localizados em
reconceituações.indb 150 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 151
incorporação ao patrimônio nacional de edifícios antes renegados ocorre apenas
de forma incipiente, em Estados cuja ocupação é mais recente, como Rio Grande
do Sul e São Paulo, a quantidade de edifícios ecléticos, industriais ou modernos
tombados pelo IPHAN é muito mais significativa.
De fato, poucos são os exemplares arquitetônicos baianos dos séculos XIX e
XX tombados pelo IPHAN. Das 149 edificações individualmente tombadas pelo
órgão no Estado da Bahia desde sua criação, somente dez correspondem a edifica-
ções dos séculos XIX e XX, todas elas localizadas em Salvador: são cinco constru-
ções neoclássicas4, quatro edificações ecléticas5 e uma moderna. O tombamento
desta última – o Elevador Lacerda, realizado em 2006 – se deve mais ao fato de
corresponder ao principal cartão-postal da cidade do que ao seu valor estrita-
mente artístico ou arquitetônico. Não existem exemplares baianos da arquitetura
do ferro, industrial, neocolonial ou art nouveau tombados pelo IPHAN.
Desta forma, o IPHAN contribuiu de forma decisiva na construção de uma
imagem “barroca” e “colonial” associada à Bahia, enquanto em outros Estados,
como aqueles das regiões Sul e Norte, tem sido sistemático o reconhecimento,
ainda que apenas nos últimos anos, de edificações e sítios dos séculos XIX e XX
através do tombamento.
OS ÓRGÃOS ESTADUAIS E A AMPLIAÇÃO CRONOLÓGICA,
ESTILÍSTICA E TIPOLÓGICA DO PATRIMÔNIO NO BRASIL
Mesmo no que diz respeito aos órgãos estaduais de preservação do patrimônio cul-
tural, criados a partir da década de 1960 para compartilhar com o IPHAN a comple-
xa e ambiciosa tarefa de salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro, essa situação
pode ser observada. No caso do Rio Grande do Sul, até mesmo pela própria história
da ocupação do território gaúcho, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado (IPHAE), criado em 1973, tem concentrado suas ações de preservação
apenas quatro estados: Minas Gerais (165 bens ou 23,9% do total), Rio de Janeiro (140 bens ou 20,3% do
total), Bahia (131 bens ou 19,9% do total) e Pernambuco (56 bens ou 8,1% do total).
4. Cemitério de Nossa Senhora do Pilar (1799) – tombado juntamente à igreja homônima, barroca; Palácio
da Associação Comercial (1814-1816); antiga Alfândega – atual Mercado Modelo (1861); Asilo D. Pedro II
(construção da primeira metade do século XIX, reformada entre 1878 e 1887); e antigo Hotel Colonial, atual
sede da Aliança Francesa (1846).
5. Sobrado azulejado à Praça Cairu (final do século XIX); Casa dos Carvalho (década de 1890); Solar Amado
Bahia (1901); e Igreja de Nossa Senhora da Vitória (reformada em 1910, quando recebeu a atual feição).
reconceituações.indb 151 12/12/2011 13:16:08
152 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
nas construções ecléticas vinculadas à imigração italiana e alemã. Assim, dos 98
bens tombados pelo IPHAE até fevereiro de 2008, 65 correspondem a exempla-
res da arquitetura do século XIX e do início do século XX, com especial destaque
para a arquitetura eclética: o tombamento de 50 edifícios construídos entre 1850
e 1930 nas mais diversas vertentes da arquitetura eclética e localizados em diver-
sos municípios garantirá a preservação das diferentes matrizes que influenciaram
e compõem a cultura gaúcha. São igrejas neogóticas, edifícios públicos de feição
classicizante, construções em pedra ligadas à imigração italiana e algumas casas e
chalés de madeira do início do século XX, ligados à imigração alemã (Ver figura 1).
O IPHAE também já protegeu, através do tombamento, quatro estações fer-
roviárias, assim como duas usinas e duas pontes de ferro com apoios de pedra.
Além disso, publicou recentemente um interessante e completo inventário do pa-
trimônio ferroviário do Rio Grande do Sul.
Apesar de Minas Gerais abrigar alguns dos mais reconhecidos exempla-
res arquitetônicos e urbanísticos coloniais do país, já tombados pelo IPHAN,
o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA),
criado em 1971, vem tombando, desde 1975, importantes exemplares da arquite-
tura eclética produzida em Belo Horizonte entre a fundação da cidade, em 1895,
e as primeiras décadas do século XX. O tombamento do Palácio da Liberdade e do
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da praça homônima, incluindo os edifícios
das secretarias estaduais de Segurança Pública, Obras Públicas, Fazenda, Educação,
Interior e Justiça, representou o reconhecimento definitivo dos valores históricos e
estéticos das construções ecléticas erguidas logo após a criação da cidade.
Situação semelhante ocorre em Pernambuco que, junto com Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Bahia, concentrou, conforme já ressaltado, as atenções do IPHAN
nas suas primeiras décadas de atuação. Dos 51 bens tombados pela Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), de 1973, quando
foi criada, até 1998, 30 (cerca de 59%) correspondem a edifícios dos séculos XIX
e XX, entre exemplares neoclássicos, ecléticos, neocoloniais ou da arquitetura do
ferro, demonstrando o interesse do órgão estadual de preservação do patrimônio
cultural de suprir as lacunas deixadas pelo IPHAN. Os primeiros bens tombados
pela FUNDARPE foram exatamente dois exemplares do século XIX: a antiga Casa
de Detenção do Recife (Ver figura 2), atual Casa de Cultura (1855) e a Ponte do
Itaíba, em Paudalho (1872-1875).
reconceituações.indb 152 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 153
Outro dado significativo é que o reconhecimento de exemplares da arquitetu-
ra do século XIX através do tombamento pela FUNDARPE não se limita à capital,
mas ocorre em municípios de todas as regiões do Estado. Assim, além de diver-
sos exemplares do neoclássico recifense da segunda metade do século XIX, foram
tombadas construções neoclássicas em cinco municípios do interior do Estado,
bem como cinemas ecléticos em Recife e em mais duas outras cidades. Até mes-
mo a antiga Escola de Medicina, construída em estilo neocolonial entre 1926 e
1927, foi reconhecida como patrimônio histórico e artístico pernambucano pela
FUNDARPE.
AS AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL BAIANO
Na Bahia, contudo, as ações voltadas à preservação da arquitetura da segunda
metade do século XIX e de todo o século XX ainda estão em um estágio bastan-
te preliminar. O Governo do Estado da Bahia, inicialmente através da Secretária
da Indústria e Comércio, promoveu, a partir de 1973, uma iniciativa pioneira vi-
sando à identificação do patrimônio edificado baiano. O Inventário de Proteção
do Acervo Cultural da Bahia (IPAC-SIC) se tornou uma referência nacional e até
mesmo internacional de inventário de bens culturais, com a publicação, ao longo
de mais de vinte anos, de sucessivos volumes dedicados às diversas regiões do
Estado. (BAHIA. Governo do Estado, [19--?])
É interessante observar a exclusão inicial e a progressiva inclusão, nos diver-
sos volumes que compõem o IPAC-SIC, de edifícios construídos a partir da segun-
da metade do século XIX. O primeiro volume, dedicado a Salvador e publicado
em 1975, se concentra nas edificações do período colonial e nos edifícios neoclás-
sicos. Pouquíssimos são os edifícios ecléticos inventariados, como o Solar Amado
Bahia e a Casa dos Carvalho.6 Edifícios ecléticos, como a Igreja de Nossa Senhora
da Ajuda e a Igreja de Nossa Senhora da Vitória (que incluem bens móveis e inte-
grados então já tombados pelo IPHAN), não são sequer incluídos neste primeiro
volume do inventário, assim como também não são incluídos quaisquer exempla-
res da arquitetura do ferro nem tampouco edifícios ferroviários, industriais, neo-
coloniais, art nouveau, art déco ou modernos.
6. Na época, estes imóveis ainda não haviam sido tombados pelo IPHAN, o que só ocorre como consequência
da sugestão de tombamento apresentada no IPAC-SIC.
reconceituações.indb 153 12/12/2011 13:16:08
154 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
O segundo e o terceiro volumes do IPAC-SIC, dedicados ao Recôncavo Baiano
e publicados em 1978, incluem alguns edifícios ecléticos, como o sobrado neo-
gótico à Rua Eng. Lauro de Freitas, nº 64, em Cachoeira (datado de 1890), e pela
primeira vez apresentam exemplares da arquitetura do ferro da segunda metade
do século XIX, como a Imperial Ponte D. Pedro II, que liga Cachoeira a São Félix.
A incorporação destes bens é progressiva e, no quinto volume, dedicado ao
Litoral Sul baiano e publicado em 1986, já são inventariadas duas tecelagens loca-
lizadas na periferia de Valença: a Fábrica Todos os Santos (1844-1847) – a primeira
grande indústria instalada na Bahia – e a Fábrica Nossa Senhora do Amparo (1860).
É inventariada também a Vila Operária da Fábrica Nossa Senhora do Amparo
(construída em diversas etapas, entre 1920 e 1934).
No mesmo volume, são incluídas algumas construções ecléticas erguidas na
virada do século XIX para o século XX nas cidades do litoral sul baiano com a
riqueza proveniente da cultura cacaueira. É o caso da Prefeitura de Ilhéus (inau-
gurada em 1907), do Palacete Ramiro de Castro (1912-1918) e da Casa à Rua 28 de
Junho, nº 102 (1900), também em Ilhéus, e da Prefeitura (1898-1899) e da Cadeia
Municipal de Canavieiras (1900).
São construções tão representativas da arquitetura eclética quanto as resi-
dências construídas na mesma época pela burguesia soteropolitana no Corredor
da Vitória e nos bairros da Graça e Canela, em Salvador, ou as casas erguidas
com o dinheiro da exploração de diamantes na cidade de Palmeiras, na Chapada
Diamantina, nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, os volumes do
IPAC-SIC dedicados a Salvador (primeiro volume) e à Chapada Diamantina (quar-
to volume), publicados respectivamente onze e seis anos antes do volume dedi-
cado ao Litoral Sul baiano, não incluíram aqueles exemplares, demonstrando que,
neste curto período, a arquitetura eclética havia sido significativamente revalo-
rizada.
No que se refere à arquitetura ferroviária, a Estação da Calçada (1861), em
Salvador, não havia sido incluída no primeiro volume do IPAC-SIC. A partir do
início da década de 1980, algumas estações ferroviárias muito mais modestas
e menos significativas que a da Calçada, como a Estação Ferroviária de Nazaré
(1875), a Estação Ferroviária de Barrinha, em Jaguarari (1890-1896), a Estação
Ferroviária de Nova Viçosa (1897), a Estação Férrea São Francisco (1863) e a
Estação Velha de Juazeiro – Estação do Piranga (1900-1907), passaram a ser in-
reconceituações.indb 154 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 155
ventariadas, deixando clara a incorporação da arquitetura ferroviária ao patri-
mônio cultural baiano.
No que se refere aos tombamentos em nível estadual realizados pelo Instituto
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) até o final de 2006, a situação é
análoga. Dos 51 edifícios até então tombados pelo órgão estadual de preservação,
quase metade correspondia a edifícios do período colonial ou construções dos
três primeiros quartéis do século XIX que podemos chamar de “coloniais tardias”,
pois mantêm as principais características da arquitetura colonial. Somente doze
construções neoclássicas são tombadas pelo IPAC e, no caso da arquitetura eclé-
tica, o número é ainda mais reduzido: apenas cinco edificações, sendo que qua-
tro se localizam na capital. Completavam o quadro duas construções modernas:
o Instituto do Cacau e a Escola-Parque.
Existiam somente dois exemplares de arquitetura industrial tombados pelo
IPAC na Bahia – a Fábrica São Brás, em Plataforma (1875) e a Fábrica Fratelli Vita,
na Calçada (final do século XIX), ambas em Salvador (Ver figura 3). Esta situação
é surpreendente, considerando-se que a Bahia passou por um surto industrial no
último quartel do século XIX, abrigando dezenas de fábricas e vilas operárias cujas
estruturas físicas ainda existem, como a Fábrica da Boa Viagem (1891), Fábrica
Nossa Senhora da Penha (1875), Fábrica dos Fiaes (1890), Vila Operária da Boa
Viagem (1892-1899) – para nos limitarmos somente às indústrias têxteis e respec-
tivas vilas operárias localizadas na Península de Itapagipe, em Salvador. (GOMES,
2007) São também tombadas pelo IPAC uma estação ferroviária em Alagoinhas
(Estação Férrea São Francisco, 1876-1880) e uma ponte ferroviária em ferro
(a já citada Ponte D. Pedro II, 1881-1885). (Ver figura 4)
Entretanto, é preciso alertar que nem mesmo o tombamento tem garantido
a preservação destes bens. Mesmo tombada desde 2002, a Fábrica São Brás teve,
em 2003, toda a estrutura metálica da sua cobertura saqueada e, no mesmo ano,
uma parte da sua monumental fachada desabou, devido à grande proximidade
com a linha férrea ainda em utilização e à ausência de qualquer obra de consoli-
dação da sua estrutura mural. O tombamento da Estação Férrea São Francisco, em
Alagoinhas, também realizado em 2002, não tem freado o seu acelerado processo
de degradação e hoje a construção encontra-se praticamente em ruínas.
Os exemplares do patrimônio industrial baiano, produzidos a partir da segun-
da metade do século XIX, devem ser preservados por diversas razões. Em primei-
reconceituações.indb 155 12/12/2011 13:16:08
156 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
ro lugar, porque correspondem a importantes registros, em seus diversos aspec-
tos, do processo de industrialização pelo qual passou o Brasil a partir da segunda
metade do século XIX; em segundo lugar, porque, devido aos usos para os quais
foram originalmente construídos – mercados públicos, estações ferroviárias,
fábricas e galpões portuários –, quase sempre correspondem a edifícios de grande
importância na memória coletiva da população do bairro, cidade ou região em
que se situam; em terceiro lugar, porque devido aos usos aos quais se destinavam
originalmente e às técnicas e materiais construtivos empregados, são quase sem-
pre edifícios formados por grandes vãos cobertos que, desta forma, podem ser
facilmente adaptados aos mais diversos usos; e em quarto e último lugar, porque
são quase sempre edifícios de grandes dimensões e, assim, a sua reciclagem pode
se constituir em um elemento impulsionador do processo de requalificação urba-
na das áreas urbanas vizinhas, quando estas se encontrem degradadas.
No que se refere aos exemplares da arquitetura déco, protomoderna e mo-
derna, somente a partir do governo Jaques Wagner, começou finalmente a ser
reconhecido, no Estado da Bahia, o valor dessas outras arquiteturas, com uma
série de tombamentos provisórios de edifícios das décadas de 1920 a 1940 re-
alizados a partir de 2008: o antigo edifício-sede do jornal A Tarde, o Edifício
Oceania, o Edifício Dourado, o Hospital Aristides Maltez e o Edifício Caramuru,
este uma das obras mais interessantes produzidas na Bahia em todo o século XX.
O tombamento destes bens se constituiu em uma ação particularmente impor-
tante e corajosa, tendo em vista a iminente ameaça de descaracterização e, em
alguns casos, até mesmo de demolição em que alguns destes bens se encontra-
vam: por indicação de um gestor público municipal, responsável pela revitali-
zação do bairro do Comércio, em que se situa o Edifício Caramuru, este estava
sendo comprado por um grupo hoteleiro espanhol que pretendia demoli-lo;
no caso do Edifício Dourado, havia informações de que os proprietários dos seus
apartamentos estavam negociando a sua venda para uma incorporadora demo-
li-lo e construir em seu lugar um edifício mais alto.
O tombamento deste conjunto de bens do século XX teve bastante repercus-
são na mídia impressa local: em 17 de fevereiro de 2008, o jornal de maior circula-
ção do Estado publicou uma entrevista com o Diretor-Geral do IPAC tendo como
chamada: Patrimônio não é apenas o antigo. Na entrevista, o arquiteto Frederico
Mendonça (2008, p. 3) defendeu o tombamento destes bens, alegando que:
reconceituações.indb 156 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 157
Patrimônio não é apenas o antigo. É o que é de qualidade, o que tem
referência cultural para a sociedade. E é nesse sentido que nós enten-
demos que existem vários ícones da arquitetura, no caso pré-moderna
e moderna, que foram desdenhados até o momento. É nesse sentido que
nós acatamos as demandas que nos chegaram para salvaguarda.
Mais recentemente, a estes edifícios juntou-se, no acervo do patrimônio esta-
dual da Bahia, o Conjunto Urbanístico e Arquitetônico da Estância Hidromineral
de Cipó, erguido a partir de 1935 no sertão baiano (Ver figura 5), e o Hotel da Bahia,
em Salvador (1947-1952), uma das obras mais importantes da arquitetura moder-
na baiana.
Por outro lado, o mesmo Governo do Estado da Bahia foi o responsável pela re-
cente implosão de outro importante exemplar da arquitetura moderna no Estado:
o Complexo Esportivo da Fonte Nova, projeto que consolidou Diógenes Rebouças
como o principal arquiteto moderno baiano. Ao longo de mais de meio século,
o Estádio da Fonte Nova representou a principal arena baiana daquele que é o
esporte brasileiro por excelência – o futebol. Entretanto, foi justamente a decisão
da Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de realizar a Copa do
Mundo de 2014 no Brasil, associada a um acidente que resultou na morte de sete
torcedores no dia 25 de novembro de 2007, que levaram o Governo do Estado da
Bahia a decidir pela implosão da Fonte Nova para a construção de uma “arena de
futebol” à qual estarão atrelados diversos espaços comerciais.
Ao optar pela demolição do Complexo Esportivo, iniciada em julho de 2010
e que teve seu clímax com a implosão promovida no dia 29 de agosto de 2010, às
10h26 da manhã (Ver figura 6), o Governo do Estado da Bahia ignorou os ape-
los de parte da sociedade pela preservação daquele bem, incluindo um pedido de
tombamento assinado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento da
Bahia (IAB-BA), pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia
(FAUFBA) e pelo núcleo local do International Working Party for Documentation
and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern
Movement (DOCOMOMO/Bahia), ressaltando os méritos arquitetônicos, a im-
portância do estádio na história de Salvador e do futebol baiano e a sua excepcio-
nal integração com a paisagem em que se insere – a encosta sobre a qual se assenta
e o Dique do Tororó para o qual se abre –, bem como um abaixo-assinado firmado
por centenas de nomes de inquestionável relevância no cenário cultural baiano,
reconceituações.indb 157 12/12/2011 13:16:08
158 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
incluindo treze dos 21 membros do Conselho Estadual de Cultura que, dentre ou-
tras atribuições, assessoram o IPAC no julgamento do mérito dos pedidos de tom-
bamentos como o da Fonte Nova, além de intelectuais e artistas do porte de Lelé,
Assis Reis, Luiz Melodia e Emanoel Araújo.
O TOMBAMENTO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ
E SUAS CONSEQUÊNCIAS CONCEITUAIS
Para além de questões cronológicas, estilísticas ou tipológicas, um aspecto da
atuação institucional dos órgãos públicos brasileiros voltados à preservação do
patrimônio cultural que merece ser analisado com mais atenção, frente às suas
consequências na ressemantização de alguns conceitos ligados à disciplina, diz
respeito aos tombamentos de terreiros de candomblé. Atualmente existem cin-
co terreiros tombados pelo IPHAN, em todo o país, sendo quatro deles na Bahia:
Ilê Axé Iyá Oká (Terreiro da Casa Branca, o primeiro a ser tombado, em 1986),
Ilê Axé Opô Afonjá (tombado em 2000), Ilê Iyá Omim Axé Iyamassé (Terreiro
do Gantois, tombado em 2002), Manso Banduquenqué (Terreiro do Bate Folha,
tombado em 2003) e Ilê Maroialaje Alaketu (Terreiro do Alaketu, tombado em
2005). (Ver figura 7) O único terreiro tombado pelo IPHAN e que não se localiza
na Bahia é o Querebentã de Toy Zomadonu (Terreiro da Casa das Minas), em São
Luís do Maranhão, cujo tombamento se deu em 2002. Além destes cinco ter-
reiros já tombados, o IPHAN desenvolve atualmente estudos para tombamento
de terreiros de candomblé em outras unidades federativas, como Rio de Janeiro,
Distrito Federal e Rio Grande do Sul.
O tombamento dos terreiros colocou em cheque, no âmbito das discussões
sobre a preservação do patrimônio cultural no Brasil, uma série de conceitos con-
solidados desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 25, em 30 de novembro
de 1937. Em primeiro lugar, aquela norma legal, formulada em um contexto de
constituição de uma identidade nacional homogênea, unívoca e unitária, definia
em seu artigo 1º, como constituintes do patrimônio histórico e artístico nacio-
nal, aqueles bens “[...] cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional va-
lor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. (IPHAN, 2006, p. 99)
Ou seja, o patrimônio nacional estaria limitado àqueles bens de valor histórico
reconceituações.indb 158 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 159
nacional (ligados a fatos históricos de relevância nacional) e/ou detentores de ou-
tros valores excepcionais (artístico, arqueológico etc.).
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, estabeleceu em seu artigo 216
que “[...] constituem patrimônio cultural brasileiro os bens [...] portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira” (IPHAN, 2006, p. 20), reconhecendo que mesmo bens cujo
valor referencial se limite a algum(ns) dos grupos formadores da nossa sociedade
podem ser considerados patrimônio cultural brasileiro – como é o caso dos ter-
reiros de candomblé de “nações” nagô, jeje, congo ou angola ou da arquitetura da
imigração italiana e alemã no Rio Grande do Sul.
Além disso, o reconhecimento dos terreiros de candomblé como patrimô-
nio nacional brasileiro, através do tombamento, também colocou em cheque
as noções consolidadas de integridade e autenticidade. O Decreto Lei nº 25/37
estabelece, em seu artigo 17, que “[...] as coisas tombadas não poderão, em
caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas”. (IPHAN, 2006, p. 104)
Entretanto, como colocou o Prof. Peter Fry (2003, p. 93) já em 1984, durante o
pioneiro processo de tombamento do Terreiro da Casa Branca, “o tombamen-
to não é apenas um ato simbólico. É um ato que tem consequências materiais
profundas que poderiam ser negativas para o Terreiro em questão.” Os técnicos
do IPHAN e os especialistas encarregados do processo de tombamento daquele
terreiro, como o próprio Peter Fry e o relator do processo de tombamento, Prof.
Gilberto Velho, tinham “uma certa preocupação com os efeitos de um ato de
tombamento sobre uma instituição viva e dinâmica”, derivada “das possíveis
dificuldades que poderiam surgir na contradição entre a imutabilidade de um
tombamento e a mutabilidade que é um dos predicados estruturais do candom-
blé”. (FRY, 2003, p. 93-94, grifos do autor)
Por mais que o candomblé nagô se legitime pela tradição, ele constante-
mente reelabora esta tradição num processo constante de inovação ritu-
al e iconográfico, [em que se verifica] a constante incorporação de novas
formas arquitetônicas e iconográficas ao longo do tempo e que certa-
mente reflete mudanças internas na configuração da organização social
do terreiro, bem como mudanças no campo das religiões afro-brasilei-
ras e da sociedade como um todo. [...] É evidente que estas construções
e decorações são acrescidas ao patrimônio do terreiro gradativamente,
reconceituações.indb 159 12/12/2011 13:16:08
160 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
como outras são destruídas sem deixar traços. Dada esta mutabilidade
arquitetônica e iconográfica, se torna problemático o tombamento total
das construções e suas decorações, mesmo reconhecendo seu alto valor
artístico.
Esta relativização dos conceitos de autenticidade e integridade, reconhecí-
vel no processo de tombamento do Terreiro da Casa Branca, na primeira metade
dos anos 1980, possui motivações análogas àquelas que resultaram no documen-
to elaborado durante a Conferência sobre autenticidade em relação à convenção
do Patrimônio Mundial, realizada pela Unesco, Iccrom e Icomos7, em Nara, Japão,
em novembro de 1994. Enquanto o artigo 9º da Carta de Veneza, de 19648, funda-
mentava a restauração “[...] no respeito ao material original e aos documentos
autênticos” (CURY, 2004, p. 93), vinculando a própria noção de autenticidade à
matéria que compõe originalmente o bem cultural, o documento resultante da
Conferência de Nara colocou em cheque esta noção de autenticidade, ao reconhe-
cer, em seu artigo 11, que:
Todos os julgamentos sobre atribuição de valores conferidos às caracte-
rísticas culturais de um bem, assim como a credibilidade das pesquisas
realizadas, podem diferir de cultura para cultura, e mesmo dentro de
uma mesma cultura, não sendo, portanto, possível basear os julgamen-
tos de valor e autenticidade em critérios fixos. Ao contrário, o respeito
devido a todas as culturas exige que as características de um determina-
do patrimônio sejam consideradas e julgadas nos contextos culturais aos
quais pertencem. (CURY, 2004, p. 321)
Segundo a nova percepção estabelecida pela Conferência de Nara, em seu ar-
tigo 13,
[...] dependendo da natureza do patrimônio cultural, seu contexto cul-
tural e sua evolução através do tempo, os julgamentos quanto à auten-
ticidade devem estar relacionados à valorização de uma grande varie-
7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property e International Council on Monuments and Sites, res
pectivamente.
8. A Carta de Veneza, de 1964, é como é mais conhecida a Carta Internacional sobre Conservação e Restauração
de Monumentos e Sítios, resultante do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos
Históricos promovido pelo Icomos em Veneza, Itália, em maio de 1964.
reconceituações.indb 160 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 161
dade de pesquisas e fontes de informação [que] devem incluir aspectos
de forma e desenho, materiais e substância, uso e função, tradições e
técnicas, localização e espaço, espírito e sentimento, e outros fatores
internos e externos. (CURY, 2004, p. 322)
No panorama internacional, esta desvinculação do conceito de autenticidade
da materialidade do bem cultural decorreu, em grande parte, de determinadas
tradições japonesas em que centenários templos xintoístas são deliberadamen-
te queimados em uma cerimônia na qual um novo templo, recém-construído ao
lado do antigo, com as mesmas técnicas artesanais e materiais tradicionais deste,
passa a substituí-lo. Como observa Ascensión Hernández Martinez (2007, p. 59,
tradução nossa),
Se no Ocidente o respeito à materialidade do monumento tem sido fun-
damental, no Japão, por exemplo, a destruição e reconstrução dos tem-
plos xintoístas (talvez o mais conhecido seja o caso do conjunto de Ise)
nos revela que no Oriente a manutenção das tradições artesanais e de
seus artesãos responsáveis faz parte do patrimônio a conservar.
É baseado nesta nova noção de autenticidade que o IPHAN vem atuando na
salvaguarda dos terreiros de candomblé reconhecidos como patrimônio nacional
através do tombamento: uma determinada edificação componente de um terreiro
tombado – seja ela o barracão, seja a casa de um orixá – pode, caso sua estabili-
dade esteja comprometida, ser demolida e substituída por uma nova construção,
sem que com isso os valores culturais do terreiro fiquem comprometidos, na me-
dida em que estes valores culturais não decorrem da forma ou dos materiais e
técnicas construtivas que caracterizam estas edificações, mas sim do fato destas
construções servirem de suporte físico para as manifestações culturais. O impor-
tante é que o novo barracão ou a nova casa do orixá seja reconstruída de modo a
permitir a continuidade daquela prática cultural.
Tanto a sistemática e periódica reconstrução dos templos xintoístas japoneses
quanto a substituição das edificações dos terreiros de candomblé brasileiros estão
vinculadas a uma visão cultural baseada na produção coletiva e na tradição arte-
sanal passada de geração a geração – e, consequentemente, na negação da autoria
e do traço original do artista, este ser humano genial, tal qual prevalecia na indi-
vidualista cultura ocidental desde o Renascimento.
reconceituações.indb 161 12/12/2011 13:16:08
162 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
Até mesmo o rechaço às reconstruções e o princípio da distinguibilidade en-
tre a intervenção contemporânea e as partes primitivas do bem cultural, que
estão na base das teorias da restauração mais importantes desde Camilo Boito,
no último quartel do século XIX, até a mais recente teoria do restauro crítico
de Cesare Brandi, são dogmas que vêm sendo relativizados nas últimas déca-
das, até mesmo na Europa e, mais especificamente, naquele país onde o tema
do restauro arquitetônico tem encontrado, historicamente, uma reflexão mais
aprofundada: a Itália.
Para entendermos o alcance internacional deste processo de relativiza-
ção, basta nos determos nas palavras de Paolo Marconi, professor catedrático
de restauro dos monumentos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Roma La Sapienza desde 1980, quando se refere ao processo de reconstrução,
nos anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, das centenárias
pontes de Verona e de Florença destruídas por bombardeios ou pelo exército
alemão em retirada:
[Piero Gazzola, então Superintendente dos Bens Artísticos e Paisagísticos
do Vêneto, e os demais responsáveis pelo Plano de Reconstrução de
Verona] não hesitaram um só momento em reconstruir ‘como eram,
onde estavam’ a Ponte de Pedra e a Ponte Scaligero de Verona, e assim
o fizeram, ‘glorificando’ aqueles monumentos. Desafiamos quem quer
que seja, nascido nos últimos cinquenta anos, a diferenciar o novo do
velho naquelas pontes florentinas e vênetas, reconstruídas com os seus
materiais resgatados do fundo dos rios mas completados à l’identique
com novos materiais trabalhados e montados à maneira antiga, com
mão de obra local. Da mesma forma, desafiamos quem quer que seja
a desdenhar estas pontes como sendo uma ‘mentira’, um ‘falso’, uma
‘falsificação’ que custou bastante, em dinheiro, inteligência e habilidade,
cujo objetivo era de nos resgatar aquelas cidades semelhantes a como os
nossos antepassados as haviam amado e apreciado por séculos, se não
por milênios. O objetivo certamente não era o de enganar o observa-
dor, iludindo-o, como se fossem falsificações de obras de arte móveis,
como poderia parecer a partir das intervenções de Ranuccio Bianchi
Bandinelli e de Cesare Brandi por ocasião da reconstrução da ponte flo-
rentina, que eles consideravam ser ‘uma ofensa à História e um ultraje
à Estética’. [...] Admito com orgulho que compartilho com Gazzola e
reconceituações.indb 162 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 163
com meu pai a ‘fraqueza’ de querer reconstruir da melhor forma pos-
sível aquilo que tenha sido danificado ou destruído. (MARCONI, 2005,
p. 28-29, tradução nossa)
Para entender o patrimônio cultural hoje é preciso pôr em cheque uma sé-
rie de conceitos arraigados entre os especialistas da área no Brasil. Como obser-
va Salvador Muñoz Viñas (2003, p. 176), citando Erica Avrami, Randall Mason e
Marta De La Torre, “[...] o objetivo final da restauração não é conservar o material
por si mesmo, mas sim manter e conformar os valores contidos no patrimônio”.
Se entendermos restauração como o conjunto de ações empreendidas sobre um
bem cultural voltadas à sua preservação, será necessário concordar com Muñoz
Viñas (2003, p. 176-177, tradução nossa) quando afirma que:
A Restauração se faz para os usuários dos objetos: aqueles para quem esses
objetos significam algo, aqueles para quem esses objetos cumprem uma
função essencialmente simbólica ou documental, porém talvez também
de outros tipos. A validade de um tipo ou outro de Restauração depen-
de de como eles entendam que deve ser realizado este tipo de trabalho.
Esta interpretação pode variar, porém, é o consenso entre os afetados (ou
os seus representantes, ou os sabedores em quem eles confiam)9 o que
em última instância determinará a sua validade. A Restauração objetiva
é a rigor impossível, porque a Restauração se faz para os usuários presen-
tes ou futuros dos objetos (isto é, para os sujeitos) e não para os próprios
objetos. [...] A Restauração correta é aquela que harmoniza, até onde
seja possível, um maior número de teorias – inclusive as que não chega-
ram a ser formuladas [...]. Uma boa Restauração é aquela que fere menos
a um menor número de sensibilidades – ou a que satisfaz mais a mais
gente. [...] O restaurador não pode fazer o que ele decidir, o que ele acha
melhor, o que ele considera mais honesto, o que a ele foi ensinado, [...]
o critério principal que deveria guiar sua atuação é a satisfação do con-
junto de sujeitos a quem seu trabalho afeta e afetará no futuro.
9. E, ao falar em “sabedores em quem eles confiam”, não podemos deixar de pensar no papel de liderança
espiritual e cultural de um babalorixá ou ialorixá em um terreiro de candomblé...
reconceituações.indb 163 12/12/2011 13:16:08
164 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
Referências
ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Estádio da Fonte Nova: crônica
(antecipada) de uma morte anunciada. Minha Cidade, São Paulo,
n. 8803, ano 08, nov. 2007. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/minhacidade/08.088/1911>. Acesso em: 30 ago. 2010.
_____. Os órgãos estaduais de preservação e a constituição das
identidades regionais através dos tombamentos. CONGRESSO
ABRACOR – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE CONSERVADORES E RESTAURADORES DE BENS
CULTURAIS: Preservação do Patrimônio: Ética e Responsabilidade
Social, 13., 2009, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABRACOR, 2009.
p. 325-333.
_____. Rediscutindo a arquitetura brasileira do século XIX: os
preconceitos da historiografia moderna e o processo de revalorização
recente. In: CAVALCANTI, Ana M. T.; DAZZI, Camila; VALLE, Arthur
(Org.). Oitocentos: arte brasileira do império à primeira república.
Rio de Janeiro: EBA-UFRJ; DezenoveVinte, 2008. p. 37-52.
BAHIA. Governo do Estado. Inventário de proteção do acervo cultural da
Bahia. Salvador: Secretaria de Cultura e Turismo, [19--?]. 1 CD-Rom.
BOITO, Camillo. Os restauradores. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002.
BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.
CARBONARA, Giovanni. Avvicinamento al restauro: teoria, storia,
monumenti. Nápoles: Liguori, 1997.
CARBONARA, Giovanni (Dir.). Trattato di restauro architettonico. Turim:
UTET, 1996.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação
Liberdade: Ed. UNESP, 2001.
COSTA, Lúcio. Documentação necessária. In: COSTA, Lúcio; XAVIER,
Alberto (Org.). Lúcio Costa: sôbre arquitetura. Porto Alegre: UniRitter
Ed., 2007. p. 86-94.
CURY, Isabelle (Org.). Cartas patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
reconceituações.indb 164 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 165
FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória
da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ;
MinC/IPHAN, 2005.
FRY, Peter. Documento 3. RUA, Salvador, n. 8, p. 92-94, jul./dez. 2003.
GOMES, Nara de Souza. Inventário do Patrimônio Industrial Têxtil
Itapagipano. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
História com Habilitação em Patrimônio Cultural) – Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas, Universidade Católica do Salvador, Salvador.
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. La clonación arquitectónica.
Madri: Ediciones Siruela, 2007.
IPHAN. Coletânea de leis sobre preservação do patrimônio. Rio de
Janeiro: IPHAN, 2006.
MARCONI, Paolo. Il recupero della belleza. Milão: Skira, 2005.
MENDONÇA, Frederico. Patrimônio não é apenas o antigo. A Tarde,
Salvador, 17 fev. 2008. p. 3.
MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Teoría contemporánea de la restauración.
Madri: Síntesis, 2003.
PESSÔA, José (Org.). Lucio Costa: documentos de trabalho. Rio de
Janeiro: IPHAN, 2004.
ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. Introdução. In: CZAJKOWSKI, Jorge
(Org.). Guia da arquitetura eclética no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Casa da Palavra, 2000. p. 05-23.
RUBINO, Silvana. O mapa do Brasil passado. Revista do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, n. 24, p. 97-105, 1996.
VASCONCELLOS, Sylvio de. A arquitetura colonial mineira. In: ÁVILA,
Affonso (Org.). Barroco: teoria e análise. São Paulo: Perspectiva, 1997.
p. 351-367.
reconceituações.indb 165 12/12/2011 13:16:08
reconceituações.indb 166 12/12/2011 13:16:08
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 167
F I G U RA 1 - Antigo Hotel
Majestic (1916-1933), atual
Casa de Cultura Mario
Quintana, em Porto Alegre,
bem tombado pelo IPHAE
em 1982 (Foto realizada pelo
autor, 24 de outubro 2007).
Foto: Nivaldo Vieira de
Andrade Junior.
F I G U RA 2 - Antiga Casa de
Detenção do Recife (1855),
atual Casa da Cultura, bem
tombado pela FUNDARPE
em 1980.
Foto: Nivaldo Vieira de
Andrade Junior.
reconceituações.indb 167 12/12/2011 13:16:11
168 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
F I GU R A 3 - Ruínas da Fábrica São Brás em Plataforma (2ª metade do século XIX), Salvador, bem
tombado pelo IPAC em 2002.
Foto: Nivaldo Vieira de Andrade Junior.
FI GU R A 4 - Ruínas da Estação Férrea São Francisco em Alagoinhas (1876-1880), bem tombado pelo IPAC em 2002.
Foto: Nivaldo Vieira de Andrade Junior.
reconceituações.indb 168 12/12/2011 13:16:16
Nivaldo Vieira de Andrade Junior 169
F I GURA 5 - Praça Juracy Magalhães (1935) e Grande Hotel de Cipó (1941-1952), pertencentes
ao conjunto urbanístico e arquitetônico da Cidade de Cipó tombado provisoriamente pelo
IPAC em 2008.
Fonte: Nivaldo Vieira de Andrade Junior.
reconceituações.indb 169 12/12/2011 13:16:21
170 Ampliações do conceito de patrimônio edificado no Brasil
F I GU RA 6 - Estádio da Fonte Nova, inaugurado em 1951, ampliado em 1971 e implodido em 2010.
Foto: José Carlos Huapaya Espinoza.
FI GURA 7 - Vista geral do Terreiro da Casa Branco em Salvador.
Foto: Nivaldo Vieira de Andrade Junior.
reconceituações.indb 170 12/12/2011 13:16:25
253
Sobre os autores
Elyane Lins Corrêa é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universitat
Politécnica de Catalunya e professora adjunta da FAUFBA. Integra igualmente o
corpo docente do Mestrado em Artes Visuais da UFBA.
Fábio Macêdo Velame é doutorando em Arquitetura e Urbanismo na UFBA, insti-
tuição da qual é atualmente professor assistente.
Honório Nicholls Pereira é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e tra-
balha atualmente no IPHAN, em Brasília.
Leonardo Barci Castriota é doutor em Filosofia pela UFMG e realizou pós-dou-
torado no Getty Conservation Institute de Los Angeles. Atualmente é professor
adjunto da UFMG e coordenador do Mestrado Interdisciplinar em Ambiente
Construído e Patrimônio Sustentável (MACPS) da UFMG.
Márcia Sant’Anna é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA e professora
adjunta da FAUFBA. Até 2011 ocupou o cargo de Diretora de Patrimônio Imaterial
do IPHAN.
Maria Aruane Santos Garzedin é doutora em Artes Plásticas pela Universidad de
Barcelona e professora adjunta da FAUFBA.
reconceituações.indb 253 12/12/2011 13:16:41
254 Sobre os autores
María Margarita Segarra Lagunes é doutora pela Università di Roma Tre, onde
coordena o Curso de Especialização em História do Projeto Arquitetônico e o
Mestrado Internacional Arquitetura, História e Projeto.
Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes é doutor em Ciências Sociais
pela Université de Tours e realizou pós-doutorado na New York University.
É professor titular da FAUFBA e atua em seu Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo.
Naia Alban é doutora pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
e professora adjunta da FAUFBA, da qual é também diretora eleita para a gestão
2011-2015.
Nestor Goulart Reis Filho é livre docente pela Universidade de São Paulo (USP)
e professor titular aposentado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).
É membro do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Nivaldo Vieira de Andrade Junior é doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela
UFBA, instituição da qual é atualmente professor assistente. É vice-presidente do
IAB – Departamento da Bahia.
reconceituações.indb 254 12/12/2011 13:16:41
reconceituações.indb 255 12/12/2011 13:16:41
C O L O FÃ O
Formato 17 x 24 cm
Tipologia Leitura, 9,5/16 pt
Papel Alcalino 75 g/m2 (miolo)
Cartão Supremo 300 g/m2 (capa)
Impressão da capa e Cian Gráfica
cadernos de imagens
Impressão do miolo EDUFBA
Tiragem 1.000
reconceituações.indb 256 12/12/2011 13:16:41
Você também pode gostar
- Relatorio de Estagio V2 Priscila SobollDocumento22 páginasRelatorio de Estagio V2 Priscila SobollPriscila Raíssa SobollAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio Supervisionado - EdgleyDocumento8 páginasRelatório de Estágio Supervisionado - EdgleyAnny Ferreira100% (1)
- Manual de Auxílio - Código de Obras BúziosDocumento14 páginasManual de Auxílio - Código de Obras BúziosCaroline LimaAinda não há avaliações
- Arquitetura EscolarDocumento87 páginasArquitetura EscolarJefersonAraujo100% (1)
- Cadernonadisciplina VERSÃO PRELIMINARDocumento24 páginasCadernonadisciplina VERSÃO PRELIMINARAndrei Dos PrazeresAinda não há avaliações
- Fichamento - VillaçaDocumento9 páginasFichamento - VillaçaTalita SoaresAinda não há avaliações
- 11-Antonio Reis Cabrita-A CIDADE HABITAVEL SevilhaDocumento41 páginas11-Antonio Reis Cabrita-A CIDADE HABITAVEL Sevilhaho77Ainda não há avaliações
- CDU: Delimitação Da Unidade de Execução Das Antas de Agualva e Belas/Monte AbraãoDocumento4 páginasCDU: Delimitação Da Unidade de Execução Das Antas de Agualva e Belas/Monte AbraãoTudo sobre SintraAinda não há avaliações
- Habitação TipologiasDocumento47 páginasHabitação TipologiasHenrique PessoaAinda não há avaliações
- Verticalização, Habitação Social e Multifuncionalidade PDFDocumento15 páginasVerticalização, Habitação Social e Multifuncionalidade PDFfran_américoAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa 01 - Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo - ReavaliadoDocumento3 páginasAtividade Avaliativa 01 - Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo - ReavaliadoWagner SouzaAinda não há avaliações
- 01 Memoria Descritiva Loteamento FeiraDocumento14 páginas01 Memoria Descritiva Loteamento FeiraGeoffrey ShimwaAinda não há avaliações
- NOTA - TECNICA - PLANO - URBANISTICO - Arco JurubatubaDocumento68 páginasNOTA - TECNICA - PLANO - URBANISTICO - Arco JurubatubaAna Clara GomesAinda não há avaliações
- FAUUFRJ Fragmento EDocumento15 páginasFAUUFRJ Fragmento ECaueAinda não há avaliações
- TESE Volume I Fev2014 Sofia LaiaDocumento173 páginasTESE Volume I Fev2014 Sofia LaiaJosé SilvaAinda não há avaliações
- Manual Ilustrado Sobre El Diseño de Veredas en BrasilDocumento28 páginasManual Ilustrado Sobre El Diseño de Veredas en BrasilMenganoPerezAinda não há avaliações
- AsBEA. Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Instalações Prediais - HidráulicaDocumento93 páginasAsBEA. Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Instalações Prediais - HidráulicaMauryas De Castro ManzoliAinda não há avaliações
- Dimensão Sociocultural Do Desporto e Da Atividade FísicaDocumento4 páginasDimensão Sociocultural Do Desporto e Da Atividade FísicaJoana SilvaAinda não há avaliações
- Relatório Final - Os Usos Da Lagoa Dos Patos em Presidente Prudente - SPDocumento15 páginasRelatório Final - Os Usos Da Lagoa Dos Patos em Presidente Prudente - SPyeda ruizAinda não há avaliações
- Cidades Ideais, Cidades Reais: Construções ImagináriasDocumento4 páginasCidades Ideais, Cidades Reais: Construções ImagináriasUrsulad'AlmeidaAinda não há avaliações
- HeterotopiasDocumento8 páginasHeterotopiasPietro Romaniuk ZandavalliAinda não há avaliações
- Lei #12 378, de 31 de Dezembro de 2010Documento12 páginasLei #12 378, de 31 de Dezembro de 2010xpirateAinda não há avaliações
- Habitação Coletiva No BrasilDocumento21 páginasHabitação Coletiva No BrasilLídia SilvaAinda não há avaliações
- DECRETO 02-Decreto #23569 de 1933-Regula A Profissao de ArquitetoDocumento9 páginasDECRETO 02-Decreto #23569 de 1933-Regula A Profissao de ArquitetoAlex PorangabaAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTODocumento1 páginaPLANEJAMENTOExcellence TapetesAinda não há avaliações
- ARAUJO - Anete - Estudos de Gênero em Arquitetura - Um Novo Referencial Teórico para A Reflexão Crítica Sobre o Espaço ResidencialDocumento12 páginasARAUJO - Anete - Estudos de Gênero em Arquitetura - Um Novo Referencial Teórico para A Reflexão Crítica Sobre o Espaço ResidencialNatália AlvesAinda não há avaliações
- Revitalização de Eixo Do Bairro Rebouças Através Da Inserção de Centro de Artes/midiatecaDocumento57 páginasRevitalização de Eixo Do Bairro Rebouças Através Da Inserção de Centro de Artes/midiatecaMarco GabrielAinda não há avaliações
- Puzzuoli, Claudia. Projeto Tese - R2Documento13 páginasPuzzuoli, Claudia. Projeto Tese - R2Elis VeigaAinda não há avaliações
- Conteúdo Escalado BH e CâmaraDocumento6 páginasConteúdo Escalado BH e CâmaraClei de Jesus SantosAinda não há avaliações
- Bairro(s) Do ResteloDocumento445 páginasBairro(s) Do ResteloAline GonçalvesAinda não há avaliações