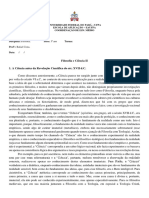Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumo Filosofia Cartografia
Enviado por
Anonymous mmJHPjT4kh0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações6 páginasresumo de filosofia e questões estéticas
Título original
resumo filosofia cartografia
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoresumo de filosofia e questões estéticas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações6 páginasResumo Filosofia Cartografia
Enviado por
Anonymous mmJHPjT4khresumo de filosofia e questões estéticas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
(PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO)
CARTOGRAFIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA
(GRUPO DE TRABALHO)
DE QUE COR É A BELEZA?
Percurso da discussão filosófica do GT
Momento teórico I
Começamos nosso trabalho pela abordagem do texto A beleza como desigualdade fundamental (p.37-55),
primeiro capítulo do livro Belezas imaginárias: antropologia do corpo e do parentesco (2013), do antropólogo
P-J Laurent. Nosso propósito, nesse momento inicial, foi explicitar que a discussão sobre a beleza, em especial
a beleza humana, como salienta o próprio autor, tem múltiplas vias de acesso, não só pela arte e pela estética
(isto é, pela filosofia do belo e do gosto), mas também pelas ciências naturais (biologia) e humanas
(antropologia, história). O que revela uma ambivalência da beleza, que pode ser abordada a partir de diversos
prismas (como sugerimos no presente GT), e ao mesmo tempo o seu caráter de extrema singularidade, pois
essa pluralidade de olhares sobre a beleza parece derivar, justamente, da incapacidade crônica que temos de
definir o que ela seja e como aferi-la e/ou mensurá-la. Sem saber propriamente o que é a beleza, se ela é
objetiva ou subjetiva, quantificável ou apenas qualitativa, não podemos dizer ao certo quais, ou qual, domínio
(s) do saber é (são) aquele (s) que melhor a explica (m) (o que o autor chama de problema epistemológico).
Assim, suscitamos já, na discussão, essa incomensurabilidade do belo, tão importante, pensamos nós, para o
debate em âmbito ético-racial, pois nos faz pensar que ninguém tem real propriedade sobre o que seja a beleza
e, portanto, os padrões de beleza devem ser vistos como relativos e convencionais.
Concentrando-nos, mais precisamente, na primeira seção daquele capítulo, intitulada A beleza como
exceção (p.37-41), vimos que Laurent mobiliza algumas perspectivas científicas para sua discussão, tais como
o continuísmo natureza/cultura, a ecologia comportamental e os defensores da ruptura entre natureza e
cultura. O que nos leva a ver que esse debate se move, aqui, entre as ciências naturais (e sua metodologia
experimental, quantitativa, sobremaneira factual) e as ciências humanas (com sua metodologia também
experimental, mas, de modo geral, qualitativa e levando em consideração as questões do imaginário social).
A questão, portanto, como por vezes indica o autor, é se a beleza se traduz em traços físicos verificáveis
experimentalmente (ou se há uma beleza natural, ou seja, um padrão de beleza estabelecido pela própria
natureza), permitindo assim uma definição objetiva do que é a beleza, ou, se ela é uma construção
sociocultural, e assim relativa e variável, mudando de acordo com os padrões vigentes – isto tudo, sem
descartar é claro, que o fenômeno da beleza possa abarcar esses dois aspectos.
De todo modo, o autor começa dando atenção ao que chama de psicologia cognitiva (ou do
conhecimento), afirmando que determinados trabalhos nessa área estipulam uma concepção mensurável da
beleza, portanto não-subjetivista, trabalhando principalmente com os traços físicos que comporiam o rosto
ideal, para além das variações intra e interculturais (ou seja, o rosto ideal, ou os traços físicos que traduzem
com exatidão a beleza são encarados como independentes da etnia do modelo; as características físicas belas
podem ser compartilhadas por todas as etnias). Assim, segundo Laurent, a psicologia do conhecimento se
aproxima de um naturalismo em termos de beleza, ou de um fisiologismo: “a beleza é de preferência um rosto
dotado de tal tipo de traço” (p.38). (Lembrando que esses traços não são oriundos de uma etnia específica,
mas acham-se espalhados entre elas). Nesse sentido, não se trata de uma questão de gosto (como o afirma a
estética filosófica) e nem de desejo (como o diz a própria psicologia), claro que gosto e desejo estão
relacionados com a beleza, mas, para a psicologia do conhecimento, a beleza pode ser pensada em termos de
caracteres físicos verificáveis experimentalmente que são, portanto objetivos e, por isso, independentes do
gosto e do desejo (pensados aqui como subjetivos): “Esse tipo de análise conduz, no entanto, à seleção de
critérios físicos da beleza humana. A atração poderia ser definida objetivamente sobre a base de critérios
universais” (p.38).
Em contraposição à psicologia cognitiva, Laurent faz referência à convicção de Darwin, a partir de suas
viagens, de que não há, do ponto de vista natural, um padrão de beleza estabelecido no espírito humano; mas
ressalta, que a psicologia cognitiva não ignora a variabilidade e flexibilidade do gosto, apenas afirma, como
dissemos antes, que para além do que é variável há regras universais da beleza. Em face disso, e saindo um
pouco do registro naturalista, Laurent junta à discussão a perspectiva do que chama de ecologia
comportamental, afirmando que para essa, seria difícil concordar com Darwin, sobre a variabilidade da beleza,
o que a aproximaria do universalismo da psicologia do conhecimento, mas, por outros caminhos. Pois, no que
concerne à ecologia comportamental, a beleza apresenta um caráter universal em função dos condicionantes
socioculturais, tais como a indústria da beleza e os meios de comunicação “que permitem difundir certos
critérios de beleza para além das fronteiras e que poderiam ser responsáveis por certa homogeneização dos
critérios de beleza” (p.39). “É inegável que hoje ao mesmo tempo a indústria de cosméticos e os lobbies
vinculados à cirurgia estética desempenham um papel estimulador na estandardização da beleza” (p.39).
Em suma, o que Laurent nos apresenta, e o que desejamos, por meio de seu texto colocar ao GT, é
justamente a questão de que há uma espécie de bifurcação entre os que investigam a beleza, “de um lado, os
que julgam que a beleza existe em si e pode ser explicada segundo critérios evidenciados a partir de
experiências, e de outro lado, os que defendem que a beleza procede de convenções culturais, ao mesmo tempo
negociáveis e evolutivas” (p.40). Acrescentando, ao fim, mas com não menos importância, que na perspectiva
nominalista/construtivista (que estaria próxima dos que defendem a subjetividade e convencionalismo da
beleza), em oposição aos fisiologistas (ou naturalistas), a beleza, não existe em si mesma, pois é fruto, como
tudo na cultura, de convenções e denominações, ainda que por sua força histórica e evolutiva algumas dessas
convenções pareçam naturais. “Nessa corrente de pensamento, a beleza que se impusesse resultaria de uma
convenção cultural de algum modo naturalizada, isto é, da qual se teria esquecido como resultante de
convenções sociais, culturais e artificiais” (p.40/1). Isto é de suma importância, uma vez que o prisma ético-
racial nos leva a questionar os padrões de beleza que, muitas vezes, por sua cristalização e hegemonia, são
vistos como inquestionáveis e naturais, espontâneos e tudo o que a eles se opõe é artificial e, quando insistente,
“teoria da conspiração”: vejam os casos de luta pela representatividade negra, muitas vezes vista como simples
reclamação, lamentação e vitimismo, pois não haveria um branco de beleza, mas apenas um padrão (neutro)
de beleza, natural e espontâneo.
Momento teórico II
Aqui, apresentamos de maneira concisa o que filosoficamente se compreende por estética (filosofia do
belo e do gosto). Tomada em seu sentido estabelecido por Baumgarten no século XVIII (1750), mas cujos
traços são reconhecíveis em outros tempos e autores, assim como os ecos também o são em seus
contemporâneos e sucessores, a estética (aisthesis) é concebida como a investigação filosófica acerca da
sensibilidade e, mais precisamente, da sensibilidade no que concerne ao belo. A experiência do belo, ou
experiência estética, é compreendida como uma experiência fundamental, porque todos somos capazes de tê-
la, e, mais ainda, pela força e profundidade dos efeitos que a beleza pode provocar em nós. A questão, aí, é
saber como se dá em nós a experiência da beleza, se de maneira objetiva (como uma forma de conhecimento)
ou de maneira subjetiva (como uma forma de sensação/sentimento), e por meio de qual faculdade da mente
humana. Entre os filósofos, principalmente da Modernidade, há, ao mesmo tempo, uma espécie de disputa
entre objetividade e subjetividade e, por outro lado, o reconhecimento de que a beleza possui um caráter
subjetivo profundo, essencial (quase incontornável, senão incontornável). Assim, a beleza é discutida em
termos de objetividade e subjetividade e o gosto, a faculdade mental por meio da qual somos capazes de
distinguir o belo do feio, em termos de universalidade e particularidade (cada um tem seu gosto ou não): a
questão é saber se o que determina o gosto é o conhecimento objetivo do objeto que chamamos belo (o gosto
como universal, já que o que é objetivo pode ser compartilhado plenamente pelas pessoas), ou se é o
sentimento que a sensação desse objeto provoca em nós (o gosto como particular, já que o sentimento, embora
comum, nem sempre ocorre com relação aos mesmos objetos e com a mesma intensidade e isso escapa ao
controle racional e objetivo).
Como ponto de partida mais específico para a discussão, utilizamos o texto Do padrão do gosto (p.91-
113), do filósofo escocês do século XVIII (1757) David Hume, presente na coletânea O belo autônomo: textos
clássicos de estética (2013). Esse texto, de modo geral, contempla as duas tendências (objetivista e
subjetivista) envolvidas no debate sobre a beleza e o gosto em termos estéticos (filosóficos), pois, de um lado,
seu autor reconhece que o gosto e, assim, o julgamento da beleza está muito mais ligado ao sentimento do que
ao raciocínio (subjetivismo), mas, por outro, não deixa de reconhecer que como uma faculdade mental o gosto
possui uma estrutura universal (compartilhada por todos) o que nos leva a buscar um padrão do mesmo (ainda
mais em face de objetos amplamente reconhecidos como belos, [mas nunca unanimemente]), portanto,
universal/objetivo. “É natural que se procure encontrar um Padrão do Gosto, uma regra capaz de conciliar as
diversas opiniões dos homens, um consenso estabelecido que faça com que uma opinião seja aprovada e outra
condenada” (p.94). No entanto, não se pode negligenciar a distinção entre conhecimento e sentimento, posta
às claras no que concerne à experiência estética. Segundo Hume, enquanto o primeiro produz informações
referentes a um objeto diferente do próprio sujeito, correndo o risco, portanto, que as informações não sejam
compatíveis com o objeto (total ou parcialmente); o segundo diz respeito ao próprio sujeito, o sujeito fala de
si mesmo, do modo como se sente em relação a um objeto e, portanto, o sentimento está sempre certo, uma
vez que somente o próprio sujeito que o sente pode ser o juiz de sua certeza (e, como é ele mesmo quem emite
o juízo, ele não pode estar errado sobre o que sente [ainda que não consiga descrever e/ou nomear o
sentimento]). No caso do conhecimento, como as informações emitidas dizem respeito a um objeto externo
aos sujeitos, as informações têm de ser compatíveis o máximo possível com o objeto (objetividade) e, como
esse objeto é independente de nós (exterior), suas características devem ser perceptíveis a todos e, portanto,
devemos encontrar um consenso (padrão) com relação ao que dizemos dele. No caso do sentimento, como
aquele que sente é o único que sente o que está sentindo, ou seja: como interno a nós, o sentimento diz respeito
apenas àquele que o sente e, assim, não pode ser verificado pelos demais; não tenho nem a necessidade real
de pensar em um padrão objetivo para falar do que sinto, basta que eu tenha consciência do que sinto para que
o sentimento exista e seja verdadeiro.
Nesse sentido, nem todas as opiniões sobre um objeto são verdadeiras, pois devem expressar o que objeto
é e não o que sentimos em face dele. “Por sua vez, os mil e um sentimentos diferentes despertados pelo mesmo
objeto são todos certos, porque nenhum sentimento representa o que realmente está no objeto. Ele se limita a
assinalar uma certa conformidade ou relação entre o objeto e os órgãos ou faculdades do espírito, e, se essa
conformidade realmente não existisse, o sentimento jamais teria sido despertado” (p.95). Ao falar do que
sentimos, não falamos das coisas, mas de nós mesmos, da maneira como estamos em face delas, e como os
únicos que podem verificar com exatidão o que sentimos somos nós mesmos, nunca nos enganamos com
relação ao que sentimos, justamente porque já estamos sentido e, nesse caso, sentir já é conhecer (não os
objetos, mas a nós mesmos). Com relação à beleza, e ao gosto portanto, nosso julgamento é determinado,
segundo Hume, pelo sentimento: a beleza não representa, propriamente, uma característica do objeto, mas o
modo como nos sentimos diante de um determinado objeto. “A beleza não é uma qualidade das próprias
coisas; ela existe apenas no espírito que as contempla, e cada espírito percebe uma beleza diferente” (p.95).
Embora as coincidências de gosto, algumas amplamente reconhecidas, no sugiram que pode haver um padrão
do gosto, devemos sempre reconhecer que essa busca será sempre limitada pela natureza da própria beleza, a
qual, como um sentimento, não pode ser determinada de maneira objetiva. “É possível mesmo que um
indivíduo encontre deformidade onde outro só vê beleza, e cada um deve ceder ao seu próprio sentimento,
sem a pretensão de controlar o dos outros” (p.95; negrito nosso). A beleza como sentimento nos leva, assim,
ao reconhecimento que os padrões de beleza não estão ancorados na própria beleza, não são plenamente
universais e nem naturais e, portanto, não se pode ter legitimidade na pretensão de impô-los a quem quer que
seja. Embora não diga, Hume nos lança, assim, diretamente ao tema da diversidade, tão caro às relações étnico-
raciais, nos projeta ao reconhecimento de que a variedade de gostos se impõe mesmo entre membros da mesma
cultura. O que nos remete ao tema da barbárie, citado por Hume no início de seu texto, ao dizer que “Temos
propensão a chamar de bárbaro tudo o que se afasta de nosso gosto e de nossas concepções, mas prontamente
notamos que esse epíteto ou censura também pode ser aplicado a nós” (p.92). A experiência da beleza ganha
relevância aí justamente por ser a abertura, talvez a mais forte abertura, para a compreensão da relatividade
de nossos gostos e concepções e, assim, para o reconhecimento da diversidade.
Uma vez isso estabelecido, essa impossibilidade natural de estabelecermos um padrão absoluto do gosto,
o que Hume chama de princípio da igualdade natural do gosto (igualdade natural porque sendo determinados
pelo sentimento todos os gostos são corretos em relação a si mesmos), o filósofo escocês segue um caminho
relativamente diverso, ao reconhecer que certas obras artísticas, em que pese a diversidade dos gostos, são
capazes de agradar à maioria e assim são reconhecida e amplamente denominadas belas. Com isso, aquela
disposição, igualmente natural, de buscarmos um padrão do gosto é, em certa medida legitimada por Hume e
discutida por ele, principalmente no que concerne às artes. Embora, ele nunca deixe de reconhecer os limites
desse padrão, sempre ligado à experiência, reconhecendo a variedade de gostos e sua legitimidade e, o que
nos parece o mais importante, embora a linguagem nos permita definições mais ou menos genéricas do que
seja a beleza e o gosto (e de seu funcionamento), não se pode defini-los com precisão nem determinar quais e
de que modos os objetos lhes despertarão o sentimento da beleza.
Momento teórico III
Uma vez que a filosofia, no que concerne à estética, busca avançar na compreensão radical e universal do
que sejam o belo e como de dá o funcionamento do gosto, ela igualmente, como dissemos acima, não deixa
de reconhecer que em termos absolutos não é possível, não de maneira inequívoca ao menos, estabelecermos
um padrão da beleza e do gosto. Do ponto de vista dos indivíduos portanto, da mente humana em si mesma,
embora haja a disposição natural para tal estabelecimento, há uma impossibilidade também natural de o
fazermos. Assim, os padrões de gosto devem ser compreendidos muito mais como produtos socioculturais,
em termos de construção e convenção social, estabelecidos e difundidos ao longo da história entre as diversas
culturas e sociedades. Para pensarmos esse aspecto da questão filosoficamente, e de maneira mais
contemporânea, recorremos ao texto A indústria cultural: o iluminismo como mistificação das massas (p.169-
214), de Adorno e Horkheimer, dois dos mais importantes filósofos da afamada Escola de Frankfurt, presente
na coletânea Teoria da cultura de massa (2006). Nesse caso, a relação se dá de maneira um pouco mais
complexa, uma vez que a concepção de indústria cultural e cultura de massa envolve a relação entre arte,
cultura e o modo de produção capitalista, na qual podemos alocar as questões concernentes ao estabelecimento
e propagação dos padrões de beleza.
Ao falar sobre o fenômeno da indústria cultural, Adorno e Horkheimer estão se referindo, basicamente,
ao processo de incorporação da produção e veiculação de bens culturais por parte do modo de produção
capitalista, mais precisamente em sua configuração pós-industrial, então predominante na primeira metade do
século XX. Isto significa que a produção e veiculação dos bens culturais passa a estar submetida, em último
caso, à obtenção de lucro (objetivo último do sistema capitalista), obedecendo às leis de mercado (relação
entre oferta e demanda) e às estratégias de produção industrial. Tendo como pano de fundo a teoria da luta de
classes de Marx, um dos principais referenciais teóricos dos frankfurtianos, na concepção de Adorno e
Horkheimer, o que está por trás da indústria cultural é a expansão e manutenção do poder por parte das classes
dominantes (mais especificamente a burguesia industrial e pós-industrial), dos economicamente mais fortes,
sobre o resto da sociedade. Como esse processo de dominação é constituído basicamente por meio da difusão
da ideologia e alienação, a cultura de massa serve como um sofisticado e muitas vezes insuspeito veículo para
esses mecanismos, uma vez que parece estar ligada apenas os entretenimento, lazer e cultura. Por meio dos
produtos da indústria cultural, as classes dominantes fazem com que as demais classes absorvam seus valores
e modos de pensar, promovendo a alienação das classes dominadas, cujos indivíduos tornam-se incapazes de
reconhecer sua própria realidade e condição social, assim, os economicamente mais fracos tendem a aceitar o
modo como a sociedade se encontra e ratificar o poder daqueles que já exercem a dominação.
Para que isso seja conseguido, utilizando a racionalidade técnica, a produção e veiculação cultural devem
assumir um caráter sistemático, no mais alto nível possível, todos os setores da produção artística e todos os
bens culturais devem estar integrados em um projeto unificado, de maneira que nada escape ao controle dos
mandatários da cultura, de seus financiadores. O resultado disso é uma produção cultural cujos bens são cada
vez mais semelhantes e padronizados, acompanhada por uma igual assimilação e padronização do público;
ambas camufladas pela ideia de uma variedade de produtos a serem ofertados a um público igualmente
diversificado, o que sugere que todas as tendências culturais seriam contempladas pelo mercado da cultura
que, por seu espírito liberal, seria igualmente afeito à diversidade de gostos. Mas, segundo Adorno e
Horkheimer isso é um engano, pois mesmo que os produtos culturais sejam revestidos por uma aparência de
incontável variedade, eles, na verdade, estão todos articulados por um interesse comum, que é a geração e
manutenção do lucro, alicerçado na ideologia e alienação dos explorados. Nesse sentido, o público também
vai sendo moldado pelo próprio mercado que, segundo o discurso oficial, é que se molda pelo gosto do público,
servindo apenas para atender às suas demandas. Assim, o que se deseja propagar é que a produção de bens
culturais atende a uma demanda espontânea da população (como no caso da cultura popular), em escala
mundial é verdade, e são os consumidores quem têm o protagonismo dessa relação com o mercado, sendo
livres para consumirem, e gostarem, do que quiserem. Entretanto, como os autores salientam, isso é uma
ilusão, pois é o próprio mercado quem se encarrega de gerar a demanda e influenciar a formação do público
consumidor, mesmo que este seja constituído por diferentes estratos.
Nessa perspectiva, os padrões culturais obedecem, no fundo, aos interesses econômicos de determinadas
classes, e seu consumo serve, fundamentalmente, como fonte de lucro e mecanismos de ideologia e alienação
das classes dominadas. Inserida na produção e veiculação cultural, a questão dos padrões de beleza, segundo
o ponto de vista destes frankfurtianos, obedece a mesma lógica de produção e veiculação que o capitalismo
impõe às demais manifestações culturais que incorpora. Assim, a formação do gosto estaria igualmente sendo
condicionada por meio desse processo, e sua diversidade, naturalmente característica, conforme a estética nos
permite observar, seria minimizada (ou mesmo extinta), ou, se valorizada em alguma medida, o seria apenas
enquanto fosse útil aos padrões de beleza que os que financiam a produção cultural acham adequado propagar
e difundir. Propagandas, filmes, novelas, concursos de beleza e demais formas de entretenimento seriam
responsáveis pela veiculação social dos padrões de beleza, estabelecidos de maneira impositiva, hierárquica,
dogmática e mesmo ditatorial.
Profº. Rafael Costa.
Você também pode gostar
- Principais Matrizes Teórico-Metodológicas Das Ciências Humanas e Sociais - Anotações de Aula - Rafael CostaDocumento9 páginasPrincipais Matrizes Teórico-Metodológicas Das Ciências Humanas e Sociais - Anotações de Aula - Rafael CostaAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Introdução às Ciências Humanas e SociaisDocumento4 páginasIntrodução às Ciências Humanas e SociaisAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Ciência e FilosofiaII-Rafael CostaDocumento5 páginasCiência e FilosofiaII-Rafael CostaAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Moura. David Hume-Notas e ComentáriosDocumento1 páginaMoura. David Hume-Notas e ComentáriosAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Revolução Científica - Anotações de Aula - RAFAEL COSTADocumento6 páginasRevolução Científica - Anotações de Aula - RAFAEL COSTAAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Borrão Seminári Agostinho MestradoDocumento1 páginaBorrão Seminári Agostinho Mestradorafael costaAinda não há avaliações
- Ciência e Filosofia V - Rafael CostaDocumento8 páginasCiência e Filosofia V - Rafael CostaAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Ciência e FilosofiaI-Rafael CostaDocumento4 páginasCiência e FilosofiaI-Rafael CostaAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Dioniso e PenteuDocumento1 páginaDioniso e PenteuAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Ética e Relações InterpessoaisDocumento25 páginasÉtica e Relações InterpessoaisAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Ética e Relações InterpessoaisDocumento25 páginasÉtica e Relações InterpessoaisAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- A Diferença Entre Ética e MoralDocumento2 páginasA Diferença Entre Ética e MoralAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- Hegel - Notas e EsboçosDocumento2 páginasHegel - Notas e EsboçosAnonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- A Luz Do Bem e o Brilho Do Belo - Notas e EsboçosDocumento4 páginasA Luz Do Bem e o Brilho Do Belo - Notas e Esboçosrafael costaAinda não há avaliações
- GT de Que Cor É A Beleza - Cartografia2016Documento2 páginasGT de Que Cor É A Beleza - Cartografia2016Anonymous NBnM53Z3YAinda não há avaliações
- Recup 4 Bim 1 Ano Ea 2015Documento3 páginasRecup 4 Bim 1 Ano Ea 2015Anonymous mmJHPjT4khAinda não há avaliações
- O Corpo Como Instrumento de PossibilidadesDocumento20 páginasO Corpo Como Instrumento de PossibilidadesJOAO FELIPE SANTOS ELIASAinda não há avaliações
- Uma estética da negritudeDocumento22 páginasUma estética da negritudeHumberto SchumacherAinda não há avaliações
- Resumo Didactica Da Filosofia IDocumento18 páginasResumo Didactica Da Filosofia ILeonel GasparAinda não há avaliações
- O Diaria de Um Ex-SuicidaDocumento187 páginasO Diaria de Um Ex-SuicidaJOAO PAULO PORTO RUIS RIBEIROAinda não há avaliações
- O Sentido Do Estético Na Modernidade e Na Pós-ModernidadeDocumento16 páginasO Sentido Do Estético Na Modernidade e Na Pós-ModernidadeAndré SoaresAinda não há avaliações
- Conto de Terror 6º e 7º Ano Do Ensino Fundamental II Autor Colégio Oswald de AndradeDocumento8 páginasConto de Terror 6º e 7º Ano Do Ensino Fundamental II Autor Colégio Oswald de AndradeDaniAinda não há avaliações
- Clive Bell. A Hipótese EstéticaDocumento10 páginasClive Bell. A Hipótese EstéticaOribê Espaço de CulturaAinda não há avaliações
- RenataMeins Aula2Documento14 páginasRenataMeins Aula2J R Quoos AlvesAinda não há avaliações
- Consultor Avon 2Documento120 páginasConsultor Avon 2mariaceliasilva2013Ainda não há avaliações
- Texto 2 DaniloDocumento16 páginasTexto 2 DaniloManoela BrandolinAinda não há avaliações
- Oficina de tranças nagôDocumento8 páginasOficina de tranças nagôMariana RangelAinda não há avaliações
- A Beleza Da Mulher de DeusDocumento5 páginasA Beleza Da Mulher de DeusJorge MacarioAinda não há avaliações
- O BeloDocumento19 páginasO BeloFernando HonaiserAinda não há avaliações
- A ressignificação da identidade negra através da transição capilarDocumento35 páginasA ressignificação da identidade negra através da transição capilarOi, tudo bem?Ainda não há avaliações
- A Arte da Sedução: 18 Tipos de Sedutores e VítimasDocumento5 páginasA Arte da Sedução: 18 Tipos de Sedutores e VítimasCriativas do BrasilAinda não há avaliações
- TCC FlaviaBastianDocumento36 páginasTCC FlaviaBastianmanuela.cobasAinda não há avaliações
- Fiodor Dostoiewski e Sua Visão Sobre o BeloDocumento1 páginaFiodor Dostoiewski e Sua Visão Sobre o BeloIane MeloAinda não há avaliações
- A importância da essência e do temperamento facialDocumento17 páginasA importância da essência e do temperamento facialIngrid VenturaAinda não há avaliações
- O Padrão Corporal Na Sociedade Do ConsumoDocumento4 páginasO Padrão Corporal Na Sociedade Do ConsumoLucas Santos100% (1)
- Resenha - Turistas e VagabundosDocumento4 páginasResenha - Turistas e VagabundosYasmin ArrudaAinda não há avaliações
- Apaixone-Se Por Si Mesmo - WALTER RISODocumento83 páginasApaixone-Se Por Si Mesmo - WALTER RISOhadina gomes100% (1)
- Friedrich Wilhelm Schelling - Bruno Ou Do Princípio Divino e Natural Das Coisas - Um Diálogo (1802)Documento48 páginasFriedrich Wilhelm Schelling - Bruno Ou Do Princípio Divino e Natural Das Coisas - Um Diálogo (1802)MeniteiAinda não há avaliações
- O Segredo Das 7 Leis HerméticasDocumento94 páginasO Segredo Das 7 Leis HerméticasAlison SantosAinda não há avaliações
- 11abordagens de Hegel e Gadamer em Volta Do BeloDocumento14 páginas11abordagens de Hegel e Gadamer em Volta Do BeloHenriques Lucas100% (1)
- Cartilha Do Artesanto CompetitivoDocumento21 páginasCartilha Do Artesanto CompetitivoGian Paulo GirottoAinda não há avaliações
- 1.4 - Fatima ToledoDocumento20 páginas1.4 - Fatima ToledoPablo RuedaAinda não há avaliações
- Proposta de Intervenção - Parque Na Lagoa Santa TerezaDocumento81 páginasProposta de Intervenção - Parque Na Lagoa Santa TerezaJessica TardivoAinda não há avaliações
- Comunicação magnética com os 7 sentidosDocumento32 páginasComunicação magnética com os 7 sentidosLuciana Bessa0% (1)
- Étienne Gílson - Introdução Às Artes Do Belo - o Que É Filosofar Sobre A Arte PDFDocumento215 páginasÉtienne Gílson - Introdução Às Artes Do Belo - o Que É Filosofar Sobre A Arte PDFEstela Maris50% (2)
- Arte na Pré-História e Grécia AntigaDocumento1 páginaArte na Pré-História e Grécia AntigaGRASIELA RETZLAFF DE ALMEIDAAinda não há avaliações