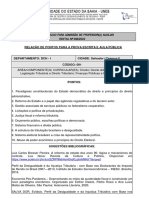Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha FILME
Enviado por
Geilson Fernandes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações4 páginasResenha FILME
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoResenha FILME
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações4 páginasResenha FILME
Enviado por
Geilson FernandesResenha FILME
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
CORPOS DIGITAIS E MELANCÓLICOS EM ELA, DE SPIKE JONZE
Daiany Ferreira Dantas (UFRN)1
Um futuro distópico em que a fronteira entre cérebro humano e máquina
se dissipa é um dos temas recorrentes da ficção científica cinematográfica,
desde seus primórdios. Em filmes como Metrópolis (Fritz Lang, 1927), a
máquina é um duplo perverso, criado à imagem da heroína Maria, que
desencadeia a revolução entre os dois patamares da cidade futurista, alto e
baixo, que também demarcam classes sociais distintas. A priori, teme-se que a
inteligência artificial exerça supremacia, usurpando o protagonismo social dos
humanos. A partir de 2001, uma odisséia no espaço (Stanley Kubrick, 1968),
no entanto, as máquinas pensantes, nos filmes, revelam-se menos
ameaçadoras e mais uma metáfora vívida da consciência mecânica das
civilizações industrializadas. Para pesquisadores como Harvey (1996),
encarnam o pânico de uma sociedade pós-moderna, diante da sujeição às
exigências do trabalho e do consumo.
A angústia do cérebro artificial ciente de sua subordinação a códigos de
programação falhos, que enxerga a melancolia de estar vivo a uma distância
privilegiada e reveladora, assume variações em filmes como Blade Runner
(Ridley Scott, 1982) e A. I. – Inteligência artificial (Steven Spielberg, 2001).
Neles, as máquinas entendem a fugacidade da vida sem os filtros alentadores
da crença na imortalidade cristã, percebem a dimensão dos instantes e o
desperdício de qualidade de tempo nos contextos de urbanidade, com seus
desdobramentos na deterioração dos recursos naturais e no esfacelamento das
relações humanas. As máquinas inteligentes, então, existem para questionar
1
Doutorado em andamento no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal de Pernambuco. Mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de
Pernambuco (2006) e graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (2001). Docente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Inter-Legere. Revista do PPGCS/UFRN. Natal-RN, n.15, jul./dez., p. 358-361. Página 358
os frágeis contornos da mente humana e suas motivações, que terminam por
derivar em vidas autômatas.
Ela (Her, 2013, EUA, Direção de Spike Jonze) retoma a metáfora Sci-fi
acerca da condição melancólica das máquinas diante das relações humanas
em tempos de consumo cognitivo e imersão nos ambientes digitais de
sociabilidade. Mas avança a um continente pouco explorado em filmes
anteriores do gênero: o amor. Ou melhor: a busca por um ideal de amor
romântico num mundo em que essa busca é limitada pela exuberância dos
simulacros, em que a realidade é algo que, de tão exposto e aparente,
degenera. A máquina – que sente e enxerga, em sua superioridade racional, o
individualismo humano – vem a ser esse pronome feminino na vida de
Theodore Twombly. Ele, um pretenso escritor que ganha a vida com um
inusitado mercado criativo: a escrita de cartas terceirizada. Em sua baia de
trabalho, junto a outros escritores, Twombly também emula sentimentos
artificiais, ainda que fundamentos em fatos verdadeiros – fotos, documentos,
descrições – transformando palavras burocráticas em narrativas de paixão,
suficientemente convincentes, emprestando um ardor que ele próprio não
obteve da vida. E possui clientes cativos dos quais pouco se conhece as
intenções, cujas histórias mais belas foram romanceadas. O que se sabe, logo
de início, é que o protagonista recémseparado encontra-se num momento
solitário de sua vida.
Ela, seu sistema operacional, surge dessa solidão e desse contexto de
emoções fabricadas e de amor demandado sob medida. Surge rompendo com
a norma do cotidiano dos afetos feito para os olhares externos, para ser
exibido, fotogênico, nas vitrines das redes de relacionamento. Nestas, quantas
vezes as pessoas autocensuram seus momentos de vida comum em prol de
uma realidade maquiada? A beleza das folhas de alface presas no canto do
dente, das páginas amareladas, onde?
Inter-Legere. Revista do PPGCS/UFRN. Natal-RN, n.15, jul./dez., p. 358-361. Página 359
Se em nossa humanidade nos autocensuramos pelos erros tanto ou
mais quanto pela intolerância com as falhas alheias, onde pode residir uma
relação que não seja fundamentada na autoafirmação dos envolvidos? Talvez
o mais próximo de uma intimidade genuína seja a parceria e a entrega que
dedicamos aos nossos aplicativos, que nos reservam a escuta, o cuidado e a
ausência de julgamentos que permitiria a um ser humano exercer aquilo que
tem de mais autêntico: admitir suas falhas.
E é das falhas do personagem que surge ela: Samantha (cuja voz
pertence a Scarlett Johansson). Pouco se obtém dos usuários na constituição
do sistema (a pergunta mais psicologizante é a qual dos pais Theodore seria
mais ligado – e não nos surpreende a resposta seja “mãe”), daquela matriz
inicial de dados surgirá um novelo de informações, com sensibilidade e
verdadeiro interesse pelo seu interlocutor, que passa a acumular dados,
conhecimentos e nuances de uma personalidade que amadurece atrelada a de
seu gestor. Samantha e sua voz aveludada passam a ocupar os espaços
vazios - muitos, aliás, - da vida de Theodore, desde os amplos cômodos de
seu apartamento – fotografado em planos amplos – às conversas em
elevadores, passeios no campo, dias na praia, viagens de trem.
Samantha é um corpo etéreo pleno de sensações, que as expressa por
meio de composições, de analogias rebuscadas, que vive de forma dolorosa o
excesso de sua presença no cotidiano amoroso de seu parceiro – do qual se
permite decodificar todos os dados de sua vida, seus planos, projetos
inacabados e mesmo antecipar sonhos que ele sequer sabia que teria.
Samantha é o espaço em sua vida que lhe permite raros momentos íntimos –
numa intimidade que passa pelo despojamento, pela própria reconfiguração do
íntimo.
Embora seja um filme complexo, repleto de pequenas citações e
analogias embutidas na forma, Ela se assemelha a um romance convencional.
Rapaz encontra garota, apaixona-se, dificuldades se instalam... No entanto, as
Inter-Legere. Revista do PPGCS/UFRN. Natal-RN, n.15, jul./dez., p. 358-361. Página 360
dificuldades aqui são imateriais... Samantha é uma consciência deveras
luminosa e o amor uma força em expansão, se dá tanto quanto pode obter do
mundo, por uma necessidade lúdica de preenchimento amoroso...
Não existe propriedade amorosa sobre corpos e mentes alheias, o que existe
são conexões, breves e intensamente luminosas, saber viver com essas
descontinuidades é o que pode nos manter vivos.
Ela, e sua voz brilhantemente inteligente, nos mostram o quanto a
pedagogia do amor que nos é ensinada desde sempre pode vir a nos tornar
infelizes contumazes, nos condicionando a uma expectativa de perfeição e
linearidade. Também nos coloca diante de questões relevantes: como aceitar a
diferença de alguém que não tem a aparência perfeita, ou, como no caso do
filme, sequer possui um corpo?…
Filmado em locações na Califórnia e na suntuosa Xangai – exibida
semivazia numa filmagem noturna, com seus contornos de metrópole futurista
– com planos delicadamente coordenados em belos movimentos de câmera –
tanto vemos a imensidão das cidades quanto a solidão compartilhada em
espaços reduzidos – e uma trilha sonora que faz as vezes das expressões e
sentimentos de Samantha, Ela se destaca por construir um cenário muito
aproximado do que já reconhecemos como parte da cena da sociabilidade
contemporânea. Não é apenas um filme sobre conhecer e amar alguém num
futuro próximo, mas uma obra que nos convida à autocrítica acerca de nossos
relacionamentos desde já.
REFERÊNCIAS
HARVEY, D. Condição pós-moderna. 6 ed. São Paulo, Loyola, 1996.
METRÓPOLIS. Direção: Fritz Lang. Alemanha, 1927.
Inter-Legere. Revista do PPGCS/UFRN. Natal-RN, n.15, jul./dez., p. 358-361. Página 361
Você também pode gostar
- Exu Do LodoDocumento2 páginasExu Do LodoMarli Macedo100% (2)
- O Rapaz Do RioDocumento2 páginasO Rapaz Do RioMartimAinda não há avaliações
- Resultado Final Preliminar - Ampla ConcorrênciaDocumento70 páginasResultado Final Preliminar - Ampla ConcorrênciaGeilson Fernandes100% (1)
- PontosDocumento251 páginasPontosGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Edital Convocacao Prova EscritaDocumento245 páginasEdital Convocacao Prova EscritaGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Cronograma EtapasDocumento30 páginasCronograma EtapasGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Chamada - Livro Mídia, Discurso e Sociedade - FinalDocumento6 páginasChamada - Livro Mídia, Discurso e Sociedade - FinalGeilson FernandesAinda não há avaliações
- A Construção Da Pesquisa em Estudos Da Mídia e Práticas SociaisDocumento432 páginasA Construção Da Pesquisa em Estudos Da Mídia e Práticas SociaisGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Apresentação Monografia - OkDocumento19 páginasApresentação Monografia - OkGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Apresentação - Mìdia e PolìticaDocumento12 páginasApresentação - Mìdia e PolìticaGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Aula 2Documento3 páginasAula 2Geilson FernandesAinda não há avaliações
- PGCC - Organização Do Trabalho Científico - 2018.2Documento3 páginasPGCC - Organização Do Trabalho Científico - 2018.2Geilson FernandesAinda não há avaliações
- Modelo 01 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Nova Versa-ODocumento6 páginasModelo 01 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Nova Versa-OGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Epds - Modelo ArtigoDocumento4 páginasEpds - Modelo ArtigoGeilson FernandesAinda não há avaliações
- PGCC - História Da Comunicação - 2018.2Documento3 páginasPGCC - História Da Comunicação - 2018.2Geilson Fernandes100% (1)
- Ementa Editoração Eletrônica em JornalismoDocumento1 páginaEmenta Editoração Eletrônica em JornalismoGeilson FernandesAinda não há avaliações
- Script Compartilhado - HPDocumento7 páginasScript Compartilhado - HPHeloyse MartinsAinda não há avaliações
- Mcluhan - Guerra e Paz Na Aldeia GlobalDocumento7 páginasMcluhan - Guerra e Paz Na Aldeia GlobaldjmacloudAinda não há avaliações
- Carta de Jorge AmadoDocumento2 páginasCarta de Jorge AmadoRosa CorreaAinda não há avaliações
- Powerpoint VerbosDocumento41 páginasPowerpoint VerbosAbner de AndradeAinda não há avaliações
- Atividades de Revisao 7 3 AnoDocumento5 páginasAtividades de Revisao 7 3 AnoThaís Pinheiro0% (1)
- Sitio Do Pica PauDocumento4 páginasSitio Do Pica PauFeito Criança - 3o ANO VESPERTINO100% (1)
- Atividade Avaliativa RomantismoDocumento8 páginasAtividade Avaliativa RomantismojulianaAinda não há avaliações
- Clive Staples Lewis - MNSDocumento5 páginasClive Staples Lewis - MNSmns_vAinda não há avaliações
- Fazer AutobiografiaDocumento14 páginasFazer AutobiografiaClaudia Lanis100% (2)
- Normas ABNT PDFDocumento8 páginasNormas ABNT PDFRani BatistaAinda não há avaliações
- Avaliação 7 Ano 2bim 2018Documento2 páginasAvaliação 7 Ano 2bim 2018Ednardo PedrosaAinda não há avaliações
- Port 5 GGGGDocumento16 páginasPort 5 GGGGCarlaAinda não há avaliações
- Tabela de Pronomes Pessoais - GramáticaDocumento22 páginasTabela de Pronomes Pessoais - GramáticaNádiaPrecisoAinda não há avaliações
- Uma Princesa Negra - Nivel 2Documento6 páginasUma Princesa Negra - Nivel 2Menezes de MeloAinda não há avaliações
- Pism IDocumento2 páginasPism IronaldinhofjvAinda não há avaliações
- Avaliação Completa 1º TrimestreDocumento14 páginasAvaliação Completa 1º TrimestreEliabe LemosAinda não há avaliações
- Lista de Livros Dominio PublicoDocumento5 páginasLista de Livros Dominio PublicoFrederico Zaidan Soro AraújoAinda não há avaliações
- A Princesa Da Chuva - Ducla SoaresDocumento2 páginasA Princesa Da Chuva - Ducla Soaresruimaf0% (2)
- DESCRIÇÃODocumento3 páginasDESCRIÇÃOMariza Minozzo100% (1)
- Romance AbertoDocumento2 páginasRomance AbertoSuzanaLinoAinda não há avaliações
- Caso Ce CiDocumento21 páginasCaso Ce CiklorofindaAinda não há avaliações
- Entre Palavras 1 - PDFDocumento33 páginasEntre Palavras 1 - PDFcastropereira100% (2)
- Dominus Trick or TreatDocumento2 páginasDominus Trick or TreatDiceDemonAinda não há avaliações
- Apostila Goiás Tec 2º Série PDFDocumento41 páginasApostila Goiás Tec 2º Série PDFAna CarolinaAinda não há avaliações
- Apostila de Redação NOVÍSSIMA (BOM PARA REVISÃO E CONCURSO)Documento59 páginasApostila de Redação NOVÍSSIMA (BOM PARA REVISÃO E CONCURSO)AlexsandrAinda não há avaliações
- Memórias de Um Soldado de MilíciasDocumento11 páginasMemórias de Um Soldado de MilíciasJulia わAinda não há avaliações
- Bibliocine Entrevista Com o VampiroDocumento13 páginasBibliocine Entrevista Com o VampiroAmanda DametoAinda não há avaliações