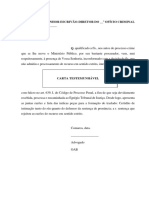Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
RESPOSTAS
RESPOSTAS
Enviado por
Leontina Costa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações6 páginasTítulo original
RESPOSTAS.docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações6 páginasRESPOSTAS
RESPOSTAS
Enviado por
Leontina CostaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
RESPOSTAS
1) As lutas sociais foram decisivas para a aceleração da passagem do Estado
Liberal para o Estado Social, como bem destaca Boaventura de Sousa Santos (1995,
p.165):a "igualdade dos cidadãos perante a lei passou a ser confrontada com a
desigualdade da lei perante os cidadãos", forçando o delineamento de um Estado:
"ativamente envolvido na gestão dos conflitos e concertações entre classes e grupos
sociais ,e aposta do na minimização possível das desigualdades sociais”. Neste
contexto, a lei passa a ser a possibilidade concreta de intervenção estatal, o que levou à
uma modificação do equilíbrio na correlação de forças dos poderes estatais. Se, no
período anterior, o Poder Legislativo assumia uma certa preponderância sobre os
demais, no Estado Social está preponderância será assumida pelo Poder Executivo.
O Estado Social passou a exercer o papel de fomentador das garantias
sociais, assumindo assim, "a gestão da tensão que ele próprio cria, entre justiça social e
igualdade formal; dessa gestão são incumbidos, ainda que de modo diferente, todos os
órgãos e poderes do Estado", conforme afirma Boaventura de Sousa Santos (1996, p.35-
44). Nesse aspecto, o Poder Judiciário que, após a consagração dos direitos sociais (de
segunda dimensão) no texto constitucional, passa a exercer uma prestação positiva, ou
seja, um papel mais interventivo junto às necessidades sociais. Diferentemente do que
ocorria no Estado Liberal, que cumpria o papel de garantido dos direitos civis (de
primeira dimensão), por intermédio da sua não-intervenção junto à sociedade.
Nos anos de 1970, o Estado Social passa a ser alvo de diversas crises,
inicialmente pautadas pelas discussões acerca da questão do financiamento do Estado-
incapacidade de arrecadação dos impostos, por parte do Estado, para a realização das
demandas sociais crescentes e pungentes, com a estagnação das economias mundiais,
gerando uma crise econômica de produção por um lado e, por outro, o consequente
aumento das despesas sociais, desequilibrando a relação de despesas e receitas das
contas públicas. Em continuidade, já nos anos 80, torna-se clara a complexidade da
crise, que passa a atingir outros dois aspectos do Estado Social: o ideológico e o
filosófico. A crise ideológica pode ser entendida como a crise da legitimação do Estado
Social, na medida em que a relação existente entre Estado e sociedade civil é tão
distante que esta não participa na execução das atividades daquele, criando uma
situação de oposição entre as duas esferas. A sociedade espera a resolução de seus
problemas, por meio de políticas do Estado, mas ao mesmo tempo, não reconhece as
medidas governamentais suficientemente legítimas para suas necessidades. A busca de
possíveis soluções à crise, ganha destaque, nos mesmos anos 80, o projeto neoliberal,
que diante da incapacidade de reformulação do Estado Social, propõe um retorno à não
intervenção estatal.
Uma das mais severas consequências desta crise no âmbito dos poderes
estatais é a perda do monopólio de suas funções: o monopólio de produção do Direito é
quebrado pelo surgimento de outros focos de elaboração legislativa (surgimento da lex
mercatoria, por exemplo), que desembocam numa espécie de caos normativo ou perda
de unidade do sistema. No âmbito do Judiciário, a crise do monopólio estatal da
resolução dos conflitos é sentida, em parte, pelo excesso de litígios judiciais, pois o
aumento da litigância engendra uma queda do desempenho jurisdicional, como
apontado por Boaventura de Sousa Santos (1996, p.38): "a massificação da litigação
desse origem a uma judicialização rotinizada, com os juízes a evitar sistematicamente os
processos e os domínios jurídicos que obrigassem a estudo ou decisões mais complexas,
inovadoras ou controversas". Se, no início do Estado Social os tribunais tiveram que
decidir entre uma política de maior intervenção junto à sociedade, opondo-se muitas
vezes aos outros poderes, ou uma postura mais de neutralidade, como no Estado
Liberal; na crise do Estado Social, o dilema vivido pelos tribunais é muito mais
profundo. Isto porque, da sua interferência junto aos casos mais complexos depende a
sobrevivência da confiança no Judiciário, e não mais apenas um debate sobre as
definições das políticas sociais a serem adotada.
2) A expressão “tripartição de poderes” é considerada imprópria pela doutrina, já
que o poder, que emana do povo, é um só, indivisível e indelegável. Ele apenas se
manifesta por meio de órgãos estatais exercendo suas funções.
Essas funções são, portanto, a forma como o Estado manifesta sua vontade,
e os órgão são instrumentos que ele utiliza para o seu exercício. Porém, todos os atos do
Estado, em suas diversas formas, decorrem de um poder único. A correspondência entre
a função e o órgão que a exerce é decorrência de uma separação orgânica do poder,
estabelecida pela Constituição. É o que se observa, por exemplo, nos artigos 44 (poder
legislativo), 76 (pode executivo) e 92 (poder judiciário) da Constituição de 1988.
Dessa forma, a expressão “tripartição de poderes” carece de rigor técnico.
Porém, é bastante utilizada, inclusive no próprio texto constitucional, a exemplo do art.
2º, que utiliza o termo “poderes”, que, neste caso, deve ser compreendido como
“órgãos”.
A teoria de tripartição de poderes de Montesquieu foi adotada pela maioria
dos Estados modernos, porém de forma atenuada, dada suas realidades sociais e
históricas. Há neles uma interpenetração entre os poderes, o que abranda a separação
absoluta estabelecida originalmente pela teoria.
Dessa forma, cada órgão exerce tanto funções típicas, inerentes à sua
natureza, como funções atípicas, ou seja, da natureza dos demais órgãos. Porém, não há
ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que todas as
competências desses órgãos, típicas ou não, são conferidas expressamente pela
Constituição.
Em relação ao poder legislativo brasileiro, por exemplo, são suas funções
típicas a edição de regras gerais e abstratas que inovam a ordem jurídica, bem como a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do poder executivo. Porém,
esse poder exerce funções atípicas quando dispõe sobre a sua organização, cargos e
servidores (função típica do executivo) e quando o Senado julga o Presidente da
República em crimes de responsabilidade (função típica do judiciário).
O poder executivo, em sua função típica, mais do que executar as leis,
exerce atos de administração e chefia do Estado e do governo. Atipicamente, por
exemplo, o Presidente da República edita Medidas Provisórias, com força de lei (função
típica do legislativo), e julga recursos administrativos (função típica do judiciário).
Finalmente, o poder judiciário, como funções típicas, aplica as regras legais
aos casos concretos e resolve conflitos de interesse. Porém, exerce funções atípicas
quando edita o regimento interno de Tribunais (função típica do legislativo) e concede
licença a servidores e magistrados (função típica do executivo).
3) É muito comum que os operadores do Direito façam confusão quanto à definição
e aplicação destes institutos. Abaixo apresentarei resumidamente acerca de suas
diferenças:
Coisa julgada formal tem relação com a impossibilidade de reforma da
sentença, seja de mérito ou não, num determinado processo (instrumento). Exemplo:
Uma sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência do autor
à audiência, num processo que tramitou nos Juizados Especiais Cíveis, e tenha
transitado em julgado, faz identificar a coisa julgada formal.
Por sua vez, quando a sentença de mérito, de procedência ou improcedência,
transita em julgado, além de fazer coisa julgada formal [não pode ser modificada
naquele processo, vez que tornou-se irrecorrível] também faz coisa julgada material,
pois a matéria ou o direito material já foi objeto da prestação jurisdicional, e esta não
pode ser julgada novamente. A coisa julgada material difere da coisa julgada formal
pela sua amplitude, ou seja, enquanto nesta não houve resolução de mérito – a matéria
poderá ser objeto de nova demanda -, naquela há resolução de mérito, sem possibilidade
de nova apreciação da matéria discutida. Portanto, podemos resumir da seguinte forma:
Coisa julgada formal é fenômeno jurídico que reconhece a irrecorribilidade
de uma sentença, de mérito ou não, num determinado processo.
Coisa julgada material é o fenômeno jurídico que torna imutável uma
sentença de mérito naquele ou em qualquer outro processo (com exceção do uso da
Ação Rescisória).
4) No âmbito do Direito Administrativo, existem dois tipos de sistemas básicos de
controle da Administração Pública: o inglês e o francês. José dos Santos Carvalho Filho
ensina que sistema de controle é um conjunto de instrumentos contemplados pelo
ordenamento jurídico que tem por fim fiscalizar a legalidade dos atos da Administração.
No Brasil, além do controle jurisdicional, a Administração Pública controla os próprios
atos, podendo revogá-los ou modificá-los.
O sistema francês, também denominado sistema do contencioso
administrativo e sistema da dualidade de jurisdição, possui como principal
característica a existência de uma Justiça Administrativa, cujo funcionamento independe
da atividade da Justiça do Poder Judiciário. Além disso, a competência da Justiça
Administrativa incide sobre litígios onde em um dos polos figura necessariamente a
Administração Pública. Na França, em caso de conflito de competência, o impasse é
resolvido pelo Tribunal de Conflitos, criado justamente com este escopo.
Destarte, as causas julgadas pela Justiça Administrativa não podem ser
revistas pela Justiça Judiciária, exatamente porque as competências são distintas e
porque as decisões proferidas por ambas as Justiças constituem coisa julgada. Por fim,
vale dizer que este é o sistema adotado na França, na Itália e em alguns outros países
europeus.
Em contrapartida, o sistema inglês, também chamado de sistema do
monopólio de jurisdição e sistema da unidade de jurisdição, tem como principal
característica o fato de que todos os litígios são sujeitos à apreciação e à decisão do
Poder Judiciário, titular da função jurisdicional. Portanto, decisões tomadas no âmbito
administrativo podem ser levadas às vistas do Poder Judiciário.
Com efeito, este é o sistema adotado por Estados Unidos, Inglaterra,
México, Brasil e alguns outros países. Inclusive, nosso ordenamento pátrio
expressamente optou por este sistema, pois prevê que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV). Além disso, em
consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, em regra, não é necessário o
esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela
fornecida pelo Poder Judiciário.
REFERÊNCIAS
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed.,
2014.
CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª ed., 2015.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas. In:
Revista Brasileira de Ciências Sociais, n.30, ano11, fev, 1996, p.35-44.
______. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo:
Cortez,1995, p.165.
Você também pode gostar
- Recurso de ApelaçãoDocumento4 páginasRecurso de ApelaçãoLiniker Vaz100% (4)
- Aula 04 - POLÍTICA NACIONAL DE DHDocumento49 páginasAula 04 - POLÍTICA NACIONAL DE DHTonyAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado - PCCE - INSPETORDocumento9 páginasEdital Verticalizado - PCCE - INSPETORRodrigo OliveiraAinda não há avaliações
- GdibgeDocumento12 páginasGdibgeJulio JuniorAinda não há avaliações
- Contrato Com Mimbos Resources LdaDocumento3 páginasContrato Com Mimbos Resources LdaKadolo ChimbiliAinda não há avaliações
- Atos Do Chefe Do Poder ExecutivoDocumento58 páginasAtos Do Chefe Do Poder ExecutivoChuckAinda não há avaliações
- Lei Orgânica de Conceição Do JacuípeDocumento48 páginasLei Orgânica de Conceição Do JacuípeRafael FreitasAinda não há avaliações
- Recurso Extraordinário WellDocumento6 páginasRecurso Extraordinário Wellsara americoAinda não há avaliações
- 23 - Lei Moral e DireitoDocumento3 páginas23 - Lei Moral e DireitoMARCIO APARECIDO PINHEIROAinda não há avaliações
- Ficha Cadastral Pessoa Física v2019!04!10Documento2 páginasFicha Cadastral Pessoa Física v2019!04!10Nilton RastaAinda não há avaliações
- Direitos Reais I - ResumoDocumento2 páginasDireitos Reais I - ResumoBruna AlmeidaAinda não há avaliações
- Lord Acadmey Reedit Editalpp44motoniveladoraDocumento20 páginasLord Acadmey Reedit Editalpp44motoniveladorajrjr jrjrjrAinda não há avaliações
- TRT3 - Acórdão 0010890-61.2017.5.03.0141Documento7 páginasTRT3 - Acórdão 0010890-61.2017.5.03.0141RogerioAinda não há avaliações
- Mapa Mental Processo Do TrabalhoDocumento3 páginasMapa Mental Processo Do TrabalhoAndreIgayaraAinda não há avaliações
- Eb Direito Do Trabalho Na Administracao Publica IDocumento311 páginasEb Direito Do Trabalho Na Administracao Publica IFrancisco Cardoso DiasAinda não há avaliações
- Carta Testemunhavel - TrabalhoDocumento5 páginasCarta Testemunhavel - TrabalhogabrielgarretAinda não há avaliações
- A Importância Do Direito Aplicado À HotelariaDocumento51 páginasA Importância Do Direito Aplicado À HotelariaMarcellus GiovanniAinda não há avaliações
- Modulo de Titulos de Credito 2013 Slides IBDN Pablo ArrudaDocumento236 páginasModulo de Titulos de Credito 2013 Slides IBDN Pablo ArrudaTatiana ReimolAinda não há avaliações
- Questão 11Documento6 páginasQuestão 11Roger Vieira da SilvaAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Sueli - Mulheres em Movimento, Contribuições Do Feminismo NegroDocumento10 páginasCARNEIRO, Sueli - Mulheres em Movimento, Contribuições Do Feminismo NegroRLeicesterAinda não há avaliações
- Direito Processual Do Trabalho - Contestação, Prescrição, Decadência e CompensaçãoDocumento3 páginasDireito Processual Do Trabalho - Contestação, Prescrição, Decadência e CompensaçãoCarlos Farias JúniorAinda não há avaliações
- Clube Do Livro Liberal - Alexis de Tocqueville - Democracia Na America (Fragmentos)Documento30 páginasClube Do Livro Liberal - Alexis de Tocqueville - Democracia Na America (Fragmentos)igorcfranco100% (4)
- Número: 0019632-33.2022.8.17.8201Documento305 páginasNúmero: 0019632-33.2022.8.17.8201MARIA IZABELE GALINDO OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Questões Modalidades de LançamentoDocumento2 páginasQuestões Modalidades de LançamentoAlmir PedrottiAinda não há avaliações
- Cidadania Na Modernidade: Dilemas e Paradoxos Na Construção de Um ConceitoDocumento14 páginasCidadania Na Modernidade: Dilemas e Paradoxos Na Construção de Um ConceitoraissalusAinda não há avaliações
- Lavratura Do Auto de Prisão em Flagrante DelitoDocumento3 páginasLavratura Do Auto de Prisão em Flagrante DelitoLigia Camolesi TonioloAinda não há avaliações
- Poder LegislativoDocumento13 páginasPoder LegislativoRicardo SilvaAinda não há avaliações
- Avaliação Final Nota Máxima 100,00Documento18 páginasAvaliação Final Nota Máxima 100,00Amanda Martins100% (1)
- Atos Do Poder Executivo: Publicado No DOERJ De1 DE ABRIL DE 2019Documento3 páginasAtos Do Poder Executivo: Publicado No DOERJ De1 DE ABRIL DE 2019Francisco BragaAinda não há avaliações
- Modelo-Instrumento-Particular-De-Confissao-De-Divida-Souza Moveis-Guarda-RoupraDocumento2 páginasModelo-Instrumento-Particular-De-Confissao-De-Divida-Souza Moveis-Guarda-RoupraAndré LuizAinda não há avaliações