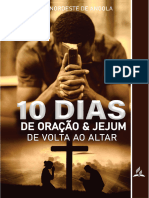Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2052-Texto Do Artigo-7884-1-10-20150709
2052-Texto Do Artigo-7884-1-10-20150709
Enviado por
Marciele ZugeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2052-Texto Do Artigo-7884-1-10-20150709
2052-Texto Do Artigo-7884-1-10-20150709
Enviado por
Marciele ZugeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista de Direito A INTERPRETAÇÃO VOLUNTARISTA NA
Vol. XI, Nº. 11, Ano 2008
TEORIA PURA DO DIREITO: ESBOÇO
RESUMO
Guilherme Camargo Massaú
Faculdades Atlântico Sul - Pelotas O texto objetiva, sumariamente, expor uma perspectiva da inter-
uassam@gmail.com pretação voluntarista na Teoria Pura do Direito. O ponto de vista
adotado pelo autor insere o aspecto voluntarista na aplicação do
Direito, implementado conjuntamente com a interpretação, ou me-
lhor, neste mesmo intento interpretativo o voluntarismo, estrategi-
camente esquematizado na moldura jurídica hierarquizada, ofere-
ce a possibilidade de o órgão emitir a decisão, eleger, dentre as
inúmeras possibilidades de sentidos oferecidos pela norma, a hi-
pótese mais adequada para aplicação ao caso concreto. Logo, esse
processo retira do âmbito cognitivo a interpretação, como essência
do ato decisório e atribui ao intelectivo-volitivo à aplicação do Di-
reito; não é mais na ciência do Direito que se realiza a aplicação,
mas na esfera da político-jurídica.
Palavras-Chave: Interpretação, voluntarismo, Kelsen, teoria pura do
direito, sistema jurídico
ABSTRACT
The text aims summarily, exposing a perspective of the interpreta-
tion proactive in the Pure Theory of Law. The view adopted by the
author inserts look proactive in the implementation of the law,
implemented jointly with the interpretation, or rather, in this same
intent interpretative the proactive, strategically in hierarchical le-
gal framework, it offers the possibility of the agency issuing the
decision, elect, among the many possibilities offered by the stan-
dard of senses, the most appropriate for application to the case.
Therefore, this process removes the scope cognitive interpretation,
as essence of the act and decision arbitrary attaches to the imple-
mentation of the law, is no longer in the science of law which
makes the application, but in the sphere of political and legal.
Keywords: Interpretation, voluntarism, Kelsen, pure theory of law, legal
system.
Anhanguera Educacional S.A.
Correspondência/Contato
Alameda Maria Tereza, 2000
Valinhos, São Paulo
CEP. 13.278-181
rc.ipade@unianhanguera.edu.br
Coordenação
Instituto de Pesquisas Aplicadas e
Desenvolvimento Educacional - IPADE
Artigo Original
Recebido em: 15/03/2008
Avaliado em: 20/06/2008
Publicação: 11 de agosto de 2008
7
8 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
1. INTRODUÇÃO
O assunto em voga aborda pequena parte do pensamento de um dos mais expressivos
juristas da época moderna, Hans Kelsen, a teoria da interpretação no seu afamado li-
vro: Teoria Pura do Direito. Seu pensamento, fruto profícuo de seu tempo, no entanto,
foi interpelado por questões políticas que mancharam suas concepções científicas em
relação ao Direito, principalmente no período de guerra. O regime político-jurídico do
nacional-socialismo se apropriou de doutrinas expostas pela concepção kelseniana. A-
lém dessa utilização política, houve o desgaste que a teoria pura sofreu com os ataques
contra as pretensões contidas no pensamento do autor, concepções científicas de neu-
tralidade que tornaram o sistema jurídico estéreo e incapaz de responder às exigências
de uma realidade social que, na época, sentia todas as conseqüências trágicas da Se-
gunda Guerra Mundial. A obra e o pensamento de Kelsen são de tamanha envergadu-
ra e complexidade que meras palavras num opúsculo são insuficientes para captá-la
em sua essencialidade. Por isso, justifica-se a necessidade de ressaltar para aprofundar,
num sentido de complementação, outros pontos que confluem com esse, como a con-
cepção da norma fundamental (Grundnorm) e o sistema hierarquizado do ordenamento
jurídico.
A intenção primordial, neste momento, é refletir sobre o método voluntarista
de interpretação exposto na Teoria Pura do Direito, no sentido de evidenciar seus as-
pectos fundamentais, numa tentativa de compreensão, ou seja, compor uma ilustração
do pensamento desse jurista com a finalidade de clarificar o entendimento interpreta-
tivo esboçado em sua Teoria. A novidade inserida por Kelsen está em considerar a in-
terpretação como ato de vontade, dentro dos limites moldurais do sistema normativo.
Dentre aqueles significados apresentados, o intérprete usará sua vontade na determi-
nação do sentido a ser empregado na concretização do Direito, observando a conexão
com a estrutura escalonada do sistema jurídico. Logo, o autor considera a instituição
da norma inferior como um ato constitutivo de Direito, até mesmo a sentença judicial
não tem somente o efeito meramente declarativo, mas constitutivo, pois a norma hie-
rarquicamente superior não pode determinar exaustivamente todas as direções possí-
veis que a inferior pode seguir e assim por diante, até a individualização e aplicação da
norma (do geral ao particular). Por isso, o voluntarismo de Kelsen se encaixa em sua
teoria escalonada das normas.
A interpretação voluntarista, na Teoria Pura do Direito, não se refere direta-
mente à corrente que busca a vontade da lei ou do legislador (como a objetivista e a sub-
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 9
jetivista). Não é o intuito do legislador, em sua época circunstancial, que determina o es-
forço cognitivo do intérprete, embora ele possa utilizar-se desse conhecimento para
considerar as várias hipóteses. Tampouco a vontade emanada da lei, como única, pre-
valece na interpretação kelseniana. Claro está que não se ignora uma possível vontade
da lei pois, no fundo, o intérprete se utiliza da semântica e seus signos com vários sen-
tidos para escolher o mais adequado ao caso concreto. No entanto, não fica agrilhoado
pela suposta vontade iminente ou imanente da lei. O voluntarismo aqui ultrapassa a
simples ordem ao juiz (dura lex, sed lex), possibilitando-lhe empregar uma medida de
discricionariedade na escolha da hipótese possível e passível de aplicação. Neste mo-
mento, o intérprete ultrapassa as fronteiras da Ciência do Direito e se ambienta na
senda da político-jurídica.
Em suma, está-se diante de uma possibilidade de compreender a interpretação
e a aplicação do Direito de uma maneira distinta do clássico entendimento e apego à
letra da lei com sua única verdade, como único sentido, ou seja, única solução corres-
pondente ao caso concreto, a qual, pela simples subsunção, responderia, juridicamente,
ao problema concreto. A crença da precisão verbal e intelectual do legislador, capaz de
confeccionar textos precisos e sem margem de erros ou dúvidas, ficou no século XVIII.
Cabe agora atribuir ao jurista, aqui especificamente ao intérprete, a responsabilidade
de realizar um trabalho “criador ou desvelador” do Direito, como propõe o caput scolae
da Teoria Pura do Direito, pois o seu voluntarismo ocasionou de certa forma, uma rup-
tura nas concepções tradicionais.
2. BREVE PERSPECTIVA
A hermenêutica assume, hoje em dia, um papel de destaque no mundo-jurídico por de
seus aportes teóricos. Ela fornece subsídios fundamentais para a compreensão das re-
lações e do atual mundo complexo e, em determinadas teorias, assume a própria cons-
tituição (o entendimento total) do mundo-da-vida. É de constatar a grande evolução nas
técnicas interpretativas, justamente pela necessidade de superar os modelos clássicos,
os quais não conseguiam satisfazer as exigências decorrentes da dinâmica social que
deixavam as respostas, no caso jurídico, aquém da expectativa de uma justiça. Ao ul-
trapassar a fronteira do positivismo formalista, começou-se a exigir do Direito uma
perspectiva de justiça (-social) na aplicação de suas normas. Para isso se tornou viável,
com a manutenção do corpo legislativo, juristas e juízes captaram, das teorias da lin-
guagem, os conhecimentos capazes de serem empregados na esfera jurídica, além de
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
10 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
terem suas atividades (de decisão) de criação do direito reconhecidas (MIRANDA,
2000, p. 220-222). Também a hermenêutica se espalhou por todos os outros campos do
conhecimento humano, principalmente na filosofia, como no caso de Heidegger, que
concentra na linguagem (HEIDEGGER, 1946, p. 5)1, a compreensão das inúmeras im-
plicâncias contidas no Ser. Em conformidade com isso, a lei se constitui numa forma de
comunicação humana.
Atualmente, distante de passar pelo seu sentido etimológico mais primário
advindo do Deus da mitologia grega Hermes, intérprete da vontade divina2, a herme-
nêutica cuida de embasar as interpretações intencionadas a alcançar um sentido mais a-
lém da vontade “divina” (do legislador). Ela busca um entendimento de esforço consi-
derável para atingir uma concepção de justiça por meio do texto legal. Poderia ela par-
tir de outra base, como no sistema da common law, mas o intérprete, em nosso sistema,
deve aplicar as técnicas inicialmente sobre os textos legais. Significa que os clássicos
métodos interpretativos se encontram esgotados, pelo menos em determinados aspec-
tos, quando se defronta com uma realidade social. No entanto, não são de todo despre-
záveis, até mesmo devido à importância de terem estabelecido regras interpretativas
logicamente consolidadas que a nova hermenêutica não pode dispensar. A segurança e a
certeza do raciocínio lógico dos métodos clássicos contribuem para a elaboração dos
novos métodos; inclusive o jurista tem dificuldades, por vezes, de se desfazer dos pa-
râmetros clássicos por constituírem esquemas consolidados de uma época, muito em-
bora tenham eles as limitações apresentadas pela ratio moderna diante da pluralidade
problemática hodierna.
As escolas jurídicas surgidas ao longo do tempo se caracterizaram pelo em-
prego de formas interpretativas, desde o medievo até a modernidade. É justamente na
modernidade que os esquemas interpretativos ganharam efetivos destaques, com re-
flexões voltadas à análise das concepções teóricas e dos mecanismos integrantes de to-
do o esquema hermenêutico; não implica que, no período pré-moderno, a interpretação
não tenha sido relevante. Pelo contrário, os textos sagrados e os jurídicos (considera-
dos, por épocas, divinos) precisavam da ars interpretativa para alcançar os ditames di-
vinos contidos na lei. A escola dos glosadores é o marco desta época.
No decorrer do desenvolvimento da ratio jurídica, o intérprete começou a des-
vincular-se da vontade divina dos textos sagrados, inclusive a própria letra deles, sob
1Essa implicação pode ser destacada na seguinte passagem: “Die Sprache ist das Haus des Seins. In Ihrer Behausung
wohnt der Mensch.” (“A linguagem é a casa do Ser. Em sua habitação vive o Homem.” - tradução livre).
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 11
os olhos do hermeneuta, transitou do sagrado ao profano. Na escola dos comentadores,
esse movimento de dessacralização do texto tornou-se evidente; considerava-se a opi-
nio communis doctorum como condição de verdade do significado da letra legal e a opi-
nião dos doutores era igual ou mais importante que o sentido abstraído diretamente da
littera. Portanto, a interpretação estava estritamente vinculada à discussão e à opinião
dos doutores, que se estendiam, através da dialética escolástica, por citações e trechos
justificativos de fragmentos do Corpus Iuris Civilis. A escola humanista, numa atitude
clássica, perseguiu o sentido radical do Direito estudado nas Universidades; logo, a re-
levância que esses escolares davam à filologia, ao latim, ao grego, aos textos de autores
clássicos da Grécia e de Roma e à história, que indicam o sentido prescrutado pelos
humanistas. Por conseguinte, a atividade interpretativa envolvia uma visão multidisci-
plinar para se alcançar o entendimento do texto legal, não bastava o isolamento da letra
e de cada palavra, mas urgia um conjunto de informações construídas por elementos
advindos dessas várias áreas do conhecimento (o jurista era considerado um erudito) –
davam o sentido do Direito.
Nota-se que, durante o medievo o jurista trafegava entre o direito canônico e o
direito civil3, formando o sistema do Utrumque Ius (SCHRAGE, 1992, p. 277-278); dessa
forma, era considerado jurista completo aquele que detinha o conhecimento dessas
duas áreas. Em conseqüência, o conhecimento do intérprete nessas condições estava
voltado a uma interpretação relativamente mais teleológica, pois considerava uma di-
versidade de aspectos, que uma interpretação gramatical não alcança. No entanto, a fi-
lologia das palavras, principalmente com os glosadores, não era posta em segundo pla-
no, mas concorria e contribuía para a tarefa do jurista.
A ratio moderna traz outros parâmetros considerativos da visão jurídica; as in-
terferências da lógica científica (BARROSO, 2006, p. 277-278), da segurança e da certe-
za atingiram a forma de constituir e esquematizar o Direito. A visão-de-mundo, de certa
forma, inverte-se, passa da compreensão da vontade divina para o entendimento da
vontade do legislador; nisso encontra-se implicado, a redução moderna do ius à lex, di-
ferente da realidade jurídica vivenciada na época medieval (com a sua peculiar plurali-
dade de fontes). Conseqüentemente, o intérprete moderno vai buscar, através da letra
2 A palavra hermenêutica advém do grego hermeneúein que significa interpretar; na mitologia grega Hermes era o in-
terprete da vontade divina. (HERKENHOFF, 1997, p. 5).
3 O poder político do monarca era regido por esses dois direitos e conforme a época, o direito canônico legitimava o
poder do rei. Além do mais, esses dois direitos dividiam uma espécie de jurisdição, por exemplo: para as coisas que di-
ziam respeito ao mundano, predominava as normas civis, no que tangia o sagrado ou coisas do espírito, o direito ca-
nônico prevalecia. Mas nem tudo era claro na separação entre o espírito e a matéria, por isso, e conforme a época, um
direito se sobrepunha ao outro quando existia conflito de normas (ou interpretação dessas normas).
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
12 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
da lei, o sentido da regra ou a vontade do legislador, daí as teorias objetivas e subjeti-
vas. Logo, a aplicação de determinados esquemas metodológicos delimitam atuação do
interprete e sua posição técnico-jurídica diante do labor político-jurídico, nesta época com
grande influência de concepções científicas.
Assim, os métodos gramatical (filológico ou literal), o teleológico, o histórico,
o lógico (ou racional) (HERKENHOFF, 1997, p. 13-30)4, o sistemático (ou orgânico) e o
sociológico5 representam quadros mentais de escolas jurídicas desenvolvidas durante
época conceitualmente moderna. Apenas, em relação ao método sociológico, a inter-
pretação do Direito ganha ares mais críticos voltados à realidade do que se passa na
sociedade, conjuntamente com a tentativa de empregar o ordenamento jurídico favo-
ravelmente, de modo a satisfazer as necessidades sociais ao tempo da interpretação. Ul-
trapassados determinados paradigmas da modernidade, embora se aceitem e se utili-
zem muitos, na contemporaneidade está-se procurando outros métodos mais adequa-
dos às necessidades emergentes da pluralidade e da complexidade vivenciadas. Por
exemplo, o método tópico (e os métodos que o tomam como base, fundamentalmente
impelidos pelas correntes teóricas formadas por constitucionalistas)6, o próprio método
sociológico e também aqueles derivados dos esquemas racionais do funcionalismo (for-
mal e material).
A hermenêutica jurídica hodierna encontra-se empregada, por conseguinte,
numa esfera do conhecimento voltado ao pensamento crítico, capacitada a apontar so-
luções que fogem aos esquemas clássicos de métodos ultrapassados para enfrentar de-
terminadas exigências que a realidade cobra do plano teórico; o que está em jogo não
se circunscreve ao objetivamente delineado na lei nem a um possível espírito da lei. O
hermeneuta, atualmente, consegue, por manobras hermenêuticas, retirar significações
que ultrapassam o horizonte de uma simples captação de sentidos literais ou finalísti-
co-intencionais, mas atinge searas, inclusive, de alta abstração, alcançando significados
escondidos na significância do próprio Ser. É importante ressaltar que o conhecimento
desses métodos clássicos é indispensável, já que está neles a base fundamentante do i-
nício de raciocínios mais complexos, impossíveis sem o elemento gramatical, o siste-
4 Muito embora a interpretação lógica tenha sido relacionada, seria tautológico pressupor que qualquer interpretação
empregada não pressuponha uma lógica, portanto, crê-se na inerência (principalmente se pensarmos com fundamentos
modernos), em todo o momento, do elemento lógico (ou racional) na interpretação, por se adotar uma classificação de
um livro clássico no ensino jurídico brasileiro. Mas deixa-se aqui essa pequena ressalva.
5 Desde logo cuida-se para não negar a possibilidade do emprego isolado de cada método, tendo em vista a possibili-
dade de complementaridade de cada método; a radicalização empregatícia de um método só corrobora a ignorância
atávica que despreza as riquezas do ius e do fato social. Pode-se traçar assim o seguinte esquema: “A interpretação se
faz a partir do texto da norma (interpretação gramatical), de sua conexão (interpretação sistemática), de sua finalidade
(interpretação teleológica) e de seu processo de criação (interpretação histórica).” (BARROSO, 2006, p. 125)
6 Diante do direito constitucional (BONAVIDES, 2006, p. 488-524)
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 13
mático, o teleológico, o lógico e o histórico (ressalvando o sociológico em outro pata-
mar, quiçá com outra função). Por isso, não se deve desprezar o conhecimento clássico
do Direito, neste caso da hermenêutica, justamente para não incorrer no erro da incom-
preensão da problemática hodierna do Direito, que advém - em parte - de momentos
interpretativos realizados por esses métodos clássicos.
O método em destaque, neste opúsculo, encontra-se vinculado a uma das
maiores tentativas de tornar o Direito uma ciência pura7 (pois seu problema concen-
trou-se na seara exclusivamente epistemológico) (NEVES, 1995, p. 101), sem (ou com o
mínimo de) elementos profanadores do sistema, pois a ciência do Direito não se vincu-
la à conduta efetiva do homem - apenas o que está prescrito juridicamente, é, sim, uma
ciência de normas não tem de perseguir um fim prático ou interesse de outras ordens -
(LARENZ, 1997, p. 93). O traço forte de seu neokantismo delimitou um dualismo meto-
dológico que postula a não-sociologização da ciência jurídica que exprime o seu positi-
vismo científico advindo do século XIX e epistemologicamente decantado radicalmen-
te na noção empírico-analítica do século XX; a imposição, com o intuito de cumprir os
esquemas unicamente teoréticos, de um postulado de não-politização, excludentes to-
dos os momentos constitutivos axiológico-normativos e remetentes aos domínios do
ideológico e do subjetivo (NEVES, 1995, p. 101).
Em relação ao edifício jurídico, Kelsen blinda seu sistema hierárquico com a
designada noção de norma fundamental (Grundnorm), e evita cair na indeterminabilida-
de da norma que fundamenta as demais normas inferiores do sistema. Tal norma seria
pressuposta, devido à impossibilidade de ser (im)posta por uma autoridade, pois falta-
ria a essa autoridade a competência que teria de ser posta por norma superior, assim
sucessivamente, “até o infinito”. Com isso, será a norma fundamental que legitimará a
Constituição ou a Constituição é a própria norma fundamental? Questão que não cabe
aqui responder, mas, por ser pressuposta crê-se que a norma fundamental fundamenta a
Constituição (LARENZ, 1997, p. 104 e SILVA, 1999, p. 40-41). A cadeia de normas fun-
damentantes, para Kelsen, é estancada, justamente, pela pressuposição da norma fun-
damental; portanto todas as demais normas terão sua validade remetida para a norma
fundamental. A compreensão desse quadro sistemático contribui para o entendimento
7 Como exemplo cito um trecho do prefácio à primeira edição do livro Teoria Pura do Direito: “Há mais de duas décadas
que empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os
elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da legalidade
específica de seu objeto. Logo desde o começo foi meu intento elevar a Jurisprudência, que - aberta ou veladamente - se
esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do
espírito. Importava explicar, não as suas tendências endereçadas à formação do Direito, mas as suas tendências
exclusivamente dirigidas ao conhecimento do Direito, e aproximar tanto quanto possível os seus reultados do ideal de
toda a ciência: objetividade e exatidão.” (KELSEN, 1998, p. XI e LARENZ, 1997, p. 92).
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
14 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
da interpretação de normas (ou do Direito) em Kelsen (KELSEN, 1998, p. 215-217 e
LARENZ, 1997, p. 98-99).
3. PANORAMA DO HORIZONTE INTERPRETATIVO EM KELSEN
A Teoria Pura do Direito é considerada pelo autor como uma teoria puramente cientí-
fica do Direito Positivo8. Por isso, não é uma teoria, especificamente, da interpretação
de determinadas normas mas, com base numa teoria geral do Direito, oferece esque-
mas teóricos de interpretação, pois foi conduzida a pensar no viés interpretativo, até
mesmo devido ao seu querer elevar o Direito à uma autêntica ciência (LLANO
ALONSO, 2006, p. 414). A proposta está em não se preocupar com o conteúdo, mas
somente com a lógica do sistema e a forma das normas, ou seja, a intenção se encontra
em retirar todos aqueles elementos que não são peculiares à ciência do Direito. Opera-
se, assim, a confusão entre as observações jurídica e sociológica (LARENZ, 1997, p. 95).
Por encontrar essa formatação do Direito, o autor admite que não exista conteúdo do
comportamento humano que não possa ser conteúdo de uma norma jurídica
(LARENZ, 1997, p. 97).
Com a finalidade de realizar uma breve análise do método voluntarista kelseni-
ano, curial se mostra cumprir alguns esclarecimentos da norma; justamente ela se cons-
titui em aporte do momento interpretativo de compreensão da realidade jurídica com o
fato, pois parte-se do paradigma normativo, de sua força normativa, para a realização
do Direito, ou melhor, tornar-se o dever ser em ser – kantianamente influenciado – (da
norma em fato, sob o princípio da imputação, em que se parte de uma hipótese lógica
produtora, com a contribuição de alguns elementos de uma imputação para recair em
uma sanção)9. O movimento desencadeado pelo intérprete viabilizará a mudança da
prescrição para a concreção; a norma vai adjetivar o fato externo - conforme seu signi-
ficado objetivo captado pelos sentidos no espaço e no tempo - como jurídico (ilícito ou
lícito). O evento fático isolado não constitui objeto especificamente do conhecimento
jurídico, contudo terá o fato (ou ato) relevância quando, por intermédio de uma norma,
8 Kelsen esforçou-se para criar uma ciência do direito que, no final de tudo se concentrasse nas mãos de técnicos, pes-
soas capazes de lidar com o funcionamento do sistema e dos esquemas altamente específicos, auto-referentes, isolado
das outras áreas do conhecimento humano, assim Ortega y Gasset ao comentar a arte velazqueña diz o seguinte: “Este ar-
te de Juan Palomo, esta pintura para pintores no es demasiado extraña en un tiempo como el nuestro que tiene también
una física para los físicos, hermética para los demás mortales, un derecho para los juristas (Kelsen), una política para
los políticos (revolucionarios profesionales), pero no se sabe cómo y en qué sentido pudo darse hacia 1640.” (Apud,
LLANO ALONSO, 2006, p. 412).
9 Kelsen se apóia nesta sólida base distintiva kantiana entre o ser e o dever-ser. (LLANO ALONSO, 2006, p. 425-426). A-
lém disso, cabe ressaltar mais uma influência kantiana de Kelsen; a virada kantiana para o formalismo (liberal) do Direito
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 15
se refere a ele em seu conteúdo, emprestando-lhe significação jurídica, com isso viabi-
lizando a interpretação conforme a norma. Por conseguinte, a juridicidade do fato (ou
ato) só terá sentido com o resultado específico da interpretação normativa, a norma
norteará a classificação do acontecimento no mundo-da-vida como jurídico (ou antijurídi-
co), implicando enunciar que, se um conteúdo de um acontecer fático coincidir com o
conteúdo normativo, considerado como válido, terá relevância ao mundo-jurídico
(KELSEN, 1998, p. 4-5)10.
A partir deste ponto passa-se à aplicação do Direito, por óbvio que, para tal,
faz-se necessário fixar o sentido da norma, ou seja, realizar a interpretação, já num ple-
no processo de aplicação do Direito. A determinação do conteúdo jurídico a ser aplica-
do não se reduz a escolher, aleatoriamente, uma norma, mas o intérprete deve vislum-
brar o sistema jurídico como um todo e “progredir do escalão superior ao inferior”
(KELSEN, 1998, p. 387 e PERELMAN, 1998, p. 91-92) até o momento de, contextualiza-
do numa coerência sistemática e unitária, determinar a(s) norma(s) a serem aplicadas
ao caso concreto. Nisto decorre a indeterminação da aplicação do Direito, no condizente
à relação entre os escalões - por exemplo: entre a Constituição e lei ou lei e sentença ju-
dicial (KELSEN, 1998, p. 388) - superior e inferior, o primeiro regula o segundo, porém
não regula por completo; a norma superior não pode criar vinculações em todos os se-
tores. Ocorre assim que a inferior terá espaços de “liberdade” e o intérprete, ao vis-
lumbrar isso como uma moldura a ser preenchida pelo ato discricionário, decidirá co-
mo executar (cumprir) as determinações superiores. A indeterminação pode referir-se,
intencionalmente ou não, à pressuposição do fato e às conseqüências por ele geradas
(KELSEN, 1998, p. 388-390 e BONAVIDES, 2006, p. 449). Infere-se daí uma espécie de
indeterminação intencional, quando a norma superior deixa intencionalmente espaço
discricionário para regulamentação e aplicação de uma norma inferior. Por outro lado,
a indeterminação não-intencional advém de certos fatores que, por si sós, geram uma
indeterminação “não prevista ou própria das circunstâncias” (como exemplo: a abran-
gência significativa que uma palavra pode adquirir sem a prévia noção do legislador).
A moldura jurídica suscita diversas hipóteses para aplicação de um direito. Is-
to significa que, dentre as possibilidades de compreensão, o aplicador do Direito indi-
vidualizar, dentre inúmeras propostas, a que ele considera a mais acertada, o que não
como uma conjunção dos arbítrios (de uma lei geral da liberdade) favorecedor da convivência com o outro. (KANT,
1945, p. 33-35).
10 “A teoria pura do Direito apreende, pois, o conteúdo jurídico do sentido de um certo evento - que, como tal, é um
fragmento da natureza, portanto, determinado por leis causais -, ao subsumi-lo a uma norma jurídica que retira a sua
validade de ter sido «produzida» de acordo com outra norma situada acima daquela.” (LARENZ, 1997, p. 95) (grifo do
autor).
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
16 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
significa dizer que é, dentro das hipóteses existentes, a única possível conforme o Di-
reito (KELSEN, 1998, p. 390-391). Kelsen destaca que o labor interpretativo também se
estende aos indivíduos (igualmente intérpretes) que necessitam compreender a lei para
observá-la, evitando a sanção, assim como a ciência jurídica cuida de interpretar a
norma e descrever o direito positivo; conseqüentemente, o autor divide a interpretação
em duas espécies: a interpretação efetuada pelo órgão que aplica o Direito e a não rea-
lizada por esse órgão e, sim, por outros agentes (pessoa privada e pelos cientistas do
direito) (KELSEN, 1998, p. 387-388).
Destarte, ao vislumbrar o direito positivo, não existe qualquer método absolu-
to que possa destacar, entre as variáveis possíveis, a “correta” dentro do confronto en-
tre as várias compreensões da norma esquematicamente estruturadas na moldura.
Muito embora a jurisprudência tradicional tenha empregado um esforço colossal, não
conseguiu dirimir o conflito entre a vontade e a expressão; os métodos existentes, se-
gundo Kelsen, guiam ao resultado possível, nunca um resultado cabal e incontestável.
Para o Direito Positivo é igual à prevalência da vontade do legislador ou apenas a fixa-
ção do teor verbal da letra legal (espírito da lei) - ambas as visões problemáticas em
seus aspectos –, ainda mais se duas normas do mesmo patamar se contradizem, reali-
zando um esforço inútil na tentativa de refutar uma das visões possíveis (KELSEN,
1998, p. 391-392). Ao colocar-se desta forma, o autor assume uma posição de neutrali-
dade científica diante das variáveis a serem empregadas no desvelamento compreen-
sivo da norma.
4. O MÉTODO VOLUNTARISTA DA TEORIA PURA DO DIREITO
Pode-se elencar o método voluntarista como uma significativa contribuição à herme-
nêutica legada pela corrente de juristas ligados à Teoria Pura do Direito. Durante um
largo período, a Escola de Viena permaneceu à margem da discussão metodológica da
interpretação. Longos anos após a primeira contribuição da Escola com Merkl (1916), o
artigo de Kelsen apareceu em 1934 na Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts no
n. 8 (com o título Zur Theorie der Interpretation) e, no mesmo ano, foi reproduzido na
primeira edição da Teoria Pura do Direito e ampliado na segunda edição publicada em
Viena (BONAVIDES, 2006, p. 447), já num imperativismo-voluntarista (LLANO
ALONSO, 2006, p. 418). A contribuição do autor trouxe relevantes questões para o
problema da interpretação, devido ao entendimento de a interpretação ser, em sua ba-
se, um ato de decisão e não uma ação de cognição pois, ao interpretar a norma, o intér-
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 17
prete, entre seus possíveis significados, deve eleger um. Por conseqüência, a interpre-
tação acaba sendo guiada mais pelo ato de vontade do que por um ato de intelecção,
inteligência (BONAVIDES, 2006, p. 448), jungido por princípios, bom senso, critérios
político-jurídicos, logo, meta-positivos […] (BARROSO, 2006, p. 309-310). Nesta visão,
Kelsen reconhece que o juiz não é um mero aplicador da lei, um ser autômato, na me-
dida que ele realiza a tarefa de escolha de uma dentre as diversas interpretações possí-
veis (PERELMAN, 1998, p. 93). O autor, também, foge da compreensão do pensamento
do século XVIII, em que a lei era considerada a expressão da vontade do povo e o juiz
era a razão lógica e puramente dedutiva (PERELMAN, 1998, p. 93).
Mas isso é possível devido à concepção do interpretar como um procedimento
espiritual seguidor da produção do direito, desde o grau superior (condicionante) até o
inferior (condicionado), determinado pela idéia da escala normativa. Portanto, em caso
ordinário, a solução que se apresenta encontra-se em abstrair da lei (no seu sentido ge-
ral e abstrato) a correspondente norma individual a ser aplicada ao caso concreto atra-
vés de uma decisão judicial; assim se estende às outras possibilidades como um ato
administrativo, numa interpretação constitucional, no negócio jurídico, ou seja, em
conformidade com a “norma antecedente à norma subseqüente” (BONAVIDES, 2006,
p. 448). Essa relação se refere à subordinação ou à vinculação hierárquica a ser respei-
tada pela norma inferior diante da norma superior que determinará diretrizes basilares
a serem seguidas e respeitadas pela inferior. Desta feita, a figura da moldura (no es-
quema unitário) da norma se encaixa nessa perspectiva da interpretação como um ato
de vontade, de eleger uma das hipóteses possíveis de serem aplicadas ao caso concreto,
já que, ao interpretar uma norma, surgem vários sentidos. Esta forma, não existe “o
mais correto”. Advém, dessa abertura de várias variáveis de hipóteses de aplicação, a
emergência da necessidade da interpretação, cabendo ao intérprete, em seu ato produ-
tor normativo, estabelecer, pela vontade, o interesse ou valor que deverá prevalecer na
aplicação do caso concreto (KELSEN, 1998, p. 391). Mas isso salta da margem de discri-
cionariedade deixada pela impossibilidade de determinação da norma superior, dos di-
versos caminhos que a norma inferior pode seguir. Então, através desse espaço, o in-
térprete-aplicador com sua decisão (ou produz) cria o Direito, ao considerar que a in-
dividualização da norma é parte da hierarquia do ordenamento jurídico. Daí que a
função da sentença não é meramente declarativa e sim, constitutiva, devido à forma
como foi constituída a individualização da norma. Assumir uma das possibilidades re-
vela o emprego da vontade que, de certa forma, institui uma norma particularizada
sem, no entanto, esquecer que essa particularização é fruto de inúmeras compreensões
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
18 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
advindas, coerentemente, do topo até a base do sistema e que a vontade foi aplicada
justamente em consonância com o todo sistemático (LARENZ, 1997, p. 105-106), além
de ter influências meta-jurídicas.
O problema que se impõe é estabelecer qual das possibilidades decisórias é a
mais correta para aplicar ao fato. Para Kelsen, esse problema não circunscreve a teoria
do Direito, ultrapassa as suas fronteiras e atinge a política jurídica, por isso, o juiz, em-
bora vinculado à lei imposta pelo legislador, é um criador (KELSEN, 1998, p. 393) - re-
lativamente livre em suas decisões - do Direito com a norma individualizada. Assim
Kelsen assume a interpretação como uma união entre o entendimento e a vontade,
combatendo o intelectualismo das escolas tradicionais, fazendo as faculdades intelecti-
vas e racionais do subjetivismo do intérprete e, com isso, afasta a concepção da simples
aplicação mecânica (silogística) da lei pelo juiz. Logo em sua função, cabe realizar um
ato de vontade na aplicação da lei. É primacial destacar que a individualização da
norma se restringe às noções fornecidas pela norma geral, em respeito ao escalonamen-
to hierárquico, mas a determinação interpretativa ocorre além fronteiras da teoria do
Direito (KELSEN, 1998, p. 388 e BONAVIDES, 2006, p. 450-452).
Como último aspecto da temática da interpretação - circunscrito mais ao lado
da teoria do Direito propalada pelo autor - cabe ressaltar o significado a interpretação
científica, justamente por se tratar de uma teoria voltada plenamente aos moldes con-
ceituais de ciência, tendente a refutar a utilização, por qualquer ideologia, da cientifi-
cidade. Essa interpretação se distingue da realizada pelos órgãos judiciais - autêntica -
(como acima tratada); a científica (interpretação não-autêntica) se restringe à pura e
simples determinação cognoscitiva, portanto, distingue-se da interpretação efetuada
pelos órgãos judiciais, que é a única capaz de preencher as lacunas do ordenamento ju-
rídico11. A interpretação científica só pode estabelecer possíveis significados de uma
norma, denotando que seu objetivo é se concentrar no objeto ou norma em análise, não
podendo tomar decisões entre as possibilidades verificadas; essa decisão encontra-se
circunscrita aos órgãos aplicadores do Direito. Ainda essa interpretação não pretende
estabelecer um único sentido “correto”, pois essa ficção é utilizada pela jurisprudência
tradicional para estabelecer um sentimento de segurança e certeza jurídica. Por fim, a
interpretação científica pode desvelar, até mesmo ao legislador que está longe das exi-
gências técnico-jurídicas de perfeição ou não-equivocidade das formulações textuais
11 “[…] e esta função não é realizada pela vida da interpretação do Direito vigente.” (KELSEN, 1998, p. 395).
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Guilherme Camargo Massaú 19
do direito, as inevitáveis plurissignificações contidas nas palavras da lei (KELSEN,
1998, p. 395-397).
5. CONCLUSÃO
O esquema interpretativo da Teoria Pura do Direito assume uma posição ímpar em su-
as perspectivas teórico-práticas; revela uma posição de neutralidade da teoria ao trans-
ferir os aspectos ideológicos para a senda da política jurídica (voltada ao aspecto decisi-
onista) e as significações retiradas da norma pairam sobre a ciência do Direito. A partir
desse momento, então a decisão nasce do conhecimento dos inúmeros sentidos postos
à face do decisor, ele terá a incumbência de escolher voluntariamente dentre as hipóte-
ses a que ele entende por mais adequada para aplicação ao caso concreto; claro que não
se nega a influência de elementos meta-jurídicos na decisão do juiz. Ao realizar essa a-
tividade, também, o decisor (p.ex. o juiz) estará a instituir Direito que será expresso na
norma individual, já na base da pirâmide hierárquica.
As interpretações que buscam a vontade do legislador ou a vontade da lei,
embora sejam as mais seguidas pelos intérpretes modernos em sua base de raciocínio,
consideram exclusivamente que as palavras da lei contêm uma única certeza - ou uni-
vocidade - da vontade do legislador (subjetivismo) ou da vontade da lei (objetivismo). A
teoria voluntarista vai mais além dessas duas perspectivas, alcança a discricionarieda-
de do julgador que ponderará o todo à luz dos princípios, fins públicos, programas so-
ciais, criatividade, senso de justiça e o bom senso inerente ao comungante do mundo-
com-os-outros. O decisor não se compõe em plena passividade em admitir somente um
único sentido da norma. Pelo contrário, Kelsen, ao admitir a pluralidade de sentidos
interpretativos e de igual relevância, ultrapassa os limites modernos e assevera a ativi-
dade do juiz com independência dos limites restritos da lei, ou seja, de fato ocasiona
uma ruptura de concepções interpretativas, então vigentes à sua época. O leque decisó-
rio aberto, embora limitado pelas fronteiras da moldura das normas superiores, por es-
se tipo de interpretação-aplicação se enquadra, com um grau maior de eficiência, na
perspectiva além-do-(estrito)-positivismo, alguns a chamam de pós-positivismo, ainda
com uma designação genérica (BARROSO, 2006, p. 325-339).
No entanto, ao falar em pós-positivismo (ou concepção que ultrapassa e inova o
positivismo, está-se ultrapassando os rigores de um pensamento que não permite varia-
ções de incerteza), de certa forma, está-se a afastar a concepção teórica de Kelsen dessa
nova época a teoria kelseniana ficou na época positivista, porém quer-se, sem avançar
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
20 A interpretação voluntarista na teoria pura do Direito: esboço
numa discussão, salientar a ruptura ocasionada pela percepção da teoria da interpreta-
ção voluntarista de Kelsen. Além de quebrar a crença na univocidade de sentido inter-
pretativo, tida pelos clássicos da interpretação, também inclui o decisor (o juiz, num
caso específico) como criador do Direito, dotado de certa autonomia para decidir entre
as possibilidades apresentadas pelas possíveis respostas ao caso concreto, fato que, no
positivismo, era inadmissível. Dessarte, em contraposição aos modernos, o juiz deixa de
ser a boca que pronuncia a lei (MONTESQUIEU, 1995) e passa a ser um dos composi-
tores da lei, muda de sujeito passivo à atividade de um ser pensante que carrega consi-
go uma sabedoria prático-teórica daquilo considerado o fenômeno jurídico. Gizou-se,
de forma geral, a concepção kelseniana da interpretação, com a finalidade de deixar a
notícia desse processo interpretativo voluntarista impressa na Teoria Pura do Direito.
REFERÊNCIAS
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros. 2006. 808 p.
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva.
2006. 427 p.
HEIDEGGER, Martin. Über den humanismus. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 1946.
47 p.
HERKENHOFF, João Baptista. Como aplicar o direito. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997. 179
p.
KANT, Immanuel. Metaphysik der Sitten. 3. Auflage. Leipzig: Felix Meiner. 1945. 378 p.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes. 1998. 427 p.
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbekian. 1997. 727 p.
LLANO ALONSO, Fernando H. Las glosas de José Ortega y Gasset a Hans Kelsen. In: Rivista
Internazionale di Filosofia del Diritto. Milano. 2006. Ano. LXXXIII, serie V, n. 3, p. 407-434,
luglio/settembre.
MONTESQUIEU. O espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins
Rodrigues. 2. ed. Brasília: UnB. 1995. 512 p.
NEVES, António Castanheira. Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da
sua Metodologia e Outros. v. 2. Coimbra: Coimbra Editora. 1995. 469 p.
PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Trad. Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes. 1998.
259 p.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Sistema de ciência positiva do direito. Tomo II.
Campinas: Bookseller. 2000. 347 p.
SCHRAGE, E. J. H. Utrumque Ius. Über das römisch-kanonische ius commune als Grundlage
europäischer Rechtseinheit in Vergangenheit und Zukunft. In: Revue Internationale des Droits
de L’Antiquité. Bruxelles. 3.e série, Tome XXXIX. 1992. p. 383-412.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros.
1999. 871 p.
Revista de Direito • Vol. XI, Nº. 13, Ano 2008 • p. 7-20
Você também pode gostar
- Trabalho Docente Na Sala de Aula e Seus Aspectos ConstituintesDocumento14 páginasTrabalho Docente Na Sala de Aula e Seus Aspectos ConstituintesRamanei100% (1)
- Acer F5 573 521B PDFDocumento84 páginasAcer F5 573 521B PDFAnonymous N8QN1f3OAinda não há avaliações
- Retrotopia - Zygmunt BaumanDocumento2 páginasRetrotopia - Zygmunt BaumanIgor PauloAinda não há avaliações
- Primeira ApostilaDocumento48 páginasPrimeira ApostilaMariana PierettiAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de Pesquisa Na Área de AdministraçãoDocumento3 páginasModelo de Projeto de Pesquisa Na Área de AdministraçãoJoyce Pereira50% (2)
- 2022 8 16 0185AgravodeInstrumentoMixtelDocumento14 páginas2022 8 16 0185AgravodeInstrumentoMixtelRafaela BotasimAinda não há avaliações
- MapavédicofabioassunçaoDocumento5 páginasMapavédicofabioassunçaoelaineestrelaAinda não há avaliações
- Avaliação 8° AnoDocumento2 páginasAvaliação 8° AnoKatia Cristina100% (2)
- Exercicio para MemoriaDocumento12 páginasExercicio para MemoriaIgor Carvalho100% (1)
- Livro - Quem Deus É - AtualizidadoDocumento26 páginasLivro - Quem Deus É - AtualizidadoCintia CordeiroAinda não há avaliações
- Autismo e Linguagem - Valle&Ribas - pg81Documento139 páginasAutismo e Linguagem - Valle&Ribas - pg81Elisangela Moreira Peraci 1100% (2)
- VS XV-2 (TXT - 05)Documento18 páginasVS XV-2 (TXT - 05)Edoardo GolinskiAinda não há avaliações
- Reações de PrecipitaçãoDocumento5 páginasReações de PrecipitaçãoMónica GarciaAinda não há avaliações
- Calculo R2Documento55 páginasCalculo R2CayopereiraAinda não há avaliações
- Cograjt: O Poeta Um Finge Que Fingir Que É DorDocumento7 páginasCograjt: O Poeta Um Finge Que Fingir Que É DoriolaAinda não há avaliações
- Avalcien3bim 1Documento4 páginasAvalcien3bim 1Jana0% (1)
- Análise e Simulação Da Recuperação de Energia em Sistemas de Frenagem Regenerativa de Motores de Indução Trifásicos Aplicados A Sistemas de Pontes RolantesDocumento25 páginasAnálise e Simulação Da Recuperação de Energia em Sistemas de Frenagem Regenerativa de Motores de Indução Trifásicos Aplicados A Sistemas de Pontes RolantesJean CarlosAinda não há avaliações
- Ca1394 AnexosDocumento63 páginasCa1394 AnexosPEDROAinda não há avaliações
- PTO-015 R01 - Inspeção em Unidade Consumidora de BTDocumento40 páginasPTO-015 R01 - Inspeção em Unidade Consumidora de BTbeqenergia são beneditomlAinda não há avaliações
- Prova EaD - Filosofia Da Educação PresencialDocumento5 páginasProva EaD - Filosofia Da Educação PresencialAlan SouzaAinda não há avaliações
- As Apropriações Do Vernacular Pela Comunicação GráficaDocumento5 páginasAs Apropriações Do Vernacular Pela Comunicação GráficaFrancieleAinda não há avaliações
- Unespar 2015Documento2 páginasUnespar 2015Jeinni Puziol JKAinda não há avaliações
- Diagnóstico Organizacional - PesquisaDocumento3 páginasDiagnóstico Organizacional - PesquisachriscostAinda não há avaliações
- África ContemporaneaDocumento6 páginasÁfrica ContemporaneaCarlos NériAinda não há avaliações
- Estudodassolucoes 2013Documento38 páginasEstudodassolucoes 2013Vanin Silva De SouzaAinda não há avaliações
- CMBH Mat 10-11Documento21 páginasCMBH Mat 10-11Sonya KarlaAinda não há avaliações
- N2104 Uma EstrelaDocumento2 páginasN2104 Uma EstrelaFREIELDI100% (1)
- 10 DiadeoraçãoDocumento33 páginas10 DiadeoraçãoJosé BataAinda não há avaliações
- Anabolizantes, Principais ProteÇÕes, Ciclos E Etc... - Artigos Sobre Esteróides Anabolizantes - Fórum HipertrofiaDocumento10 páginasAnabolizantes, Principais ProteÇÕes, Ciclos E Etc... - Artigos Sobre Esteróides Anabolizantes - Fórum HipertrofiaLeandro Serrão Franco100% (2)
- O SEGREDO DE LEONARO DA VINCI-textoDocumento7 páginasO SEGREDO DE LEONARO DA VINCI-textoAugusto Vasconcelos NetoAinda não há avaliações