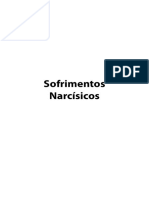Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
38677-Texto Do Artigo-171529-1-10-20170803
38677-Texto Do Artigo-171529-1-10-20170803
Enviado por
Gilcimar Gomes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações5 páginasTítulo original
38677-Texto do artigo-171529-1-10-20170803
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações5 páginas38677-Texto Do Artigo-171529-1-10-20170803
38677-Texto Do Artigo-171529-1-10-20170803
Enviado por
Gilcimar GomesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
resenhas 223
Relações de força: história, retórica, prova
autor Carlo Ginzburg
cidade São Paulo
editora Companhia das Letras
ano 2002
O historiador Carlo Ginzburg configura-se com destaque no
cenário internacional, e no Brasil há alguns anos seus escritos têm
sido recebidos com muita atenção pelo público, pela particularidade
com a qual se dedica aos ensaios historiográficos produzidos e pos-
tos a circular para os seus leitores interessados. Entre as suas princi-
pais obras1, a que se tornou mais conhecida entre os brasileiros é O
queijo e os vermes.
Relações de força: história, retórica, prova é o seu mais recente
lançamento no Brasil, inclusive contando com a sua presença em
palestras nas universidades do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro
e de São Paulo.
Em Relações de força, Carlo Ginzburg traz à baila um debate
bastante contundente e polêmico, sem perder a elegância e a seriedade
que marcaram a sua trajetória de escritor. Entra no debate atual da
historiografia com o propósito de problematizar a visão pós-moder-
na da abordagem da história como prática retórica, desobrigada do
seu caráter de objetividade. O esforço do autor, e aqui a sua inten-
cionalidade se fez com muita clareza e acuidade, foi o de, a partir da
busca genealógica do pós-modernismo, desmontar a visão pós-mo-
dernista presente nos vários âmbitos da cultura e da vida pública que
incluem a história e a reflexão historiográfica. Sua perspicácia esta-
rá no movimento de busca das pistas do argumento pós-moderno.
1 Traduzidas para o português são as seguintes: O queijo e os vermes (1987);
Os andarilhos do bem (1988); Mitos, emblemas e sinais (1989); História
noturna (1991); Olhos de madeira (2001) (traduzidas pela Companhia das
Letras) e Indagações sobre Piero (1989) (traduzida pela Paz e Terra).
224 revista brasileira de história da educação n° 7 jan./jun. 2004
Nesse sentido, Ginzburg chegará aos tempos da juventude de
Nietzsche, quando numa releitura do pensador alemão sobre a retórica
irá contrastar a sua compreensão de retórica como sistema de tropos,
isto é, “de figuras de linguagem, no qual uma noção rigorosa de
verdade não tem lugar” (p. 25), o que reduz a verdade ao argumento
do falso ou do verdadeiro. Contra esse argumento, Ginzburg aponta-
rá uma vinculação entre retórica e prova, uma retórica baseada na
prova, não apenas uma detecção de falsidade que de verdade, mas
de mostrar que o que está fora do texto está também dentro dele,
“abrigado entre as suas dobras” (p. 42). Nesse caso, a retórica base-
ada na prova tem a função de descobrir no texto o histórico e fazê-lo
falar. Aí consiste a relação de força. Ao citar a exortação de Walter
Benjamin2, que afirmava a necessidade de “escovar a história ao
contrário”, o autor confirma que “é preciso aprender a ler os teste-
munhos às avessas, contra as intenções de quem os produziu. Só
dessa maneira será possível levar em conta tanto as relações de força
como aquilo que é redutível a elas” (p. 43).
O trabalho do historiador consiste em problematizar (ou analisar,
como trata Ginzburg) as fontes. É nesse exercício que o esforço de
compreensão das relações de força se fará presente, pois o
“conhecimento possível” (p. 45) será apreendido no trabalho de
construção de uma retórica baseada na prova. Uma retórica que se
“move no âmbito do provável, não no da verdade científica (como a
concebida pelo positivismo) e numa perspectiva delimitada, longe
do etnocentrismo inocente”. Para Ginzburg, a análise construtiva
das fontes requer um tratamento que as concebam não como “janelas
escancaradas, como acreditam os positivistas”, nem como “muros
que obstruem a visão, como pensam os céticos” (p. 44), mas como
“espelhos deformantes” que exigem interdições e possibilidades com
vistas à construção histórica.
A sua tese que vincula retórica e prova, marco do seu distancia-
mento da visão pós-moderna da historiografia, será baseada em três
exemplos que irão possibilitar alcançar o objetivo da defesa de “que,
no passado, a prova era considerada parte integrante da retórica” e
que hoje deixada de lado por alguns, “implica uma concepção do
modo de proceder dos historiadores” (p. 13). Uma questão que pas-
2 Walter Benjamin, Concetto di storia, Torino, 1997.
resenhas 225
sa por uma preocupação metodológica, mas com implicações que
dizem respeito à convivência e ao choque de culturas, dadas as ten-
sões existentes entre narração e documentação.
Os três exemplos tomados, “a leitura de um trecho famoso da
Educação sentimental, de Flaubert”, o “relato setecentista sobre uma
revolta nas ilhas Marianas” e a “análise do quadro Demoiselles
d’Avignon de Picasso”, encaminham-se na demarcação da crítica ao
relativismo céptico, que distancia narração e documentação e que
concebe “uma idéia de retórica não apenas estranha, mas também
contraposta à prova” (p.15). A partir desses exemplos, Ginzburg
propõe a redescoberta da retórica de Aristóteles, que ao se basear na
combinação entre retórica e prova, evidencia esta última, atribuin-
do-lhe um papel essencial na produção historiográfica.
No primeiro e segundo capítulos do seu livro, dedica-se à
discussão sobre a herança aristotélica da retórica, perseguida na
retomada que Lorenzo Valla faz, em 1357, da passagem na qual
Aristóteles observa: “Dorieu venceu os jogos olímpicos”. Nessa
passagem, dentro da realidade grega, não estava a preocupação com
aquilo que se encontrava em jogo na competição, a coroa de louros,
pois todo mundo já sabia, era óbvio. A observação pressupõe um
saber compartilhado e não declarado que na sua forma oculta revela
um saber tácito evocado, o que levará Lorenzo Valla a compreender
que a retórica de Aristóteles se move no âmbito do provável. Um
historiador distanciado dessa realidade precisará fazer a leitura do
que não foi dito, que para ele não é óbvio, não está no texto, está fora
dele, num espaço em branco que precisa ser decifrado. É como um
dito que está na voz do outro e não é compreendido por aquele que
está ouvindo, uma voz estranha, “que provém de um lugar situado
fora do texto”.
Na leitura de um trecho famoso da Educação sentimental, de
Flaubert, Ginzburg constrói o seu capítulo “Decifrando um espaço
em branco”. Nesse capítulo, irá tratar da retórica visual, tipográfica,
pois será no espaço em branco deixado pelo autor na divisão dos
capítulos da Educação sentimental que Ginzburg criticará o traba-
lho historiográfico que valoriza os modelos narrativos que intervêm
“apenas no final, para organizar o material coletado”(p. 44). Para ele,
ao contrário, deve-se considerar, ou melhor, deslocar a atenção do
produto final do documento acabado para as questões presentes no
226 revista brasileira de história da educação n° 7 jan./jun. 2004
documento, as frases preparatórias, o interdito que não está dito, os
espaços em branco. Lembrando Lucien Febvre, Ginzburg chama a
atenção para o trabalho com as fontes: “as fontes históricas não fa-
lam sozinhas, mas só se interrogadas de maneira apropriada” (p. 114).
Nesse caso, a mediação entre questões e fontes atribui às narrativas
uma posição provisória, possibilitando modificações no transcurso
do processo de pesquisa.
No capítulo que trata do relato setecentista sobre uma revolta
nas Ilhas Marianas, o autor irá problematizar “que uma maior
consciência da dimensão literária de um texto pode reforçar as
ambições referenciais que, no passado, eram compartilhadas tanto
pelos historiadores quanto pelos antropólogos”. Ao recorrer a uma
passagem tirada do livro escrito por Charles Le Gobien3, em 1700,
que descreve a primeira fase de uma revolta desenvolvida pelos
indígenas das Ilhas Marianas, Ginzburg ressalta que por baixo da
superfície da retórica narrativa é possível perceber “uma voz diversa,
uma voz dissonante, não domesticada [...] que provém de um lugar
situado fora do texto” (p. 98). E isso para enfatizar que os textos
contêm fendas e das suas “fissuras, sai algo inesperado” (p. 99).
Essa afirmativa pode ser percebida na narrativa de Le Gobien sobre
o discurso do indígena Hurao, líder de uma conjura, que incita o seu
povo a rebelar-se contra os espanhóis e a expulsá-los da ilha. O
discurso do indígena estará identificado com o discurso do próprio
narrador, pois segundo Mably, citado por Ginzburg, “o historiador
esconde-se por trás de uma máscara tomada de empréstimo” (p. 95).
Ao narrar o ímpeto contra a população colonizadora, tomará de em-
préstimo o discurso narrado para, por meio dele, expressar “a pro-
funda ambigüidade que ele compartilhava com a ordem religiosa de
que fazia parte”. Essa leitura somente poderá ser feita caso o histori-
ador, no contato com a documentação que estará trabalhando, con-
siga analisar as estratégias do autor que se encontra por detrás das
muralhas de proteção na qual se esconde.
Na “análise do quadro Demoiselles d’Avignon de Picasso”,
Ginzburg coloca em relevo o diálogo necessário entre as culturas
3 Histoire des Iles Marianes, nouvellement converties à les religion
chrestienne; et de la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y ont
prêché la foy.
resenhas 227
que, segundo ele, hoje está relegado a um plano secundário. A apro-
priação que Picasso faz das “culturas figurativas não européias” le-
vou-o a inaugurar um novo tempo na história da arte, quando conse-
gue decifrar “os códigos das imagens africanas”, o que vai permiti-lo
criar Demoiselles d’Avignon. A criação é, sem sombra de dúvida, a
quebra da relação de força entre as culturas, portanto ação de uma
multiplicidade cultural capaz de gerar a produção de um novo mo-
delo ( paradeigma), de inaugurar um novo tempo.
Relações de força: história, retórica, prova é um livro bastante
instigante, como o é o próprio Ginzburg, autor e precursor do para-
digma indiciário. Na mesma medida, é também um livro complexo,
cheio de armadilhas, até mesmo pela sua organização editorial, que
não se produziu com a intenção de ser propriamente um livro. Seus
capítulos foram produzidos em tempos diferentes, com especifi-
cidades diferentes. Mas isso não o faz ser menos interessante, ao
contrário, desafia o leitor a uma relação, também de força, com a
produção de uma nova maneira de fazer história, sem perder, por
um lado, o rigor científico e, por outro, as virtudes de uma escrita
clara e cativante.
Irlen Antônio Gonçalves
Doutorando do Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Minas Gerais
Você também pode gostar
- Atividades para SilabicosDocumento15 páginasAtividades para SilabicosSilvia Cerqueira100% (1)
- Ernst Cassirer - A Filosofia Das Formas Simbólicas - V. I - A LinguagemDocumento424 páginasErnst Cassirer - A Filosofia Das Formas Simbólicas - V. I - A LinguagemMurilo Resende Ferreira100% (14)
- Historia e Ensino de Historia Thais Nivia de Lima e Fonseca PDFDocumento63 páginasHistoria e Ensino de Historia Thais Nivia de Lima e Fonseca PDFBetty Martiniano Paiva100% (3)
- Cap 6 Aprendizagem e Recompensa GazzanigaDocumento35 páginasCap 6 Aprendizagem e Recompensa GazzanigaGabriel Rossi100% (1)
- Brainspotting: Uma Nova Abordagem Psicoterápica para o Tratamento Do TraumaDocumento5 páginasBrainspotting: Uma Nova Abordagem Psicoterápica para o Tratamento Do TraumaCélio Z. Rosa100% (2)
- Thorstein Veblen - O Teórico Da Economia ModernaDocumento215 páginasThorstein Veblen - O Teórico Da Economia ModernaCarine VieiraAinda não há avaliações
- Livro CruzadaDocumento336 páginasLivro CruzadaLuis GustavoAinda não há avaliações
- A Africa FantasmaDocumento3 páginasA Africa FantasmaBetty Martiniano PaivaAinda não há avaliações
- A Africa FantasmaDocumento3 páginasA Africa FantasmaBetty Martiniano PaivaAinda não há avaliações
- Nos Caminhos Da Figuratividade PDFDocumento18 páginasNos Caminhos Da Figuratividade PDFAnonymous VCHOnKAinda não há avaliações
- Apostila Opção - Concurso de Ananindeua Nível Fundamental - Todos Os Cargos PDFDocumento196 páginasApostila Opção - Concurso de Ananindeua Nível Fundamental - Todos Os Cargos PDFGerson Teixeira de Oliveira100% (2)
- VERZTMAN, J. Et Al. (2012) - Sofrimentos Narcísicos PDFDocumento161 páginasVERZTMAN, J. Et Al. (2012) - Sofrimentos Narcísicos PDFGabriel CunhaAinda não há avaliações
- Planilha Avaliacao Desempenho QuestionarioDocumento10 páginasPlanilha Avaliacao Desempenho QuestionarioGleison LeiteAinda não há avaliações
- 2014 Manual Implementacao Dinamicas Praticas Autodesenvolvimento SENAIDocumento18 páginas2014 Manual Implementacao Dinamicas Praticas Autodesenvolvimento SENAIjonasadm8666100% (1)
- RL Ebserh - Aula 01Documento11 páginasRL Ebserh - Aula 01Gustavo MoreiraAinda não há avaliações
- A Didática É Considerada Arte e Ciência Do EnsinoDocumento3 páginasA Didática É Considerada Arte e Ciência Do Ensinovânia ArmandoAinda não há avaliações
- Praxiologia Motora e Efeitos EducativosDocumento6 páginasPraxiologia Motora e Efeitos EducativosrcabaAinda não há avaliações
- Portugues 2015 - ITADocumento6 páginasPortugues 2015 - ITAJosé Carlos AguiarAinda não há avaliações
- Análise Do Conto Da Ilha DesconhecidaDocumento17 páginasAnálise Do Conto Da Ilha DesconhecidaEliseu MartinsAinda não há avaliações
- Projeto Educacao Emocional WpredDocumento65 páginasProjeto Educacao Emocional WpredalineAinda não há avaliações
- Atividade de Recuperação de Nota 2º BimestreDocumento1 páginaAtividade de Recuperação de Nota 2º BimestreRoberto De Andrade CaetanoAinda não há avaliações
- RESUMÃO Psicologia Organizacional e Do TrabalhoDocumento9 páginasRESUMÃO Psicologia Organizacional e Do TrabalhoWesley Ramalho SouzaAinda não há avaliações
- Ga Geo7 LP Pnld24 Ob1 BaixaDocumento340 páginasGa Geo7 LP Pnld24 Ob1 BaixaGabriel GracianoAinda não há avaliações
- Re VistaDocumento130 páginasRe VistaAnna Lua CostaAinda não há avaliações
- TPM VolskwagemDocumento98 páginasTPM VolskwagemFayskaAinda não há avaliações
- A Importância Da Língua Portuguesa No Espaço EmpresarialDocumento2 páginasA Importância Da Língua Portuguesa No Espaço EmpresarialAdriane EickhoffAinda não há avaliações
- ANEXO III - Plano de EstágioDocumento1 páginaANEXO III - Plano de EstágioluizaAinda não há avaliações
- PORTUGUESDocumento165 páginasPORTUGUESkarinkrysAinda não há avaliações
- Autoditado PortuguêsDocumento3 páginasAutoditado PortuguêsPROFESSOR QUINTO ANO100% (1)
- A Psicologia Da Forma - GestaltDocumento5 páginasA Psicologia Da Forma - GestaltProfLuccalvesAinda não há avaliações
- Psicodiagnóstico - InfânciaDocumento10 páginasPsicodiagnóstico - InfânciaKamila GadelhaAinda não há avaliações
- Marketing para Introvertidos - Como Vender Seu Conhecimento OnlineDocumento65 páginasMarketing para Introvertidos - Como Vender Seu Conhecimento OnlineLuiz SulzbacherAinda não há avaliações
- Projeto UfmgDocumento3 páginasProjeto UfmgkedmixAinda não há avaliações
- Decadência Ou Crise Do Império Luso-Brasileiro, José Jobson ArrudaDocumento13 páginasDecadência Ou Crise Do Império Luso-Brasileiro, José Jobson ArrudaDiego LustosaAinda não há avaliações
- Guia de Utilização Das ISA Na Auditoria Das PME PDFDocumento45 páginasGuia de Utilização Das ISA Na Auditoria Das PME PDFjoao mendesAinda não há avaliações