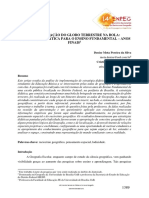Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Letramento em Contexto Bilingue
Letramento em Contexto Bilingue
Enviado por
Lourenço Moreira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações8 páginasTítulo original
Letramento em contexto bilingue
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações8 páginasLetramento em Contexto Bilingue
Letramento em Contexto Bilingue
Enviado por
Lourenço MoreiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
Instituto Nacional de Educagao de Surdos
Praticas de letramento em Contextos
de Educag4o Bilingue para Surdos
Sueli Fernandes*
Introdugao
Minha aproximaco com a educa¢ao de surdos, na década de 1990, foi
motivada pela tematica da leitura e escrita. Foi a experiéncia em uma classe de
alfabetizacao e os desafios metodoldgicos enfrentados para a superacao da con-
cepgao de escrita para além do cédigo o que constituiu meu didlogo primeiro com
a educagao de surdos. O contexto histérico, em que essa experiéncia se deu, tinha
como pano de fundo a derrocada da hegemonia oralista, mate
ada pelo macigo
fracasso escolar de uma geracao de estudantes surdos cujas vidas foram marcadas
durante as décadas de 1970-1990 pela precariedade de concepcoes e praticas que
nao detinham os elementos prometidos para efetivar suas teses integracionistas.
Em contrapartida, a voz que emergia dos movimentos surdos mundiais,
buscava demarcar uma transformagdo nas representages dominantes em rela-
¢4o as identidades surdas, afastando-as definitivamente do territério discursivo
da anormalidade ou da deficiéncia. Engajada nesse movimento, inicio minha
trajet6ria profissional e académica na drea com o desafio de debater 0 proceso
de alfabetizagao/letramento dos surdos, reconhecendo a Lingua de Sinais como
produto cultural mais representativo da comunidade/subjetividade surda e a im-
porténcia da apropriagao da Lingua Portuguesa como instrumento fundamental a
sua emancipacao politica e social.
Esse cenério circunstanciou minhas primeiras reflexdes sobre a educacao
linguistica dos surdos, mais precisamente sobre os fundamentos te6rico-metodo-
l6gicos do ensino e da aprendizagem do Portugués, tomando-o como objeto de
conhecimento a ser apreendido por sujeitos que, na melhor das hipéteses, teriam
como primeira lingua (ainda que sua aquisicao fosse tardia), a Lingua Brasileira de
Sinais — Libras. Isso posto, configuraria-se o carter de segunda lingua assumido
pela Lingua Portuguesa seja do ponto de vista social, psicolégico, académico e
metodolégico, resultando na educacio bilingue, principal agenda politica dos
movimentos surdos brasileiros, a partir da década de 1990.
Desde ent&o, e mais notadamente no perfodo 2002-2012", as diretrizes
governamentais nacionais (cuja critica ndo sera objeto de reflexdo nesse texto)
* Doutora em Letras-UFPR, Professora do Setor de Educacao/DTFE-UFPR.
" Em abril de 2012, comemorou-se o aniversario de 10 anos da Lei de Libras e sua oficializacao em territorio
‘nacional.
Forum
37
Instituto Nacional de Educacao de Surdos
orientam os sistemas de ensino inclusivos a adotarem medidas que viabilizem a
educacao bilingue, assegurando 0 acesso & Libras como primeira lingua e 0 ensino
do Portugués como segunda lingua,
No entanto, ao revés do que poderia se chamar de consenso de principio
no conjunto de textos que veiculam a voz oficial da politica pdblica, a realidade
se vé atravessada por contradigées expressas em barreiras atitudinais, politicas e
econémicas que se interpdem entre a enunciacao do discurso e sua materializagao
na realidade concreta das escolas.
A geracao de estudantes surdos que constituem 0 grupo-alvo de nossa agao
pedagégica é bastante heterogénea e nao corresponde ao ideal bilingue enun-
ciado nos discursos, pressuposto de uma pratica inclusiva “bem sucedida”. Sao
criangas, jovens e adultos com histérias atravessadas pelas contradigées sociais
que os situam em determinada classe social (em sua imensa maioria pertencente
as camadas populares da sociedade), com um desenvolvimento marcado por
lacunas e descontinuidades nos processos interpessoais na infancia, resultando
em subjetividades estilhacadas pelas inconsistentes experiéncias linguisticas que
vivenciam até chegar & escola.
Assim, 0 sentido que 0 bilinguismo dos surdos - como minoria linguistica —
assume na sociedade brasileira, com hist6rica tradigéo monolingue (muito embora
seja inegavel o multilinguismo presente nas praticas sociais) é a de cendrios for-
temente marcados por relacdes de poder assimétricas entre as linguas em questo
e seus usuarios. (FERNANDES E MOREIRA, 2009).
A assimetria das relacdes envolvendo estudantes surdos e nao-surdos nas
praticas discursivas escolares secundariza a Libras em relacao a Lingua Portuguesa,
caracterizando 0 que Cavalcanti (2007) denomina de modelo bilingue assimila-
cionista. Este modelo é caracterizado pelos intimeros casos em que estudantes
surdos, oriundos majoritariamente de familias ouvintes, sao “incluidos” em escola
regular monolingue, sem interlocucao em lingua de sinais, sendo excluidos das
interagdes verbais e dos conhecimentos que circulam por meio do Portugués
falado. Mesmo nos chamados processos bilingues de transig¢ao, em que hd uma
concessao & Lingua de Sinais nas interacdes escolares, passa-se a substituf-la pelo
Portugués, progressivamente, 4 medida que o estudante avanga na escolarizagao.
Isso pode ocorrer mesmo em escolas exclusivas para surdos que utilizam a
Libras precariamente, em funcado de os professores comunicaram-se oralmente,
ou de forma bimodal’, por serem, em sua maioria, nao-surdos; também nas cha-
madas escolas inclusivas, onde 0 espaco concedido a Libras se faz pela presenga
de tradutores e intérpretes, ainda sem a necessdria qualificagao profissional, que
acabam sendo os Gnicos modelos e interlocutores dos estudantes surdos.
Nesses programas de bilinguismo assimilacionistas, a exclusao manifesta-se
em varias facetas: na participagao, no conhecimento e na legitimagao de sua lingua
Pode-se afirmar, sem sombra de davida, que o uso concomitante da fala e da Libras na comunicagao com
0 surdos fazem do bimadalismo uma pratica hegemOnica nos processos comunicativos envolvendo surdos
ras diferentes situacdes de interacao verbal, seja na familia, seja na escola,
Instituto Nacional de Educagao de Surdos
pelo fato de que em todos esses cenérios 0 Portugués acaba predominando como
lingua principal e a Libras € utilizada como instrumento/recurso coadjuvante para
a apropriagao da Ifngua dominante.
Ditas essas palavras iniciais que delineiam essa realidade tao heterodoxa
quanto as condicées bilingues atuais em que se dao as praticas de letramento de
criangas e jovens surdos, passaremos a desenvolver algumas reflexes pontuais
nos encaminhamentos metodol6gicos para o ensino de Portugués como segunda
lingua para surdos (L2), que sintetizam os seguintes principios:
| Estudantes surdos estabelecem com a Lingua Portuguesa (L2) uma relacao de
natureza visual, cuja apropriacao é dependente da mediagao da Libras (L1).
Il LINGUA e ESCRITA fundem-se em um Unico conhecimento apropriado
por meio da leitura nas praticas de letramento (A lingua portuguesa é
uma construcdo imagética; € 0 que 0 surdo “vé")
Ill A apropriagao da leitura ea escrita pelos surdos pressupde a passagem de
uma lingua no-alfabética (Libras) para uma lingua alfabética (Portugués),
0 que resulta em definir as praticas de letramento como encaminhamento
metodolégico, em detrimento da alfabetizacao.
Sabe-se que a experiéncia visual é a forma essencial pela qual os surdos
constroem conhecimento (PERLIN, 2003; STROBEL, 2008). Obviamente, que se
trata de um complexo processo de comunicacao interpessoal pelos quais meios
culturais externos (linguagem verbal e ndo-verbal) sao internalizados como sim-
bolos que passam a ser usados como instrumentos de pensamento intrapessoal.
(VYGOTSKI, 1991).
O desenvolvimento normal, segundo Vygotsky (Ibid), depende essencialmen-
te da internalizacao de ferramentas psicoldgicas produzidas na cultura. Se “todo
fendémeno que funciona como signo ideolégico tem uma encarnacao material,
seja como som, como massa ffsica, como cor, como movimento do corpo ou
como outra coisa qualquer” (BAKHTIN, 1990, p. 33), a linguagem verbal para os
surdos materializa sua semiose em signos visuais-espaciais, modalidade da Lingua
Brasileira de Sinais — Libras.
Sea linguagem ocupa um lugar fundamental enquanto signo verbal privilegia-
do nos processos de mediacao social € 6 se constitui em situagGes de interlocucao
significativas, apenas a Lingua de Sinais cumpre o papel mediador de material
semi6tico indispensavel & elevacao das fungées psicoldgicas superiores da pessoa
surda. Neste sentido, reconhecemos a Lingua de Sinais como a objetivago da
realidade material do signo na consciéncia surda, funcionando como elemento
agregador das comunidades de surdos que se caracterizam por compartilhar, além
da lingua, valores culturais, habitos e modos de socializacao préprios.
Portanto, a formacaio da consciéncia de aprendizes surdos demanda mais
que a mera experiéncia visual com 0 objeto de conhecimento, demanda a inter-
Forum
139
Forum
40
Instituto Nacional de Educago de Surdos
nalizaciio de signos que tenham uma encarna¢ao material compartilhada em seus
usos e fungdes sociais.
Dito de outra forma, a mera percepcio visual direta da escrita, sem a mediagdo
de um adulto mais experiente que a do!
e como complexo instrumento cultural
possibilita apenas a consciéncia mecanica de seus elementos externos: 0 desenho
de letras e palavras. Para a apropriacao de sua forma simbélica e funcao social,
como sistema de representacao e meio de comunicagao humana, sera necessdria
a mediagao da linguagem verbal enquanto contetido semiético indispensdvel &
formagao da consciéncia.
Nesse sentido, a Lingua de Sinais exerce nao apenas a mera fungi instru-
mental de recurso para a leitura do Portugués escrito, mas, sobretudo, de lingua
que mobilizara as hipdteses dos alunos sobre a constituicado de sentidos do texto.
Diante de tamanha centralidade no processo de desenvolvimento e apren-
dizagem, a Lingua de Sinais carece de espacos de uso social para se manter viva
como meio de enunciacao de seus falantes — os surdos.
‘Ao se consolidar como espaco de letramento em lingua materna, oportunizard
a consolidacao de um consistente territério linguistico e identitario para interlo-
cucao em Libras com adultos surdos sinalizadores e/ou professores bilingues. Ai
reside a grande diferenga da educagao linguistica dos surdos, que tem inicio na
educagao infantil, uma vez que é incomum as criangas ouvintes terem que ir a
escola para aprender sua lingua materna.
Aescola cumpre um papel adicional, diante dessa lacuna familiar, na forma-
cao social da mente de estudantes surdos: constituir-se em comunidade linguistica
bilfngue, na qual as criancas surdas terao resguardado seu direito a lingua materna,
além de realizar sua fungao de agéncia social mais importante de letramento.
E inegavel que em sociedades altamente tecnologizadas nossa rela¢do com
o meio cultural seja mediada pela leitura e escrita em quase todas as atividades
que realizamos cotidianamente, sejamos, ou nao alfabetizados. Obviamente, esse
processo de relacdo com a cultura do escrito nao é linear e homogéneo para todos
0s sujeitos, mas marcado pela diversidade de experiéncias sociais dos sentidos que
a leitura/escrita assumiu em seus circulos sociais e da qualidade da mediagao de
pessoas mais experientes na cultura nas relacées cotidianas.
E justamente a trajet6ria anterior a escola, o ponto que demarca a diferenciagao
nos processos de comunicacao interpessoais, comparando-se estudantes surdos €
nao-surdos. Como afirmamos hd pouco, as precdrias e empobrecidas experiéncias
com a linguagem verbal (falada, escrita ou sinalizada) na infancia, no ambiente
familiar e/ou na educagao infantil determinam as restricdes quanti-qualitativas
comuns ao repertério de leitores iniciantes no processo de alfabetizagao escolar.
Por isso, embora as criangas e jovens surdos estejam imersos em um universo
povoado de signos que constituem o material semidtico que permeia as relagoes
Instituto Nacional de Educacao de Surdos
sujeito-mundo social, sua apreensao da semiose é desordenada, imprecisa e nao
mediada por uma lingua.
Como disciplinar a consciéncia surda de modo que seja capaz de categorizar
esse universo semidtico cadtico multiforme, multisignico e polissémico das ima-
gens, palavras, cores e diagramagées (para dizer 0 minimo) presentes nos textos
que se oferecem a leitura? E mais: como a consciéncia surda apropriar-se-ia do
dito (e nao-dito) como enunciados da lingua viva que revelam multiplos dominios:
de valores, de posicionamentos, o da humanidade, o da historicidade, o da ética,
0 da ideologia?
Significa dizer que “aprender a ler a Lingua” e “aprender a Lingua” Portuguesa
so processos simultineos que se entrecruzam, se confundem e demandam dos
surdos uma desafiadora e complexa operacao mental de diferenciar, nos textos
que os bombardeiam visualmente, informac¢ées verbais e ndo-verbais, reconhecer
possiveis fragmentos (palavras) nos elementos textuais e sistematizd-los como
unidades de sentido da lingua.
Impossivel que essa tarefa seja vencida espontaneamente, de maneira natural,
apenas expondo os estudantes surdos ao contato com textos variados, entregues
a sua prépria sorte.
Por isso, afirmamos que o processo de leitura revela-se, duplamente, tanto quanto
“um” meio para se apropriar do sistema grafico da lingua (escrita) como quanto “o”
meio de incursao na propria Lingua Portuguesa”. Escrita e lingua fundem-se em um
nico conhecimento vivenciado por meio da experiéncia da leitura, que é dependente
da agao intencional, especifica e sistematizadora da escola. (FERNANDES, 2003).
Esse aprendizado, distinto em sua génese daquele desenvolvido por criancas
ouvintes (uma vez que no se baseia em referenciais sonoros) mobilizaré proces
sos visuais-analiticos de apropriacao e exigiré uma interferéncia sistematizadora
intensa, por meio da mediagao em Lingua de Sinais por adultos mais experientes
€ preparados, de modo que “ler a Ifngua” supere a mera perspectiva de decifragao
comum aos processos iniciais de alfabetizagao.
Em sintese: identificar um significado global no texto e percebé-lo como objeto
cultural constitufdo e€ significado em relages sociais que lhe atribuem sentido,
cuja apropriacéo depreenderd um posicionamento, uma atitude responsiva de
acatamento, de discordancia, de ponderagao, de superacao, enfim, de réplica as
vozes sociais (BAKHTIN, 1992) que nele se (des)harmonizam.
E a sintese dialética de LER A LINGUA, que buscamos destacar como a es-
séncia das praticas de letramento com surdos.
Se o Portugués é para o estudante surdo aquilo que se revela nas praticas
de letramento nas quais ele esté inserido, hd que se considerar que quanto mais
diversificadas forem as experiéncias de leitura, maiores serao as possibilidades de
apreensao da lingua em sua riqueza de variedades. Disso resulta que a selecdo
dos textos nas praticas de letramento tenha como critério a abrangéncia de sua
circulagao social.
Forum
41
Forum
42|
Instituto Nacional de Educagao de Surdos
O texto social delimitara o conhecimento linguistico, objeto da acao escolar,
nao o contrario. Se ha um texto circulando socialmente é porque seu contetido esta
vinculado & realidade histérica que determinou sua producao: ele é fruto de uma
intengdo comunicativa real, destinado a um interlocutor e, justamente por isso, as-
sume caracteristicas composicionais ¢ discursivas particulares. (FERNANDES, 2011).
Aprender a LER A LINGUA demanda um processo metodoldgico para estu-
dantes surdos que difere dos encaminhamentos adotados no ensino de Portugués
como lingua materna, o chamado processo de alfabetizacao. Para inimeros pesqui-
sadores, a questao é simples: desconsiderar o dominio das relacoes letra-som como
pressuposto para 0 acesso a escrita e admitir a Lingua de Sinais como simbolismo
mediador nesse processo, adotando encaminhamentos metodolégicos semelhantes
aos utilizados no ensino de segundas linguas para estrangeiros, possibilitando a
insergao dos surdos em praticas de letramento, nos mesmos moldes dos demais
estudantes. (SANCHEZ, 1993; HOFFMEISTER, 1999, FERNANDES, 2003, 2011).
A alfabetizacao € 0 processo que tem como pressuposto que ensinar a ler €
escrever demanda, necessariamente, o estabelecimento de relagées entre oralidade
e escrita, ou seja, da compreensio das relacSes entre fonemas (sons) e (grafemas)
e sua utilizagdo em atividades de decodificagao (ler) e codificagao (escrever),
préprios da mecanica da escrita (SOARES, 1998). Além disso, na hierarquizac3o
das praticas escolares hé uma supervalorizacao das habilidades envolvidas na
aprendizagem da escrita (desenho de letras, codificagao, valorizacao da prosédia
da fala e de contetidos metafonoldgicos), em detrimento da leitura.
Para Sanchez (2002), os surdos vivenciam uma situagao diferenciada de
aprender a ler e escrever 0 Portugués sem conhecer os sons de suas grafias, pela
mediacao da Lingua de Sinais para internalizacéo de seu contetido simbdlico e
social. Dito isso, significa que o texto, tomado como a menor unidade de sentido
da lingua seré o ponto de partida para as operacées linguisticas iniciais de letra-
mento escolar, em detrimento de silabas, letras e sons.
O letramento, no entanto, nao se refere apenas as praticas em que estado en-
volvidas estudantes que passam por esse processo de alfabetizacao escolar, mas
todos aqueles sujeitos que convivem nos meios letrados, proprios das sociedades
modernas altamente industrializadas e tecnologizadas. Ou seja, diferentemente da
alfabetizacdo que pressupée habilidades individuais sistematizadas pela escola,
as praticas de letramento pressupdem a apropriagdo de conhecimentos sociais
({KLEIMAN, 1998) vivenciados em praticas de leitura e escrita que permeiam as
interagdes sociais em sociedades letradas.
Se pela apropriacao da escrita, os surdos poderdo materializar a experiéncia da
Lingua Portuguesa, promover a ruptura nas fronteiras que separam praticas escolares
€ praticas sociais de leitura e escrita, viabilizando a sintese entre conhecimento
social, conhecimento escolar e conhecimento linguistico, seria nosso desafio.
Instituto Nacional de Educacao de Surdos
Ler sem estar “alfabetizado” corresponde a realidade de sujeitos que tém
uma lingua ndo-alfabética como lingua materna e dominam a escrita de uma
segunda lingua alfabética, ainda que ndo se comuniquem oralmente por meio
dela. Dito de outro modo, equivaleria a nés, falantes de uma lingua alfabética,
aprendéssemos ideogramas chineses, sem nunca ter falado o mandarim. Como os
surdos, em relacdo ao Portugués, os aprendizes buscariam identificar os ideogra-
mas em um texto, fazendo associagdes com imagens e seu conhecimento prévio,
reconhecimento de palavras, comparagées e relagées de semelhanga e contraste
entre sua lingua materna e a lingua-alvo para levantar hipdteses de sentido para
a compreensao global do texto, ainda que, inicialmente, ele Ihes parecesse uma
indecifravel carta enigmética (FERNANDES, 2003). Considerando que os textos
sociais articulam linguagem verbal e nao-verbal na constituigdo de seu sentido,
serao as referéncias imagéticas (ndo-verbais) 0 ponto de partida para a incursdo
no universo polissémico da escrita em que o método a ser seguido pelo estudante
pressuporia buscar reconhecer as palavras-ideogramas do Portugués no texto,
atribuindo-lhes um sentido global, sem necessariamente decompé-las em unidades
sublexicais. (FERNANDES, 2011),
‘A mediacio do professor bilfngue e conhecedor de sua lingua materna &
fundamental, nesse processo, posto que, anteriormente & proposicao de leitura
de um texto com seus alunos, deverd debrugar-se em um planejamento detalhado
que considere as pistas imagéticas entrecruzadas na semiose verbal e no-verbal
textual, as pistas da autoria, do contexto de producao, da intengdo do texto, do
género em que ele se insere.
Diante dessa necessidade, reafirmamos a adogao de uma concepgao dialégica
da linguagem a nortear nossa ago, em que dimensées formais da lingua, como o
léxico e a sintaxe, apenas constituem sentido nas praticas de interagao verbal em
que ocorre a enunciacao, determinados pelas condigées sociais de producao do
discurso. (BAKHTIN, 1988, 1992)’.
Consideragoes finais
Com base nas reflexdes realizadas até aqui, pode-se dimensionar a importancia
que as praticas escolares de letramento assumem para as criancas surdas, posto
que envolvem um processo de dupla natureza: a apropriac4o da Lingua Portuguesa
ea imersao nas praticas sociais de leitura e escrita.
Justamente pela importancia que esse conjunto de apontamentos assume na
educa¢ao linguistica de estudantes surdos, as praticas de letramento nao podem
ser tomadas como objeto de acdo apenas da disciplina de Lingua Portuguesa, como
€ comum tal compreensao no ambito da escola. Estamos falando de um método
(no sentido de caminho para se chegar a um fim) que se propée a tornar possivel
a incursao na Lingua Portuguesa por meio da leitura por estudantes surdos.
Em trabalhos anteriores (FERNANDES, 2003), propusemos sugestes de “roteiros” de leitura que viabilizassem
a sistematizacao desses aspectos.
Forum
44
Instituto Nacional de Educacao de Surdos
Referéncias
BAKHTIN, M. Questées de Literatura e Estética. Sao Paulo : Hucitec, 1988.
BAKHTIN, Mikhail. (V. N. Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem. 5 ed. Sao
Paulo : Hucitec, 1990.
BAKHTIN, Mikhail. (V. N. Volochinov).Os géneros do discurso. In: Estética da criagao
verbal. S40 Paulo : Martins Fontes, 1992.p. 277-289.
CAVALCANTI, M.; BORTONI, S. M. Transculturalidade, linguagem e educacao.
Campinas: Mercado de Letras, 2007
FERNANDES, S. Educa¢ao bilingue para surdos: identidades, diferengas, contradi
mistérios. Curitiba, 2003, Tese (Doutorado em Letras), Universidade Federal do Parand.
FERNANDES, Sueli . Letramento e bilinguismo na educacao de surdos. In: LIER-
-DEVITTO, M. F; ARANTES, Liicia. (Org.). Faces da escrita: linguagem, clinica, escola.
1ed.Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011, v. 1, p. 247-258.
FERNANDES, Sueli; MOREIRA, L. C. Desdobramentos politico-pedagégicos do bilin-
guismo para surdos: reflexdes e encaminhamentos. In: Revista “Educa¢ao Especial”
v. 22, n. 34, p. 225-236, maio/ago. 2009, Santa Maria. Disponivel em: http://www.
ufsm.br/revistaeducacaoespecial
HOFFMEISTER, Robert. Familias, criancas surdas, o mundo dos surdos e os profissio-
nais da audiologia. In: SKLIAR, Carlos. (Org.) Atualidade da educacao bilingiie para
surdos. Porto Alegre : Mediacao, 1999. V, 1-2.
KLEIMAN, Angela B. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da
escola. Campinas : Mercado de Letras, 1999
KLEIMAN, Angela B. A constru¢ao de identidade em sala de aula: um enfoque inte-
racional. In: SIGNORINI, Inés (Org) Lingua(gem) e identidade: elementos para uma
discusséo no campo aplicado. Campinas : Mercado de Letras, 1998. p. 267-302.
LIER-DEVITTO, M. F; ARANTES, Lticia. (Org.). Faces da escrita: linguagem, clinica,
escola. 1ed.Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011, v. 1, p. 247-258.
PERLIN, Gladis. T. Identidades surdas. In SKLIAR, Carlos (Org,) A surdez: um olhar
sobre as diferencas. Porto Alegre : Mediacao, 1998. p. 52-73.
SANCHEZ, Carlos. Os surdos, a alfabetizacdo e a leitura: sugestées para a desmisti-
ficagéo do tema. Mimeo., 2002
SKLIAR, Carlos. (Org,) Atualidade da educacao bilingiie para surdos. Porto Alegre :
Mediacao, 1999. V. 1-2
SOARES, M. B. Letramento: um tema em trés géneros. Belo Horizonte : Auténtica, 1988.
STROBEL, K. L. As imagens do outro sobre a cultura surda. 1. ed. Florianopélis:
Editora UFSC, 2008. v. 1. 118 p.
VYGOTSKY, Lev Semionovich. A formagao social da mente. 4.ed. Sao Paulo : Martins
Fontes, 1991.
Você também pode gostar
- Sumário Dêste NúmeroDocumento156 páginasSumário Dêste NúmeroLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Qual Raciocínio? Qual Geografia? Considerações Sobre O Raciocínio Geográfico Na Base Nacional Comum CurricularDocumento12 páginasQual Raciocínio? Qual Geografia? Considerações Sobre O Raciocínio Geográfico Na Base Nacional Comum CurricularLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio de Janeiro: Instituto de Geociências Programa de Pós-Graduação em GeografiaDocumento205 páginasUniversidade Federal Do Rio de Janeiro: Instituto de Geociências Programa de Pós-Graduação em GeografiaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Instituto Nacional de Educação de SurdosDocumento93 páginasInstituto Nacional de Educação de SurdosLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Revista GeografiaDocumento21 páginasRevista GeografiaEduardo GaioAinda não há avaliações
- Adaptações Na Prática Do Ensino de Geografia para Alunos SurdosDocumento21 páginasAdaptações Na Prática Do Ensino de Geografia para Alunos SurdosLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Educação Bilíngue E Geografia Nas Escolas de Surdos: Fernanda Santos PenaDocumento258 páginasEducação Bilíngue E Geografia Nas Escolas de Surdos: Fernanda Santos PenaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Adriano Santos MedeirosDocumento154 páginasAdriano Santos MedeirosLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Presidência Da República: Casa CivilDocumento1 páginaPresidência Da República: Casa CivilLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Sobre o Raciocínio Geográfico: Terra Brasilis (Nova Série)Documento8 páginasSobre o Raciocínio Geográfico: Terra Brasilis (Nova Série)Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Ensino de Geografia e Pensamento EspaciaDocumento15 páginasEnsino de Geografia e Pensamento EspaciaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 11: para Onde Foi A Duna Que Estava Aqui?Documento36 páginasAula 11: para Onde Foi A Duna Que Estava Aqui?Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 13: Recifes e Sambaquis: Bichos e Gente Construindo Formas de RelevoDocumento32 páginasAula 13: Recifes e Sambaquis: Bichos e Gente Construindo Formas de RelevoLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- A Pedagogia Visual Como Fundamental Na Educação de Surdos: Significações Do Corpo E As Experiências Visuais Dos Alunos SurdosDocumento19 páginasA Pedagogia Visual Como Fundamental Na Educação de Surdos: Significações Do Corpo E As Experiências Visuais Dos Alunos SurdosLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- O Ensino de Geo e o Rac. Geogr.Documento21 páginasO Ensino de Geo e o Rac. Geogr.Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Elementos para Uma Pedagogia Visual em Geografia: OutsiderDocumento15 páginasElementos para Uma Pedagogia Visual em Geografia: OutsiderLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Sobre A Necessidade de Se Perguntar de Que Forma, Exatamente, A Geografia É "VISUAL"?Documento10 páginasSobre A Necessidade de Se Perguntar de Que Forma, Exatamente, A Geografia É "VISUAL"?Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 4: Ondas Pequenas Ou Gigantescas Que Quebram No Litoral: Como São Geradas e para Que Servem?Documento38 páginasAula 4: Ondas Pequenas Ou Gigantescas Que Quebram No Litoral: Como São Geradas e para Que Servem?Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 5: É Possível Ver e Sentir Os Efeitos Das Correntes Marinhas No Litoral?Documento34 páginasAula 5: É Possível Ver e Sentir Os Efeitos Das Correntes Marinhas No Litoral?Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Uma Geografia Visual? Contribuições para O Uso Das Imagens Na Difusão Do Conhecimento GeográficoDocumento13 páginasUma Geografia Visual? Contribuições para O Uso Das Imagens Na Difusão Do Conhecimento GeográficoLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 10: Mangues: Relevos Formados de Lama Que Sustentam VidasDocumento34 páginasAula 10: Mangues: Relevos Formados de Lama Que Sustentam VidasLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 3: Marés: Variabilidade de Seus Valores Medições Previsões e Sua Importância para As Áreas CosteirasDocumento26 páginasAula 3: Marés: Variabilidade de Seus Valores Medições Previsões e Sua Importância para As Áreas CosteirasLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Histórico Do INESDocumento36 páginasHistórico Do INESLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 2: A Maré: Resultado Das Relações de Forças Entre A Terra, A Lua e o SolDocumento30 páginasAula 2: A Maré: Resultado Das Relações de Forças Entre A Terra, A Lua e o SolLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 1Documento34 páginasAula 1Lourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Globo em BolaDocumento12 páginasGlobo em BolaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Globo Balão de FestaDocumento12 páginasGlobo Balão de FestaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 14: Múltiplos Aspectos Que Caracterizam o Estado Atual Do Relevo Costeiro e de Suas Condições FuturasDocumento48 páginasAula 14: Múltiplos Aspectos Que Caracterizam o Estado Atual Do Relevo Costeiro e de Suas Condições FuturasLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Blocos Diagrama GeografiaDocumento121 páginasBlocos Diagrama GeografiaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- Model 3d Ensino GeografiaDocumento11 páginasModel 3d Ensino GeografiaLourenço MoreiraAinda não há avaliações