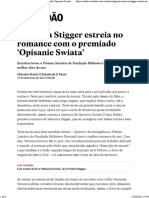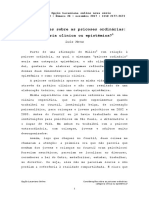Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Abril Ou Setembro
Enviado por
ReginaldoPujolTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Abril Ou Setembro
Enviado por
ReginaldoPujolDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Abril ou setembro
Author(s): Reginaldo da Luz Pujol Filho
Source: Chiricú Journal: Latina/o Literatures, Arts, and Cultures , Spring 2021, Vol. 5, No.
2 (Spring 2021), pp. 165-180
Published by: Indiana University Press
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2979/chiricu.5.2.15
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Indiana University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Chiricú Journal: Latina/o Literatures, Arts, and Cultures
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Abril ou setembro
Reginaldo da Luz Pujol Filho
Não sei mais que dia é hoje. Pode ser quarta, sexta. Porto Alegre
segue com seu ritmo de carnaval. Até a temperatura tem se mantido
estranhamente estável. Não digo que é um eterno dia da marmota,
porque hoje saí de casa. Não foi como ontem, nem como antes de
ontem, nem como antes de antes de antes de antes. Fui até a igreja
desses tempos: o Zaffari, lugar de peregrinação e reunião periódica,
do pão nosso de cada semana, quinzena, do álcool bento que salva
e protege. Botei roupas de corrida, tênis e dei um trote de uns três
quilômetros por ruas menores até chegar lá. Fiz compras como se
um furacão fizesse ondas no Guaíba e, antes de ir embora, me senti
um pouco clandestino: estava chegando perto dos caixas e fiz meia-
volta. Fui ao freezer das cervejas e peguei uma longneck. Gelada.
Mais gelada do que o habitual para um supermercado. Não tivesse
que pagar pela garrafinha e teria escondido da menina do caixa,
que, protegida por trás de um capacete de esquadrão antibomba,
registrou compra por compra como se eu estivesse levando granadas
sem pino. Vai saber. Caminhei de volta para casa tomando a cerveja
criminosa devidamente desinfectada. O parque da caixa d’água vazio
numa tarde de sol sugeria uma segunda-feira, mas pode ser domingo.
Não acredito em sugestões. A rua, virada em pista de motociclismo,
estava calma. E não estava. Segui pela Vinte e Quatro e decidi não
atalhar pelo posto. Passando dele, uns dez metros à frente, tinha
uma nesga de sol batendo na calçada. Lembrei do A praia do futuro,
Wagner Moura tirando o capuz num dia frio, recebendo cheio de
orgasmo os raios esbranquiçados do sol de um dia de inverno ou
outono em Berlim. Avancei rumo à luminosidade, caminhei mais
devagar enquanto estive sob a luz.
Ao virar a esquina, de novo na sombra, parei. Eles estavam ali, do
outro lado da rua. Isolados da sociedade, não em isolamento social, a
Chiricú Journal, Vol. 5.2, pp. 165–180
Copyright © 2021 Trustees of Indiana University • doi:10.2979/chiricu.5.2.15
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
166 Chiricú Journal, Vol. 5.2
turma dos caras que dormem na Praça Júlio de Castilhos ou na frente
do antigo Itaú ou debaixo da marquise do Bradesco. Confraternizam.
Seus carrinhos de super abarrotados de restos de compras de outras
pessoas. Um dos caras toma uma longneck como eu. Mas pode ser
cachaça, pode ser água, pode ser veneno, pode ser até cerveja. Vi,
entre eles, o Meu Amigo e o Nosso Amigo. O Meu Amigo quase
sempre está bêbado, muitas vezes, caído, algumas, esfolado. Me sur-
preende que, quase sempre, me reconheça e venha apertar a minha
mão, dizer palavras carinhosas. Me surpreende ainda mais que
sobreviva. Vejo ele desde que me mudei para cá e nunca vi ele comer
qualquer coisa. Sempre o corpo magrinho, a cara amassada, a língua
enrolada e um olhar melancômico de clown. O Nosso Amigo é difer-
ente. Chegou faz pouco. Às vezes senta como um juiz na sua cadeira
velha e olha de cima todo mundo que passa, como se fiscalizasse a
calçada. Às vezes sorri, pergunta se estou bem, agradece o pacote de
Doritos, manda lembranças para a patroa. Às vezes dorme estatelado
na calçada ao sol do meio-dia. Os dois estavam na praça, com outros
caras, que falavam alto, vozes roucas e pigarrentas, uma cobertura
sonora sobre o silêncio da cidade, criando um disfarce de normali-
dade para as coisas. Um dia o presidente disse que deveríamos vol-
tar à normalidade, lembrei olhando os caras. O presidente parece
pensar como os caras, como Meu Amigo, Nosso Amigo. Só que ele
se reúne não com os outros caras, mas com a Abin, cientistas, min-
istros. Pensava nisso quando uma senhora puxada por um labrador
passou muito perto de mim, mesmo com quase toda a cidade à sua
disposição. Me deu um arrepio mórbido.
Psicólogos e coachs e jornalistas e especialistas em isolamento
dizem que, mesmo em casa, é preciso se exercitar e manter a rotina.
Em casa, temos seguido à risca: todo dia, às oito e meia da noite,
nos exercitamos batendo panela na sacada. Às vezes, uso uma de
ferro para intensificar o exercício e o volume do recado. Um bom
número de vizinhos tem seguido o mesmo regime de sanidade.
Hoje não foi diferente. Foi um pouco, na verdade. Quando o
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 167
som das motos voltou a reinar sozinho na Independência, na
Mostardeiro, na Ramiro, ao redor da praça, essa Porto Alegre
que vejo da sacada há meses coberta por uma rede de proteção
de obras, nesse momento parecido com silêncio, olhei para a
praça. Não para suas árvores, não para o laguinho seco, não para
a construção que abriga o banheiro público, mas para um grupo
ao lado dela. Sobre colchões e papelões, alguns homens dormiam.
Difícil, com essa rede azul de plástico isolando o edifício da
calçada, distinguir quem se esparramava no chão da praça. Difícil
distinguir volumes, fisionomias. Mas não é difícil atacar de sensível
e pseudo empático e se perguntar o que aquelas figuras pensam das
panelas que gongam há dias, semanas? Meses? Suspeitam do que é
gritado, entendem o que é Bozo? Acho que vejo um deles se mover
para mais junto do outro. Já ouviram falar em gripezinha, atletas,
corona? Estranho, acho que eles não roncam. Não escuto, mesmo
com o vazio das ruas. Sem muito mais o que fazer nessa noite,
apoiado na sacada, conto: um, dois, três, quatro, cinco corpos se
aglomeram junto de um chafariz sem água.
Não é mais do que um jogo de palavras, mas hoje fiz quarenta anos
de quarentena. Muito mais gente fez. Mais significativo é redescobrir
a casa. Tenho passado mais tempo nessa sacada do que devo ter pas-
sado ao longo de todos os anos desde que nos mudamos para esse
apartamento. Termino mais uma taça de vinho, deve ser quase meia-
noite e só sei que dia é hoje porque acordei com um feliz aniversário.
O mais perto de uma festa acontece mesmo é lá embaixo. Também
pode ser uma briga. Eles gritam na praça, não dá para saber se o
empurrão que um desfere agora é amizade ou agressão ou as duas
coisas. Um grunhido parecido com risada. Nessa noite são quatro
os caras no acampamento na praça. Um passa uma garrafa para o
outro e não deixo de pensar em álcool gel. O que comemoram, do
que estão rindo? Levanto, entro na sala, pego a camiseta que estava
jogada no sofá e visto. Calço os chinelos, abro a porta e vou para as
escadas.
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
168 Chiricú Journal, Vol. 5.2
O porteiro toma um susto ao me ver descer o último degrau
e aparecer na portaria. Penso que não deve ser ou não costumava
ser tão estranho assim e então me dou conta de que estou levando
a taça de vinho até a boca. Meio que dou uma risada e suspendo o
movimento e cumprimento o porteiro erguendo a taça num brinde
despropositado. E saio para a calçada. Sei para onde estou indo, mas
a sirene histérica de uma ambulância chegando no Femina me faz
parar o avanço. Tenho a impressão de que tenho ouvido mais sirenes
do que o habitual, mas pode ser só histeria minha. Posso estar mais
histérico que uma sirene de ambulância no início de uma madru-
gada. Eu e todos os brasileiros. Menos um e uns outros.
Paro na esquina do meu prédio, na verdade da Mostardeiro
com a praça. Normalmente, haveria duas ou três pessoas dormindo
aqui ao meu lado, debaixo da marquise. Mas, desde que começou a
restauração da fachada que nunca mais vai acabar, ninguém deitou
nessa calçada. Outra ambulância. Tomo um gole da taça de vinho
e olho para a praça. Os caras estão lá. Meu Amigo entre eles. Nosso
Amigo, não. Meu Amigo está sentado numa lata de tinta. Um gordo,
debruçado sobre seu carrinho de super, toma um gole de uma gar-
rafa plástica, outro fala, gesticula, não sei o que ele pode ter visto de
tão interessante. Eu acredito que vejo perdigotos, gotículas tomando
conta do ar, da atmosfera. Atravesso a rua, me aproximo de um dos
bancos que ficam na calçada ao redor da praça. Nenhum dos caras
repara que atravessei a rua. Olho o banco verde-piscina, assento
de madeira, aprendi com o ônibus de turismo de Porto Alegre que
passa todo dia aqui que esses bancos pertenciam ao antigo auditório
Araújo Viana. Reparo que faz tempo que não ouço essa voz gravada,
que vem do ônibus todas as tardes, repetindo a história dos bancos
que saíram do Araújo para a Praça Júlio de Castilhos. Não sei quando
parou. Em vez dela tenho ouvido o autofalante da prefeitura dizendo
para não sair de casa. Nunca fui olhar de onde vem esse som, bem
poderia ser do ônibus de turismo. Penso em sentar no banco, mas
imagino milhões de vírus sentados ali, braços abertos para amorte-
cer minhas nádegas. E noto pela primeira vez que o banco fica de
costas para a praça, de frente para o asfalto, para a rua Mostardeiro.
Essa ideia deve ser do tempo em que ver carros passando não era
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 169
algo muito habitual. Como hoje. Uma moto passa zunindo. A
algazarra na praça chama minha atenção. O que aconteceria se eu me
aproximasse para ouvir as histórias, os urros, os pigarros? Também
receberia um empurrão amistosamente agressivo, agressivamente
amistoso? Ofereceria um gole da minha taça de vinho para a turma?
Tomaria um trago de sei lá o quê? Meu Amigo levanta do seu banco
de lata e cambaleia praça adentro, conversa com alguém que não vai
ao seu lado, aponta o indicador, faz desenhos no ar, acho que argu-
menta algo, vai cortando a praça em diagonal, se afastando da turma,
de mim, rumo à Vinte e Quatro, ao mercadinho, à Ramiro. Deve
estar descendo para a Cristóvão, ou, por que não, vai dormir lirica-
mente na rua mais bonita do mundo. Um pouco de poesia numa
hora dessas. Vou atrás.
Chego na esquina do Progresso, o mercadinho evidentemente
está fechado. Tudo está fechado. A noite, Ramiro abaixo, está
fechada. O Hospital Moinhos de Vento não deve estar fechado. Olho
para a direita e não vejo a fachada do meu prédio, só o véu, a tela, a
rede azul que nos aparta desde 31 de dezembro. Olho de volta para a
Ramiro, para a taça de vinho vazia, penso que podem dar por minha
falta em casa.
Hoje eu saí de máscara. Minha mulher tinha saído anteontem ou
antes. Por que dá medo ver alguém de máscara, não deveria ser o
contrário? Eu sinto. Senti quando ela chegou em casa. Senti o medo
das pessoas poucas que estavam desmascaradas no Zaffari, olhares
que te investigam. Devo fazer o mesmo. É que minha mulher foi
deitar, e eu sigo perdido em meus horários, um psicólogo fala na
TV, mas não fala sobre pensar em colocar a máscara para ir até a
sacada, não fala sobre pensar no que aconteceria se o vizinho de
cima espirrasse, tossisse, engasgasse na sacada dele. O burburinho
que vem da praça é mais interessante do que o murmurinho que
vem da TV, empatia, solidariedade, vamos sair melhor dessa. Uma
ambulância passa e é maior que tudo. Vou à cozinha e abro um vinho.
Que bom, fui ao Zaffari. Quando voltei de lá à tarde com garrafas
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
170 Chiricú Journal, Vol. 5.2
e outras necessidades, não lembro de ter passado por nenhum dos
habitantes da praça e das calçadas que rodeiam meu prédio. Não
sei se é estranho. Nem sei se os via tanto assim em outros tempos.
Mas eu queria. Enquanto caminhava pela Mostardeiro com as
sacolas emplastadas de vírus que nem em um para-brisa tomado
de mosquitos esborrachados, eu tinha uma vontade de passar pelos
caras, ver se notavam que eu estava de máscara, se me olhariam
com medo, como quem se pergunta Esse aí está em recuperação,
mora com alguém contaminado, é assintomático? Meu Amigo me
reconheceria? O Nosso Amigo, comentei hoje com minha mulher,
esse não vejo há tempo. É inevitável pensar se aconteceu alguma
coisa e se eu pensaria nisso em outros tempos. Saio da cozinha e
não boto máscara para ir à sacada, não daria para tomar vinho com
ela. Sento na cadeira e não há como não ver, antes de qualquer
coisa, essa outra máscara que cobre o prédio: a tela azul balança
com vento, filtra a paisagem e faz lembrar do apartamento do Púcaro
búlgaro, convertido em nau para chegar à Bulgária. Tenho essa
imensa vela estufada diante da proa do meu apartamento, para onde
vou? Olho para a praça. Ouço as vozes, mas não vejo a rapaziada,
ouço a moto e vejo ela passando com uma luminosa caixa laranja
na garupa do motoqueiro. Sigo ouvindo a turma na praça. Devem
estar escondidos embaixo das árvores, no centro da praça, como se
tivessem ido para a área de lazer, o pergolado do seu condomínio.
Vem uma gaitada rouca, debochada. Há quanto tempo não dou
uma gargalhada? Eles dão e falam alto. Ao redor da praça, alguns
apartamentos têm luzes acesas, mas ninguém está nas janelas, nas
sacadas, talvez assistam ao Big Brother, à live de algum artista, de
uma filósofa, alguém dizendo Quando tudo isso passar. Parece
que ouço Filho da puta vindo da praça. Volto a olhar e reparar, são
muitos filtros entre mim e eles, a rede de proteção, a árvore, a noite.
As vozes são todas meio arranhadas, encatarradas, pigarrentas, mas
não escuto tosses secas. Lembro de uma vez que vi Meu Amigo
caído ou deitado em frente a uma loja desocupada. Tinha sangue
seco na testa. Mas tinha conforto na expressão, parecia sonhar um
sono tranquilo. Olhei por um tempo, a respiração lenta e ritmada,
era o único movimento. Outra vez, na descida da Miguel Tostes, ele
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 171
na calçada de novo. De longe, já tinha visto o corpo que se agitava
sobre o calçamento, um senhor em pé, uma jovem agachada junto
dele. E se fosse hoje? Intuía e confirmei ao chegar perto: estava tendo
convulsões. O senhor e a garota já haviam chamado ambulância,
já haviam endireitado o corpo para ele não engolir a língua. Olhei
para a dupla pensando se alguém ali era médico, enfermeiro,
hipocondríaco ou tinha visto no youtube como proceder numa
hora dessas. A ambulância chegou e não precisei fazer nada, nem
sei se saberia. Só agora, olhando a praça, me ocorre: e se eu tivesse
entrado na viatura e tivesse ido junto confirmar se estava tudo bem?
Hoje eu saberia o nome do Meu Amigo?
Desço as escadas do prédio, os sensores de presença
desacostumados de qualquer gente, feito vigias na Suíça, demoram
a acender as luzes. Ou nem acendem. As escadas, mesmo que eu
evite tocar nos corrimãos e paredes, são um dos lugares mais
seguros do mundo nesse momento. Ninguém usava antes do vírus,
que dirá agora. Escadas de emergência. Uma luz acende e vejo o
lixo acumulado diante de uma das portas. Sei quem mora ali, sei
agora que comeu comida italiana, hambúrguer, sushi, toma suco de
garrafa, leite desnatado, vinho branco, mas não sei seu nome. Sei
poucos nomes de pessoas que dividem esse terreno comigo. Haverá
boas sobras de alimento nessas quentinhas, caixas, embalagens,
lixo orgânico, amontoados em frente a essa e outras portas? Me
aproximo e lembro que estou sem máscara e dou um passo para trás
como se o vírus fosse um sapo que pudesse saltar, uma aranha de
filme B. Assassina. Sigo pelos degraus. E se minha mulher acordar
dessa vez? E se ela já acordou em outras vezes e sabe que tenho
saído de casa nas noites, nas madrugadas e não falou nada? Será
amor isso, ou compaixão, ou indiferença, ou mesmo medo de saber
o que se passa comigo? Uma semana depois das convulsões do Meu
Amigo vi ele de tarde, cambaleando pela Independência, garrafa
de plástico na mão, cabelo cortado, curativo descolando do nariz,
olhar embaçado e sorriso mole: pensei: não é tão simples morrer. E
chego na portaria do prédio e vejo ela vazia. Faz o quê, uns quinze
dias que dispensaram os porteiros, quando foi aquela reunião de
condomínio por WhatsApp? Tele-entrega avisa pelo celular, cada
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
172 Chiricú Journal, Vol. 5.2
um por si e por suas luvas. Dizem que foi cuidado com a saúde de
todos, penso em taxas de condomínio atrasadas, flexibilização de
leis trabalhistas, demissões. Agora é tarde em todos os sentidos.
Não vou subir nove andares para pegar máscara e luvas. Saio para a
rua, que segue rindo da gente, seja lá que dia, noite for hoje. A risada
das ruas tem o som rude das risadas dos habitantes da praça e, às
vezes, fica sinistra quando uma ambulância dessas passa berrando o
desespero de alguém sem ar para gritar.
Chego perto dos colchões e papelões espalhados entre o
banheiro público trancado e o chafariz seco. O cheiro é agressivo,
mas fico observando os carrinhos de super cheios de qualquer—ou
haverá critério, curadoria nessas seleções—tralha. Garrafas plásti-
cas, sacolas, papéis, quentinha, uma cabeça de boneca, um rádio
velho, um tecido imundo é o que consigo ver enquanto me sento
em um dos colchões, pegajoso, sinto umidade atrás das minhas
coxas, na palma das mãos, e ainda assim sento e penso nas sacolas
de supermercado lavadas com água e sabão e estendidas no varal do
apartamento. Olho para trás e tento ver nossa sacada lá no alto, do
outro lado da rua, isolada do mundo atrás daquela tela azul, enorme
mosqueteiro cobrindo o prédio. Risos vêm do meio da praça. São
três sujeitos que conversam lá no centro, debaixo dessa luz antiga
do poste. Dois caras estão sentados num banco, o outro está em pé,
se movimenta. Conversam como se houvessem saído de uma par-
tida do time deles, sem medir distâncias, nem se preocupar comigo
abancado sobre suas camas. Um carro passa às minhas costas,
poderia ser um carro de som da prefeitura, Fique em casa, não faça
aglomerações. Sinto a espuma do colchão rasgado tocando a palma
da minha mão, eles seguem falando de algo muito animado, eles
entendem o recado da prefeitura? Quanto tempo um vírus sobre-
vive na espuma de um colchão? Parece que o restaurante do outro
lado da rua faliu, não vai mais abrir quando tudo isso passar. Olho as
grades cerradas, o comércio às, que horas são, tão igual ao comércio
de dia: fechado. Para evitar circulação. Comprar é o que nos faz sair
de casa, andar, circular. Se não há o que comprar, não há por que
sair de casa. Reparo no silêncio e vejo que os caras se movimentam,
devem estar vindo para cá, sempre juntos, eles circulam mesmo
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 173
com lojas fechadas. E eu me levanto, me afasto do colchão, tomara
que não me vejam, vou em direção ao ponto de táxis sem táxis. Os
caras chegam no dormitório. Um, gordo, a camiseta esfarrapada
mal cobrindo o que deveria ser cintura, deita de lado com a cabeça
apoiada num dos braços bem no colchão onde eu estava sentado.
A palavra assintomático aparece e desaparece no mesmo momento
em que reparo que nenhum dos três é o Meu Amigo. Nosso Amigo
sumiu faz dias, semanas. Meu Amigo também já não vejo há tempos.
Os três parecem não se preocupar. Uma cachaça, deve ser cachaça,
começa a circular, o do colchão toma um gole meio deitado, passa
para o outro e imagino um caminhão velho da prefeitura, no lugar
da carroceria, uma gaiola de madeira, chegando e recolhendo os
três para esvaziar as ruas e talvez me levando junto, eu que encosto
impunemente—será—num poste e penso no presidente saindo na
rua para abraçar pessoas, o presidente dizendo que o brasileiro fica
bem no esgoto. O caminhão já recolheu mais gente? Mas não há
caminhão. Ou há. Lembro da época da Copa. Falavam que pessoas
que dormiam nas ruas ou pediam dinheiro estavam sendo recolhi-
das, catadas, varridas, cidade para holandês, alemão, argentino ver.
Agora não lembro de terem dito como faxinavam as pessoas da rua.
Deveria ter perguntado. Podia ser um caminhão coletor, caminhão
gaiola, a carrocinha. A cachaça rola e sinto vontade de um gole e
vejo o gordo deitado no colchão onde eu estava e vem uma coceira
no nariz e tranco um espirro. Puxo o ar com força e vem o cheiro de
acampamento de praça que parece ter se alojado em mim, ou talvez
o vento traga de lá, lá de onde traz esse grunhido rouco, com o qual
eles conversam.
Caminho ao redor da praça, é possível que encontre alguém
dormindo num desses bancos, são muitas as árvores fazendo som-
bras, um poste está com a lâmpada queimada, seria possível até
haver um corpo morto ali naquele gramado junto dos arbustos,
alguém como Meu Amigo, teve uma convulsão e ninguém viu, ou
tossiu, tossiu, tossiu, ficou sem ar, cansado e com dores e fraco,
fraco, fraco, foi deitando no gramado buscando algum conforto ou
ar e morreu sufocado. E ninguém repararia, o corpo só seria visto
pela manhã, ou nem pela manhã, quem passaria ali? Só seria visto,
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
174 Chiricú Journal, Vol. 5.2
percebido é melhor, quando começasse a dar cheiro, incomodar, um
cheiro mais podre que o do colchão que ficou nas minhas roupas, e
chamasse a atenção de um gari ou de um desavisado que passasse
aqui, rente ao gramado, onde ainda não tem corpo algum. Só eu e
esse cheiro que já é meu. Olho para casa, as luzes todas apagadas
atrás da tela de isolamento. Quando subir, o banho vai ter que ser
mais intenso. Já pensei uma vez em estar com uma doença lenta, que
fosse comendo a gente por dentro, matando e apodrecendo célula
por célula, uma por dia talvez, e fosse gerando um cheiro de putre-
fação primeiro imperceptível, que iria aumentando com o agravar,
cheiro de morte em procissão, o sintoma mais visível seriam moscas
que começariam a pousar insistentes no enfermo, não sei porque
pensei nisso. Aqui na praça, agora, tem essa pomba morta. E moscas
ao redor. Um rato não deve demorar a aparecer. Me afastei bastante
dos caras. Estou na outra ponta da praça e o som deles agora é vago.
À minha frente está a Ramiro, lomba que desce na escuridão para
os dois lados. À minha frente a Independência, suas estrangeiras
palmeiras no canteiro, a sequência de marquises nas calçadas, abrigo
para outras trupes isoladas da cidade, ou mesmo para solitários.
Não era raro ver andarilhos, bêbados, perdidos, de olhar à deriva,
sentados, catando coisas nas lixeiras ou simplesmente caminhando
por aqui em manhãs, tardes, noites, qualquer hora. Onde dormem?
Talvez Meu Amigo esteja para lá, atravesso a Ramiro sem olhar para
os lados nem para o semáforo, só de ouvido, lembro do tempo em
que Porto Alegre tinha relógios de rua. Caminho como se fosse para
a Lancheria, tomar uma cerveja, comer um pastel, mas a essa hora
ela estaria fechada como está. Não atravesso a rua em direção ao
Bom Fim, sigo. Estou com sede, talvez cansado, a cabeça pesa e olho
para meus pés pisando a calçada. Na verdade, o que toca a calçada
são os chinelos. Meus pés pisam os chinelos e talvez com a pressão
de todo o meu corpo a borracha esteja esmigalhando milhares de
vírus como se fossem baratas, uma película invisível, um tapete
de vírus enverniza todo o calçamento até lá a esquina onde, sob
a marquise de uma loja fechada, dorme ou desmaia ou morre
um corpo. Caminho na direção do corpo que pode ser qualquer
pessoa, e o ar me falta como se eu estivesse indo a um encontro. A
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 175
Globonews fala das bolsas, do pior mês para venda de carros, dos
temores do varejo, mas não dá uma notícia sobre o comércio de
crack, da cachaça em garrafa de plástico. Subiu, desceu? A maconha
e a cocaína devem estar passando por bons momentos, talvez tam-
bém estejam nesses caixotes fosforescentes que riscam as noites de
moto e bicicleta. O corpo deitado na calçada está de costas e de
lado para mim que olho de cima: cabelos ensebados, sem camisa,
calça deixando parte da bunda de fora. Pelo infla-desinfla do tronco,
respira. Vive. Pelos cabelos, não parece ser Meu Amigo, nem Nosso
Amigo. Olho o corpo respirante, a tentação de cutucar com a ponta
do pé, mas aí dizer o quê, o coração acelera. Será que a garganta vai
fechar de novo: e se fechar, e esse ar que já falta, como saber se é
pânico, ansiedade, crise respiratória aguda, ou. Tento sincronizar o
ritmo da respiração com o ritmo lento do corpo deitado na calçada,
minha boca segue seca e o coração não acalma, pego da calçada uma
garrafinha de água que está do lado do corpo e emborco um gole.
Arde. Não é água. A ardência no esôfago, na boca do estômago, no
estômago, nas juntas, no olho, no cabelo, é maior que tudo. Boto
a garrafa no chão e esfrego minhas mãos sem álcool gel ou sabão.
Daqui já não dá mais para distinguir meu apartamento por trás da
tela, só a tela, e esse corpo assintomático que não conheço, não é
Meu Amigo, Nosso Amigo, esse corpo estará aqui amanhã? Uma
ambulância passa e, em algum lugar secreto do meu cérebro, tenho
medo de ser recolhido. Ando.
Atravesso a rua e olho para trás e para o corpo que daqui já
não se vê se respira ou não. Se tiver parado de respirar, ou se perder
ar e sufocar, quem recolhe? No Equador há mortos espalhados
pelas calçadas, deve haver em outros países, mas as notícias não
chegam. Talvez até aqui. Dou as costas para o corpo que estava vivo
e a imagem de um caminhão da prefeitura me vem de novo, me
dá medo, talvez o caminhão do lixo recolhendo o corpo que ainda
respira, o Meu Amigo, Nosso Amigo, os caras na praça, e triturando
com outros dejetos, enquanto no alto da cabine um alto falante
repete Não saia de casa, um caminhão total que esvazia as ruas e
manda ficar em casa, um caminhão total, e dou uma risada e me
assusto. E tenho medo de ter sorrido e mais medo ainda de talvez
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
176 Chiricú Journal, Vol. 5.2
ter falado Caminhão total em voz alta, tenho mais medo disso do
que de estar a essa qualquer hora na rua e tenho ainda mais medo
do pensamento fugindo, querendo avisar Meu Amigo para tomar
cuidado com o caminhão, as pernas cambaleiam, coço o olho, como
faz para não sair de casa quem está vivendo na rua? Já não enxergo
o corpo que respirava caído-deitado na calçada, e o chinelo engata
em uma lajota solta, tropeço, desabo, as mãos lixando-se na fricção
com o basalto, esmagando vírus, a pele dos joelhos vai ralando
também, e o frio na barriga pode ser do contato com o chão. É do
contato com o chão, sinto agora, encostando a bochecha na pedra.
Rio de novo: estou deitado na calçada e não sinto vergonha, como
quando se tropeça e se tenta pateticamente manter o equilíbrio e a
normalidade aos pulinhos, não tenho vergonha: perdi o equilíbrio.
Estou deitado na calçada. Tenho sangue nas mãos, acho. Na ponta
do indicador, o líquido corre fininho e confirmo que, de fato, é
sangue: tenho sangue nas mãos e sinto o gosto, chupando o dedo
para estancar. Estou deitado na calçada chupando a ponta do meu
dado e tudo bem. Faço uma flexão desengonçada como há dias não
faço em casa, como um presidente fazia quando visitava milicos,
e me sento. Me apoio sobre as canelas, fico de joelhos. Tem um
rasgão na minha camiseta, ela parece estar encardida, mas não
vejo bem. Meu joelho sangra e sinto essa falta no pé direito. Olho
para trás: o solado do pé direito do chinelo está lá onde começou
a minha queda. A tira ainda abraça o peito do meu pé, cinto de
segurança que se rompeu.
Apoio a sola do pé direito no chão, a perna esquerda ainda
dobrada, canela encostando na pedra, estou numa posição de cava-
leiro diante do rei. Tomo impulso, me levanto. O dedo cortado na
mão esquerda lateja. Olho, e o sangue já não corre, mas sinto o late-
jar. O pé direito pisando o basalto é bom. É estranho. É bom. Um
pé toca o piso, e o outro, a borracha; um sente o frio, e o outro, um
leve grude de suor e não sei há quanto tempo estou caminhando.
Caminho e o chinelo cola na pele só um tantinho e solta e bate no
chão e recebe o peso do pé prensando a borracha contra a calçada.
Já foram uns quantos passos só prestando atenção no contraste de
um pé e outro, como se eu fosse dois caminhando ao mesmo tempo.
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 177
É um tanto meditativo ficar todo esse tempo atento só a um pedaço
do meu corpo, dizem que os maratonistas entram num transe assim
ou qualquer coisa parecida, mas os maratonistas sabem para onde
estão indo. Me curvo. Tiro o chinelo que sobrou, fico com dois pés
em contato direto com a calçada e me dou conta de que estou parado
na esquina esperando o sinal de pedestres abrir. A mão vermelha e
luminosa me acena do outro lado da rua. Será que passam álcool
ali? E não é que estou na esquina da Barros com a Independência?
Cruzo a rua e vou até a frente do Bambus onde ninguém toma trago,
a fumaça de cigarro não se mistura com a da maconha e o único som
é de uma sirene ao longe. Olho para trás. O casarão do Garagem
Hermética. Ele e o Bambus hoje são iguais. Nada. Ninguém. Os
tempos se misturaram, os dois só existem na memória. E lá embaixo
naquela esquina onde lembro ou invento que já tomei caipira ou cer-
veja sentado no meio fio não é memória o que eu vejo: um corpinho
esquálido troca os pés descendo a rua em lento slalon como se fos-
sem seis, sete da manhã de um dia que já foi chamado de normal, e
ele, o corpinho trôpego, como se fosse o último a sair do Garagem
Bambu, do Bambus Hermético, mas é noite e eu não sei que horas
são e os bares estão fechados e eu estou descendo a rua em passo
mais rápido que o corpinho bambo e as ranhuras do asfalto na sola
do pé são uma novidade e já estou na mesma calçada que ele e então
uma dor aguda. Um espeto, uma agulha, uma qualquer coisa que
fura cravou na sola do meu pé. Mas não paro. Sigo, agora mancando
como se sempre houvesse andado assim, e estou muito perto do
corpinho esquelético que, agora sei, veste trapos, usa tênis rasgado,
calça jeans que parece com ele: vai cair, mas não cai. Meu Amigo,
digo. E ele segue. Meu Amigo, repito, então ele está bem, não foi
recolhido, Meu Amigo, ele só tem sintomas de embriaguez, mas ele
não me ouve. Estico o braço, Meu Amigo, puxo ele, minhas unhas
estão pretas e parecem ter crescido. O puxão faz ele virar, mas o cor-
pinho é mais leve que o de uma criança e, no que ele gira, também cai
e eu não sei se estou caindo, me jogando ou mergulhando na calçada.
Estamos meio embolados no chão, confundidos um com o outro e
viro o rosto na direção dele e nossos narizes se tocam, sinto o óleo
do nariz dele besuntando o meu e não sei se o meu besunta o dele.
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
178 Chiricú Journal, Vol. 5.2
Não sei se o cheiro fétido é dele, meu, do meu bafo ao dizer Meu
Amigo. Consigo empurrar um pouco ele, que parece um boneco de
pano. Nos separamos. Os olhos dele são embaçados e não me veem
ou não reconhecem. Não é o Meu Amigo. Não sei que é. Empurro
ele mais um pouco. Me afasto. E Meu Amigo pode estar caído morto
com meu vírus de assintomático em qualquer canto da cidade, ou
mastigado num caminhão da prefeitura. O homem à minha frente
fecha os olhos, e eu vejo um caminhão que vem subindo a Barros
Cassal. Sinto um tranco no peito. Me levanto. Deixo o corpinho para
trás, arrasto meu pé o mais rápido que consigo, ando, arrasto, ando,
olho para trás e o caminhão passa, não me viram. Na outra esquina
tem um cara com uma caixa verde-limão pendurada nas costas. Ele
está apoiando uma bicicleta numa coluna e agora se dirige para o
degrauzinho da entrada de um prédio antigo. Ando e me arrasto
rápido e pego no guidão da bicicleta. Vejo o cara apertando um botão
no porteiro eletrônico, batendo no vidro e monto na bicicleta. Dou
uma pedalada forte e o embalo da lomba abaixo deixa para trás uns
gritos, uma sirene perdida, cruzo uma avenida na inércia, a cidade vai
ficando plana de novo e pedalo e pedalo e pedalo e pedalo e pedalo
e pedalo e pedalo e pedalo e pedalo e cruzo outra avenida e sinto o
zunir de um ônibus às minhas costas. Perco o equilíbrio, tento sus-
tentar a bicicleta, mas a queda parece inevitável. No asfalto uma seta
aponta para a direção contrária, parece que é sobre ela que vou me
esborrachar. E lá vou eu.
Água, tem água molhando minha cabeça. Abro os olhos, respiro e
sinto cheiro de grama, de terra, estou deitado e água molha minha
cabeça, encharca minha roupa, afoga vírus. Rolo o corpo, estou
deitado na grama, e a chuva bate no meu olho, bate em mim. Assim
como estou, só vejo céu e água. Abro a boca e deixo a chuva cair
dentro dela. Não chego a tomar um gole, mas é bom. Viro a cabeça
para um lado. Poças marteladas pela chuva, barro, mato. Olho para o
outro, mesma coisa, um pouco de lixo boiando, talvez uns casebres
ao fundo. Me levanto. Tenho as roupas empapadas e rasgadas, a água
This content downloaded from
189.ff:ffff:ffff:ffff:ffff on Thu, 01 Jan 1976 12:34:56 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Pujol Filho / Abril ou setembro 179
pinga dos meus cabelos. Vejo prédios ao longe. Caminho e meu pé
afunda. Avanço o outro pé e afunda também. Vou afundando pé
por pé e avanço. Adiante vejo um valão prestes a transbordar. Na
correnteza passam entulhos. A pouca luz do dia que começa deixa
ver pedaços de pau, acho que um pneu. Parece que um vulto passa
boiando. Mas também pode ser um saco de lixo. Afundo o pé e
avanço. Estou diante do valão. Olho para trás. A cidade distante,
escondida por uma tela de chuva. Olho para a frente, o valão que
cresce, cheiro da imundice que ele vem recolhendo e arrastando
feito caminhão de coleta nessa enxurrada em que vai se transfor-
mando. Passa um corpo inchado boiando. E outro. Pode ser Meu
Amigo, pode ser Nosso Amigo, agora é uma mulher e um corpo tão
pequeno que deve ser uma criança. Ou gato. Passa um sofá boiando,
a carcaça de um cachorro. Avanço mais. Olho esse valão, esse monte
de esgoto que já é um rio e não sei quem, se Meu Amigo ou outro
desconectado, acho que lembro de alguém me dizendo que se a
gente cai no esgoto, nada acontece. Nada acontece. Me sinto na
beira da piscina na frente disso que já é um rio de vírus, de gente,
de lixo que vem crescendo e acelerando. Um rato com a cabeça para
fora da água se debate, um carrinho de supermercado passa, sacos
pretos que parecem corpos, que podem ser dejetos, que. Tusso.
Tusso uma tosse molhada pela chuva que envolve e me dá calafrios.
Tusso como se me libertasse de alguma coisa. O barulho das gotas
explodindo na água, no chão que já é uma lâmina d’água para onde
quer que eu olhe. Parece que escuto o som de um caminhão, uma
sirene ao fundo, mas já não vejo nada ao meu redor, por trás da
chuva que cai feito essas cascatas que chamam de véu de noiva.
E acho que vem mais um corpo na correnteza. Vem bem perto. E
parece que eu conheço ele, ele vem boiando muito junto da mar-
gem que não para de avançar. Tem um dos braços aberto, cotovelo
dobrado, a mão parecendo apontar algo acima da sua cabeça, talvez
Deus, talvez uma direção. Conheço? Me jogo no valão, por cima do
corpo. Afundamos um pouco juntos, mas não solto. Me agarro no
corpo, emergimos. Estou agarrado numa protuberância que ele tem
na barriga, um inchaço feito boia. Outros corpos, entulhos passam
por nós. Seguimos a correnteza. Eu tenho metade do corpo na água,
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
180 Chiricú Journal, Vol. 5.2
esgoto, lama. Ele está vestido de terno e gravata e boia me levando
não sei para onde. Olho bem na cara dele, não é Meu Amigo. Tusso
forte na cara dele. Não reage. Fica tranquilo, digo para ele, no esgoto
a gente fica bem, nada nos acontece.
Reginaldo da Luz Pujol Filho holds a PhD in creative writing from the Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul and has done postgraduate work at the Universitat de
Barcelona and the Universidade Nova de Lisboa. He is the author of three short story collections and
a novel and curated the exhibition Nosso corpo estranho.
This content downloaded from
189.6.214.51 on Tue, 07 Dec 2021 22:24:27 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Você também pode gostar
- 66-Texto Do Artigo-197-1-10-20080612 PDFDocumento15 páginas66-Texto Do Artigo-197-1-10-20080612 PDFLeonardo CoelhoAinda não há avaliações
- O Globo - 08-08-2020 - Segundo Caderno - 1-Nacional - p3Documento1 páginaO Globo - 08-08-2020 - Segundo Caderno - 1-Nacional - p3ReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Arte de Vanguarda e A Crítica de Arte No Brasil (1950-1970)Documento19 páginasArte de Vanguarda e A Crítica de Arte No Brasil (1950-1970)ReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Sobre Opsanie No EstadaoDocumento4 páginasSobre Opsanie No EstadaoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Participação, Controle Social e Prevenção Da Violência: o Programa "Abrindo Espaços"Documento19 páginasParticipação, Controle Social e Prevenção Da Violência: o Programa "Abrindo Espaços"RafaelLosadaAinda não há avaliações
- Inicio de Era Bom Que Trocassemos Umas Ideias Sobre o AssuntoDocumento14 páginasInicio de Era Bom Que Trocassemos Umas Ideias Sobre o AssuntoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Narrativa Imagem Nao Habitavel e o RomanDocumento15 páginasNarrativa Imagem Nao Habitavel e o RomanReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Reaviso de Débito: Reginaldo Da Luz Pujol FilhoDocumento2 páginasReaviso de Débito: Reginaldo Da Luz Pujol FilhoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- PAUL VIRILIO Da Politica Do Pior Ao Melhor Das UtopiasDocumento12 páginasPAUL VIRILIO Da Politica Do Pior Ao Melhor Das UtopiasReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Entrevista Carrion SuplementoDocumento2 páginasEntrevista Carrion SuplementoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Exposições Como Arenas de PoderDocumento10 páginasExposições Como Arenas de PoderReginaldoPujolAinda não há avaliações
- ZH O Conto Do Adeus SergioDocumento1 páginaZH O Conto Do Adeus SergioReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Sergio FolhaDocumento5 páginasSergio FolhaReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Revista Palavra-39Documento1 páginaRevista Palavra-39ReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Revista Palavra-40Documento1 páginaRevista Palavra-40ReginaldoPujolAinda não há avaliações
- PE 172 Web PDFDocumento32 páginasPE 172 Web PDFReginaldoPujolAinda não há avaliações
- No Final Dos Anos Sessentea - Silviano - SantiagoDocumento11 páginasNo Final Dos Anos Sessentea - Silviano - SantiagoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- De Arte Contemporanea Discussoes Sobre ADocumento11 páginasDe Arte Contemporanea Discussoes Sobre AReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Revista PalavraDocumento76 páginasRevista PalavraReginaldoPujolAinda não há avaliações
- O Sensual Adulo FSPDocumento2 páginasO Sensual Adulo FSPReginaldoPujolAinda não há avaliações
- PE 172 Web PDFDocumento32 páginasPE 172 Web PDFReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Entrevista Carrion SuplementoDocumento2 páginasEntrevista Carrion SuplementoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Rua de DentroDocumento17 páginasRua de DentroReginaldoPujolAinda não há avaliações
- 2019 08 20-Pucrs Cultura-Edital Premio Delfos de LiteraturaDocumento6 páginas2019 08 20-Pucrs Cultura-Edital Premio Delfos de LiteraturaReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Machado de Assis - O Ideal Crítico PDFDocumento4 páginasMachado de Assis - O Ideal Crítico PDFGabriel Bortolot FerreiraAinda não há avaliações
- Ananda CarvalhoDocumento10 páginasAnanda CarvalhoSabrina Damasceno SilvaAinda não há avaliações
- CildoDocumento172 páginasCildoReginaldoPujolAinda não há avaliações
- UM LIVRO NO AQUARIO VeronicaDocumento3 páginasUM LIVRO NO AQUARIO VeronicaReginaldoPujolAinda não há avaliações
- NOVAS E VELHAS QUESTÕES DE CURADORIA NO SISTEMA CONTEMPORÂNEO DAS ARTES Daniela Pinheiro Machado KernDocumento11 páginasNOVAS E VELHAS QUESTÕES DE CURADORIA NO SISTEMA CONTEMPORÂNEO DAS ARTES Daniela Pinheiro Machado KernReginaldoPujolAinda não há avaliações
- Hist. Ingrid PDFDocumento1 páginaHist. Ingrid PDFTiago SantosAinda não há avaliações
- SennaDocumento23 páginasSennaLeandro FurlanAinda não há avaliações
- Medidas Territoriais: Bairro, Distrito, Zona, Interdistrital, Intradistrital, Intermunicipal e Outros Recortes Do Espaço UrbanoDocumento35 páginasMedidas Territoriais: Bairro, Distrito, Zona, Interdistrital, Intradistrital, Intermunicipal e Outros Recortes Do Espaço UrbanojoaosevanAinda não há avaliações
- PlutarcoDocumento153 páginasPlutarcoreginaldo aliçandro BordinAinda não há avaliações
- Olhonavaga - PROVA - INEP - ENEM - Exame Nacional Do Ensino Médio - Primeiro Dia e Segundo DiaDocumento63 páginasOlhonavaga - PROVA - INEP - ENEM - Exame Nacional Do Ensino Médio - Primeiro Dia e Segundo DiaRenan Ruminador FerreiraAinda não há avaliações
- Ficha Rev Teste 2 AsaDocumento8 páginasFicha Rev Teste 2 AsaCarina GasparAinda não há avaliações
- Consideracoes Sobre A Psicose OrdinariaDocumento9 páginasConsideracoes Sobre A Psicose OrdinariaJonas Narcisista PirroAinda não há avaliações
- PJF - Aprovaçâo de Projetos 2019Documento84 páginasPJF - Aprovaçâo de Projetos 2019Alexandra RampinelliAinda não há avaliações
- Catalogo Wix FiltrosDocumento77 páginasCatalogo Wix FiltrosOscar Eduardo Caceres FloridoAinda não há avaliações
- Cad C2 Teoria 1serie 20aulas 2bim 2023 PortuguesDocumento4 páginasCad C2 Teoria 1serie 20aulas 2bim 2023 PortuguesFERNANDA FERREIRA DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Apostila de Artes VisuaisDocumento59 páginasApostila de Artes VisuaisDaniele Lamim100% (2)
- A Liga Literaria - 4906811096Documento632 páginasA Liga Literaria - 4906811096Ana Karla OliveiraAinda não há avaliações
- Cores de Complexo de CobreDocumento3 páginasCores de Complexo de CobreImerson Mota100% (1)
- Atividade BiomasDocumento7 páginasAtividade BiomasJose Andrielle100% (1)
- BIO - AP - Histologia - Exercícios - Tecido EpitelialDocumento7 páginasBIO - AP - Histologia - Exercícios - Tecido EpitelialzaAinda não há avaliações
- 188-Texto Do Artigo-459-1-10-20210610Documento6 páginas188-Texto Do Artigo-459-1-10-20210610Rauane RodriguesAinda não há avaliações
- Guia de Arborizacao 2019Documento92 páginasGuia de Arborizacao 2019Samuel Gois de SouzaAinda não há avaliações
- Capacitor, o Que É - Como Ligar - Mundo Da ElétricaDocumento12 páginasCapacitor, o Que É - Como Ligar - Mundo Da ElétricaJupiara MacAinda não há avaliações
- Aula+2+ +Gestão+Da+ProduçãoDocumento93 páginasAula+2+ +Gestão+Da+Produçãorayssa lopesAinda não há avaliações
- Conteúdos 2021 - Matemática - 1 Série EM - 3º TrimestreDocumento3 páginasConteúdos 2021 - Matemática - 1 Série EM - 3º TrimestreThiago Cézar Padua RosaAinda não há avaliações
- Doenças Venosas e ArteriaisDocumento8 páginasDoenças Venosas e ArteriaisWanessa KallyneAinda não há avaliações
- Chat Da LiveDocumento904 páginasChat Da LiveMarcosAinda não há avaliações
- Wayne Mack - A Utilidade Das Escrituras No Aconselhamento PDFDocumento4 páginasWayne Mack - A Utilidade Das Escrituras No Aconselhamento PDFHugo Santos ZicaAinda não há avaliações
- Atividade 3 Ano SubstantivoDocumento6 páginasAtividade 3 Ano SubstantivoJuliana Beatriz de OliveiraAinda não há avaliações
- PROJETO PPSUS Aprovado Comitê de Etica-Jan21-Modificadoabril21Documento31 páginasPROJETO PPSUS Aprovado Comitê de Etica-Jan21-Modificadoabril21fotoseduardaamaralAinda não há avaliações
- Máquina para Solda MIG/MAG Voonder MM 251Documento36 páginasMáquina para Solda MIG/MAG Voonder MM 251Alexandre S. CorrêaAinda não há avaliações
- Cartilha Acessibilidade - Web PDFDocumento130 páginasCartilha Acessibilidade - Web PDFmaiquelveigaAinda não há avaliações
- Curso Básico (Coroinhas)Documento37 páginasCurso Básico (Coroinhas)Carlos Tadeu0% (1)
- Análise de Dados Excel 2022Documento26 páginasAnálise de Dados Excel 2022Esperança CandeleAinda não há avaliações