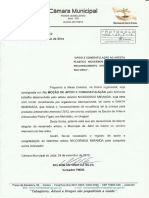Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)
2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)
Enviado por
LAZARO LUCIANO0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações13 páginasTítulo original
2.5 - CUNHA,M.C.da-Antropologia no Brasil-(13cp)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
20 visualizações13 páginas2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)
2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)
Enviado por
LAZARO LUCIANODireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
th MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
i semeaas
Obra publicads
fem co-ediao com @
Viee-Reltor: Roberto Lea! Lobo e Siva Filho
EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
cee ANTROPOLOGIA
Comsat Edtora DO BRASIL
mito, historia, etnicidade
epae
Sobre os siléncios da lei:
lei costumeira e positiva
nas alforrias de escravos
no Brasil do século XIX*
A historia de um erro é sempre inst
Sabe-se do lugar de honra que a me
dda Jgreja nas relagdes entre senhores e eseravos ocupou nas
teses de Tannenbaum e de Elkins sobre a leniéncia peculiar da
eseraviddo no Brasil. Central, por sua vez, no suposto papel
do Estado, era 0 A alforria do escravo que apresen- «
tasse seu valor. Ora, trata-se, diga-se ja, de um dos erros mais
‘bem-sucedidos da Historia. B, a primeira
+ Circlon
ma MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
© costume de oe alfrriarem eseravos que apresen
Valor era largament patiado, mas revel do otadoy no,
orém, que 0 Estado se opusesse, mas porque nao the era
permitido sanciona-lo em lei, pela oposicao daqueles mesmos
ae patstam ea sara costumer. Charade Sur tet
Podemos retrasar a carteiraveriginosa dese
histoico. Creio que se origina no ingles Henry Koster que
fo laador de cana em Pernambuco no comes so tle
e cerlamente uma das melhores, enao a mln, fonte
sobre o Nordeste nessa época. Koster escreve: :
qual foi comprado,
ual potera ser vendo, se este prego for sp
{Logo a seguir, no entanto, Koster confronta-se com os mani-
festos desvios a esta regra que afirmou, agora explicitamente
descrita como sendo uma lei:
“Esta regulamentagd, como toda outa eita em favor do
essravo, © sua a set desespatada, 0 semhor por vers
realmente se nog a siforar tm eerovo vation, ¢ eam
em virtude do estado jutidico
por imputar os desvios flagrantes registr
ona saistrados na pratica A sua
assim como outros de gut oi falar,
fo fundamento sobre o qual se sent
“= eno soubese com que faelidade
entoe prin sto br
ene do poder, Now una cop
de fe0u do regulament sobre oassont, mas nunca eno
[ANTROPOLOGIA DO BRASIL. ns
tret quem duvidasse de sua existéncia. Nunca encontrei quem
uvidasee que 0 escravo tinha direito a recorrer, se achasse
1; gue fosse ouvido ou no, essa era outra ques-
to” (Koster, 1816: 405 nota).
A partir dai, a carreia desse erro é rapida, sobretudo
porque Koster serve de fonte para muitos de seus sucessores,
fem geral avaros em reconhecer os empréstimos que Ihe
fazem, O francés Tollenare, contemporaneo de Koster em
Pernambuco, retoma o dado como certo, em suas Notas do-
minicais ( llenare, 1956: 144), publicadas em 1818.
poeta inglés e autor de uma importante
, fala da existéncia da tal lei em 1819, citan-
do Koster como sua fonte (Southey, 1819, Parte 3, cap.
XLIV: 783). Dai por diante, torna-se comum a mengdo a let
‘da manumissdo por oferta do valor: aparece em quase todos
of viajantes. Em 1835, por exemplo, Carl Seidler refere-se
la nos seus Dez anos no Brasil (1980: 255). Em 185, 05 reve-
sndos Kidder e Fletcher a mencionam no seu livro Brazil
the brazilians” (1857: 133). Sir Harry Johnston retoma
‘ago em 1910, no seu livro comparativo sobre a escra-
‘ee acle e a Kidder e Fletcher que Tannenbaum (1947:
, 65) ira citar em apoio da existéncia do direito legal
a alforria no Brasil. Estava consagrado 0 engano, € nao
me consta que entre os argumentos que se levantaram con-
tra as teses de Tannenbaum e de Elkins, que as retomou,
alguém tivesse lancado divvidas sobre a existéncia deste direito
legal.
E, no entanto, esse direito néo existia em lei até 187
seja, att a chamada Lei do Ventre Livre; significativamente,
tessa Lei, que declarava livres os filhos de escravas nascidos a
partir daguela data, marcava o comeso do desmantelamento
oficial do escravismo.
E verdade que, antes dessa xistiam circunstancias
‘excepcionais em que o Estado intervinha concedendo alfor-
rias. Na Guerra da Independéncia na Bahia, o general
Labatut promete a liberdade aos escravos do RecOncavo que
combatessem contra os portugueses. Consegue, com esta
fenar de si todos os senhores de escravos da regiao
¢ a Junta Governativa sediada em Cachoeira, para quem
combatia. Ndo que perdessem muito, pois 0 caos econdmico
6 MANUELA CARNEIRODA CUNHA
entdo reinante a promessa de indenizago podia serena-los,
quanto as perdas reais (Amaral, 1957: 292, n. 3, e 284-285),
Mas, embora a carta de alforria, mesmo neste caso de virtual
desapropriacdo, fosse passada pelo senhores respectivos,
estes ressentiam fortemente a ingeréncia no
mente privado de alforriar.
Na lei de excegto de 1835, consecutiva ao mais impor-
inte de escravos do stculo XIX, 0 dos chamados
a Bahia, para tentar prevenir novas insurreig0es, 0
iforria aos escravos delatores (Lei n? 9, de
). No Rio Grande do Sul, em 1838, acena-se
com 2 alforria aos escravos desertores das forgas republicanas
de Bento Goncalves, Ao que este, alias, retruc
inagdo do Governo imperial de 1
202).
Na época da Guerra do Paraguai (1865-1870), repete-se
1838, apud Goulart,
Fepete-se a grita dos senhores.
No stculo anterior, esses casos excepcionais de interven-
80 do Estado na alforria tentavam prevenir contrabando de
diamantes e, mais tarde, de madeiras. Os escravos delatores
smunhando contra seus senho-
hhassem eles
es (Perdigio
de interferir na concessio de
alforria: razdes imperiosas de Estado, todas entendidas como
‘medidas excepcionais. Sempie, de qualquer forma, indeni-
zavamse 08 senhores, cabia a estes a concessdo da carta de
alforria. Em suma, ‘afora situaglo exeepeional, competia
exclusivamente ao senhor conceder alforria ou nega-la a seu
escravo
Na verdade,
punha em divida”’, nos termos
Tem-se disso alguns indicios est
uja existéncia ninguém
Schwartz, 1974: 623). Em nove mur
25,6M% (Galliza, 1979:
ANTROPOLOGIA DO BRASIL.
para o Brasil como um todo, 30,6% das alforrias sfo pagas,
entre 1873 e 1885 (Slenes, 1976: 517-518). os
E verdade que algut , eram pagas al
do valor de mereado (G 32 en, 29 € 30, 161-162)
mas a pratica ndo parece ser generalizavel. Hi também casos
fem que o senhor pedia, ao contririo, um prego superior 20
do mereado, provavelmente especulando no interesse parti-
cular eintransferivel que o escravo tinha em si proprio. Cortes
de Oliveira (1979: 207) publica um tes io de
qual se deduz que
‘uma escrava que s6
soma substancialmente maior do que aquela pela qual ela
havia sido vendida dois anos antes. i
‘Algumas dessas alforrias eram pagas em dinheiro, outras
fem bens moveis que podiam, até, inchuir escravos, ou bens
is , 1979: 150). © que vem subentendido nestas
praticas € a , tambem silenciada na lei ate 1
plenamente vigente no direito costumeiro, do pect
eseravo, Se de jure o escravo nao podia possuir coisa alguma,
de facto chegava-se por exemplo a ter formas especiais de se
marear 0 gado pertencentes aos escravos (Koster, 1816; Per-
ir0, 1976 (1867), vol. 1: 62, § 34).
jos niimeros que evocamos de alforrias pagas, ©
silencio da let ¢o que mais chama da atengio. Por que nao hi
nenhuma regulamentacdo,
indida? O a
icagdo daquilo que ndo se escreve? E até,
. ual o lugar ¢ © papel do siléncio, da
omiss4o, do nao-escrito em uma sociedade letrada?
yente esquecimento. Ao
quase todos 0s
fas incluem, na iegislagao que propdem,
seu valor,
sm 1826, o cr.
1845, republicada em 1862, 0 deputado Silva
Guimares, no projeto de lei que chegou a ser apresentado a
18 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
(Camara dos Deputados em 1850, a Sociedade Contra o Trafi-
co de Africanos e promotora da colonizacao e civilizagtio dos
indigenas, no seu Projeto de 1852, 32 parte, art. 46, todos
ediam a incluso na lei do direito alforria, mediante apre-
sentapdo do valor do escravo.””
Mas essas propostas so, de forma igualmente consis-
, voto vencido. O texto de Jose Bonifacio, por exempio,
io. que acabou sendo sub:
rado Jr, (1963: 54) ressal-
igdo reconhece os contra-
€ 08 escravos, € 0 governo vigiara sobre
ico, © argumento que se opunha a estas
de propriedade, garantido ‘em toda a
tude" na Constituigao de 1824 (art. 179, § 22), Pleni-
tude que supunha 0 exclusivo de o senhor alforriar ou
rndo seu escravo, segun
No periodo de predomi
profundo impacto no cam}
comera no entanto a recomendar f
intengOes que acaba enfatizando a auséncia de apoio legal
Em 1830, por exemplo, diante dos escravos a quem sua se-
hora negava a liberdade, embora oferecessem seu valor em
dinheiro, recusa-se 0 Minis
tia, por ndo querei
rio da Justiga a ordenar a alfor-
ao ‘coactar 0 exercicio do direito dos senho-
res, permitido por lei”. Recomenda, ao contrario, ‘“meios
éceis e persuasivos"’ para induzir a senhora a conceder a
liberdade que havia prometido em troca da soma por ela esti-
lada (Justica n? 66, de 8.3.1830, Collesao das Leis do
Império do Brasil, 1830: 50):
“Sobre a liberdade requerida por dois escraves
nndo Sua Majestade o Imperador facilitar e promover @
iberdade de escravos, sem todavia coactat 0 exercicio do
232, 207248, 256,
1890, o mai
ANTROPOLOGIA DO BRASIL 1
direito dos senhores permitidos (sic) por lei. Ha por bem .S,
procure por meios déceis e persuasivos, fazer realizar ossupli-
‘guem a soma pela mesma designada’”
Dois outros Avisos do mesmo ano de 1830 vo na mes-
ma diregdo, aconselhando meios conciliatorios para persua-
fem 0 pagamento d de seus esera-
ejam destes Avisos recomen-
dda que se convenca o senhor do ‘‘direito”” que tem seu escra-
vo “de procurar sua manumissdo” (atente-se: nao o direito a
‘manumissio, mas 0 de desejé-la) e do seu “'dever (de senhor)
de concorrer para a Felicidade do dito escravo..
830 e de 29.7.1830 im Nabuco de Ari
¢ 187). Mas, em nome ‘‘da humanidade, da philantropia, da
‘ajurisprudéncia se
vos que des
Ja Bugénia mediante pagamento, se aplicassem os termos da
lei, que a protegem (Nabuco de Araiijo, vol. 7: 604). Que leie
essa? Bis 0 que nao ¢ especificado e que surpreende. Seguido
em 1837 por uma Resoluco que manda alforriar os escravos
do Imperador que oferecerem seu valor e, em 1847, por uma
Ordenagio que dispde a mesma coisa para 05 escravos da
Nagao (Resolugto n? 30, de 11,8.1837, art. 12; Ordenaszo
rn? 160, de 30.10.1847), 0 Aviso de 1831 tera aberto um campo
de especulagdes sobre 0 direito da alforria que so sera estan-
cado com parecer peremptorio da segdo de Justiga do Con-
selho de Estado, em 1855. Este parecer de um Orgio assessor
do Imperador, fortemente reacionarios nesse periodo, pde
interpretagbes humanitarias de leis estabelecidas”
cescravo (Almeida, 1870: 1073-1074; Aviso n? 388, de 21.12.
1855).
‘Tannenbaum estava, portanto, errado: 0 Estado nio
ire senhores e escravos. N
igo. Na6'56 as ordens religiosas tinham
ie quase as vesperas da Aboliclo, mas algu-
€ parecem ter sido as inicas empresas
na reprodugdo de escravos. Os carme-
mediava as rela
a Igreja como i
seus escravos,
mas se especializar
do género no Bra
0 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
litas tinham, por exemplo, criatbrios de escravos na provincia
5 na itha do Governador,
ue houve, sim, foi o
1 importante das irmandades religiosas, associagdes de
igos a sombra da Igreja, de organizagao local e sem nenhu-
8 centralizapdo, que defendiam os intreses corporativos
de seus membros. As irmandades de escravos,
negros ou pardos, adiantavam dinheiro a seus assocados
para sua alforria (vide, por exemplo, Scarano, 1976, e Russell-
Wood, 1974). Certas irmandades particulares tinham alguns
privilégios concedidos pelo rei de Portugal. Mas eram irman-
dades de determinada igreja em determinada cidade, ¢ 0 pri-
va-se exelusivamente a seus membros. Em 1688,
Pretos de N. S. do Rosario da Igreja de S40
légio de poder resga-
79 in Almeida,
imente poderia ser entendido como uma media-
‘em 1685, 0 rei concedia a outra irmandade, de
, sediada em Angola, a permissdo de mandar, por quatro
anos consecutivos, $00 escravos para serem
de custear a construgao de uma igreja (Alvara de
. Andrade e Silva, 1859: 48).
tanto, seguia caminhos
. severo Conselheiro de
Estado no Parecer de 1855 a que nos referimos
vineia da Bahia introduziu-se a pratica de, no
trem of inventarios, pode-se remir qualquer escravo, logo que
oferera o valor. A ser isto verdade, ignoro inteiramente em
‘que se funda semelhante regra que, no meu entender, nenhum
is por que nos regemos"” (Aviso n? 388,
. 1870, vol. 2: 1073).
Entre a lei e 0 direito costumeiro, ndo ha divide que era
ANTROPOLOGIA DO BRASIL ry
contar com maior obedigncia. A autoridade
tAncia dos centros urbanos. No it
pelos poderosos, “senhores de eng
tuados a fazerem justiga por suas proprias mos" (Tollenare,
, além disso, nos indagar sobre 0
ignordncia da lei escrita fosse generalizada entre os escravos,
hem se percebe que canais teriam para adquirir esse saber.
Mas, além disto, existem de que a legislagao
ja era propositalmente ocultada aos escravos,
iador. Um exemplo: a Carta Régia de
20.3,1688 ¢ a de 23,
‘com crueldade o set: excravo a vendé-lo. Mas estipulavam que
no soubessem disso 0s outros escravos.
‘Que canais legais tinham um escravo para fazer valer os
direitos dessas ev jeis? Para dar queixa, necessitava da
fintermediagao de seu senhor.” A falta deste,.havia ~ mas
segundo algumas interpretagdes apenas" — a possibilidade de
recorrer a intermedia¢do do Promotor Piblico ou dé
‘quer do povo”, Supondo que ainda ass
‘queixa de seu senhor, o que vimos ter acontecido, que apoio
poderia esperar dos juizes?® Koster, na passagem que cit
, sugere Que 05 escravos nao re-
‘Ao inverso da lei eserita, a
seguirmos Koster, com a sancao de uma of
homens da mesma classe di
diante dos quais o senhor niio queria se despresti-
, pressionariam nesse sentido. Nao que fosse um poder
totalmente efetivo. Licutan, um dos lideres da revolta dos
Malés, em 1835, na Babia, era um letrado muculmano. Seus
ia MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
discipulos reinem a soma cortespondente a seu valor, mas
seu senhor recusa-se a Nina Rodrigues, que conta
dos processos, acrescenta que
‘ainda hoje (isto &, em 1900) os africanos sobreviventes dao
como motivo da insurreigao conhecida geralmente pelo nome
de ‘Guerra dos Malés' a recusa oposta peios senhores & liber-
negros que ofereciam pelos seus resgastes 0 valor
ipulado de um escravo"’ (Nina Rodrigues, 1976
-62, 56). Ha muitos outros exemplos, além dos que
ja mencionamos, da eficitn da lei costumeira. O
ica, pressionasse sua
lemente presente, da fuga ou
irado em suas esperangas de
tagdo era o temor,
jo de um escravo,
alforria,
A propensio sel
suicidio, que se acreditava ser um trago étnico, era assim
la e levada em consideragtio.. Os
Gabdes, por exemplo, ao serem introduzidos no
XIX, so apreciados tambem sob esse
siderados exceientes escravos, eram tidos, no
ser mantido.
morta que era
levava a pal-
alli ea pratica
ma da eficécia. Por que
consignada, em passar para o papel, em grande part
a regra ja em vigor? Situagdo paradoxal:
mente seguido & impedido de se cnstalizar numa lei que, de
‘qualquer forma, ndo se esperava que fosse necessariamente
obedecida. Ja vimos que no é esquecimento: a lei ndo cala,
la, € no proprio siléncio.
a, € 0 parecer de 1854, da sesdo de
Justiga do Conselho do Estado, o explicita: era duro, reco-
nhecia, negar ao escravo o direito a alforria paga, mas razdes,
de Estado o exigiam para que a escravidio nZo se tornasse
mais perigosa do que era. Se, a0 contrario, 0 escravo sb pu
desse receber sua liberdade das maos de seu senhor, ndo s6 se
ressalvava o direito de propriedade, mas nao se prejudicaria 0
sentimento de obediéncia e subordinac&o do escravo para
ANTROPOLOGIA DO BRASIL. bs
com seu senhor, ¢ a dependéncia em que dele devia ser con-
servado (Almeida, 1870, 4° Livro das Ordenacdes: 1074).
Trata-se, esta dito em todas as letras nesse texto, da depen-
déncia pessoal.
‘Um comentario de Perdigdo Malheiro, datado provavel-
mente de 1866, aponta na mesma direso, Perdigdo Malheiro
recomend restrigdes a0 direito de resgate: devia-se limitar 20
ceaso em que o senor vendia seu escravo por necessidade de
dinheiro. Mas na venda por castigo, na troca, nas doagbes €
dotes, nao convinha estabelecer esse dircito: ‘‘estabelecer
como’regra absoluta seria dar lugar & insubordinagio, a que
essa classe (dos escravos) & naturalmente propensa”” (Perdi-
‘#20 Malheiro, 1976 (1867), vol. I: 165, n. 657). E, portanto,
ago que esta em pauta. "Em 1871,
sso na Camara dos Deputados sobre a
Lei do Ventre Livre, Perdigdo Malheiro, a essa
ido por Minas Gerais, opde-se ao projeto e esp:
iusao em lei do dieito a alforria paga, mesmo contra a
ntagdo que desenvolve, éainda
jcagdes que atribui A medida:
fa & propriedade,
entendo que no po rouxar as relagdes
do escravo para com o senhor, que hoje prendem tao forte-
4 Mente um 20 outro, e que sto 0 unico elemento moral para
Cconter of excravos nessa triste condiggo em que se acham ..
‘Se nos rompermos violentamente esses lagos, de modo a nio
se afrouxarem somente, mas a corti-los, como a proposta 0
‘8 espada de Alexandre cortando 0 nb gérdio), 2
sera a desobedigncia, a falta de respeito e de
i¢f0. Eis um dos mais graves periges. Essa proposta, em
‘0 seu contexto, nao tende a nada menos do que romper
Surpreende a primeira vista que se acene assim com 0 ;
risco de insubordinacdo nesse contexto. Os que defendiam 0
direito ao resgate entendiam-no, ao contrario, como um esti-
rmulo ao trabalho, a poupanca ¢ 4 disciplina. E nestes termos
que Koster recomenda, em 1816, a adogdo desta medida nas
coldnias inglesas (Koster, Mas subordinacao e dis-
ciplina nao se confundem.
ina remete ao trabalhador
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
subordinag#o, ao dependente, E, como tentaremos
irar mais adiante de produzir dependentes.
Para se entender preciso pensar na di
controle politico entre o Estado e os particulares no Brasil
dessa época. O controle dos escravos, a ndo ser em casos de
ingurreigbes e, eventualmente, de assassinatos, ficava a cargo
dos senhores. Tradicionalmente. © jesuita Benci, et
censura os portugneses que, ‘por timbre e pundonor
sideram “que entregar 0 servo cri
bem a nobreza e fidalguia do senh
167). Benci apenas se refere as condenagdes & morte. Ou soja:
nem sequer discute que 0s outros castigos que recomenda,
agoites e carceragem privada, fiquem a critério e a cargo dos
senhores. Nem tampouco que eles avaliem se 0 escravo me-
rece ou ndo a morte. O que recomenda & que se deixe ao
Estado a aplicagao da pena capital.
‘Mais de um stculo mais tarde, a mesma regra ainda pre-
valecia, absoluta, no campo. E o senhor que néo tinha poder
de coagdo suficiente sobre seus escravos acabava vendendo os
insubmissos a quem o tivesse (Koster, 1816). Mas nos centros
urbanos, onde proliferavam escravos de ganho e senhores de
poucos escravas, sem feitores e aparelhos privados de coa-
‘$80, 0 Estado havia-se posto pi slesmente a servigo da
pela carceragem e pelos acoltes aplicados (Goulart, 1971: 103
$s., 197; Aufderhelide, 1976: 301
do se fortaleceu no campo judicial, alguma:
colocadas a essa subservigneia do Estad
culares. © Cédigo Criminal de 1830 proibia excederem-se
(art, 60); um senhor ndo poderia ordenar mais,
as nem deixar eeu exeravo preso no Calabouso
por mais de um més, sem um processo legal (
e Decisdo n? 67, Justica, de 10.2,1832 in Cc
ANTROPOLOGIA DO BRASIL bs
: “O governo juuigou que
@ corregdo de faltas, no
is reservados a justia. Os
compreendem”” (Relatorio
1971:
devia estender-se & punigto de
escravos so homens e as Leis
do ministro da Justiga, de 10.5.1832, aud Goul
108).
Na realidade, essas medidas humanitarias ¢ essas decia-
rages de intenco nao afetavam 0 acordo basico. Competia
“responsabilidade paternal” do senhor 0 controle dos
escravos como 0 dos filhos.” Ao Estado, teoric
competia 0 dos libertos e dos livres. Ora, a categoria consi-
derada, entre todas, perigosa nesse inicio do século XIX era
sem diivida a da gente de cor que nd era escrava. Nao se sabe
‘a0 certo quantos seriam: ‘'no que diz respeito a certas catego-
screveria o viajante americano Thomas
W considerado que por discreeto, nao devam as
autoridades falar muito; assim nenhuma comparaedo digna
de {é & dada dos niimeros de brancos e de livres de cor, em
virtude da suposta maioria esmagadora destes
(Bwbank, 1856: 430). Achava-se que haveria mais
‘que escravos, mas sabia-se que havia muito menos brancos
do que homens de cor. Seriam do de bran-
08, uns 700000 homens de cor, livres, um numero fantasioso
de uns 250000 “‘indios domesticados””, ¢ cerca de 1900000
escravos. Isto as vésperas da Independéncia (Balbi, 1822,
tomo 2: 229). Nao ver ao caso aqui diseutir estes niumeros;
Taga-o em outro trabalho (Cameiro da Cunha, 1985). O que
196 MANUELA CARNEIKODA CUNHA
populagdo? Nada mais incerto, E nos livres de cor, aparente-
‘mente, que se concentravam as acdes as prisdes
(Aufderheide, 1976: 209-210, 304 ¢ 346). E neles que se con-
vagabundagem do:
longe de ser tot
Nestas condigdes, & de se supor que o Estado estivesse
plenamente disposto a
‘© controle da populasao
dessa populagdo. Sabe-se, hoje, que parte do trabalho
agricola, mesmo nas regides aqucarciras e cafeeiras que mais
empregavam mao-de-obra escrava, era desempenhada por
livres ou, mais exatamente, por trabalhadores dependentes,
com 05 at
exemplo, um
colheita, de ser
te de terra e protegdo em troca de parcela da
08 pessoais (que incluiam a defesa do se-
7, ¢ Eisenberg, 1977). Havia toda uma gama de tra
es livres desde 0 mais dependente att os trabalha-
is assalariados
bra de rese
vias eidades em géneros de
grande lavoura, atendendo as necessidades ‘azon: -
fem de cana 1 da coe do cafe a ontene nd
reio que ¢ nesse contexto que a questdo da alfort
escravos e eslarce, Desde que denade # incre uetafo
do senhor, elas podiam desempenhar um papel poderoso na
io dessa populago dependente.
Por mais que a alforria paga se assemelhasse a uma ven-
dda e seu prego 5c regulasse em geral pelo prego do mercado,
nada era ideologicamente mais enfatizado do que a distingao
lo das doapdes (Perdigao Maiheiro, 1976 (1867)
). Nas cartas de alforria, mesmo naquelas que
ANTROPOLOGIA DO BRASIL ro
foram resultado de um resgate, nunca se deixa de insistir pre~
iminarmente na generosidade ou na afeicao do senhor pelo
seu escravo ¢, em contrapartida, n lade e nos bons ser-
Yyigos do cativo que 0 tornaram elegivel para a libertacto.
Formulas talvez, mas reveladoras.
"Tudo isto supunha a existéncia de lagos_morais entre
(gos que ndo deveriam cessar com a
senhores.
"A. esse proposito, 0 jurista Perdigao Malheiro discute
brigagdes reciprocas entre 0s patronos e seus
‘era o patrono herdiar do seu liberto, se este morresse sem
tamento. Perdigo Malheiro insurge-se contra a aplicayao
pod supor que se trata de
‘mera discussao tebrica. icagao de testamentos de liber-
tos, e sua anélise por Oliveira (1979), deixa claro, ao contra
i ‘ono ¢ de seu liberto estava assente
2 ppelas almas dos escravos defun-
tos e pela dos senhores eram encomendadas nos testamentos
durante toda a primeira metade do seculo XIX (Oliveira,
199, 219, 210, 179). As vezes, essa era a condigto
de escravos por testamento (ibrdem: 210): legados
de libertos a seus antigos senhores e legados de patronos a
P. Verger, 1968:
ritos ¢ deve-
343). Chegava a haver uma tran:
res dos patronos. Kiernan (1976: 148) conta o caso da preta
forra de Paraty, Vicencia Maria, que ao libertar uma menina
africana, Rosa, em 1814, declara que esta deve obediéncia ¢
servigos a Filizarda Maria Espirito Santo que a he
tado a ela, Vicencia Maria. Por outro lado, se Vicencia viesse
‘a morrer antes de sua patrona, cabia a esta a educacdo ¢ 05
cuidados com Rosa, liberta de sua liberta. .
‘Ouiro indicio do programa que se tinha para os libertos
a famosa questao da revogagao da alforria por ingratidao,
definida de forma to ampla que abrangia até a ingratidao
Verbal mesmo na auséncia do patrono (Perdigao Malheiro,
1976 (1867), ve '35 § 149), Discutiu-se j4 sobre se real-
mente vigoratia tal dispositivo, mas creio que ha provas nesse
foe
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
lo.” De fato, a revogagto da alforria por ingratidao so
desaparece,
‘questo da
eldusula co-
munissima nas cartas de alforria ditas gratuitas (Mattoso,
1982),
‘0 controle privado da alforria tinha, assim, uma impor-
‘ancia crucial: no so mantinha a sujeicdo entre os escravos,
‘a producdo de libertos dependentes. Entre os
escravos mantinha a esperanga, por pequena que fosse a pro-
babilidade estatistica, de conseguir a liberdade,” incentivava,
poupanea e a uma ética de trabalho; mas con:
bem a liberdade a relagdes pessoais. com o sen!
libertos, abria-lhes a condigao de dependentes, mantendo os
lagos de gratidao e de divida pessoal em troca da protesio do.
patrono. Razio tinha, portanto, Perdigto Malheiro (citado
p. 133 acima) ao dizer que o direito em lei a alforria paga,
prescindindo da aquiescéncia do senhor, subverteria a sujel-
‘$80, afrouxando 0s lagos entre senhor ¢ escravos,
‘© programa de sujeigao dos libertos ndo funcionou
totalmente: persiste, ao longo do século, uma situagao de
endémico entre agregados © senhores. O francés
Tollenare fala de senhores de engenho de Pernambuco que
tremem diante de seus moradores ¢ de um que nao se afasta
de um quarto de légua da casa grande, de medo deles
|. Em 1858, no vale cafeeiro do
ANTROPOLOGIA DO BRASIL 19
seus agregados (Vitti, 1966: 29.30). Na década de
ar of © antagonismo latente ou ani ito do
1883: 1
Mais eloqitente ainda sobre as imperfeigdes do projeto
de constituisao de uma méo-de-obra dependente foram as
smagoes dos proprietarios agricolas sobre a
negros libertos ¢, mais par
libertos (vide Carneiro da Cunl
to as grandes propriedades cor
agregados e moradores. Nesse
um afr
de provar que nao era escravo para
Ser tido por livre: de medo de serem reescravizados, muitos
Tibertos negros ou fixavam residéncia nas imediagdes das
fazendas onde haviam sido escravos e onde,
condigdo de forros era conhecida, ou iam se
fcravos fugidos, nos quilombos. Ao c
io, deum lado,
da cessagio do
vidao e, de outro lado, as suas r
da grande lavoura, que se entende pol
s5eS peri-
‘quando a alfor-
le privado, passa
Assim tambem 0
controle dos escravos (Dean, 1977: 125-126).
imeiro e a lei positiva, até 1871, parecem
terem sobreposto quanto terem talhado para si
. A lei, escrita a partir da reforma de 1830
M0 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
em termos univers bora no 0
Ides, a gen-
idiciais ¢ & para eles
ribunais tém maior importancia (Aufderheide, 1976:
er pi
duas camadas, a dos que esto acima da
lel e a dos que estéo abaixo dela, Escravos, negros livres ¢
libertos, assim como os homens ricos, aparecem nos tribunals
€ has prises em proporedes francamente ab:
95 que esto aquem como para os que esto além d
2 0 diceito costumeiro, caracterizado pela auséncia de in
tuigdes formais que o sustentem.
Mas o siléncio da lei, a par de sua funséo politica, vine
cula-se também a fontes ideolégicas. Nos seus niveis mais
abstratos, da Constitui¢ao a0s Cédigos, o direito do Império
teve de se acomodar com a contradigdo que era se descreve-
rem as regras de uma sociedade escravista e baseada na de-
pendéncia pessoal com a linguagem do liberalismo."' A solu
G40 foi o uso generoso de largos
Império de 1824 silencia até a existéncia do escrat
Criminal de 1830, em que se tentou consignar o pri
impessoalizagao das penas que deveriam ajustar~
‘mente aos delitos, menciona os escravos em dois artigos.
‘ingue-os dos livre apenas para dizer que a pena de pristo
com trabalho nao era aplicavel — por redundante — aos
escravos (arts. 60 ¢ 311), Assim, no esforco da abstragao uni-
© que acabou sendo abstraido foi uma parcela
fundamental da populagao. Outros paises optaram por ebdi-
0s separados para eidadaos e para escravos. O Brasil prefe-
‘© uso desses siléncios era previsivel. Dois exemplos: os
defensores da competéncia exclusiva dos senhores sobre as,
alforrias de seus escravos lembravam, como vimos:acima,
que qualquer legisiacao em contrario atentaria contra o dire
to de propriedade. Argumentavam que o silencio da lei mos-
lrava que nao se haviam aberto excerOes a favor da proprie-
dade “‘escravo"". Por outro lado, 0 artigo 179 da Constituicao
ae tena
920, ae Robe
desde Olvera Vianna, em
i
|
ANTROPOLOGIA DO BRASIL 1
sem qualificagdes) a pena de agoites.
{§ 19) havia abolido (sem gualificasdes) a pena ce stole
‘rifos no original). Na
15 de escravos em 1886,
86, Collecdo de Lei do
costumeiro,
io €, portanto, o campo do di 9,
daguito que na verdade se pratica, Mas sera a leila ur
larcabougo ficticio pelo qual a sociedade nao se regula? E iss
{que insinuam ou afirmam os ensaios a que me referi acima.
Sua tOnica é a inadequacao de uma
realidade que se procura esconde
Vianna, 1974 (1949).
ivel essa adequagao?
ue pergunto é: seria possivel equa
bao seria necessério esse direito calado? Se 2
0 escrito, realmente postigo? E adequagio a qué?
Porque, afinal, 4 adequasdo seria duplas a um pais inserido
no capitalismo mundial, falando a linguage a coma
ao sistema no qual gravitaeem que as elites se entendam; © &
tim pals que, Internamente, organizava sua produgao em
termos escravistas ¢ de dominapio pessoal. Nao ha como
‘escolher © mais real. Esta duplicidade ¢ uma essénci
Coexisténcin de um dirt costumerro ¢ da Ii, a
yuada
fundem, parece ao contrério ser adeat ealidade de
posicio’periférica do pats, Inadequado seria um sistema d
‘common law em que &
dade e a seus usos.
‘Ale € como o Estado se representa sua i
dade ¢ compettncia: ¢ uma autodescricao. cost
10 alternativa. A verdadeira sociedade
ee atonoeenina b ose. to do escrito € do nao-
jando relagdes sem priv
embaragos porque, ’
de aplicagao basicamente distintos: aos
MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
a lei; aos poderosos, seus escravos e seus
costumeiro. Aquela é também a face externa,
nacional, mas nao necessariamente falsa, de um sistem
domesticamente, € outro.
BIBLIOGRAFIA,
‘ou ordenaptes eis do Reto de Portugal. Rio de
‘> Isto Paloma,
"Contribute para o estado das quests de que
(20 de Histona das Exporapes Archeologist ©
Yate do Insta 4
olence: social deviance end scl control im Breil 1780
20 6e PhD. ma,
lo Claro. Um ststeme bresievo de grande lvoure, 1820-1920 Rio de
ase Terr,
fodenizapto sem mucenga. A indisira esucerea em Pernambuco
1840-1910. Rio de Jao, Pax ¢ Tera UNICAMP.
Ehking, Staley M.
1949" Slevery problem momercen institutional and intellectual fe. Chisago.
Evbaak, Thoms
RSS" Life m Bran. Boston,
ANTROPOLOGIA DO BRASIL us
Hispame Amenean
Sate mili
‘aca Suis,
cy MANUELA CARNEIRO DA CUNHA
‘Slee, Reber
196 The demography ond ecanormes of Bran slavery: 150-168, Dis
teeta de PhD. nti.
Sobre a servidaéo
voluntaria: outro discurso*
Escravidao e contrato no Brasil colonial
Para Marian, que
nunca se submete
Em agosto de 1780, em Belém do Para, uma mulher
livre vende-se em escravidao. O caso ¢ inusitado, e requer um
ura piblica de venda ¢ feita em tabeliao, diante de teste-
munhas.
Joanna Baptista havia nascido livre,
uma india e de um escravo negro, ambos a
‘mo padre. A
linha do v4
Você também pode gostar
- 10-06-2019 - RESUMO - Brasil A Educaçao Contemporanea - AranhaDocumento66 páginas10-06-2019 - RESUMO - Brasil A Educaçao Contemporanea - AranhaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.3 - REIS, J.J. - Quilombos e Revoltas Escravas No Brasil (26 CPS)Documento26 páginas3.3 - REIS, J.J. - Quilombos e Revoltas Escravas No Brasil (26 CPS)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.4 - CARVALHO, J.J.de-a Experiencia Historica Dos Quilombos... - (34cp)Documento34 páginas3.4 - CARVALHO, J.J.de-a Experiencia Historica Dos Quilombos... - (34cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Nelson Antonio (Moção) Nico MirandaDocumento13 páginasNelson Antonio (Moção) Nico MirandaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- CORREIOS Relatorio de Gestao (Festrocabo)Documento253 páginasCORREIOS Relatorio de Gestao (Festrocabo)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 6.1 - Souza, M.M. - Catolicismo Negro No Brasil - (22cp)Documento22 páginas6.1 - Souza, M.M. - Catolicismo Negro No Brasil - (22cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 5.1 - Thornton, J.K. - Religião e Vida Cerimonial No Congo e Areas Umbundo, de 1500 A 1700 - (11cp)Documento11 páginas5.1 - Thornton, J.K. - Religião e Vida Cerimonial No Congo e Areas Umbundo, de 1500 A 1700 - (11cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.2 - PRICE, R.-Palmares Como Poderia Ter Sido - (8cp)Documento8 páginas3.2 - PRICE, R.-Palmares Como Poderia Ter Sido - (8cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 2.4 - MATTOSO, K.M.de Q.-Ser Escravo No Brasil-Pag 176-240 - (28cp)Documento28 páginas2.4 - MATTOSO, K.M.de Q.-Ser Escravo No Brasil-Pag 176-240 - (28cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Resenha - A Aurora Da Minha Vida - NaumDocumento6 páginasResenha - A Aurora Da Minha Vida - NaumLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Projeto Goiás Sem Lixão - SEMADDocumento2 páginasProjeto Goiás Sem Lixão - SEMADLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- A Alquimia Do Poder - Lourival Fontes e Suas Configurações PoliticasDocumento10 páginasA Alquimia Do Poder - Lourival Fontes e Suas Configurações PoliticasLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Pratica de Pesquisa I Aula 2Documento12 páginasPratica de Pesquisa I Aula 2LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Inventario de Fontes - Esteee PDFDocumento18 páginasInventario de Fontes - Esteee PDFLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Inventario Fontes 1Documento16 páginasInventario Fontes 1LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Técnicas de Pesquisa em HistóriaDocumento3 páginasPlano de Ensino - Técnicas de Pesquisa em HistóriaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Pratica de Pesquisa I Aula 1Documento29 páginasPratica de Pesquisa I Aula 1LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Sepultamento Na IgrejaDocumento3 páginasSepultamento Na IgrejaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações