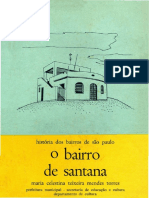Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
22cbesaVII 030
22cbesaVII 030
Enviado por
Christopher DeleonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
22cbesaVII 030
22cbesaVII 030
Enviado por
Christopher DeleonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental
VII-030 CLERA: A DOENA ESQUECIDA
Rogrio de Medeiros Netto (1) Engenheiro Civil pela Universidade Catlica do Salvador (1987); Especialista em Instrumentos Tcnicos, Jurdicos e Institucionais de Suporte ao Gerenciamento dos Recursos Hdricos pela Universidade Federal da Bahia (2000); Auditor Interno da Empresa Baiana de guas e Saneamento S.A. (EMBASA) Luiz Roberto Santos Moraes Engenheiro Civil (EP/UFBA) e Sanitarista (FSP/USP); M.Sc. em Engenharia Sanitria (IHE/Delft University of Technology); Ph.D. em Sade Ambiental (LSHTM/University of London); Professor Titular em Saneamento do Departamento de Engenharia Ambiental e do Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana da Escola Politcnica da Universidade Federal da Bahia Endereo (1): Rua Vicente Batalha, 406/004 Costa Azul - Salvador - BA - CEP: 41.760-030 Tel.: (71) 342-1419 - email: rogmneto@ig.com.br RESUMO O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre a Clera, doena que mais matou no sculo XIX e que provocou temor em relao ao seu alastramento pelas reas carentes de saneamento no continente americano, quando ressurgiu em 1991, e baseia-se em monografia, elaborada pelo primeiro autor orientado pelo segundo, para concluso do Curso de Especializao em Instrumentos Tcnicos, Jurdicos e Institucionais de Suporte ao Gerenciamento dos Recursos Hdricos realizado na Universidade Federal da Bahia em 2000. So abordados aspectos relacionados com a sua histria e com a situao atual, bem como os aspectos clnicos e epidemiolgicos, culminando com a proposio de um modelo representativo do processo de transmisso desta doena. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma reviso extensiva da literatura sobre o assunto e, principalmente, atravs de sites de busca na Internet. PALAVRAS-CHAVE: Clera, Transmisso da Clera, Controle da Clera, Saneamento, Alimentos
HISTRICO Os primeiros relatos sobre a Clera datam da antiguidade, existindo relatos de Hipcrates (460-377 a.C.) e Galen (129-216 d.C), descrevendo uma doena com caractersticas semelhantes a da Clera. Tambm existem relatos posteriores, indicando a presena da Clera no vale do rio Ganges, na ndia, onde esta doena era, e ainda , endmica., sendo um destes feito pelo mdico chamado Sushruta no sculo VII. Foi chamada de Cholrica passio, devido crena dos mdicos de que era devida ao humor clerico, proveniente da bles amarela, que em grego chama-se khol. Credita-se a Robert Koch (1843-1910) a descoberta do agente causador da Clera, em 1883, por ter sido o primeiro cientista a isol-lo em uma cultura, embora outros como Filippo Pacini (1812-1883), em 1854, e Flix Pouchet (1800-1876), em 1849 j o tivessem visto antes. Vale ressaltar que Paccini recomendava que a Clera, nos casos mais graves, fosse tratada com uma injeo intravenosa de dez gramas de cloreto de sdio, diludos em um litro de gua, tratamento semelhante ao indicado atualmente. Essa doena s veio a causar preocupao ao Ocidente no sculo 19, quando ocorreram vrias pandemias, sendo a responsvel pelo maior nmero de mortes e por um grande terror nas pessoas. Estima-se que nas duas primeiras pandemias morreram 40 milhes de pessoas. Em alguns lugares como Paris, em 1834, e na Rssia, no perodo de 1847 a 1848, as taxas de mortalidade alcanaram a 50% e 40%, respectivamente. A partir do incio do sculo 20 a clera permaneceu confinada na sia, no tendo sido registrados casos no Ocidente, mesmo em regies onde as condies sanitrias eram precrias. Entretanto houve uma exceo no Egito em 1947, quando ocorreram 30.000 casos, com 20.500 bitos.
ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental
SITUAO ATUAL Atualmente, a clera esta na stima pandemia, originada em Sulawesi, ex-Clebes, na Indonsia, em 1961, de onde alastrou-se para o resto da sia, chegando na frica em 1970. No continente americano os primeiros casos surgiram em janeiro de 1991, no litoral do Peru, de onde alastrou-se por 14 pases. O perodo crtico foi entre 1991 e 1995, quando o nmero de casos notificados correspondeu a 91% do ocorrido em toda dcada. De acordo com a OMS, em 2001, 61 pases apresentaram 184.311 casos de clera, com 2.728 mortes, o que representa uma taxa mdia de mortalidade igual a 1,48%, pouco menos da metade da registrada no ano anterior. Cerca de 94% dos casos ocorreram na frica, sendo a frica do Sul o pas, em todo o mundo, onde se registrou o maior nmero de casos, cerca de 58% do total. Nos outros continentes, onde houve casos significativos, estes ou foram em quantidade semelhante do ano anterior, como na sia, ou ento em quantidade bem menor, como nas Amricas, onde houve uma queda de 83%. No Brasil os primeiros casos foram registrados em abril de 1991, no Estado do Amazonas, nos municpios de Benjamin Constant e Tabatinga, ambos na fronteira com Colmbia e Peru, em decorrncia da grande presso de transmisso procedente de Letcia, na Colmbia, e de Iquitos, no Peru, alastrando-se a partir da pelo curso do rios Solimes, Amazonas e seus afluentes, principais vias de deslocamento da regio norte. Progressivamente, atravs dos eixos rodovirios, as demais regies do pas foram atingidas pela epidemia de clera. At o ano 2001, foram registrados 168.598 casos, sendo que 92% ocorreram na regio Nordeste e metade destes casos nos estados do Cear e Pernambuco, como mostra o quadro 1. Este quadro tambm mostra que cerca de 89% dos casos registrados ocorreram entre 1992 e 1994. Em 2001, dados preliminares, indicam apenas sete casos registrados, todos no nordeste. H que se ressaltar que os nmeros relativos a casos de Clera ocorridos no Brasil, apresentados pela Organizao Mundial da Sade (OMS) divergem dos apresentados pela Fundao Nacional de Sade/Ministrio da Sade, como mostra a tabela 1. Tabela 1 Evoluo dos Casos de Clera no Brasil (1991-1999) Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 OMS(A) 1.567 30.309 59.212 49.455 15.915 4.634 2.881 2.571 3.233 715 7 FUNASA (B) 2.103 37.572 60.340 51.324 4.954 1.017 3.044 2.745 4.758 734 7 (B/A)% 134 124 102 104 31 22 106 107 147 103 100
Fonte: OMS/FUNASA ASPECTOS CLNICOS A clera uma doena infecciosa intestinal aguda que ocorre no intestino delgado, causada pela enterotoxina produzida pela bactria Vibrio cholerae. A doena tem potencial de alastrar-se rapidamente e pode manifestarse sob diversas formas, desde as mais brandas at as mais severas. Cerca de 75% das pessoas infectadas no apresentam sintomas, e das que apresentam sintomas, menos de 5% desenvolvem as formas mais severas. Quando tratada adequadamente, a mortalidade atinge 2% das crianas infectadas e a 1% dos adultos, porm, quando no tratada a tempo, a mortalidade pode chegar 50%. O potencial de alastramento e de mortalidade da Clera pode ser exemplificado pela epidemia ocorrida em 1994 na Repblica Democrtica do Congo, no campo 2
ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental de refugiados de Goma, onde estima-se que em apenas um ms a quantidade de casos foi de 58.000 a 80.000, com 23.800 bitos. O tratamento feito com rehidratao oral nos casos mais brandos e intravenosa nos casos mais graves, quando os doentes no conseguem mais beber ou estejam em choque profundo. Antibiticos ajudam no tratamento dos casos mais graves, reduzindo o tempo de tratamento, o perodo no qual o agente infeccioso expelido junto com os excretas e a quantidade de vmitos. Vale ressaltar que os antibiticos devem ser aplicados juntamente com a rehidratao. Os sintomas so diarria, vmitos, dor abdominal e, nos casos mais graves, cibras, desidratao e choque. Geralmente, quando no h tratamento, o choque advm num perodo de quatro doze horas aps a primeira evacuao lquida, culminando com a morte, que pode ocorrer num perodo que varia entre dezoito horas at alguns dias. Nos casos extremos o choque pode advir uma hora aps a apresentao dos sintomas e a morte duas a trs horas depois. Nestes casos, a perda de lquido pode-se dar a uma taxa de um dois litros por hora. ASPECTOS EPIDEMIOLGICOS At 1993, acreditava-se que as epidemias de Clera eram causadas por apenas um dos inmeros sorogrupos conhecidos, o O1, sendo que os demais apenas eram capazes de causar surtos limitados ou casos isolados. Porm neste ano, descobriu-se que a epidemia que estava ocorrendo no Sul da sia, iniciada no final do ano anterior em Bangladesh, era causada por um sorogrupo desconhecido at ento, o 139o a ser identificado, da o cdigo O139. Este sorogrupo foi isolado pelos cientistas do International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR) em Dhaka, Bangladesh, e recebeu o nome de Bengal. Pensava-se que este novo sorogrupo seria responsvel por uma nova pandemia, entretanto, at 1999, isto no ocorreu tendo sido identificado apenas onze pases do sudeste asitico. No obstante, a OMS no descarta a possibilidade deste sorogrupo vir a causar uma nova pandemia. O sorogrupo O1 apresenta dois biotipos, clssico, identificado por Koch em 1883, e El Tor, identificado por Gotschlich em 1906 no Egito em peregrinos provenientes de Meca e examinados na estao de quarentena de El Tor, sendo este ltimo o responsvel pela atual pandemia de clera. O biotipo El Tor produz menos toxina, porm estas so mais capazes de colonizar o intestino. Alm disso, menos afetado por agentes qumicos e possui maior resistncia ao meio ambiente, o que o torna mais propenso a endemizao e a ter maior infectividade. Vale ressaltar que no h diferena de caractersticas clnicas e modo de transmisso entre os dois sorogrupos. O reservatrio natural da doena o homem, entretanto estudos realizados pelo Instituto de Biotecnologia da Universidade de Maryland mostraram que os plnctons existentes no ambiente aqutico, so reservatrios de bactrias, dificilmente culturveis em laboratrios, porm capazes de transmitir a clera. A transmisso d-se por via feco-oral, principalmente atravs da ingesto de gua contaminada pelos excretas daqueles que estejam infectados. Nos Estados Unidos, na Austrlia e na Itlia foram registrados casos isolados de clera devido ao consumo de frutos do mar crus ou mal cozidos. A transmisso atravs de contato pessoal direto rara. Os alimentos tambm podem sofrer contaminao e quando ingeridos provocar a doena. Alguns pesquisadores consideram que, para que haja infeco, a quantidade necessria de Vibrio cholerae seja de 103, nos alimentos, e superior a 106 na gua. Uma idia de quanto isto representa dada pelo fato de que apenas uma grama de fezes pode conter at 106 bactrias do tipo Vibrio cholerae, no caso daqueles contaminados porm que ainda no tenham desenvolvido a doena, ou mais de 1013, no caso daqueles que tenham desenvolvido a doena. Levando-se em considerao que a principal via de transmisso a gua contaminada, o grupo social mais propenso a ser infectado o formado pelos mais pobres, j que estes habitam reas onde o saneamento bsico precrio e costumam no ter hbitos higinicos. Por isto, so poucos os casos registrados de Clera nos pases desenvolvidos. As pessoas infectadas pela Clera tendem a adquirir uma imunizao limitada, em torno de seis meses, entretanto aquelas que tenham sofrido repetidas infeces adquirem imunidade por tempo maior. Isto faz com que as crianas sejam as mais atingidas nas reas endmicas, exceto aquelas que estejam sendo amamentadas, o que lhes d maior resistncia. A acidez gstrica tambm influi na suscetibilidade em relao doena, tendo em vista que o agente patognico no sobrevive em ambientes cidos. Por uma razo desconhecida, os portadores de sangue tipo O so mais propensos a desenvolverem as formas mais severas da doena. Pessoas desnutridas tendem a desenvolver as formas mais graves da doena. O perodo de incubao varia desde horas at cinco dias e o perodo de transmissibilidade perdura at poucos dias aps a cura, adotando-se como padro vinte dias. Apesar de ser tipicamente aguda, existem relatos de portadores crnicos da doena, sendo o caso clssico o ocorrido nas Filipinas, onde uma mulher, que ficou conhecida como Dolores Clera, permaneceu infectada pela bactria por um perodo de doze anos. No existe ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental 3
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental um padro quanto sazonalidade da incidncia de clera. Entretanto, no Brasil, no Estado do Amazonas, foi observado uma correlao entre a incidncia de Clera e a ocorrncia de chuvas. ESTRATGIAS DE CONTROLE As estratgias de controle tm por objetivo evitar a propagao da doena, j que a introduo da Clera em uma rea qualquer dificilmente pode ser evitada. Alm disso, tambm objetivam diminuir a incidncia e a letalidade da doena. Tendo em vista que a Clera uma doena cuja via de transmisso a feco-oral, ao controlar as vias de entrada e sada do organismo patognico no organismo humano, evita-se a propagao da doena. Como dito anteriormente, a entrada no organismo humano d-se pela ingesto de gua ou de alimentos contaminados, portanto o fornecimento de gua tratada com regularidade e em quantidade suficiente para que possa ser usada na higiene pessoal e dos alimentos evita o surgimento da infeco. O controle da via de sada do organismo d-se pelo destino adequado dos excretas, o que evita a contaminao dos mananciais utilizados para dessedentao e para rega de alimentos. Tambm evita a contaminao dos alimentos por moscas que tenham tido contato com os excretas de pessoas contaminadas. Estudo realizado nas Filipinas, em rea endmica de Clera, mostrou que a implantao de sistema de abastecimento de gua, com qualidade e quantidade adequados, e de disposio adequada dos esgotos sanitrios provocou uma reduo na incidncia da doena de 73% e de 68%, respectivamente, e quando houve a implantao de ambos a reduo foi de 76%. Outro estudo, realizado na ndia, mostrou que houve reduo de 74% nas taxas de mortalidade relativas Clera, aps a implantao de estao de tratamento de gua. Especial importncia deve ser dada s aes de educao sanitria, pois estas conscientizam as pessoas da importncia da adoo de hbitos higinicos, bem como do uso da gua tratada e de instalaes sanitrias. A este respeito Cairncross (1984, p. 336) diz que: [...]uma latrina suja pode provocar transmisso mais intensa que aquela que resulta da defeco em locais espalhados no mato. Nas localidades onde no seja possvel a distribuio de gua tratada, atravs da educao sanitria as pessoas aprendem medidas simples para evitar a ingesto de gua contaminada como ferver a gua ou filtr-la com o uso de pedaos de tecido. Aprendem tambm a armazen-la adequadamente, de maneira que no venha a ser contaminada no ambiente domstico. comum s pessoas que moram em habitaes que no dispem de gua encanada, armazenarem gua em tanques abertos e apoiados no cho. Quando necessitam de gua, introduzem uma caneca, ou outro objeto semelhante, no reservatrio. Caso as mos tenham tido contato com as fezes ou vmitos dos doentes, a gua ser contaminada, diretamente, atravs de contato das mos com a gua, ou indiretamente, atravs do objeto introduzido na gua, que foi seguro com as mos. O contato com as fezes ou com o vmito dos doentes pode se dar aps o ato de defecar, durante a limpeza do nus. Tambm pode se dar aps o contato com os doentes ou com objetos situados prximos a estes, j que as pessoas que desenvolvem a Clera costumam ter as fezes e os vmitos esbranquiadas, sem cor e sem cheiro, o que dificulta a deteco destes no ambiente em torno do doente. Isto tambm justifica a recomendao de desinfetar as vestes e a roupa de cama utilizada pelos doentes. Da mesma forma que a gua, os alimentos tambm podem ser contaminados pelas mos sujas, da a necessidade de lavar as mos e os utenslios domsticos, tais como copos, pratos e talheres; utilizados pelos doentes. Como exposto acima, esta lavagem deve ser feita em gua corrente para que no haja contaminao do reservatrio de gua. Vale ressaltar que o manuseio dos alimentos e o uso dos utenslios domsticos somente deve ser feito aps a secagem por completo das mos e dos utenslios. Alm do cuidado no manuseio dos alimentos, a OMS tambm recomenda que nas reas onde haja risco de contaminao sejam adotados outros hbitos em relao aos alimentos, tais como:
a) evitar comidas cruas; b) descascar as frutas antes de com-las; c) cozer os alimentos por completo; d) somente comer os alimentos enquanto estiverem quentes; e) separar os alimentos crus dos cozidos; f) separar os utenslios domsticos limpos dos que possam estar contaminados; g) evitar a ingesto de alimentos e bebidas em locais que no se tenha segurana respeito do preparo.
ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental 4
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental O lixo produzido pelos doentes deve ser separado dos outros e incinerado, evitando-se assim que as moscas tenham contato com o lixo e posteriormente com alimentos, contaminando-os. Aqueles que manusearem os cadveres de vtimas da Clera tambm devem lavar as mos aps o trmino da preparao para o enterro, j que podem tocar partes do corpo com altas concentraes do agente patognico. At h poucos anos, as vacinas existentes apresentavam eficcia inferior 50% e imunizavam por no mximo seis meses, no sendo portanto de uso recomendado. Entretanto, dentre as vrias que esto sendo testadas, j esto disponveis dois novos tipos, ministrados via oral, que oferecem proteo elevada. A primeira, requer duas aplicaes, obtendo-se nveis de proteo da ordem de 85% a 90% at seis aps a segunda aplicao, em todos aqueles vacinados com idade superior dois anos. Aps trs anos, a proteo ainda da ordem de 50% em todos aqueles vacinados com idade superior cinco anos. Testes com a segunda vacina, aplicada em dose nica, mostraram nveis de proteo da ordem de 60% a 100% trs meses aps a aplicao. Vale ressaltar que o uso destas vacinas deve ser feito conjuntamente com as estratgias de controle j citadas. Alm disso, estas vacinas oferecem proteo apenas contra a Clera causada pela variedade O1 e no protegem crianas com idade inferior dois anos.
CONCLUSO Com base nas estratgias de controle, elaborou-se um modelo representativo do processo de transmisso da clera, o qual consiste em um fluxograma onde so apresentados os efeitos da existncia ou no dos quatro principais fatores que tm influencia neste processo. O modelo leva em considerao que o reservatrio da bactria causadora da Clera, tanto pode ser o homem, quanto o ambiente aqutico, quer seja este marinho, fluvial ou lacustre. A infeco a partir dos ambientes aquticos fluvial e lacustre, d-se pela ingesto direta ou pelo preparo dos alimentos com gua sem tratamento, tendo em vista que o tratamento da gua elimina a bactria causadora da Clera permitindo que se faa uso da gua sem risco de infeco, desde que esta no venha a sofrer nova contaminao no ambiente domstico. No modelo os ambientes aquticos fluvial e lacustre esto representados como Manancial. A contaminao da gua no ambiente domstico pode se dar quando da busca de gua para lavagem das mos, aps o ato de defecar ou aps ter contato com as fezes e o vmito dos doentes. A fim de evitar a contaminao, a gua deve ser armazenada de forma adequada, sendo este o segundo fator considerado pelo modelo. Porm, mesmo havendo armazenamento adequado da gua, ainda assim a Clera pode ser transmitida caso no se adotem hbitos higinicos, tais como lavar as mos aps defecar ou ter contato com objetos utilizados pelos doentes; e acondicionar separadamente o lixo produzido pelos doentes, incinerando-os. Da mesma forma, caso no sejam adotados hbitos higinicos em relao aos alimentos, quer seja no preparo, quer seja consumindo em locais inseguros; tambm pode haver infeco. A adoo ou no destes hbitos higinicos o terceiro fator considerado. Vale ressaltar que a adoo destes hbitos evita a infeco a partir do ambiente aqutico marinho, representado no modelo como Oceano, que d-se pela ingesto de frutos do mar crus. Caso haja infeco, o ciclo pode ser interrompido dando destino adequado aos excretas, impedindo que estes venham a contaminar os mananciais utilizados para abastecimento humano ou os oceanos. O destino adequado dos excretas tambm impede o contato das moscas com estes. No modelo proposto, o armazenamento adequado da gua e adoo da hbitos higinicos, esto agrupados separadamente tendo em vista serem introduzidos atravs de aes de educao sanitria. Os outros dois fatores considerados pelo modelo, destino adequado dos excretas e uso de gua tratada, so proporcionados atravs de sistemas de esgotamento sanitrio e abastecimento de gua, quer sejam estes coletivos ou individuais. Por serem considerados como medidas de saneamento bsico, foram agrupados separadamente. Entretanto, no basta dotar as residncias de sistemas de esgotamento sanitrio, pois o uso inadequado das instalaes sanitrias alm de impedir que os efeitos esperados de melhoria da salubridade do ambiente onde se vive sejam alcanados, agrava a situao presente. Por isso, alm do saneamento bsico so necessrias aes educativas visando o uso adequado das instalaes. A educao sanitria tambm ensina medidas simples para evitar a ingesto de gua contaminada. Portanto, o modelo considera que o saneamento bsico deve estar includo dentro de um programa maior de educao sanitria. Embora a Clera atinja com mais freqncia aos mais pobres, aspectos ditos sociais, geralmente associados pobreza, tais como habitao precria, baixa renda familiar, baixo nvel de educao, carncia alimentar etc; no foram levados em considerao na elaborao do modelo, tendo em vista no serem determinantes na incidncia da doena. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental 5
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental CAIRNCROSS, Sandy. Aspectos de sade nos sistemas de saneamento bsico. Revista Engenharia Sanitria, v.23, n 4, p. 334-338, 1984. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Technical Guidelines on the Detection and Control of Cholera Epidemics. Disponvel em: <http://www.cdc.gov/epo/dih/ddm/Downloads/ddm/cholrea/chol_t~1.pdf>. Acesso em: 22 fevereiro 2001. CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA (CENEPI); FUNDAO NACIONAL DE SADE (FUNASA). Clera. In: Guia de Vigilncia Epidemiolgica. Disponvel em: <http://www.funasa.gov.br/pub/GVE/GVE0502A.htm>. Acesso em: 6 fevereiro 2001. COLWELL, Rita. Remote Sensing of Cholera Outbreaks: First Year Report. Disponvel em: <http://www.asmusa.org/pcsrc/tip0197a.htm>. Acesso em: 19 fevereiro 2001. FINKELSTEIN, Richard A. Cholera, Vibrio cholerae O1 and O139, and Other Pathogenic Vibrios. In: BARON, Samuel. Medical Microbiology. Disponvel em: <http://qsps.utmb.edu/microbook/ch24.htm>. Acesso em: 9 fevereiro de 2001.
ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental
VII-030 22 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental
Educao Sanitria
Saneamento Bsico
Destino Adequado dos Excretas Fim da Possibilidade de Infeco S Higiene Pessoal e dos Alimentos
Infeco do Homem
Ingesto Oceano Armazenamen to Adequado da gua Uso de gua Tratada Manancial
Preparo de Alimentos
Modelo representativo do processo de transmisso da Clera
ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental
Você também pode gostar
- HISTÓRIA DA PARAÍBA - Eliete de Queiroz Gurjão PDFDocumento93 páginasHISTÓRIA DA PARAÍBA - Eliete de Queiroz Gurjão PDFLívia Barbosa100% (1)
- Aula 1 A 6. Processo Civil IDocumento81 páginasAula 1 A 6. Processo Civil IMatheus NascimentoAinda não há avaliações
- Politize. O Que e Crise EconomicaDocumento5 páginasPolitize. O Que e Crise EconomicaFabio OnizukaAinda não há avaliações
- Passo A Passo SAP (Projetos)Documento1 páginaPasso A Passo SAP (Projetos)Marcos Pinheiro (Berodur)Ainda não há avaliações
- SantanaDocumento149 páginasSantanaAndreAinda não há avaliações
- TD Revisão 2 Bimestre 1 Ano SociologiaDocumento5 páginasTD Revisão 2 Bimestre 1 Ano SociologiaWiki MaximAinda não há avaliações
- Saga Das Chaves - Suplemento de Ordem Paranormal RPG - V0.4Documento39 páginasSaga Das Chaves - Suplemento de Ordem Paranormal RPG - V0.4Robo zinho100% (2)
- A Mulher Sexualmente Feliz - CompletoDocumento178 páginasA Mulher Sexualmente Feliz - CompletoAndrade Claudia100% (1)
- # Matemática Completa - EsSA - OpçãoDocumento184 páginas# Matemática Completa - EsSA - Opçãojean franklin silvaAinda não há avaliações
- Documento A Valia CaoDocumento3 páginasDocumento A Valia Caol e a f b r100% (1)
- Projeto São Joao LiterarioDocumento1 páginaProjeto São Joao LiterarioAmanda QueirozAinda não há avaliações
- Fichamento e Exercicio - A Sociologia Alemã A Contribuição de Max WeberDocumento5 páginasFichamento e Exercicio - A Sociologia Alemã A Contribuição de Max WeberJoao OliveiraAinda não há avaliações
- Livro Governanca Conservação Desenvolvimento Territorios Marinhos Costeiros, Paulo Freire Viera Et Al, Rima 2020Documento356 páginasLivro Governanca Conservação Desenvolvimento Territorios Marinhos Costeiros, Paulo Freire Viera Et Al, Rima 2020mdbasAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado CFO PM-ALDocumento20 páginasEdital Verticalizado CFO PM-ALKennedy OliveiraAinda não há avaliações
- Vouga F. A Epístola Aos Romanos (2012) (C)Documento14 páginasVouga F. A Epístola Aos Romanos (2012) (C)Leandro AgostinettiAinda não há avaliações
- Bianca Gã IsDocumento8 páginasBianca Gã IsBernardo FelicioAinda não há avaliações
- Vivendo o Melhor de DeusDocumento19 páginasVivendo o Melhor de DeusCarlos VictorAinda não há avaliações
- Programação Colônia de FériasDocumento8 páginasProgramação Colônia de FériasJoyce La PastinaAinda não há avaliações
- Mzup3 Cidadania Desenvolv SustentavelDocumento4 páginasMzup3 Cidadania Desenvolv SustentavelLilianaQuesadoAinda não há avaliações
- LISTA 03 - BiotecnologiaDocumento4 páginasLISTA 03 - BiotecnologiaPéricles PiresAinda não há avaliações
- Procuração e DeclaraçãoDocumento2 páginasProcuração e Declaraçãogabriellaviana99Ainda não há avaliações
- Dinâmica para Reuniões Pedagógicas - Dinamicas PedagógicasDocumento4 páginasDinâmica para Reuniões Pedagógicas - Dinamicas PedagógicasLuis FreireAinda não há avaliações
- CraseDocumento3 páginasCraseymlima696Ainda não há avaliações
- Apropriação Cultural ConclusãoDocumento2 páginasApropriação Cultural ConclusãoCleyton FerrerAinda não há avaliações
- Registros Vocais Ddos Intérpretes de Sambas-Enredo - Quando Sua Identidade Doa Abraços Sonoros Nas Multidões - para Publicação.Documento3 páginasRegistros Vocais Ddos Intérpretes de Sambas-Enredo - Quando Sua Identidade Doa Abraços Sonoros Nas Multidões - para Publicação.Isabel Monteiro GomesAinda não há avaliações
- CO-04 M2 Fechamento de Custos Fechamento de Custos (Material Ledger) - PODocumento17 páginasCO-04 M2 Fechamento de Custos Fechamento de Custos (Material Ledger) - POWillian E. Silva100% (1)
- 2023 Apostila StartDocumento32 páginas2023 Apostila StartNext Media UKAinda não há avaliações
- 28-07 - Simulado Banca FGVDocumento46 páginas28-07 - Simulado Banca FGVTayrine NogueiraAinda não há avaliações
- Critérios para Seleção de Lideres de Comunidades Cristãs - ArtigoDocumento32 páginasCritérios para Seleção de Lideres de Comunidades Cristãs - ArtigoantnettoAinda não há avaliações
- Silo - Tips Pedido de Desculpas Da Iasd Por Ter Apoiado Hitler Completa Dez Anos em 2015Documento61 páginasSilo - Tips Pedido de Desculpas Da Iasd Por Ter Apoiado Hitler Completa Dez Anos em 2015João Carlos BaroneAinda não há avaliações