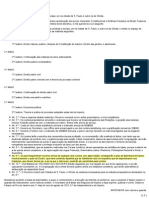Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Evanna Soares
A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Evanna Soares
Enviado por
Ed AntunesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Evanna Soares
A AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Evanna Soares
Enviado por
Ed AntunesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A AUDINCIA PBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Evanna Soares(*)
SUMRIO: 1 INTRODUO. 2 AUDINCIA PBLICA. 2.1 O que uma audincia pblica? 2.2 Audincia pblica e democracia. 2.3 Audincia pblica e devido processo legal. 2.4 Fundamento, natureza e qualificao. 2.5 Princpios. 2.6 Procedimento recomendado. 3 AUDINCIA PBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 3.1 Lei n 9.784, de 1999. 3.1.1 Consideraes. 3.1.2 Outros modos de participao popular na funo administrativa. 3.1.3 Natureza e fins da audincia pblica. 3.1.4 Pressupostos para realizao. 3.1.5 Participantes. 3.1.6 Resultados. 4 OUTRAS PREVISES DE AUDINCIA PBLICA. 4.1 No processo judicial. 4.2 No processo legislativo. 4.3 No Ministrio Pblico. 4.4 Na Administrao Pblica. 4.4.1 Audincia pblica e meio ambiente. 4.4.2 Na Lei n 8.666, de 1993 (licitaes e contratos administrativos). 4.4.3 Na Lei n 8.987, de 1995 (concesso e permisso de servios pblicos). 4.4.4 Na Lei n 9.427, de 1996 (concesses de energia eltrica). 4.4.5 Na Lei n 9.478, de 1997 (agncias reguladoras). 4.4.6 Na Lei n 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade). 5 CONSIDERAES FINAIS. REFERNCIAS. RESUMO A audincia pblica uma das formas de participao e de controle popular da Administrao Pblica no Estado Social e Democrtico de Direito. Ela propicia ao particular a troca de informaes com o administrador, bem assim o exerccio da cidadania e o respeito ao princpio do devido processo legal em sentido substantivo. Seus principais traos so a oralidade e o debate efetivo sobre matria relevante, comportando sua realizao sempre que estiverem em jogo direitos coletivos. A legislao brasileira prev a convocao de audincia pblica para realizao da funo administrativa, dentro do processo administrativo, por qualquer dos Poderes da Unio, inclusive nos casos especficos que versam sobre meio ambiente, licitaes e contratos administrativos, concesso e permisso de servios pblicos, servios de telecomunicaes e agncias reguladoras. Constitui, ainda, instrumento de realizao da misso institucional do Ministrio Pblico e subsdio para o processo legislativo e para o processo judicial nas aes de controle concentrado da constitucionalidade das normas.
INTRODUO
O principal instituto da teoria do direito administrativo tem sido o ato administrativo. Todos os estudos e cuidados sempre se voltaram para o ato, como se ele se bastasse e existisse sozinho. Ultimamente, com o advento do Estado Social e Democrtico de Direito, essas atenes passaram a se voltar para o processo administrativo[1], compreendendo-se, finalmente, que atravs do processo que a funo administrativa se realiza, e no do ato isolado, que, na verdade, o resultado da atividade desenvolvida por intermdio daquele. O Estado Democrtico de Direito relaciona-se intimamente com o processo administrativo, que lhe serve de instrumento para o maior controle da atividade da Administrao Pblica, bem assim para viabilizar a participao popular na expedio do referido ato, de sorte que o princpio democrtico consegue se
consumar atravs do controle e da participao os quais constituem as mais relevantes finalidades do processo administrativo[2]. Salienta Maria Sylvia Zanella DI PIETRO[3] que o princpio da participao popular na gesto da Administrao Pblica pontifica na Constituio da Repblica do Brasil de 1988, como exemplo, nos arts. 10, 187, 194, 194, VII, 198, III, 204, II, 206, VI e 216,1, bem assim os instrumentos de controle, como se v, entre outros, no art. 5, XXXIII, LXXI e LXXIII, e no art. 74, 2. Essa participao do cidado se implementa de vrias formas, tais a presena de ouvidores nos rgos pblicos, criao de disque-denncia, audincias pblicas e consultas pblicas. A audincia pblica - um desses mecanismos de participao e controle popular e que constitui o objeto deste estudo - tem recebido da doutrina enfoques sob diversas ticas. Odete MEDAUAR[4] e Celso Antnio BANDEIRA DE MELLO a apreciam quando explicam a instruo do processo administrativo, isto , as atividades de averiguar e comprovar os dados necessrios tomada de deciso[5]. Srgio FERRAZ e Adilson Abreu DALLARI[6] vem a audincia pblica sob o prisma da publicidade, como veculo para obter maior publicidade e participao dos cidados, diretamente ou atravs de entidades representativas, no processo de tomada de deciso. Essa audincia examinada por Vera C. C. M. SCARPINELLA BUENO[7], por sua vez, preponderantemente, sob o ngulo da simplificao e da eficincia do processo administrativo, democratizando e legitimando as decises da Administrao Pblica. Mostra-se interessante, assim, estudar a audincia pblica no processo administrativo, particularmente a sua insero na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n 9.784, de 1999), bem como a previso de sua realizao para o desempenho de outras funes estatais, perscrutando sua natureza, caractersticas e finalidades.
2 2.1
AUDINCIA PBLICA O que uma audincia pblica?
Audincia pblica um instrumento que leva a uma deciso poltica ou legal com legitimidade e transparncia. Cuida-se de uma instncia no processo de tomada da deciso administrativa ou legislativa, atravs da qual a autoridade competente abre espao para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa deciso tenham oportunidade de se manifestar antes do desfecho do processo. atravs dela que o responsvel pela deciso tem acesso, simultaneamente e em condies de igualdade, s mais variadas opinies sobre a matria debatida, em contato direto com os interessados. Tais opinies no vinculam a deciso, visto que tm carter consultivo, e a autoridade, embora no esteja obrigada a segui-las, deve analis-las segundo seus critrios, acolhendo-as ou rejeitando-as[8]. Na Administrao Pblica a audincia pblica instrumento de conscientizao comunitria funciona como veculo para a legtima participao dos particulares nos temas de interesse pblico. Ento, de um lado, tem-se uma metodologia de esclarecimento de determinadas questes atravs da presena dos interessados, e, de outro, uma Administrao que, anteriormente, se mantinha distante dos assuntos cotidianos dos cidados, e,
agora, se preocupa com o interesse comum, a exemplo do servio pblico de eletricidade[9]. Agustn GORDILLO[10] ressalta que a extenso do princpio da audincia individual ao princpio da audincia pblica tem suas razes no direito anglo-saxo, fundamentando-se no princpio de justia natural o mesmo que nutre a garantia de defesa nos casos particulares e o devido processo legal festejado nos Estados Unidos da Amrica e na prpria Argentina. Esse princpio, na prtica, se traduz em que, antes da edio de normas administrativas ou mesmo legislativas de carter geral, ou de decises de grande impacto na comunidade, o pblico deve ser escutado. O princpio da audincia pblica, no direito argentino, onde fartamente prestigiado, tem sede constitucional, constando, por exemplo, do art. 63 da Constituio da Cidade Autnoma de Buenos Aires[11]:
ARTCULO 63.- La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a audiencia pblica para debatir asuntos de inters general de la ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestin. Tambin es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificacin, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes pblicos.
As audincias pblicas previstas nesse dispositivo tm interessante detalhamento na Lei n 6, ditada pela Legislatura da Cidade de Buenos Aires em 05/3/1998[12], revelando seu objeto e finalidade nos cinco primeiros artigos, que merecem transcrio, considerado seu carter geral: Artculo 1 - La presente Ley regula el Instituto de Audiencia Pblica. La Audiencia Pblica constituye una instancia de participacin en el proceso de toma de decisin administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectado o tengan un inters particular expresen su opinin respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisin acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultnea y en pie de igualdad a travs del contacto directo con los interesados. Art. 2 - Las opiniones recogidas durante la Audiencia Pblica son de carcter consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la decisin debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qu manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadana y, en su caso, las razones por las cuales las desestima. Art. 3 - La omisin de la convocatoria a la Audiencia Pblica, cuando sta sea un imperativo legal, o su no realizacin por causa imputable al rgano convocante es causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuacin judicial.
Art. 4 - El incumplimiento del procedimiento estipulado en la presente ley podr ser causal de anulabilidad del acto, por va administrativa o judicial. Art. 5- Las Audiencias Pblicas son temticas, de requisitoria ciudadana o para designaciones y acuerdos.
A doutrina brasileira, na expoente voz de Diogo Figueiredo MOREIRA NETO[13], define audincia pblica como um instituto de participao administrativa aberta a indivduos e a grupos sociais determinados, visando legitimao administrativa, formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor tendncias, preferncias e opes que possam conduzir o Poder Pblico a uma deciso de maior aceitao conceitual. Mas, alm de servir ao exerccio da funo administrativa, a audincia pblica no Brasil se presta, tambm, para subsidiar o desempenho da funo legislativa, conforme art. 58, 2, II, da Constituio da Repblica de 1988, da funo judiciria (art. 9, 1, da Lei n 9.868/1999) e da misso institucional do Ministrio Pblico (art. 27, pargrafo nico, IV, da Lei n 8.625/1993).
2.2
Audincia pblica e democracia
A realizao de audincias pblicas est intimamente ligada s prticas democrticas. Ela representa, juntamente com a consulta popular, a democratizao das relaes do Estado para com o cidado, aqui considerado no mais o administrado - conforme expresso criticada por CASSESSE, em desuso porque traduz a idia de sujeio mas sim um parceiro do administrador pblico, concretizando a participao popular externa na Administrao Pblica[14]. O exerccio do poder pelo povo e para o povo assegurado pelo princpio democrtico, que gera, alm dos direitos de elaborao legislativa, os direitos participativos, que fundamentam pretenses satisfao dos fins sociais, culturais e ecolgicos da igualdade de gozo das liberdades privadas e dos direitos de participao poltica [15], de sorte que o prprio conceito de democracia se assenta no princpio participativo, o qual integra o conceito de Democracia Social. Consulta popular (ou enqute) e audincia pblica constituem tcnicas de execuo desse processo participativo verificado na Administrao Pblica[16]. O Estado Democrtico de Direito caracterizado pela participao direta, referindo-se terceira fase de evoluo da Administrao Pblica, em que o particular, individual e pessoalmente, influencia na gesto, no controle e nas decises do Estado[17], como decorrncia do princpio democrtico. A democracia participativa, assim, conseqncia da insuficincia da democracia representativa reinante no final do Sculo XX e decorre da exigncia da presena direta dos particulares na tomada de decises coletivas[18], atravs das audincias
pblicas, por exemplo.
2.3
Audincia pblica e devido processo legal
Todas as vezes que a Administrao Pblica resolve limitar o exerccio de direitos individuais, deve assegurar ao interessado o direito de ser previamente ouvido, relacionando-se essa garantia com o direito de defesa, o princpio do contraditrio e com o devido processo legal[19]. Esse princpio clssico da audincia prvia se projeta para a audincia pblica, como regra de validade quase universal, expressando a garantia constitucional do devido processo legal em sentido substantivo[20], visto que ela deve se realizar antes de ser adotada uma providncia de carter geral, tal a edio de normas jurdicas administrativas ou mesmo legislativas e a aprovao de projetos de grande impacto ambiental. Com efeito, alm de efetivar a garantia de receber informaes da Administrao e de ser ouvido por ela, a audincia pblica tambm possibilita o pleno exerccio da defesa e do contraditrio pelo cidado, individualmente ou atravs de associaes[21].
2.4
Fundamento, natureza e qualificao
A audincia pblica tem importncia material porque ela que d a sustentao ftica deciso adotada[22]. Quem mais se beneficia de seus efeitos so os prprios particulares, considerada a prtica de uma administrao mais justa, mais razovel, mais transparente, decorrente do consenso da opinio pblica e da democratizao do poder. O fundamento prtico da realizao da audincia pblica consiste do interesse pblico em produzirem-se atos legtimos, do interesse dos particulares em apresentar argumentos e provas anteriormente deciso, e, pelo menos em tese, tambm do interesse do administrador em reduzir os riscos de erros de fato ou de direito em suas decises, para que possam produzir bons resultados. Tem a ver com o antigo princpio jurdico
audi alteram pars: es la necesidad
poltica, jurdica y prctica de escuchar al pblico antes de adoptar una decisin, cuando ella consiste en una medida de carcter general, un proyecto que afecta al usuario o a la comunidad, al medio ambiente; o es una contratacin pblica de importancia, etc.[23]. A audincia pblica tem dupla natureza pblica, como observa Agustn GORDILLO[24]: a primeira representada pela publicidade e transparncia prprias do mecanismo, em que pontuam a oralidade, imediao, assistncia, registros e publicaes dos atos; a segunda, pela prpria participao processual e a abertura a todos os segmentos sociais.
O que qualifica a audincia pblica, nesse contexto, a participao oral e efetiva do pblico no procedimento ordenado, como parte no sentido jurdico, e no meramente como espectador[25]. indispensvel, assim, para que se realize a audincia pblica, propriamente dita, a efetiva participao do pblico. No se caracterizar como tal a sesso que, embora aberta ao pblico, o comportamento dos presentes seja passivo, silencioso, contemplativo. Nesse caso, ser apenas uma audincia. Outrossim, se no se observar um formal e previamente estabelecido procedimento, tambm no se estar diante de uma audincia pblica, mas de mera reunio popular, com livre troca de opinies entre o administrador e os particulares acerca de determinado tema[26].
1.1
Princpios
Considerando que a audincia pblica serve funo administrativa, inclusive quando destinada ao controle e regulao dos servios de utilidade pblica privatizados, salienta Agustn GORDILLO[1] que ela deve se realizar moda do processo judicial oral e seguir os princpios jurdicos de carter geral, tais o devido processo legal, publicidade, oralidade, simplicidade das formas, contraditrio, participao do pblico, instruo, impulso oficial, economia processual e, via de regra, gratuidade.
1.2
Procedimento recomendado
O jurista argentino adverte para a necessidade de serem observados esses princpios, tendo-se o cuidado para no exagerar na regulamentao, de sorte a deixar margem para a criatividade dos responsveis pela realizao da audincia pblica, visando aos bons e efetivos resultados. Recomenda, ento, as linhas gerais do procedimento da audincia pblica[2], consistentes de: pr-estabelecimento da ordem ou roteiro da audincia pelo seu dirigente ou dirigentes, contendo a relao, seqncia e tempo das pessoas que usaro da palavra, rplicas, apartes, etc.; providncias para a ampla divulgao ao pblico da convocao da audincia; realizao, quando necessrio, de uma pr-audincia visando ordenao ou simplificao do temrio, coleta de informaes, ou, ainda, para tentar um acordo de partes, desde que no afete o interesse pblico, aplicando-se, nessa hiptese, o princpio da economia processual; instruo atravs de depoimentos e interrogatrios dos interessados e testemunhas, recebimento de documentos, laudos periciais, etc.; documentao dos atos mediante taquigrafia, gravao em udio e vdeo, lavratura da ata da audincia; e recebimento e registro de alegaes orais.
AUDINCIA PBLICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.1 2.1.1
Lei n 9.784, de 1999 Consideraes
O processo administrativo no Brasil vinha sendo tratado casuisticamente pela doutrina e pela jurisprudncia falta de lei especfica sobre o tema, somente implementado, no mbito da Administrao Pblica Federal, em 20/01/1999, com a edio da Lei n 9.784. A demora legislativa nacional mostra-se maior ainda, se se considerar, entre outros pases, que ustria (1925), Espanha (1958), Alemanha (1978), Uruguai (1966) e Argentina (1972), h muito tempo dispem de lei da espcie, como ressalta Rafael Munhoz de MELLO[3]. Essa lei vem impulsionando a evoluo do processo administrativo e traz, como novidade institucionalizada com o fim de implementar a funo administrativa pelos rgos e entidades da Administrao Direta e Indireta do Poder Executivo, bem assim pelos rgos do Poder Judicirio e do Poder Legislativo, a previso de participao popular direta na formao dos atos administrativos de grande relevncia, nos casos de interesse pblico, encontrando-se, dentre as formas de participao, a audincia pblica. O art. 32 da lei sob comento estabelece que, antes da tomada de deciso, a juzo da autoridade, diante da relevncia da questo, poder ser realizada audincia pblica para debates sobre a matria do processo. A audincia pblica est inserida no captulo da instruo do processo administrativo, ocasio em que se constri a motivao das decises administrativas e se efetua a ponderao dos interesses envolvidos.
2.1.2
Outros modos de participao popular na funo administrativa
A Lei n 9.784/1999, no art. 31, 1 e 2, prev, expressamente, outro meio instrutrio do processo administrativo, qual seja, a consulta pblica, deliberada quando a matria envolver assunto de interesse geral e destinada a colher manifestao de terceiros, desde que no haja prejuzo para a parte interessada, antes da deciso do pedido. Convm, de logo, distinguir audincia pblica de consulta pblica. Embora ambas constituam formas de participao popular na gesto e controle da Administrao Pblica, no se confundem. A audincia pblica propicia o debate pblico e pessoal por pessoas fsicas ou representantes da sociedade civil, considerado o interesse pblico de ver debatido tema cuja relevncia ultrapassa as raias do processo administrativo e alcana a prpria coletividade[4]. Cuida-se, no fundo, de modalidade de consulta pblica, com a particularidade de se materializar atravs de debates orais em sesso previamente designada para esse fim[5]. A oralidade, portanto, seu trao marcante. A consulta pblica, por seu turno, tem a ver com o interesse da Administrao Pblica em
compulsar a opinio pblica atravs da manifestao firmada atravs de peas formais, devidamente escritas, a serem juntadas no processo administrativo[6]. Alm da consulta e audincia pblicas, a Lei n 9.784/1999, no art. 33, faculta aos rgos e entidades administrativas, nas matrias relevantes, a adoo de outros meios de participao popular, a exemplo de reunies, convocaes e troca de correspondncias. Trata-se de norma de natureza residual, como evidencia Jos dos Santos CARVALHO FILHO[7], cujo objetivo franquear todas as formas possveis de participao pblica, coibindo o autoritarismo e viabilizando o exerccio da cidadania.
2.1.3
Natureza e fins da audincia pblica
A natureza da audincia pblica prevista na Lei n 9.784/1999 no discrepa daquela apontada por Agustn GORDILLO[8], e se resume na efetiva participao popular no processo de tomada da deciso administrativa. Segundo o art. 32 da referida lei, que, como dito, dispe sobre a audincia pblica como mecanismo de instruo do processo administrativo, a finalidade de sua realizao o amplo debate acerca de questo relevante, afeta ao interesse geral da coletividade, via de regra identificada pela presena de interesses metaindividuais, difusos ou coletivos, de sorte a no atingir direitos da populao sem sua prvia oitiva. Objetivase, assim, permitir debates sobre a matria[9]. A prtica das audincias pblicas, pelos aspectos positivos da sua instituio no processo administrativo, notadamente quanto ao controle da funo administrativa, merece ser generalizada no direito positivo, segundo a opinio de Alice Gonzalez BORGES[10].
2.1.4
Pressupostos para realizao O requisito para realizao da audincia pblica a relevncia da questo. Essa
relevncia traduzida pela presena do interesse coletivo de reconhecida importncia[11]. Com efeito, no basta que haja interesse geral: importante que a deciso no processo possa realmente influir na esfera de interesse de outras pessoas na coletividade. Por outro lado, se o interesse se configurar como relevante, estar ultrapassando os limites do processo administrativo e do prprio interesse da parte[12]. Exemplos clssicos de relevncia encontram-se nas questes que envolvem os interesses dos consumidores e o meio ambiente. Compete autoridade responsvel pela deciso identificar a relevncia da questo e convocar a audincia pblica antes do desfecho do processo administrativo. Essa providncia no meramente formal, apenas para cumprir, aparentemente, a etapa procedimental. necessrio sejam dadas todas as condies para que a audincia se realize plenamente, com a participao ativa e efetiva da populao, e que o seu contedo seja considerado quando da deciso, sob pena de invalidade[13]. verdade que a audincia pblica prevista no art.32
da Lei n 9.784/1999 no tem carter compulsrio, visto que sua realizao fica a critrio da autoridade administrativa, uma vez detectada a relevncia da matria. Mas, se entendida necessria, deve ser cumprida efetivamente, prezando-se pela oralidade e debates que caracterizam o mecanismo de participao popular e controle. Infere-se, outrossim, diante da existncia de pressupostos para convocao da audincia pblica, que ela no pode ser realizada para outra finalidade que no a prevista em lei, isto , debater relevante matria do processo. Se a inteno do administrador for outra, como, meramente, colher opinies especializadas ou transmitir informaes aos particulares, h-de lanar mo de outra modalidade de evento, tais as reunies, consultas, seminrios, congressos, etc., e no da audincia pblica.
2.1.5
Participantes
A participao na audincia pblica pode se dar de forma direta ou indireta. No primeiro caso, tem-se o prprio particular, pessoalmente, em nome prprio, a comparecer e expor sua opinio, debater e aduzir razes sobre a matria relevante e de interesse geral. No segundo, quem participa organizao ou associao legalmente reconhecida, tais as associaes, fundaes, sociedades civis, enfim, toda e qualquer entidade representativa, cuja participao possa atender aos interesses daqueles que se fazem por ela representar[14]. Denominam-se partes, em sentido amplo, os participantes da audincia pblica, segundo a lio de Agustn GORDILLO[15], admitindo-se todos aqueles que tenham interesse legtimo ou direito subjetivo, bem assim interesse coletivo, inclusive pessoas pblicas supra-nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como as privadas, conforme o caso. Enfim, quaisquer pessoas, ONGs, partidos polticos, etc., que discutam previamente as decises a serem tomadas pela Administrao[16].
2.1.6
Resultados
No mundo jurdico, como na vida, nada se faz sem um sentido, sem a preocupao com um resultado almejado. A audincia pblica, como meio de participao dos particulares na Administrao Pblica, deve ter, por imperativo da Lei n 9.784/1999, art. 34, seus resultados apresentados com a indicao do procedimento adotado. Tem, assim, o responsvel pela realizao da audincia pblica, duas obrigaes[17], nessa fase: primeiramente, dar forma ao resultado atravs de relatrio do que se desenvolveu na audincia, especialmente opinies e debates necessrios formulao de uma concluso, ainda que incompleta. Em segundo lugar, indicar, alm do resultado, o procedimento adotado como forma de participao popular no processo para debate da matria, isto , a meno do procedimento levado a efeito, para que se possa efetuar o cotejo entre o modo de participao e o meio escolhido pela Administrao.
3 3.1
OUTRAS PREVISES DE AUDINCIA PBLICA No processo judicial
A Lei n 9.868, de 10/11/1999, que dispe sobre o processo e julgamento da ao direta de inconstitucionalidade e da ao declaratria de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, no art. 9, 1, estabelece que em caso de necessidade de esclarecimento de matria ou circunstncia de fato ou de notria insuficincia das informaes existentes nos autos, poder o relator requisitar informaes adicionais, designar perito ou comisso de peritos para que emita parecer sobre a questo, ou fixar data para, em audincia
pblica, ouvir depoimentos de pessoas com experincia e autoridade na matria.
O controle abstrato das normas feito em processo objetivo, quer dizer, sem partes ou sujeitos e destina-se, exclusivamente, defesa da Constituio[18]. O legislador introduziu no procedimento desse processo, inovadoramente, a audincia pblica, para que o relator, se entender necessrio, possa ouvir depoimentos de pessoas com experincia e autoridade na matria. Aqui, a audincia pblica no visa a dar publicidade ao processo mesmo porque ele j pblico nem se presta para subsidiar uma deciso administrativa. O STF, quando em exerccio de sua funo administrativa, realizar audincia pblica tal qual todos os rgos da Administrao Pblica, conforme art. 1, 1, da Lei n 9.784/1999. No uso de sua competncia constitucional e no exerccio da funo jurisdicional de dizer, em controle concentrado, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas, o Excelso Pretrio, atravs do relator do processo, poder se valer da audincia pblica para instruir o feito e forrar a deciso judicial a ser proferida. A audincia pblica, nesse contexto, constitui um dos importantes instrumentos para aferio dos fatos e prognoses legislativos no mbito do controle abstrato das normas, como ressaltam Ives Gandra MARTINS e Gilmar Ferreira MENDES. Isso traduz maior abertura procedimental e uma grande modernizao do processo constitucional brasileiro, ao tempo em que fornece ao STF instrumentos adequados para uma aferio mais precisa dos fatos e prognoses estabelecidos ou pressupostos pelo legislador[19]. Essa abertura procedimental d ao Tribunal mais elementos tcnicos para que possa apreciar a constitucionalidade do ato impugnado e propicia, amplamente, a participao de terceiros interessados na matria, atravs da audincia pblica. A participao de pessoas e entidades permite a transformao de um processo dito subjetivo em um processo objetivo de controle da constitucionalidade, visto que interessa a todos, tal como se v na praxe americana do amicus curiae brief, servindo como excelente instrumento de informao para a Corte Suprema e de integrao dos diferentes grupos nos processos judiciais relevantes para a sociedade[20]. As audincias pblicas funcionam, assim, como um ampliado instrumento de informao aos Ministros responsveis pela dico da constitucionalidade, de sorte a viabilizar os elementos probatrios adequados para o racional, tcnico e consciente exame da matria, fatos e prognoses legislativas, afastando as decises meramente intuitivas e evitando que o voluntarismo do legislador seja substitudo pelo voluntarismo do juiz[21].
A realizao de audincia pblica no processo concentrado de controle da constitucionalidade das normas, em determinados casos, permitir a aferio judicial dos efeitos prticos do ato inquinado, bem assim de sua eventual retirada do mundo jurdico.
3.2
No processo legislativo
O Poder Legislativo, tal qual o Poder Judicirio, quando meramente no desempenho da funo administrativa, realizar audincias pblicas nos moldes da Lei n 9.784/1999, como prev seu art. 1, 1. O processo legislativo, porm, tem na realizao de audincias pblicas com entidades da sociedade civil uma incumbncia irrecusvel. Com efeito, a realizao dessa audincia decorre de comando constitucional (art. 58, 2, II, da Carta de 1988), cumprindo sua implementao s comisses do Congresso Nacional e de suas Casas. Ressalta Celso Ribeiro BASTOS que o referido dispositivo constitucional tem o sentido de integrar representantes e representados atravs de audincias. Acresce que as audincias pblicas com entidades da sociedade civil so realizadas quando questes de interesse social ou mesmo de segmentos especficos da sociedade forem suscitadas. E arremata: tais audincias, portanto, configuram espaos voltados ao debate coletivo[22]. O Regimento Interno do Senado Federal, no art. 90, II, estabelece como uma das competncias das Comisses a realizao de audincias pblicas com entidades da sociedade civil (Const. art. 58, 2, II). O Regimento Interno da Cmara dos Deputados, por sua vez, trata da audincia pblica com mais detalhes, nos arts. 255 a 258:
Art. 255. Cada Comisso poder realizar reunio de audincia pblica com entidade da sociedade civil para instruir matria legislativa em trmite, bem como para tratar de assuntos de interesse pblico relevante, atinentes sua rea de atuao, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada. Art. 256. Aprovada a reunio de audincia pblica, a Comisso selecionar, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados s entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comisso expedir os convites. 1 Na hiptese de haver defensores e opositores relativamente matria objeto de exame, a Comisso proceder de forma que possibilite a audincia das diversas correntes de opinio.
2 O convidado dever limitar-se ao tema ou questo em debate e dispor, para tanto, de vinte minutos, prorrogveis a juzo da Comisso, no podendo ser aparteado. 3 Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Comisso poder adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a sua retirada do recinto. 4 A parte convidada poder valer-se de assessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o consentimento do Presidente da Comisso. 5 Os Deputados inscritos para interpelar o expositor podero faz-lo estritamente sobre o assunto da exposio, pelo prazo de trs minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a rplica e a trplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Art. 257. No podero ser convidados a depor em reunio de audincia pblica os membros de representao diplomtica estrangeira. Art. 258. Da reunio de audincia pblica lavrar-se- ata, arquivando-se, no mbito da Comisso, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem.
Pargrafo nico. Ser admitido, a qualquer tempo, o traslado de peas ou
fornecimento de cpias aos interessados.
Observa-se, assim, que o papel da audincia pblica, aqui, instruir o processo legislativo e subsidiar os parlamentares para o adequado exerccio de suas funes institucionais. Como cedio, a prtica da realizao de audincias pblicas se estende pelas Casas Legislativas estaduais e municipais, regendo-se os procedimentos pelos Regimentos Internos respectivos, conservando-se, porm, a finalidade, qual seja, a integrao entre representantes e representados, propiciando o debate coletivo em torno de matrias de interesse geral.
3.3
No Ministrio Pblico
O Ministrio Pblico, instituio permanente, essencial funo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e indisponveis como define a Constituio da Repblica no art. 127, caput a exemplo dos rgos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio, quando no desempenho meramente da funo administrativa, deve realizar audincia pblica em conformidade com a Lei n 9.784/1999. Para o exerccio de suas funes institucionais previstas no art. 129 da Carta Constitucional, conta, porm, com previso especfica de audincia pblica na legislao orgnica.
A Lei n 8.625, de 12/02/1993 (Lei Orgnica Nacional do Ministrio Pblico, que dispe sobre normas gerais para a organizao do Ministrio Pblico, entre outras providncias), quando trata das funes gerais da Instituio, no art. 27, pargrafo nico, IV, determina ao Parquet, entre outras medidas necessrias defesa dos direitos assegurados nas Constituies Federal e Estadual, que promova audincias pblicas:
Art. 27. Cabe ao Ministrio Pblico exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituies Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
I - pelos poderes estaduais ou municipais; II - pelos rgos da Administrao Pblica Estadual ou Municipal, direta ou indireta; III - pelos concessionrios e permissionrios de servio pblico estadual ou municipal; IV - por entidades que exeram outra funo delegada do Estado ou do Municpio ou executem servio de relevncia pblica. Pargrafo nico. No exerccio das atribuies a que se refere este artigo, cabe ao Ministrio Pblico, entre outras providncias: I - receber notcias de irregularidades, peties ou reclamaes de qualquer natureza, promover as apuraes cabveis que lhes sejam prprias e dar-lhes as solues adequadas; II - zelar pela celeridade e racionalizao dos procedimentos administrativos; III - dar andamento, no prazo de trinta dias, s notcias de irregularidades, peties ou reclamaes referidas no inciso I; IV - promover audincias pblicas e emitir relatrios, anual ou especiais, e recomendaes dirigidas aos rgos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatrio sua divulgao adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Hugo Nigro MAZZILLI dedica um captulo da obra O Inqurito Civil s audincias pblicas cometidas ao Ministrio Pblico, considerada a sua relevncia para o desempenho da misso institucional do Parquet. Observa que se trata de um mecanismo novo na legislao orgnica da Instituio, importado de outros pases onde servia para que os cidados participassem da gesto da coisa pblica, envolvendo-os no prprio processo de deciso do Governo, revestindo, assim, a deciso, de maior publicidade e legitimidade[23]. As audincias pblicas tm a ver, portanto, com a passagem de uma democracia representativa para uma democracia participativa[24]. O objeto da audincia pblica institucional cometida ao Ministrio Pblico, porm, no o mesmo quando realizada pela Administrao Pblica como elemento da instruo do processo administrativo ou para desempenhar sua funo administrativa. Tambm no tem natureza poltico-governamental. Nesse caso, segundo Hugo MAZZILLI, ela
apenas um mecanismo pelo qual o cidado e as entidades civis (as entidades
chamadas no governamentais) podem colaborar com o Ministrio Pblico no exerccio de suas finalidades institucionais, e, mais especialmente, participar de sua tarefa constitucional consistente no zelo do interesse pblico e na defesa de interesses metaindividuais (como o efetivo respeito dos Poderes Pblicos aos direitos assegurados na Constituio, o adequado funcionamento dos servios de relevncia pblica, o respeito ao patrimnio pblico, ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, aos direitos das crianas e adolescentes, produo e programao das emissoras de rdio e televiso, etc.)[25].
A realizao de audincias pblicas apresenta-se para o Ministrio Pblico no como uma submisso da Instituio ao controle popular, mas, sim, como palco para coleta de subsdios para sua atuao na defesa dos relevantes interesses pblicos que lhe so confiados, de sorte a guiar as providncias por um juzo mais aproximado da realidade e das necessidades da coletividade, legitimando, ainda mais, suas aes. No impe a lei ao Ministrio Pblico o dever de realizar audincia pblica, que colocada como um dos instrumentos para o desempenho de sua misso institucional, e que deve ser utilizado diante de problemas mais complexos, com cuidado, porm, de um lado, para no ficar esquecido, sem aplicao, e, de outro, para no banaliz-lo. O juzo da convenincia e da necessidade de convocar a audincia pblica - seja pelos rgos do Ministrio Pblico dos Estados, seja do Ministrio Pblico da Unio, por seus diversos ramos, incumbidos, igualmente, da defesa dos mesmos direitos e interesses, no mbito das Justias Especializadas perante as quais atuam (v. Lei Complementar n 75, de 20/5/1993) compete ao membro (Promotor ou Procurador), que ser responsvel, dentro do procedimento adequado geralmente o inqurito civil tambm, pela expedio do ato convocatrio e do regulamento da audincia de conformidade com os objetivos perseguidos. Inspirado no modelo administrativo argentino, Hugo MAZZILLI sugere um roteiro bsico para a audincia pblica a cargo do Ministrio Pblico, consistente da publicao do aviso de realizao da audincia contendo a finalidade, resumo do regulamento, data e local do ato; expedio de ofcios, convites e convocaes; coordenao dos trabalhos, inclusive a elaborao da pauta das atividades, registro das presenas, tomada de depoimentos, recebimento de documentos e lavratura da ata; e elaborao da concluso, com divulgao da deciso tomada[26]. A realizao de audincias pblicas , portanto, de significativa utilidade para o desempenho da misso institucional do Ministrio Pblico, em especial para as atuaes de grande relevncia, tais as voltadas para defesa do meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, e outras que digam respeito a interesses coletivos e difusos.
3.4 3.4.1
Na Administrao Pblica Audincia pblica e meio ambiente
Conforme dis MILAR[27], em matria ambiental, audincia pblica constitui um procedimento de consulta sociedade, ou a grupos sociais interessados em determinado problema ambiental ou potencialmente
afetado por um projeto, a respeito de seus interesses especficos e da qualidade ambiental por eles preconizada. Sua realizao deve seguir requisitos regulamentares pertinentes a forma de convocao, condies e prazos para informao prvia sobre o assunto a ser debatido, inscries para participao, ordem dos debates, aproveitamento das opinies expedidas pelos participantes. Nesse contexto, arremata o referido autor que a audincia pblica faz parte dos procedimentos do processo de avaliao de impacto ambiental em diversos pases (Canad, Estados Unidos, Frana, Holanda, etc.), como canal de participao da comunidade nas decises de mbito local. O Estado e a sociedade exercem controle sobre a qualidade dos estudos de impacto ambiental, basicamente de trs formas: o controle comunitrio, feito pelo pblico, onde se insere, com destaque, a audincia pblica; o controle administrativo, realizado pela prpria agncia ou rgo ambiental; e o controle judicial, via aes protetivas do ambiente[28]. O instrumento normativo pioneiro na previso de audincias pblicas para realizao da funo administrativa tendente proteo do meio ambiente no Brasil foi a Resoluo n 001, de 23/01/1986, publicada no DOU de 17/01/1986, editada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA - rgo consultivo e deliberativo integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, cuja finalidade assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes de polticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no mbito de sua competncia, sobre normas e padres compatveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial sadia qualidade de vida[29]. No uso da sua funo normalizadora o CONAMA editou a Resoluo n 006/1986, que, no art. 11, 1[30], determina a promoo de realizao de audincia pblica para informao sobre o projeto e seus impactos ambientais e discusso do RIMA (relatrio de impacto ambiental), sempre que julgar necessrio, pelo rgo estadual competente, IBAMA ou pelo Municpio, que determinar a execuo do estudo de impacto ambiental e apresentao do RIMA, contemplando prazo para recebimento de comentrios a serem feitos por rgos pblicos e demais interessados. A audincia pblica mereceu detalhamento na Resoluo CONAMA n 009, de 03/12/1987, publicada no DJU somente em 05/7/1990[31], a qual disciplina a finalidade, iniciativa, prazos e procedimento da audincia pblica em matria ambiental. Nesse contexto, a finalidade da audincia pblica expor aos interessados o contedo do produto em anlise e do seu referido RIMA, dirimindo dvidas e recolhendo dos presentes crticas e sugestes a respeito (art. 1 da Resoluo n 009). Nos termos do art. 2, caput, dessa Resoluo, a audincia pblica dever ocorrer quando for julgada necessria pelo rgo competente para outorga da licena ambiental, ou mediante solicitao de entidade civil, do Ministrio Pblico ou de 50 ou mais cidados. Para abrir a oportunidade de manifestao da entidade civil, do Ministrio Pblico ou dos cidados, o rgo competente de meio ambiente deve veicular edital na imprensa local abrindo prazo de 45 dias, pelo menos, em que poder ser postulada a realizao da audincia pblica (art. 2, 1, dessa Resoluo). O art. 2, 2, da Resoluo em comento, fulmina, expressamente, de nulidade, a licena
concedida pelo rgo Estadual sem atendimento da solicitao de audincia pblica. Celso FIORILLO[32] explica que, se a iniciativa partir do rgo competente para a concesso da licena, a audincia pblica se dar antes de iniciada a execuo do EIA (estudo de impacto ambiental), ou, depois de recebido o RIMA, durante o prazo estabelecido pelo art. 10 da Resoluo CONAMA n 001/86, isto , por ocasio da manifestao conclusiva sobre o RIMA. Poder haver mais de uma audincia pblica sobre o mesmo projeto e respectivo RIMA, dependendo da localizao geogrfica dos solicitantes e da complexidade do tema, a qual deve ocorrer em local acessvel e ser dirigida pelo representante do rgo responsvel pelo licenciamento, que, depois de expor, objetivamente, o projeto e seu RIMA, abrir as discusses com os interessados presentes, lavrando-se, ao final dos trabalhos, ata sucinta, qual sero anexados os documentos escritos e assinados entregues no ato, servindo, tudo, anlise e parecer final do licenciador quanto aprovao, ou no, do projeto (arts. 2, 3, 4 e 5, da mencionada Resoluo n 009/1987). Cumpre ressaltar que o resultado da audincia pblica, cuja natureza consultiva[33], e, embora no vincule a deciso sobre o pedido de licena ambiental, no poder ser posto de lado pelo rgo licenciador, que dever considerar nos motivos dessa deciso, acolhendo ou rejeitando os argumentos e documentos nela produzidos, sob pena de invalidao judicial ou administrativa[34]. A audincia pblica se acha reafirmada no art. 10, V, da Resoluo n 237, de 19/12/1997[35], como etapa do procedimento de licenciamento ambiental, quando couber, de acordo com a regulamentao pertinente. A realizao de audincia pblica no s para anlise do RIMA, como tambm do EIA que lhe antecede, decorre da prpria Constituio da Repblica, que, no art. 225, 1, IV, determina que se lhe d publicidade, e nesse momento que o rgo pblico presta informaes ao pblico e o pblico passa informaes Administrao Pblica[36], concretizando o princpio da informao que norteia e legitima o procedimento necessrio ao licenciamento ambiental, atravs da participao popular[37]. A audincia pblica ambiental, nesse contexto, funciona como o instrumento de garantia mais importante para o efetivo exerccio do princpio da publicidade e do princpio da participao pblica ou comunitria[38] consagrados entre os fundamentais pela Constituio da Repblica. No se pode esquecer, porm, a advertncia de Paulo de Bessa ANTUNES[39]: nada obstante o objetivo legal da audincia pblica seja assegurar o cumprimento dos princpios democrticos que informam o Direito Ambiental, com a troca de informaes entre os particulares e a Administrao Pblica, a pouca tradio democrtica de nossa sociedade faz com que a audincia pblica seja, de longe, o mais criticado dos institutos jurdicos posto defesa do meio ambiente.
3.4.2
Na Lei n 8.666, de 1993 (licitaes e contratos administrativos)
Essa lei, no art. 39, caput, determina seja o processo licitatrio, nos casos em que se estime
para a licitao ou para um conjunto de licitaes simultneas ou sucessivas valor superior a R$ 150.000.000,00, iniciado com audincia pblica providenciada pela autoridade responsvel com antecedncia mnima de quinze dias teis da data prevista para a publicao do edital, observada a divulgao com antecedncia no inferior a dez dias teis da data da realizao, pelas mesmas vias da publicidade da licitao, devendo ser prestadas informaes e dados acesso e direito de se manifestar a todos os interessados. A razo de ser dessa audincia pblica tem a ver com a ampla publicidade e o controle da legalidade e da convenincia das licitaes e contrataes administrativas, notadamente as de maior vulto[40]. Inclusive os aspectos discricionrios da atividade administrativa constituiro seu objeto, e os participantes (interessados) sero os cidados, considerada a legitimao ativa da ao popular, devendo todas as ocorrncias verificadas na audincia pblica constar da respectiva ata e juntada aos autos da licitao[41]. A Lei n 8.666/1993, nesse art. 39, diz que a audincia pblica ser realizada obrigatoriamente. Interessa, ento, perquirir as conseqncias de eventual descumprimento do comando legal, mas, nesse particular, a doutrina no uniforme. Lcia Valle FIGUEIREDO, citada por Gustavo Henrique Justino de OLIVEIRA[42], nada obstante admita a no vinculao do resultado da audincia pblica deciso proferida na licitao, sustenta a invalidade do processo no caso de no realizao daquele ato. Maral JUSTEN FILHO[43] atenua essa concluso e, partindo da premissa que audincia pblica no veculo para realizao de direitos subjetivos, mas sim para proteo objetiva do interesse pblico, somente admite a nulidade do processo licitatrio detectada posteriormente contratao quando a ausncia ou invalidade da audincia pblica infringir o prprio interesse pblico, devendo ser ponderada a convenincia de decretar-se a nulidade e indenizar-se o particular - pagando, assim, duas vezes, o mesmo servio ou obra, e valorizando a audincia pblica como se fosse um fim em si mesma ou, ento, reservar o decreto anulatrio somente para os casos de m-f do particular ou agresso ao princpio da economicidade. Em suma, para o referido autor a ausncia da audincia pblica, apesar da dico legal, no leva, por si s, nulidade do procedimento.
3.4.3
Na Lei n 8.987, de 1995 (concesso e permisso de servios pblicos)
A Lei n 8.987, de 13/02/1995, trata do regime de concesso e permisso da prestao de servios pblicos, a que se refere o art. 175 da Constituio da Repblica. Embora no contemple, expressamente, a audincia pblica, contm vrios dispositivos que demandam a sua realizao, tais o art. 3 (para implementao da cooperao dos usurios)[44], o art. 7, I e II (para que os usurios possam exercer o direito de receber o servio adequado e as informaes para defesa de interesses individuais e coletivos do poder concedente ou da concessionria), o art. 21 (para colocar disposio dos interessados os estudos, investigaes, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos j efetuados, vinculados concesso, de utilidade para a licitao, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorizao), o art. 29, XII (para estimular a formao de associaes de usurios para defesa de interesses relativos ao servio) e no art. 30, pargrafo nico (para escolha dos representantes dos usurios na comisso encarregada de fiscalizar o servio periodicamente).
4.4.4
Na Lei n 9.427, de 1996 (concesses de energia eltrica)
A Lei n 9.427, de 26/12/1996, instituiu a Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL) autarquia federal - e disciplina o regime das concesses de servios pblicos de energia eltrica, entre outras providncias. Seu art. 4, 3, dispe que o processo decisrio que implicar afetao de direitos dos agentes econmicos do setor eltrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possvel, por via administrativa, ser precedido de audincia pblica convocada pela ANEEL. Aqui a audincia pblica prevista para ressalva do devido processo legal o que deve ocorrer no somente nos processos disciplinares, como se poderia imaginar, mas em todas as hipteses em que haja limitaes ao exerccio dos direitos individuais[45]. Observa-se que so duas as situaes previstas no referido dispositivo. No primeiro caso, a ANEEL deve (obrigatoriamente, em qualquer hiptese) convocar a audincia pblica diante da iniciativa de projetos de lei que afetem direitos dos agentes econmicos do setor eltrico ou dos consumidores. No outro, quando possvel (isto , quando as condies de tempo, lugar, convenincia, etc., permitirem), a realizao da audincia pblica preceder s decises administrativas que tenham as mesmas conseqncias junto aos agentes econmicos ou consumidores de energia eltrica.
3.4.5
Na Lei n 9.478, de 1997 (agncias reguladoras)
A Lei n 9.478, de 06/8/1997, por sua vez, dispe sobre a poltica energtica nacional, as atividades relativas ao monoplio do petrleo e, entre providncias, instituiu o Conselho Nacional de Poltica Energtica e a Agncia Nacional do Petrleo esta submetida a regime autrquico especial com a finalidade de promover a regulao, a contratao e a fiscalizao das atividades econmicas integrantes da indstria do petrleo (art. 8, caput). Do art. 19 dessa lei consta que as iniciativas de projetos de lei ou de alterao de normas administrativas que impliquem afetao de direito dos agentes econmicos ou de consumidores e usurios de bens e servios da indstria do petrleo sero precedidas de audincia pblica convocada e dirigida pela ANP. Esse dispositivo, comum s leis que regem as agncias reguladoras[46], obriga a realizao de audincia pblica nas hipteses mencionadas, e constitui exemplo da presena do princpio da participao do administrado na Administrao Pblica, dentro de um objetivo maior de descentralizar as formas de sua atuao e de ampliar os instrumentos de controle[47], revelando, ainda, o cuidado com o devido processo legal.
Observa Paulo Affonso Leme MACHADO[48] que a lei sob comento valorizou, com pioneirismo, como dever da ANP, a audincia pblica como procedimento para debater projetos de lei ou discutir a alterao de normas administrativas, com repercusso nos direitos dos agentes econmicos, consumidores e usurios, a qual deve ser precedida de publicidade e possibilitar a efetiva participao dos interessados.
3.4.6
Na Lei n 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade)
O Estatuto da Cidade, ou Lei do Meio Ambiente Artificial segundo Celso FIORILLO[49] regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituio da Repblica e, entre outras providncias, estabelece as diretrizes gerais da poltica urbana, contendo normas de ordem pblica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurana e do bem-estar dos cidados, bem como do equilbrio ambiental (art. 1, pargrafo nico). Contempla a realizao de audincias pblicas, expressamente, em trs momentos: No art. 2, XIII, como uma das diretrizes gerais da poltica urbana, cujo objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funes sociais da cidade e da propriedade urbana, consta a realizao de audincia pblica com a populao interessada nos processos de implantao de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construdo, o conforto ou a segurana da populao. A poltica urbana, como ressalta Celso FIORILLO, tem por objetivo, em apertada sntese, ordenar a cidade em proveito da dignidade da pessoa humana[50], e nesse contexto que se insere a audincia pblica. Outra previso consta do art. 40, 4, I, dessa Lei n 10.257/2001, segundo o qual, para o processo de elaborao do plano diretor e a fiscalizao de sua implementao, devem os Municpios promover audincias pblicas e debates com a participao da populao e de associaes representativas dos vrios segmentos da comunidade. O plano diretor, obrigatrio para as cidades com mais de vinte mil habitantes, tem sede constitucional como elemento da poltica urbana e, segundo o art. 182, 1, da Constituio da Repblica, o instrumento bsico da poltica de desenvolvimento e de expanso urbana. A audincia pblica, outrossim, um dos instrumentos para gesto democrtica da cidade (art. 43, II, da Lei n 10.257/2001), e deve ser realizada pelos Municpios como condio obrigatria para aprovao pela Cmara Municipal, como via de participao direta dos particulares na gesto oramentria, quando da preparao das propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes oramentrias e do oramento anual (art. 44). Isso atesta, sob o ponto de vista jurdico, a vontade do legislador de submeter ao prprio povo livre de intermedirios institucionais a gesto democrtica da cidade[51].
CONSIDERAES FINAIS
A realizao de audincias pblicas, como instrumento da participao popular na funo administrativa, inerente ao Estado Social e Democrtico de Direito, servindo, tambm, para controle da atividade administrativa. Essa participao popular tende a ser ampliada para maior afirmao de um costume
democrtico e para que a autoridade administrativa tenha condies de melhor administrar, munida de opinies
mais prximas da realidade, trazidas pelos representantes dos interesses coletivos[52]. Sempre que direitos coletivos estiverem em jogo, haver espao para a realizao de audincias pblicas[53]. Conseqentemente, as previses identificadas ao longo deste estudo no so exaustivas, mas simples exemplos da presena do particular na realizao da funo administrativa, dentro de um objetivo maior de descentralizar as formas de atuao e de ampliar os instrumentos de controle[54]. Ao dirigir uma audincia pblica o agente pblico deve zelar pelos seus princpios regedores, particularmente a oralidade e o debate ou efetiva participao dos presentes acerca da matria relevante de interesse pblico que fundamentou a sua convocao. A audincia pblica, no Brasil, tem previso na Lei n 9.784/1999, como mecanismo de instruo do processo administrativo federal, visando ao desempenho da funo administrativa pelos entes da Administrao Pblica Direta e Indireta, dos trs Poderes da Unio. contemplada, tambm, para exerccio dessa funo, em leis especficas que regem o meio ambiente, inclusive o artificial disciplinado no Estatuto da Cidade, as licitaes e contratos administrativos, a concesso e permisso de servios pblicos, os servios de telecomunicaes e as agncias reguladoras. Representa a audincia pblica, outrossim, indispensvel instrumento para realizao da misso institucional do Ministrio Pblico, achando-se prevista, ainda, no processo legislativo e no processo judicial aqui restrita ao processo de controle concentrado da constitucionalidade das normas. H de se ressalvar, no entanto, que os passos dados pelo legislador nacional no sentido de incrementar a participao popular na Administrao Pblica e demais setores do Estado, atravs, entre outras modalidades, da realizao de audincia pblica, no sero suficientes para consecuo dos objetivos se for resolvida a questo poltica atinente ao grau de desenvolvimento e efetivao da democracia[55], vez que os mecanismos jurdicos no bastam, por si s, para determinar a participao do povo via de regra acomodado e desinteressado das questes sociais.
REFERNCIAS
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 3. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
ARGENTINA. Secretara de Energa del Ministerio de Economia. Ente Nacional Regulador de la Eletricidad. Las
audiencias pblicas. Disponvel na Internet em <http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/97.07.pdf
$FILE/97p07.pdf. Acessado em 09.Jul.2002.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antnio. Curso de Direito Administrativo, 12. ed., So Paulo: Malheiros, 2000.
BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentrios Constituio do Brasil, So Paulo: Saraiva, 1995, 4. vol., tomo I.
BORGES, Alice Gonzalez. Processo Administrativo e Controle, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, vol. 226, p. 177-186, out/dez-2001.
BRASIL. Cmara dos Deputados. Regimento Interno da Cmara dos Deputados. Disponvel na Internet em <http://www.camara.gov.br/Internet/Regimento/RegInterno.pdf. Acessado em 09/7/2002.
BRASIL.
Senado
Federal.
Regimento
Interno
do
Senado
Federal.
Disponvel
na
Internet
em
<http://www.senado.gov.br/bdtextual/regSF/rsf93_77.htm#E31E6. Acessado em 18/7/2002.
BRASIL. Ministrio do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolues CONAMA. Disponvel na Internet em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res. Acessado em 09/7/2002
BUENO, Vera Cristina Caspari Monteiro Scarpinella. As leis de procedimento administrativo. Uma leitura operacional
do princpio constitucional da eficincia, Revista de Direito Constitucional e Internacional, So Paulo: RT,
vol. 39, p. 267-288, abr/jun-2002.
BUENOS AIRES. Asociacin de Abogados de Buenos Aires. Ley n 6 Audiencia Pblica de la Ciudad de Buenos Aires
Argentina. Disponvel na Internet em <http://www.aaba.org.ar/bi040006.htm. Acessado em 09.Jul.2002.
_______.
Gobierno de la Provincia. Reglamento de Audiencias Pblicas. Disponvel
na Internet em
<http://www.gba.gov.ar/mosp/fiduciario/reglamento.htm. Acessado em 09.Jul.2002.
_______. Legislatura. Constitucin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Disponvel na Internet em <http://www.legislatura.gov.ar/1legisla/constcba/htm. Acessado em 09.Jul.2002.
CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal (Comentrios Lei n 9.784 de 29/1/1999), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 14. ed., So Paulo: Atlas, 2002.
_______. Participao Popular na Administrao Pblica, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, n. 191, p. 26-39, jan-mar/1993.
FERRAZ, Srgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo, 1. ed., 2. tiragem, So Paulo: Malheiros, 2002.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado, So Paulo: RT, 2002.
_______ e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental e Legislao Aplicvel, 2. ed., So Paulo: Max Limonad, 1999.
GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho Administrativo, 4. ed., Buenos Aires: Fundacin de Derecho Administrativo, 2000, Tomo 2. Disponvel na Internet em <http://www.gordillo.com/Pdf/2-4/2-4xi.pdf. Acessado em 09.Jul.2002.
JUSTEN FILHO, Maral. Comentrios Lei de Licitaes e Contratos Administrativos, 7. ed., So Paulo: Dialtica, 2000.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 7. ed., 2. tiragem, So Paulo: Malheiros, 1999.
MARTINS, Ives Gandra da Silva e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de Constitucionalidade
Comentrios Lei n 9.868, de 10-11-1999, So Paulo: Saraiva, 2001.
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inqurito Civil, So Paulo: Saraiva, 1999.
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 6. ed., So Paulo: RT, 2002.
MELLO, Rafael Munhoz de. Processo Administrativo, Devido Processo Legal e a Lei n 9.784/99 , Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, vol. 227, p. 83-104, jan/mar-2002.
MILAR, dis. Direito do Ambiente, So Paulo: RT, 2000.
MODESTO, Paulo. Participao Popular na Administrao Pblica. Mecanismos de Operacionalizao. Disponvel na Internet em <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2568, acessado em 20.Jun.2002.
MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Direito da Participao Poltica. Legislativa Administrativa Judicial , Rio de Janeiro: Renovar, 1992.
OLIVEIRA, Gustavo Henrique de. As audincias pblicas e o processo administrativo brasileiro, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar, vol. 209, p. 153-167, jul/set-1997.
PODER CIUDADANO. Manejando conflitos y mejorando la transparencia a travs de la participacin ciudadana: El
caso
del
Puente
La
Serna
en
Argentina.
Disponvel
na
Internet
em
<http://www.poderciudadano.org.ar/prog05E.htm. Acessado em 09.Jul.2002.
RAMOS, Elival da Silva. A valorizao do processo administrativo. O poder regulamentar e a invalidao dos atos
administrativos, As Leis de Processo Administrativo Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98,
coordenao de Carlos Ari Sundfeld e Guillermo Andrs Muoz, So Paulo: Malheiros, p. 75-93, 2000.
SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participao (Cidadania, Direito, Estado e Municpio) , Belo Horizonte: Del Rey, 1997.
SUNDFELD, Carlos Ari. Processo e procedimento administrativo no Brasil, As Leis de Processo Administrativo Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98, coordenao de Carlos Ari Sundfeld e Guillermo Andrs Muoz, So Paulo: Malheiros, p. 17-36, 2000.
[1] Tratado de Derecho..., tomo II, p. XI-10. [2] Tratado de Derecho..., tomo II, p. XI-10/19. [3] Processo Administrativo..., p. 83. [4] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 185-186. [5] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 186. [6] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 186. [7] Processo Administrativo Federal, p. 188. [8] V. nota n 24. [9] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, p. 518. [10] Processo Administrativo e Controle, p. 179. [11] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 187. [12] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 187. [13] MELLO, Rafael Munhoz de. Processo Administrativo..., p. 88. [14] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 189. [15] Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, p. XI-15. [16] SUNDFELD, Carlos Ari. Processo e procedimento administrativo no Brasil, p. 35. [17] CARVALHO FILHO, Jos dos Santos. Processo Administrativo Federal, p. 189.
[18] MARTINS, Ives Gandra da Silva e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de..., p. 85-88. [19] Controle Concentrado de Constitucionalidade, p. 158-159. [20] MARTINS, Ives Gandra e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de Constitucionalidade, p. 181-182. [21] MARTINS, Ives Gandra e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado..., p. 183. [22] Comentrios Constituio do Brasil, 4 vol., tomo I, p. 264. [23] MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inqurito Civil, p. 325. [24] Cf. Daniel Alberto SABSAY e Pedro TARAK, citados por MAZZILLI, ob. cit., p. 326.
[25] MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inqurito Civil, p. 326-327. [26] O Inqurito Civil, p. 328-333. [27] Direito do Ambiente, p. 650. [28] MILAR, dis. Direito do Ambiente, p. 310-311. [29] Art. 6, II, da Lei n 6.938, de 31/8/1981, que dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, entre outras providncias. [30] Disponvel na Internet em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acesso em 09/7/2002. [31] Disponvel na Internet em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res87/res0987.html. Acesso em 09/7/2002. [32] Manual de Direito Ambiental e Legislao Aplicvel, p. 133. [33] ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 222. [34] MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 191. [35] Disponvel na Internet em <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html. Acesso em 09/7/2002. [36] MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 187. [37] FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Manual de Direito Ambiental e Legislao Aplicvel, p. 233. [38] MILAR, Edis. Direito do Ambiente, p. 309 e 99. [39] Direito Ambiental, p. 221. [40] JUSTEN FILHO, Maral. Comentrios Lei de Licitaes e Contratos Administrativos, p. 394. [41] JUSTEN FILHO, Maral. Comentrios Lei de Licitaes..., p. 394. [42] As audincias pblicas..., p. 164. [43] Comentrios Lei de Licitaes..., p. 394-395.
[44] OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audincias pblicas e o processo administrativo brasileiro, p 165. [45] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participao Popular na Administrao Pblica, p. 34. [46] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 518. [47] DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 518. [48] Direito Ambiental Brasileiro, p. 226. [49] Estatuto da Cidade Comentado, p. 15. [50] Estatuto da Cidade...., p. 28. [51] FIORILLO, Celso. Estatuto da Cidade..., p. 84.
[52] RAMOS, Elival da Silva, citando Massimo SEVERO, in A valorizao do processo administrativo..., p. 93. [53] OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audincias pblicas e..., p. 161. [54] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 518. [55] MODESTO, Paulo. Participao Popular na Administrao Pblica..., p. 3.
[1] MELLO, Rafael Munhoz de. Processo Administrativo. Devido Processo Legal e a Lei n 9.784/99, p. 83-85. [2] MELLO, Rafael Munhoz de. Processo Administrativo..., p. 85. [3] Direito Administrativo, p. 517-519. [4] Direito Administrativo Moderno, p. 216. [5] Curso de Direito Administrativo, p. 448-449. [6] Processo Administrativo, p. 142-144. [7] As leis de procedimento administrativo..., p. 283-287. [8]PODER CIUDADANO. Manejando conflitos y mejorando la transparencia a travs de la participacin ciudadana: El caso del Puente La Serna en Argentina. Disponvel na Internet em <http://www.poderciudadano.org.ar/prog05E.htm. Acessado em 09.Jul.2002. [9] ARGENTINA. Secretara de Energa del Ministerio de Economia. Ente Nacional Regulador de la Eletricidad. Las audincias pblicas. Disponvel na Internet em <http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/97.07.pdf $FILE/97p07.pdf. Acessado em 09.Jul.2002. [10] Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, p. XI-2. [11] Disponvel na Internet em <http://www.legislatura.gov.ar/1legisla/constcba/htm. Acessado em 09.Jul.2002. [12] Ley n 6 Audiencia Pblica de la Ciudad de Buenos Aires Argentina . Disponvel na Internet em <http://www.aaba.org.ar/bi040006.htm. Acessado em 09.Jul.2002. O Regulamento de Audincias Pblicas pode ser consultado em <http://www.gba.gov.ar/mosp/fiduciario/reglamento.htm. [13] Direito da Participao Poltica. Legislativa Administrativa Judicial, p. 129. [14] SOARES. Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participao..., p. 169. [15] SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participao..., p. 65-69. [16] SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participao..., p. 165-166. [17] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participao Popular na Administrao Pblica, p. 32-33.
[18] MODESTO, Paulo. Participao Popular na Administrao Pblica. Mecanismos de Operacionalizao, p. 2. [19] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Participao Popular na Administrao Pblica, p. 33-34. [20] GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, p. XI-2.
[21] SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participao..., p. 164. [22] GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho..., p. XI-5. [23] GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho..., p. XI-7. [24] Tratado de Derecho..., p. XI-7-8. [25] GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho..., tomo II, p. XI-8. [26] GORDILLO, Agustn. Tratado de Derecho..., tomo II, p. XI-9.
(*) Procuradora Regional do Ministrio Pblico do Trabalho. Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 22 Regio. Ps-graduada em Direito Processual. Doutoranda em Cincias Jurdicas e Sociais.
Você também pode gostar
- Responsabilidade CivilDocumento148 páginasResponsabilidade CivilElle GulafAinda não há avaliações
- Resumos Do Manual de Direito Administrativo Do Professor Freitas Do Amaral PDFDocumento76 páginasResumos Do Manual de Direito Administrativo Do Professor Freitas Do Amaral PDFCatarina FernandesAinda não há avaliações
- Evicção PDFDocumento9 páginasEvicção PDFJosiel NascimentoAinda não há avaliações
- Habeas Corpus para Trancamento Da Ação Penal Com Pedido de LiminarDocumento12 páginasHabeas Corpus para Trancamento Da Ação Penal Com Pedido de LiminarDorleneAinda não há avaliações
- Ficha FGTSDocumento4 páginasFicha FGTSBebeto CostaAinda não há avaliações
- Comparativo Reforma TrabalhistaDocumento59 páginasComparativo Reforma TrabalhistaReynaldo Villa VerdeAinda não há avaliações
- Direito Penal Resumo - 4 SemestreDocumento4 páginasDireito Penal Resumo - 4 SemestreMhayaraFreitasAinda não há avaliações
- SimuladosDocumento9 páginasSimuladosIzaias SilvaAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO - Trabalho de EmpresarialDocumento10 páginasINTRODUÇÃO - Trabalho de EmpresarialVictor SousaAinda não há avaliações
- Faculdade de Direito Milton CamposDocumento228 páginasFaculdade de Direito Milton Camposfvg50Ainda não há avaliações
- Respostas - EcaDocumento58 páginasRespostas - EcaAnne TeodoraAinda não há avaliações
- Minuta Contrato de Prestacao de Servicos de MotoboyDocumento8 páginasMinuta Contrato de Prestacao de Servicos de MotoboyCamilaRodriguesAinda não há avaliações
- Caso Veronica Silva X Industria MetalurgicaDocumento3 páginasCaso Veronica Silva X Industria MetalurgicaAdriano LanaAinda não há avaliações
- Quadro Provi Men To Servi DoresDocumento13 páginasQuadro Provi Men To Servi DoresNielsen C.Ainda não há avaliações
- Redação Forense - Darlan BarrosoDocumento4 páginasRedação Forense - Darlan BarrosoDaniel Marinho CorrêaAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo - Direito Do Trabalho PDFDocumento12 páginasTrabalho de Campo - Direito Do Trabalho PDFRafaelAinda não há avaliações
- Condominio Edilicio e Codigo Civil ProvaDocumento20 páginasCondominio Edilicio e Codigo Civil ProvaFelipe MartarelloAinda não há avaliações
- Tde Adm PPPDocumento5 páginasTde Adm PPPLacheskiTiagowAinda não há avaliações
- Lei de 11 de Agosto de 1827Documento2 páginasLei de 11 de Agosto de 1827zagreloAinda não há avaliações
- Lei Fed. 10.678 - 03Documento1 páginaLei Fed. 10.678 - 03Maria EduardaAinda não há avaliações
- RevistaEsmafe19 v3 PDFDocumento598 páginasRevistaEsmafe19 v3 PDFvinte.molasAinda não há avaliações
- Novo Manual de Despachos e Orientações10.6.2014Documento78 páginasNovo Manual de Despachos e Orientações10.6.2014dayseAinda não há avaliações
- Pratica de Direito Administrativo - OAB Segunda Fase PDFDocumento91 páginasPratica de Direito Administrativo - OAB Segunda Fase PDFAnderson PazAinda não há avaliações
- Remissao para Ordenamentos Juridicos ComplexosDocumento3 páginasRemissao para Ordenamentos Juridicos ComplexosCatarina PereiraAinda não há avaliações
- Temas para o TCC PDFDocumento15 páginasTemas para o TCC PDFLícia ReisAinda não há avaliações
- Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Com Tutela AntecipadaDocumento8 páginasAção de Rescisão de Contrato de Compra e Venda Com Tutela AntecipadaÁlida Goergen100% (1)
- Pedido de Liberdade Provisória - Porte Ilegal de ArmaDocumento6 páginasPedido de Liberdade Provisória - Porte Ilegal de ArmaGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- Exame OAB 2009-1 Prova Prático Profissional - Direito ConstitucionalDocumento24 páginasExame OAB 2009-1 Prova Prático Profissional - Direito ConstitucionalJu-XAinda não há avaliações
- Autonomia Da Vontade Nos Contratos InternacionaisDocumento37 páginasAutonomia Da Vontade Nos Contratos InternacionaisJoni PereiraAinda não há avaliações
- Lei #66 VIII 2014 de 17 de Julho Regime Juridico de Entrada Pernmanencia e Saida de EstrangeirosDocumento24 páginasLei #66 VIII 2014 de 17 de Julho Regime Juridico de Entrada Pernmanencia e Saida de EstrangeirosCésar Santos SilvaAinda não há avaliações