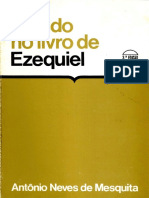Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Adriana PDF
Adriana PDF
Enviado por
Buribu PinheiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Adriana PDF
Adriana PDF
Enviado por
Buribu PinheiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
cadernos ufs - filosofia
A SUPERAO DOS HUMANOS: O BIOPODER, A INSTRUMENTALIZAO E A MANIPULAO DO HOMEM
Adriana Tabosa, doutoranda em filosofia pela UNICAMP
Resumo: Este artigo discute a crise do humanismo e suas possveis conseqncias a partir de uma anlise de Regras para o parque humano de Peter Sloterdijk. Palavras-chave: Sloterdijk, antropotcnica, humanismo. Abstract: This article talk about the crisis of the humanism and its possible consequences from an analysis of Rules for the human park of Peter Sloterdijk. Key Words: Sloterdijk, anthropotechnics, humanism.
25
cadernos ufs - filosofia
I REGRAS PARA O PARQUE HUMANO: SLOTERDIJK E A CRISE DO HUMANISMO
Em 1999, na Alemanha, Peter Sloterdijk forosamente iniciou uma grande polmica que ficou conhecida como o affaire Sloterdijk, com a conferncia Regeln fr den Menschenpark: Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief ber den Humanismus. Tal celeuma foi causada pela descontextualizao de duas questes abordadas no seu discurso: a primeira, onde Sloterdijk afirma que na era da tcnica e da antropotcnica a tendncia que os homens cada vez mais se encontrem no lado ativo ou subjetivo da seleo, ainda que no precisem ter se dirigido voluntariamente para o papel de selecionador. E faz a seguinte declarao: [...] h um desconforto no poder de escolha, e em breve ser uma opo pela inocncia recusar-se explicitamente a exercer o poder de seleo que de fato se obteve (SLOTERDIJK, 2000, p. 45). A segunda, onde Sloterdijk, diante de um futuro evolutivo obscuro e incerto, indaga: Se o desenvolvimento a longo prazo tambm conduzir a uma reforma das caractersticas da espcie se uma antropologia futura avanar at um planejamento explcito de caractersticas, se o gnero humano poder levar a cabo uma comutao do fatalismo do nascimento ao nascimento opcional e seleo pr-natal (SLOTERDIJK, 2000, p. 47). A conferncia de Sloterdijk, partindo da abordagem de dois aspectos a deduo miditica e gramatolgica da humanitas e a reviso histrica e antropolgica do motivo heideggeriano da clareira (a inverso parcial da relao entre ntico e ontolgico) teve como tema central: o perigoso fim do humanismo literrio enquanto utopia da formao humana (SLOTERDIJK, 2000, Posfcio, p. 60). Sloterdijk inicia o seu discurso evocando o sentido originrio do termo humanitas, que desde a poca de Ccero e Varro significa a educao do homem como tal: forma acabada, ideal ou esprito do homem. Era nesse sentido que os antigos usavam a palavra humanitas, correspondente ao grego paideia, da qual derivou o substantivo humanismus. Em seguida, lembra que o humanismo, entendido como movimento literrio e filosfico nascido na Itlia no sculo XIV, participa no seu sentido mais amplo e mais restrito, das conseqncias da alfabetizao (SLOTERDIJK, 2000, p. 7). Sloterdijk ressalta que foi por intermdio da escrita que a filosofia conseguiu manter-se desde seus incios, h mais de dois mil e quinhentos anos, at hoje, e seu xito deve-se sua capacidade de fazer amigos por meio do texto. E de uma maneira metafrica, em que se utiliza da definio do escritor Jean Paul, de que livros so cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas, Sloterdijk afirma que a filosofia prosseguiu sendo escrita como uma corrente de cartas ao longo das geraes. E nessa corrente de cartas, o elo mais
26
cadernos ufs - filosofia
importante foi sem dvida a recepo da mensagem grega pelos romanos, pois foi a recepo romana que introduziu o texto grego para o Imprio, tornando-o acessvel, pelo menos indiretamente, aps a queda da Roma ocidental, s culturas europias posteriores. Segundo Sloterdijk, sem a disposio dos leitores romanos de entabular amizade com as mensagens dos gregos, e se os romanos no tivessem aderido ao jogo (a relao simultnea de propagadores e de receptores) com a sua notvel receptividade, as mensagens gregas jamais teriam alcanado a rea da Europa ocidental na qual ainda vivem os que ainda hoje se interessam pelo humanismo. Em suma, para Sloterdijk, no teria existido nem o humanismo, nem o discurso filosfico em latim e tampouco culturas filosficas posteriores em lnguas vernculas, se no houvesse existido a receptividade e disposio dos romanos de lerem os escritos gregos como se fossem cartas a amigos da Itlia (SLOTERDIJK, 2000, pp. 8-9). Tomando em considerao as conseqncias da correspondncia greco-romana, o papel da escrita torna-se essencial no envio e recepo de textos filosficos. Como afirma Sloterdijk, (2000, pp. 12-13), os nacional-humanismos livrescos estiveram em seu apogeu no perodo de 1789 a 1945. Entretanto, a poca do humanismo nacional-burgus findou no somente porque, na atualidade, os homens so conduzidos por uma espcie de nimo decadente e no esto mais dispostos a cumprir sua tarefa literrio-nacional, mas, sobretudo, pela impossibilidade da unio dos laos telecomunicativos entre os habitantes de uma moderna sociedade de massas: Com o estabelecimento miditico da cultura de massas no Primeiro Mundo em 1918 (radiodifuso) e depois de 1945 (televiso) e mais ainda pela atual revoluo da Internet, a coexistncia humana nas sociedades atuais foi retomada a partir de novas bases. Essas bases, como se pode mostrar sem esforo, so decididamente ps-literrias, ps-epistolares e, consequentemente, ps-humanistas. Quem considera demasiado dramtico o prefixo ps nas formulaes acima poderia substitu-lo pelo advrbio marginalmente de forma que nossa tese diz: apenas marginalmente que os meios literrios, epistolares e humanistas servem s grandes sociedades modernas para a produo de suas snteses polticas e culturais (SLOTERDIJK, 2000, p. 14). Isso no significa que a literatura tenha chegado ao fim. Contudo, os livros e as cartas perderam o seu papel predominante. No contexto atual, os novos meios de telecomunicao assumiram a liderana na formao dos indivduos. A era do humanismo moderno como modelo de escola e de formao terminou porque no se sustenta mais a iluso de que grandes estruturas polticas e econmicas possam ser organizadas segundo o amigvel modelo da sociedade literria.
27
cadernos ufs - filosofia
O desmoronamento dessa iluso teve incio com a Primeira Guerra Mundial. Depois do trmino da era nacional-humanista, aps 1945, o modelo humanista experimentou uma florescncia tardia. Tratou-se de uma renascena planejada e reativa, que numa fase sombria se caracterizou por um surto de fantasias e auto-iluses: Nos nimos fundamentalistas dos anos ps1945, para muitos, e por motivos compreensveis, no era suficiente retornar dos horrores da guerra para uma sociedade que mais uma vez se apresentasse como um pblico pacificado de amigos da leitura como se uma juventude goetheana pudesse fazer esquecer uma juventude hitlerista. Naquele momento, parecia para muitos absolutamente indispensvel, ao lado das recm-instauradas leituras romanas, retomar tambm as segundas, as leituras bblicas bsicas dos europeus, e evocar os fundamentos do recm-descoberto Ocidente no humanismo cristo. Esse neo-humanismo, que desesperadamente volta os olhos para Roma passando por Weimar, foi um sonho de salvao da alma europia por meio de uma bibliofilia radicalizada um entusiasmo melanclico esperanoso pelo poder civilizador e humanizador de leitura clssica se, por um momento, nos dermos a liberdade de conceber Ccero e Cristo lado a lado como clssicos. (SLOTERDIJK, 2000, pp. 15-16) nessa passagem do discurso que Sloterdik estabelece o seu argumento: o de que o humanismo, como palavra e como assunto, desde os romanos at a era dos modernos Estados nacionais burgueses possui duas faces. No por mera coincidncia que nas eras onde ocorreram experincias particulares com o potencial brbaro, que se libera nas interaes de fora entre os homens, foi justamente onde o humanismo tornou-se mais forte e urgente. Ou, como afirma Sloterdijk, o embrutecimento humano, hoje e sempre, surge quando h um grande desenvolvimento do poder, seja como rudeza imediata blica e imperial, seja como bestializao cotidiana das pessoas pelos entretenimentos desinibidores da mdia (2000, p. 17). Portanto, o tema latente do humanismo o desembrutecimento do ser humano, e sua tese latente que as boas leituras conduzem domesticao. Para Sloterdijk, o fenmeno do humanismo atual merece ateno porque, acima de tudo, recorda de uma maneira oculta que na cultura elitizada as pessoas constantemente esto submetidas a dois poderes de formao as influncias inibidoras e desinibidoras. Como tambm, a crena do humanismo reside na convico de que os seres humanos so animais influenciveis e que, portanto, imperativo prover-lhes o tipo certo de influncias. Segundo Sloterdijk, o humanismo recorda de modo falsamente inofensivo a contnua batalha pelo ser humano que se produz como disputa entre tendncias
28
cadernos ufs - filosofia
bestializadoras e tendncias domesticadoras. Por fim, conclui a primeira parte do seu discurso sustentando que o humanismo significa mais que a buclica suposio de que a leitura forma. A questo do humanismo envolve uma antropodicia que deve ser entendida como uma definio do ser humano em face de sua abertura biolgica e de sua ambivalncia moral. a partir dessa concluso que as duas questes forosamente descontextualizadas de Sloterdik podem ser de fato apreendidas. Nessa passagem Sloterdijk subjacentemente evoca o outro significado de humanitas : quando o humanismo entendido enquanto gnero humano, espcie humana compreendida enquanto entidade biolgica. A humanitas apreendida nesse sentido remete-se prpria histria ou aos feitos da humanidade sobre a terra, ou especificamente sua evoluo biolgica. Esse outro sentido representa a outra face do humanismo, pois ele tornaria explcito e assentado que a humanitas no significa apenas a amizade do ser humano pelo ser humano: ele implica tambm que o homem representa o mais alto poder para o prprio homem. sob esse outro conceito de humanitas que se revela a tese de que os homens so animais dos quais alguns dirigem a criao e outros so criados; na qual se efetua a distino entre os que existem como mero objeto e outros como sujeitos de seleo. (SLOTERDIK, 2000, p. 44). A tentativa do humanismo que teve como tarefa formar/domesticar o homem por intermdio das boas artes, das disciplinas que educassem o homem, como meio para a formao de uma conscincia humana, aberta em todas as direes, atravs da conscincia histrico-crtica da tradio cultural, est irremediavelmente esgotada. Na moderna sociedade de massas o antigo mtodo do humanismo de formao/domesticao do indivduo por intermdio das boas leituras foi substitudo pelo estabelecimento miditico da cultura de massas. O atual mecanismo de formao/domesticao a utilizao das mdias inibidoras e desinibidoras. As mdias se tornaram os meios comunitrios e comunicativos pelos quais os homens se formam a si mesmos para o que podem e o que vo se tornar (SLOTERDIJK, 2000, pp. 19-20). Na cultura contempornea trava-se uma luta entre os impulsos domesticadores e os bestializadores, e seus respectivos meios de comunicao. Sabe-se que uma onda de violncia irrompe nas escolas em todo o mundo ocidental, sobretudo nos Estados Unidos da Amrica. Do mesmo modo que na Antiguidade o livro perdeu a luta contra as arenas, atualmente a escola est gradativamente perdendo a batalha contra as foras indiretas de formao: a televiso, os filmes e jogos eletrnicos violentos, entre outras mdias desinibidoras. (SLOTERDIJK, 2000, p. 46) Com os prenncios nos campos da biotecnologia, engenharia gentica, medicina, nanotecnologia, robtica etc., o futuro evolutivo obscuro e incerto que desponta revela os provveis procedimentos efetivos de autodomesticao que a humanidade ou suas elites culturais utilizaro. Nesse contexto que podemos constatar que num desenvolvimento em longo prazo sero conduzidas as reformas genticas das caractersticas da espcie,
29
cadernos ufs - filosofia
na qual uma antropotcnica futura avanar at um planejamento explcito de caractersticas do gnero humano. Como uma justificativa e tentativa de obter sucessos mais significativos no campo da domesticao, diante de um processo de civilizao em que uma onda desinibidora sem precedentes avana de forma aparentemente irrefrevel (SLOTERDIJK, 2000, p. 46), o que poderamos antever e denominar como o ltimo estgio do humanismo.
II DOMESTICIDADE E CRIAO: O OUTRO LADO DO HUMANISMO
O discurso de Sloterdijk dividido em trs partes: a primeira, na qual se fundamenta na crtica de Heidegger a que rejeita o sentido de humanismo como toda filosofia que tome o homem como medida de todas as coisas , sentido estabelecido por Protgoras. Heidegger viu nesse sentido a tendncia filosfica a tomar o homem como medida do ser, e a subordinar o ser ao homem, em vez de subordinar, como deveria, o homem ao ser, e a ver no homem apenas o pastor do ser ( Holzwege , 1950, pp. 101-102. In: ABBAGNANO, p. 519). Ao expor esse argumento, Heidegger inaugurou uma nova via de pensamento transumanista ou ps-humanista, na qual tem continuado desde ento uma parte essencial da reflexo filosfica sobre o ser humano. A segunda, na qual Sloterdijk analisa a terceira parte de Also sprach Zarathustra (Assim falava Zaratustra), sob o ttulo Von der verkleinernden Tugend (Da virtude apequenadora). Sloterdijk afirma que nesse trecho oculta-se um discurso terico sobre o ser humano como fora domesticadora e criadora. A terceira, na qual Sloterdijk analisa O Poltico de Plato, afirmando que desde O Poltico e desde A Repblica, os discursos que falam da comunidade humana a tratam como um parque zoolgico que ao mesmo tempo um parque temtico; a partir de ento, a manuteno de seres humanos em parques ou cidades surge como uma tarefa zoopoltica. (SLOTERDIJK, 2000, p. 48). Desde a dcada de 1930, a questo da possibilidade da produo industrial dos seres humanos ocupa o pensamento de Heidegger. A partir da distino aristotlica das coisas que so por natureza (physei onta) das que so produzidas (poioumena), Heidegger pensa o perigo de a tcnica se sobrepor natureza, assim como quando formula a questo de se um ser humano produzido quimicamente nasceu ou se, pelo contrrio, a produo torna o nascimento impossvel, pois os seres humanos produzidos so entes que no nasceram. Tal argumento pode ser identificado quando Heidegger constata a objetivao extrema da relao do homem com a terra, substituindo o cultivo pelo trabalho industrial mecanizado. Segundo Heidegger, esse tipo de agricultura no permite nascer nem crescer, ela faz os produtos agrcolas e, desse modo, aniquila os frutos da terra que alimentam os humanos. Mais uma vez, fundamentando-se na distino aristotlica, conclui que as coisas produzidas no so coisas naturais, vivas, mas antinaturais, mortas. A agricultura mecanizada no permite que as frutas nasam elas mesmas a partir delas mesmas: ela produz cadveres de frutas. Por fim, enfatizar que o perigo extremo de
30
cadernos ufs - filosofia
que a tcnica se sobreponha natureza estaria na possibilidade de o homem se tornar o Senhor da cincia e da tcnica e de ser transformado, um dia, numa mquina controlada. A questo do domnio do homem sobre o prprio homem pode ser percebida na superao do humano no e pelo bermensch tratada por Nietzsche. O trecho em que podemos ilustrar o problema encontra-se na seo intitulada Da virtude apequenadora de Assim falava Zaratustra, no qual Zaratustra percebe que os homens eles prprios se submeteram domesticao e puseram em prtica sobre si mesmos uma seleo direcionada para produzir uma sociabilidade maneira de animais. Dessa percepo se origina a crtica ao humanismo de Nietzsche, como rejeio da falsa inocuidade da qual se cerca o bom ser humano moderno (SLOTERDIJK, 2000, p. 40). A questo do domnio do homem e da tcnica sobre a natureza pode ser percebida na imagem nietzscheana quanto mecanizao do ser humano como tarefa da barbrie tecnologicamente civilizada que consistiria em fazer o homem tanto quanto possvel utilizvel, e aproxim-lo, tanto quanto possvel, de uma mquina infalvel: [...] para essa finalidade, ele tem que ser equipado com virtudes de mquina, ele tem que aprender a sentir os estados nos quais trabalha de maneira maquinalmente utilizvel como os de mais elevado valor [...]. (NIETZSCHE, Fragmento Pstumo do outono de 1887, nr. 10 [11]. In: KSA, v. 12, p.459 e s. Apud GIACOIA, p. 180). 1 A questo da antropotcnica aparece de modo metafrico no Poltico, na passagem em que Plato trata da reproduo e da arte de criao do rebanho
No sculo XIX, o escritor Villiers de lIsle Adam, unido aos simbolistas na cruzada romntica contra o atual ideal de uma poca que valorizava exclusivamente a racionalidade cientfica e tcnica, criou uma obra, A Eva Futura (1886), em que antecipa as utopias da mecanizao do homem. Por intermdio de seus personagens principais, Thomas Edison, o criador do fongrafo, e Halady, a Eva Futura, uma ginide perfeita, Villiers fornece uma visionria alegoria dos avanos cientficos e de suas utopias. A personagem Alicia, a rplica humana da Venus Victrix, o contraste entre perfeio fsica e vazio de esprito. Alicia representa a sntese do ideal da sociedade moderna que Villiers critica. Ela o verdadeiro autmato que caracteriza o vazio do real da sociedade burguesa. Suas maneiras so falsamente polidas, situaes e frases estereotipadas caem-lhe com a convenincia de um figurino adequado. Um ser que capaz de comover-se s lgrimas com situaes redundantes de folhetim, mas incapaz de responder a uma experincia esttica: em suma, Alicia seria a personificao da deusa burguesa. Halady, que em persa significa ideal, um ente que, sendo uma rplica do ser humano, supera todas as imperfeies da natureza. Halady representa o ser ideal que concretiza a no contingncia, encarna o absoluto, a mquina que preencher o vazio do real. A figura de Thomas Edison representa uma sntese da prpria cincia na tentativa de concretizar os velhos sonhos dos homens: [...] Vou demonstrar-lhe, matematicamente, e agora mesmo como, com os formidveis recursos atuais da cincia - e isso de uma maneira fria, talvez, mas indiscutvel posso apoderar-me de sua graa, da plenitude de seu corpo, do odor de sua carne, do timbre de sua voz, da flexibilidade de sua cintura, da luminosidade de seus olhos, das caractersticas de seus movimentos e de seu andar, da personalidade de seu olhar, de seus traos, de sua sombra no cho, de sua aparncia, do reflexo de sua Identidade, enfim Serei o assassino de sua animalidade triunfante. Primeiramente, vou reencarnar toda essa exterioridade, que, para o senhor, deliciosamente mortal, em uma Apario cuja semelhana e encantos HUMANOS ultrapassaro sua esperana e todos os seus sonhos! [...] Forarei, nessa viso, o prprio Ideal a manifestar-se, pela primeira vez, PALPVEL, AUDVEL E MATERIALIZADO [...]. importante ressaltar que para Villiers todo o aparato cientfico leva a uma falsa pista. Longe de conduzir a um fcil triunfalismo, a cincia garante o mtodo, embora nunca o resultado final. Vale lembrar que, no perodo em que Villiers escreveu a Eva Futura, parte da Europa estava vivenciando o desenvolvimento industrial, e, consecutivamente, o surgimento e o aperfeioamento das tcnicas de produo. Durante esse perodo, operrio e mquina conviviam numa relao simbitica. Posteriormente, j no sculo XX, com a justificativa de multiplicar a fora do operrio com a que advinha da eletrnica, a mo-de-obra humana gradativamente foi substituda. A tendncia que cada vez mais os instrumentos eletrnicos substituam o trabalho manual, assim como o intelectual. Desta forma, a anlise de Nietzsche torna-se quase proftica.
31
cadernos ufs - filosofia
humano (265 d; 9 e 265 e). Esta seria uma das partes mais difceis da arte de pastorear homens e onde caberia a analogia do estadista com o tecelo. Segundo a interpretao de Sloterdijk, para Plato, o fundamento real e verdadeiro da arte rgia no est localizado no voto dos concidados que concedem ou negam de acordo com a sua vontade confiana ao poltico; tampouco se localiza em privilgios herdados ou novas pretenses. A razo pela qual o senhor platnico um senhor reside apenas em um conhecimento rgio da arte da criao; em uma percia, portanto, das mais raras e refletidas. Manifesta-se nesse contexto o fantasma de um reinado de especialistas, cujo fundamento de direito baseia-se no conhecimento de como as pessoas devem ser classificadas e combinadas, sem jamais causar danos sua natureza de agentes voluntrios. Pois a antropotcnica rgia exige de modo mais positivo as caractersticas mais favorveis comunidade de indivduos voluntariamente dceis, de modo que sob sua direo o parque humano atinja a melhor homeostase possvel. Isso ocorre quando os dois optima referentes ao carter humano, a coragem blica e a reflexo humana, so entremeados com a mesma fora no tecido da comunidade. Contudo, ambas as virtudes em seus excessos podem produzir degeneraes especficas. O excesso de beligerncia militarista pode ocasionar conseqncias devastadoras para as ptrias. Assim como o excesso de retraimento dos habitantes calmos e de esprito cultivado do pas podem gerar indivduos tbios e distantes do Estado, e que ingressariam na servido sem perceb-lo. O Estado perfeito gerado com as naturezas nobres e livres restantes, no qual os corajosos servem como os fios mais rudes da urdidura e os sensatos, como a textura mais fofa, mais suave, maneira da trama (SLOTERDIJK, 2000, p. 54). Como conclui Sloterdijk, se lanarmos um olhar retrospectivo para os ginsios humanistas da era burguesa e para a eugenia fascista, e ao mesmo tempo vislumbrarmos a era biotecnolgica que se anuncia, impossvel ignorar o carter explosivo dessas consideraes contidas no Poltico. O que Plato enuncia no seu dilogo o programa de uma sociedade humanista que se encarna em um nico humanista pleno, o senhor da arte rgia do pastoreio. E a tarefa desse super-humanista [ber-Humanisten] no outra que o planejamento das caractersticas de uma elite que deve ser especificamente criada em benefcio do todo (SLOTERDIJK, 2000, p. 55).
32
cadernos ufs - filosofia
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. Traduo da 1 edio brasileira coordenada por Alfredo Bosi. Martins Fontes: So Paulo, 2000. HEIDEGGER, Martin. Carta sobre el humanismo. Version de Helena Cortes y Arturo Leyte. Madrid: Alianza, 2001. JR. GIACOIA, Oswaldo. Corpos em fabricao. Natureza Humana, 5 (1), pp. 175-202, jan.-jun. 2003. LOPARIC, Zeljko. A fabricao dos humanos. Manuscrito Revista de Filosofia, Campinas, v. 28, n. 2, pp. 391-415, jul. dez. 2005. MAIA, Antnio Cavalcanti. Biopoder, biopoltica e o tempo presente. In: O Homem mquina: a cincia manipula o corpo. Organizador: Adauto Novaes. So Paulo: Companhia das Letras, 2003. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava Zaratustra. Traduo de Mrio da Silva. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1986. PLATO. Dilogos. Seleo de textos de Jos Amrico Motta Pessanha ; traduo e notas de Jos Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa. So Paulo: Abril Cultural, 1983. SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta carta de Heidegger sobre o humanismo. Traduo de Jos Oscar de Almeida Marques. Estao Liberdade: So Paulo, 2000. VILLIERS de lIsle Adam, Auguste, conde de, 1838-1889. A Eva Futura. Traduo de Ecila de Azeredo. Editora da Universidade de So Paulo: So Paulo, 2001.
33
Você também pode gostar
- Material Intervencao IDocumento56 páginasMaterial Intervencao ITeresa Fortes91% (70)
- 00 - Curso Mediunidade Sem Preconceito - Capa + IndiceDocumento6 páginas00 - Curso Mediunidade Sem Preconceito - Capa + Indicetchauradar100% (5)
- A Importancia Da Sofistica Pro Ensino Da FilosofiaDocumento136 páginasA Importancia Da Sofistica Pro Ensino Da Filosofianicacio18Ainda não há avaliações
- Alcebiades e A Rima Amor e DorDocumento14 páginasAlcebiades e A Rima Amor e Dornicacio18Ainda não há avaliações
- Em Busca Da Alma em PlatãoDocumento21 páginasEm Busca Da Alma em Platãonicacio18Ainda não há avaliações
- A Contribuição de Thompson para Os Estudos HistoricosDocumento20 páginasA Contribuição de Thompson para Os Estudos Historicosnicacio18Ainda não há avaliações
- Hegel e o Vodu PDFDocumento10 páginasHegel e o Vodu PDFnicacio18Ainda não há avaliações
- Introdução À Filosofia Como Ciência de Rigor de HusserlDocumento22 páginasIntrodução À Filosofia Como Ciência de Rigor de Husserlnicacio18Ainda não há avaliações
- Revista Entrevista SafatleDocumento159 páginasRevista Entrevista Safatlenicacio18Ainda não há avaliações
- PDI ANEXO RESOLUÇÃO - WesleyDocumento26 páginasPDI ANEXO RESOLUÇÃO - Wesleylucio100% (1)
- Cópia de O Mito Do DomDocumento15 páginasCópia de O Mito Do DomMarcelo FontanaAinda não há avaliações
- Ciências - I Plano de AulaDocumento5 páginasCiências - I Plano de AulaKARLO GIOVANI FERREIRA LIMAAinda não há avaliações
- Quadrinhos e Charges Na EscolaDocumento29 páginasQuadrinhos e Charges Na EscolaAninha TavaresAinda não há avaliações
- Tese Paulo Borges (Final) PDFDocumento68 páginasTese Paulo Borges (Final) PDFTony Domingos SaboneteAinda não há avaliações
- Avaliação 1º Bimestre - 6º Ano GeoDocumento2 páginasAvaliação 1º Bimestre - 6º Ano GeoAndre Rodrigues100% (1)
- As Ações Da Gestão Democrática Na Modalidade Eja Numa Perspectiva de Mudança e Igualdade SocialDocumento13 páginasAs Ações Da Gestão Democrática Na Modalidade Eja Numa Perspectiva de Mudança e Igualdade SocialRicardo Vasconcelos FernandesAinda não há avaliações
- 2º Trabalho de Campo FUNDAMENTOS DE ESTUDOS AMBIENTAISDocumento12 páginas2º Trabalho de Campo FUNDAMENTOS DE ESTUDOS AMBIENTAISManuel Jose lemosAinda não há avaliações
- O Sistema de Sigmund Freud e Os Métodos de Tratamento História Da PsicologiaDocumento12 páginasO Sistema de Sigmund Freud e Os Métodos de Tratamento História Da Psicologiaroberto pintoAinda não há avaliações
- Carta de Um Espírita Ao DR Francisco de Paula Canalejas (Alverico Peron)Documento33 páginasCarta de Um Espírita Ao DR Francisco de Paula Canalejas (Alverico Peron)Adriana RodriguesAinda não há avaliações
- Administração No Século XXIDocumento3 páginasAdministração No Século XXIBorrasquiAinda não há avaliações
- Ecoformação e TransdisciplinaridadeDocumento16 páginasEcoformação e TransdisciplinaridadeEstela EndlichAinda não há avaliações
- Avaliação Institucional PDFDocumento174 páginasAvaliação Institucional PDFgisasantiagoAinda não há avaliações
- GuiadeBoasPráticas - InternoDocumento20 páginasGuiadeBoasPráticas - InternoRodrigo Babini VasconcelosAinda não há avaliações
- E Book A Pesquisa em Psicologia em Foco VOLUME 2Documento203 páginasE Book A Pesquisa em Psicologia em Foco VOLUME 2epereiraAinda não há avaliações
- Um Forró No Umbral - Saara NousiainenDocumento12 páginasUm Forró No Umbral - Saara NousiainenRac A BruxaAinda não há avaliações
- Significado Das Lateralidades Segundo o Taoismo-1Documento3 páginasSignificado Das Lateralidades Segundo o Taoismo-1Silmara CorreiaAinda não há avaliações
- TROVADORISMO Exercícios PlataformaDocumento38 páginasTROVADORISMO Exercícios PlataformaSonyellen FerreiraAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 03 - A Preservação Dos Valores HumanosDocumento4 páginasEstudo Dirigido 03 - A Preservação Dos Valores HumanosGilmar AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Vigotski - Afetividade e AprendizagemDocumento14 páginasVigotski - Afetividade e Aprendizagemditta_cujaAinda não há avaliações
- Guia - Estatística Aplicada VFDocumento208 páginasGuia - Estatística Aplicada VFzeferino usseneAinda não há avaliações
- Monog - Serviço Social e ReligiãoDocumento62 páginasMonog - Serviço Social e ReligiãoGabriel Pedro Matos PestanaAinda não há avaliações
- Estudo No Livro de Ezequiel, Antônio Neves MesquitaDocumento150 páginasEstudo No Livro de Ezequiel, Antônio Neves MesquitaAltair Filadelfo100% (2)
- SAINT YVES DALVEYDRE A Missao Da India NDocumento44 páginasSAINT YVES DALVEYDRE A Missao Da India NFabio BahiaAinda não há avaliações
- O Estado Da Arte Das Pesquisas Sobre Percepção Ambiental No BrasilDocumento12 páginasO Estado Da Arte Das Pesquisas Sobre Percepção Ambiental No BrasilAniria Fonseca Teixeira TeixeiraAinda não há avaliações
- 480-Arquivo Do Artigo DOC - DOCX-1724-1-10-20191222Documento11 páginas480-Arquivo Do Artigo DOC - DOCX-1724-1-10-20191222Anderson MoreiraAinda não há avaliações
- Desfrutando A Vida Zoe de DeusDocumento11 páginasDesfrutando A Vida Zoe de DeusEmerson Roberto Alves da Silva100% (1)
- Um Dia ChuvosoDocumento6 páginasUm Dia ChuvosoBruno AndreoliAinda não há avaliações