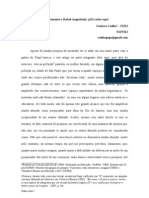Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Corpo Como Midia Investigacoes Acerca Da Performance Na Sociedade Da Visibilidade
O Corpo Como Midia Investigacoes Acerca Da Performance Na Sociedade Da Visibilidade
Enviado por
Cláudio ZarcoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Corpo Como Midia Investigacoes Acerca Da Performance Na Sociedade Da Visibilidade
O Corpo Como Midia Investigacoes Acerca Da Performance Na Sociedade Da Visibilidade
Enviado por
Cláudio ZarcoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio
aio de 2009
O corpo como mdia: Investigaes acerca da performance na sociedade da visibilidade. Primeiro passo: um salto para fora do espetculo1 Dally Velloso Lemos Schwarz2 Professora Orientadora: Maria Paula Sibilia Instituio de Ensino: Universidade Federal Fluminense UFF Resumo Esse artigo constitui um relato inicial das investigaes tericas realizadas at agora como bolsista PIBIC, sob a orientao da professora Paula Sibilia, em um projeto de pesquisa sobre as relaes entre subjetividade e prticas corporais contemporneas. Nesta primeira etapa, pretende-se apresentar algumas conceituaes teis sobre a idia do corpo como uma mdia, assim como os caminhos que sero traados para as novas descobertas ligadas aos usos dessa mdia por parte de certos artistas da rea da performance. Sendo, portanto, apenas um primeiro passo, o artigo enfoca uma s artista atualmente em atividade, Alessandra Colasanti ou a bailarina de vermelho, que coloca em ao a mdia aqui focalizada, o corpo, nas suas diversas expresses. Palavras chave: corpo, subjetividade, mdia, performance, arte contempornea.
Um pequeno resgate da mdia.
Quando tentamos definir o que a comunicao, costuma vir mente a imagem dos meios de comunicao, principalmente daqueles que so os mais representativos de nossa poca. Porm, se quisermos entender a comunicao em um sentido mais amplo, como uma relao homem-mundo, no poderamos nos restringir apenas aos meios, teramos que entender essa comunicao como um sistema, e considerar as prticas culturais peas to importantes quanto os veculos que as disseminam. . .A comunicao oral, antes da imposio da tecnologia da escrita, era uma das formas utilizadas para tecer as redes de experincia e memria de uma poca, muitas culturas tribais, como as da ndia e da China arcaicas (datas no muito precisas, mas que estariam prximas do sculos 1500 e 1000a.C), tinham na comunicao oral e gestual uma maneira de transferir suas tradies. Essas prticas no s fixavam uma
Trabalho apresentado ao Intercom Junior, na Diviso Temtica de Estudos Interdisciplinares da Comunicao, do XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste.
1
Estudante de graduao de Estudos de Mdia na UFF, bolsista de iniciao cientfica sob orientao da professora Paula Sibilia. dallyschwarz@gmail.com
1
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
identidade, como construam uma histria e at o advento da escrita, esses maneiras de comunicar eram a garantia da transmisso de conhecimento. Conhecimento este que disseminava no s informao como promovia sociabilidade, segundo o historiado portugus Jorge Pedro Souza, nos primrdios da humanidade, os homens agregavam-se em pequenos grupos tribais e necessitavam de comunicar uns com os outros para garantir sua sobrevivncia, (SOUZA, 2004) logo, vemos como o processo comunicacional muito complexo e no pode estar restrito a uma funo meramente noticiaria. Com o advento da imprensa, com seu auge no sculo XIX, enfraqueceu-se a relao corporal e interpessoal como meio de informao legtimo, o regime de verdade, na Modernidade, era baseado em uma racionalidade emprica e cientfica que exigia provas concretas de fontes autorizadas. E com essa vontade de verdade, as prticas comunicacionais foram transformando-se e ganhando novos contornos. Uma das caractersticas dessas sociedades oralizadas era a circularidade da sua estrutura de comunicao. Quando falamos em circularidade estamos explicitando os vrios discursos que se entrelaavam, a partir de uma ou mais mediaes na propagao de uma mesma informao. interessante pensar tambm nas transformaes que as mensagens sofriam nesse universo prvio cultura escrita, pois cada vez que uma histria era narrada, inventavam-se novas verses dessa histria. E para alm desse carter ficcional que apresentava o fato, existia tambm uma outra hierarquizao, logo, um outro regime de verdade. A inteno deste artigo no , de maneira alguma, fazer uma leitura saudosista desses supostos tempos idlicos, desprezando a cultura escrita. Pelo contrrio, estamos somente resgatando certas caractersticas das prticas oralizadas e interpessoais que vigoravam e ainda vigoram em culturas diferentes da ocidental contempornea, a fim de tentar compreender a potencialidade, a partir de certa genealogia, das aes performticas atuais nas quais o corpo o principal suporte. Outro resgate, que tambm apresenta uma histria, a importncia da visualidade na informao. Deve-se pensar quais mudanas esse regime de imagens trouxe para nossa relao com a comunicao para melhor analisar a sociedade contempornea da visualidade/visibilidade. Essa crescente importncia das mdias visuais, e cada vez
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
mais audiovisuais, implica em outros vetores de poder que vo redesenhar as verdades, e logo, modificar as prticas sociais dos sujeitos. Assim, como lembra o pensador francs Guy Debord no seu clebre livro A sociedade do espetculo, a sociedade do espetculo no um conjunto de imagens, mas uma relao social entre pessoas, mediatizadas por imagens (DEBORD, 1967). Ou seja, esses elementos no esto soltos no mundo, eles se conjugam e devem ser estudados integrados. Dessa maneira, entendemos que a colocao do corpo em cena no s resgata uma prtica tribal de socializao e comunicao interpessoal, como tambm refora e, por sua vez, reforado pelo atual regime da visibilidade. O porqu das aes performticas hoje no algo novo, e nem deve ser estudado de forma deslumbrada, porm o momento histrico que vivemos, configura-se em um contexto de muita ateno para o corpo e para o imprio dos visveis. O corpo no sai por a, a mostra, sem um porqu. Lugar de distino, de status e de construo de si.
Realizar uma histria do corpo um trabalho to vasto e arriscado quanto aquele de escrever uma histria da vida. Denise Berzunni de SantAnna
No de hoje que o corpo torna-se foco de estudos e discusses, esse movimento voltado para si, para um corpo individual, tem seu marco principalmente na transio do sculo XVIII para o XIX com a inveno da Modernidade e do sujeito. Diversos estudos tericos e abordagens literrias que datam dessa transio se referem ao corpo e se dedicam a desvendar seu universo ntimo, orgnico e perene. importante pensar o corpo levando em conta o que Michel Foucault, nos anos 1970, denunciou como um olhar ingnuo dos pesquisadores em relao s coisas. Devemos dar uma ateno especial, advertia Foucault, histria e s origens daquilo que pesquisamos. Entender que existe um passado, no s enriquece as nossas perguntas, como tambm facilita a visualizao dos
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
acontecimentos atuais como desdobramentos e novas tores de fatos e prticas que os precederam. Por tais motivos, recorreremos a dois grandes tericos, o socilogo alemo Nobert Elias e o historiador francs Michel Foucault que dialogam aparentemente de posies contrrias, para resgatar a histria do corpo no Ocidente. Mais especificamente, pretendemos fazer um corte no corpo para observ-lo na Modernidade. As pesquisas de Norbert Elias apresentam o corpo como um lugar em que o ethos moderno est pronto para ser recebido. Seus estudos histricos sobre o desenvolvimento das etiquetas e dos modos burgueses reforam aquilo que ele denominou habitus psquicos de pessoas civilizadas (ELIAS, 1937), e como podemos ver nos seus escritos:
A teia de aes tornou-se to complexa e extensa, o esforo necessrio para comportar-se corretamente dentro dela ficou to grande que, alm do autocontrole consciente do indivduo, um cego aparelho automtico de autocontrole foi firmemente estabelecido. Esse mecanismo visava prevenir transgresses do comportamento socialmente aceitvel mediante uma muralha de medos profundamente arraigados, mas precisamente porque operava cegamente e pelo hbito, ele, com freqncia, indiretamente produzia colises com a realidade social (ELIAS, 1993, p.196).
Esse habitus resultado de uma relao de embate entre as foras sociais e as foras psicolgicas, e delimita a liberdade de ao dos indivduos. Em seu livro O processo civilizador, Elias realizou um estudo abrangente sobre como os modos como os indivduos foram aprendendo a ter autocontrole e, atravs dessa pedagogia, o social foi sendo alimentado e, ao mesmo tempo, foi se alimentando de um novo tipo de sujeito: um sujeito amarrado. interessante abordar tambm, um ponto de vista crucial nos estudos de Elias que dizem respeito a um ganho de liberdade nesse processo civilizatrio. Os sujeitos, apesar de terem introjetado novas morais e terem seus corpos comprimidos por valores sociais, poderiam agora, ter uma articulao maior nas suas movimentaes. Donos do seu corpo, sem desconsiderar as estruturas reguladoras, eles poderiam jogar com a construo do seu EU, que antes lhes era muito menos possvel. Esse pensamento est totalmente vinculado ao estudo
4
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
emprico que o terico realizou em seu tempo, assim como, uma conseqncia de seguir a tradio sociolgica progressista. Partindo de outra perspectiva, Michael Foucault tambm analisa o papel do corpo do indivduo moderno, porm a partir de uma lgica inversa de Norbert Elias. Para o terico francs, o corpo do indivduo s ganha lugar preeminente na cultura ocidental quando passou a ser uma preocupao do Estado. Assim, o corpo de cada individuo comeou a ser disciplinado, e a estratgia de poder que investiu esses corpos envolve tanto a represso como o estmulo.
... O controle da sociedade sobre os indivduos no se opera simplesmente pela conscincia ou pela ideologia, mas comea no corpo, com o corpo. Foi no biolgico, no somtico, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo uma realidade bio-poltica. A medicina uma estratgia bio-poltica (FOUCAULT, 1979:80).
Foucault analisa o corpo muito pelo vis da medicina que uma das vozes da cincia mais potentes nesse momento disciplinado Moderno. Em sua reflexo crtica acerca do novo regime corporal que o sistema capitalista impe, ele aponta como o controle e o estmulo a sexualidade sero importantes para reprimir os corpos. No decorrer de seus estudos perceberemos como essa represso articulada em um jogo que prprio estmulo ao prazer parte de uma perverso do poder. Como resposta revolta do corpo, encontramos um novo investimento que no tem mais a forma de controle represso, mas de controle estimulao, fique nu, mas seja magro, bonito e bronzeado! (Foucault, 1979: 147). O que nos interessa no pensamento desses dois autores, no contexto desta pesquisa, a maneira com que eles mostram que, no cerne da sociedade moderna, o corpo ganha uma ateno nos estudos tericos. Ambos os autores esto escrevendo suas idias em torno dos anos 1970 e 1980 (O processo Civilizador data de 1968 e Microfsica do poder de 1979), e no devemos
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
esquecer que nesse momento histrico o corpo est sendo posto em questo tambm por artistas da performance3. Por isso, se focalizarmos nas peculiaridades surgidas mais recentemente, na sociedade contempornea, em que os campos cientficos se embaralham mesmo sem perder sua autonomia, podemos detectar algumas continuidades e rupturas entre esses dois momentos histricos no que tange utilizao do corpo como mdia. A partir dessas convergncias, portanto, procuraremos entender de que forma o corpo j foi representado por diversos saberes, detectando at que ponto, durante cada sculo, ele foi pensado como tendo uma materialidade e uma significao peculiar para assim ensaiarmos algumas questes de relevncia atual a respeito do tema. A convergncia entre Artes e Comunicao No cenrio contemporneo, o corpo se exibe com uma insistncia crescente em diversos mbitos, irradiando uma pluralidade de sentidos. Nos anos 1990 ocorreu um fluxo intenso de convergncias miditicas, e tambm houve uma hibridizao de diversos campos de saber. Nesse movimento, as artes e a comunicao tambm convergiram e, dessa juno, novas questes surgiram, inspirando de estudos interdisciplinares.
importante frisar que, ao fazer referncia convergncia, no se pretende reduzir as especificidades de cada rea. Convergir no significa identificar-se, mas tomar rumos que no obstante as diferenas, dirigem-se para a ocupao de territrios comuns, nos quais essas diferenas se roam sem perder seus contornos prprios. (Santaella, 2005)
Arte e Comunicao esto em dilogo, pelo menos, desde o sculo XIX, quando ocorreu o advento da comunicao de massa e, nesse movimento, a distino ntida entre uma alta cultura e uma baixa cultura comeou a ser repensada. Nesse mesmo
importante reforar que a performance nunca desapareceu desde seus primeiros registros no sculo XX, mas existiram momentos histricos nos quais sua importncia foi maior. Abordaremos essas questes histricas da performance mais adiante.
3
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
perodo histrico, a intensificao dos modos de vida urbanos e a circulao na cidade trouxeram cena a imagem do outro e intensificaram o contato com os corpos estranhos.
Pretende-se pensar o estado atual dessas convergncias, a partir de um recuo histrico que possa esclarecer os sentidos dessas transformaes, pois todas as mdias se inserem em uma determinada conjuntura, e o papel do corpo no pode deixar de acompanhar essas mudanas.
A mdia atua na sociedade de diversas formas e, portanto, importante pensar como ns, sujeitos que transitamos na cidade, de alguma maneira tambm somos mdias. Ns comunicamos com nossos corpos e, cada vez mais, os sujeitos contemporneos desejam mostrar na superfcie da pele quem eles so. Prticas corporais que j tem uma certa histria, como a tatuagem, o body piercing, os transformismos e as modas, sugerem at que ponto o corpo est repleto de marcas que comunicam. No seria esse corpo, portanto, nesse sentido, um espao com potencial para ser uma mdia?
Se realizarmos uma pesquisa bibliogrfica, encontraremos uma teoria do corpomidia que comeou a ser desenvolvida no ano de 1999 por Helena Katz e Christine Greiner nos estudos da semitica. O que essas autoras entendem como corpomidia o corpo como produtor de comunicao de si mesmo, que se encontra constantemente em um estado de processo em andamentos, de percepes e aes mediadas.
O corpo resultado desses cruzamentos, e no um lugar onde as informaes so apenas abrigadas. com essa noo de mdia de si mesmo que o corpomdia lida, e no com a idia de mdia pensada como veculo de transmisso. A mdia qual o corpomdia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informaes que vo constituindo o corpo. A informao se transmite em processo de contaminao. (KATZ e GREINER, 2005, pg.131)
O que as autoras esto dizendo que dentro do nosso corpo existe um sistema informacional que se assemelha a uma rede de comunicao. A prpria estruturao do corpo se d atravs de cdigos, combinaes e dados.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
Outra questo suscitada que o corpo funciona como um canal para a comunicao,mas para alm de um mediador ele responsvel por configurar e transmitir mensagens com suas peculiaridades prprias. No devemos reduzir o
complexo sistema comunicacional a modelos de emisso-recepo somente, nem as mensagens a meras palavras. Um exemplo disso que o prprio revestimento do corpo, a pele, exerce uma funo no s protetora, mas tambm de membrana seletiva, de mediadora entre o sujeito e o mundo.
Daquilo que o corpo fala: Potncias do meio, muitas mensagens
Ao definir a performance necessrio relembrar a histria da dana e do teatro, especificamente das vanguardas artsticas europias do sculo XX. A data que marca o nascimento da performance 1896 com a estria da pea Ubu Rei, de Alfred Jarry, em um teatro de Paris. A partir desse momento, o novo gnero se desenvolveu nos cabars e em peas apresentadas nos espaos pblicos, como fizeram os artistas afiliados a movimentos de vanguarda como o Futurismo e o Dadasmo. Alm disso, foram surgindo novas maneiras de estudar o corpo e o movimento, como aconteceu posteriormente na escola Bauhaus da Alemanha. Em todas essas manifestaes, o corpo estava integrado cenicamente com diversas mdias, em uma convergncia que deu o carter de uma expresso difcil de ser definida e limitada.
Porm, foi no final da dcada de 1960 e no incio dos anos 1970 que a erupo dessa expresso se deu no corpo com pleno vigor. Isso se deveu tanto ao contexto da poca, em que os artistas desejavam contestar a instituio de arte e o mercado artstico, quanto pelos movimentos de liberao sexual e de quebra dos tabus e dos valores morais tradicionalmente amarrados ao corpo moderno. As performances, ento, se tornaram aes extremamente efmeras, e muitas vezes ostentavam um teor chocante. Muitos dos questionamentos acerca dos limites do corpo cabiam
naquilo que estava sendo discutido. A impossibilidade da venda da ao e o prprio contedo das performances no davam conta apenas do nascimento de um novo corpo, mas, alm disso, tentava reescrever a Histria. Assim, como constata a
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
historiadora e crtica de arte Rose Lee Goldberg em seu livro dedicado performance:
Com a ameaa constante de vigilncia policial, censura e priso, no surpreendente que a maior parte da arte de protesto estivesse relacionada ao corpo. Um artista podia realizar seu trabalho em qualquer parte, sem materiais ou sem um ateli, e a obra no deixaria vestgios.
(GOLDBERG, 2006, pg.204) interessante notar que a efemeridade marcava a performance em um tempo especfico que se assemelha ao tempo dos ataques relmpagos e kamikazes no perodo de guerra. Esse tempo do qual falo no puramente cronolgico, mas da ordem do psicolgico. Se pensarmos que essas aes realmente conseguem abrir um corte nesse tempo cronolgico, caminhamos para uma reflexo do potencial do corpo como uma mdia. No podemos esquecer que os contextos histricos so essenciais para situar o espao e o tempo de cada corpo. O contedo visivelmente macro poltico das aes caracterizam bem o contexto dos anos 1970. Os acionistas vienenses, grupo de artistas do ps-guerra dos anos 1960 de Viena, faziam performances to explosivas que era comum um artista ser preso ou causar uma balburdia na mdia e nas grandes instituies de arte. A crtica de arte Piedad Solns faz um estudo sobre esse movimento especfico mostrando que o seu contedo violento era expresso na maioria das vezes pelas vias do repdio e do asco.
El accionismo viens, es un arte de reflexin y de conocimiento, que mediante la rotura de todos los lmites, la destruccin del cuerpo y por lo tanto de la humanidad, para enfrentarse al mundo, a la barbarie a la que era sometida la sociedad, en un mundo dominado por los poderes del Estado. (SOLANS, 2000, Pg. 3)
Utilizando-se um exemplo especfico dessa expresso artstica comprovamos que em algum momento da Histria, o corpo imerso nas significaes da arte, se colocou em cena no mundo para no s chocar uma sociedade, mas para atingir seu potencial afetivo e contagiante de propagar idias e comunicar. Porm, aquilo que foi dito anteriormente a respeito da orientao do corpo em um tempo e um espao especfico deve ser resgatado para retornarmos ao nosso objeto de analise contemporneo.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
No seria ento necessrio articular qual tempo e qual o espao que se d a performance, hoje, para realizar uma ao crtica que proponha rupturas significantes na cultura e nos valores morais da sociedade? A bailarina de Vermelho: Um salto para fora do espetculo. Como ponto de partida, eu diria que a coisa em si a no coisa. ( A bailarina de Vermelho, Anticlssico) Depois de mapear os conceitos mais importantes que esta pesquisa utiliza como ferramentas tericas e de procurar resgatar brevemente uma memria histrica, propem-se analisar a ao performtica da atriz Alessandra Colasanti. Tambm conhecida como a sua personagem denominada a bailarina de vermelho Alessandra apresenta um trabalho crtico acerca de questes da cultura, do pensamento acadmico e da arte. Prope-se mostrar a relevncia dessa performance nos dias atuais procurando situ-la no contexto do esvaziamento do espao pblico, da intensificao das polticas de represso do Estado, do individualismo, da efemeridade do tempo e da descrena em transformaes scio-culturais que marcam nossa sociedade. Quem a bailarina de vermelho? A personagem se descreve da seguinte forma:
a mais clebre danceuse do jet set intelectual, a primeira diva PHD de Hollywood, prima ballerina do Ballet Imperial de Moscou, meioprima de Zelig, dubl de Godot, musa de Dgas, e dubladora oficial de Duchamp na Amrica. A Bailarina de Vermelho, fundadora da Escola de Frankfurt, doutora pelo Collge de France, alm de tradutora, bomia e pavo, tambm filsofa, lingista e ensasta. ( DE VERMELHO, A bailarina)
Antes de parecer pretensioso o que a bailarina diz ser, ou uma mera brincadeirinha clich, deve-se contextualizar que a personagem de Colasanti nasce de uma proposta de questionar uma srie de discursos que esto instaurados no meio acadmico e na arte. A crtica faz-se academia por ser um lugar construtor de verdades e saberes, mas que muitas vezes se torna vazio e propicia reflexes acerca do nada, ou somente de si mesmo. E arte, por sua vez, como uma expresso que acompanha reflexes narcseas e que acaba, tambm, sendo alvo fcil para essa emboscada tautolgica.
10
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
A bailarina de vermelho nasce de um trabalho, um work in progress que surge das pesquisas da artista, intitulado 'Anticlssico - Uma Desconferncia e o Enigma Vazio', iniciado em 2007, quando Alessandra Colasanti d seu salto para fora da tela de Dgas4s e comea a fazer esse embaralhamento entre a fico e a realidade. interessante notar que Alessandra est atacando, da maneira mais irnica e divertida possvel, o lugar do qual ela vem e habita. O espao que se prope questionar aquele que a legitima falar. E aqui me refiro tanto a atriz quanto a personagem. Uma estudante de teoria do teatro na Universidade Federal do Rio de Janeiro( UniRio), e a outra, a bailarina, fundadora da Escola de Frankfurt, filsofa, pavo, ensasta...Esses lugares ocupados por ambas, independente de um ser real e o outro ficcional, so lugares institucionalizados legtimos para a formao do conhecimento e para o surgimento de figuras pblicas. Apesar da bailarina de vermelho ser o foco de nossa anlise, interessante tambm perceber que a pessoa e a persona muitas vezes nesse embaralhamento, atiando mais a curiosidade do espectador e reforando o potencial da performance. Por mais que saibamos que a atriz e a personagem so lugares diferentes, em nossa sociedade da visibilidade esses papis no ficam sempre to claros, uma vez que a intimidade das pessoas matria para jornais e revistas. No um raciocnio to incompreensvel enxergar que na nossa sociedade, viciada em reality-show, essa vontade de adentrar a intimidade alheia, principalmente, daquelas que esto no palco encantado da mdia. A prpria histria das atrizes mais famosas de Hollywood sempre deixou claro esse embaralhamento entre pessoa e persona. No precisamos fazer um recuo to longo para enxergar esses traos, os meios de comunicao de massa e uma grande parte da indstria cultural se alimentam/so alimentados por essescontedos de cunho ntimo e pessoal. Porm devemos lembrar que no contexto atual eles apresentam uma configurao especfica.
Portanto, as tendncias de exibio da intimidade que proliferam hohe em dia no apenas na internet, mas em todos os meios de comunicao e tambm na mais modesta espetacularizao diria da vida cotidiana- no evidenciam uma mera invaso da antiga privacidade, mas um fenmeno completamente novo.
A bailarina de vermelho diz ter sado de um quadro do pintor francs Edgar Dgas, que muito conhecido por suas pinturas de bailarinas.
4
11
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
(Sibilia, Paula, 2008, pg. 79)
De acordo com a autora, devemos analisar esse fenmeno focando em suas especificidades de hoje, apesar de este apresentar no seu processo aspectos de continuidade. Das webcams aos paparazzi, dos blogs e fotologs ao YouTube e ao Orkut, das cmeras de segurana aos reality shows e talk shows, a velha intimidade se transformou em outra coisa. E agora est vista de todos. (Sibilia, 2008) O que parece interessar na personagem so suas performances, que totalmente integradas a um circuito miditico de redes de informao, colocam em cena o corpo como uma mdia, proporcionando discusses acerca da legitimidade da comunicao e da crtica em forma de diverso e chacota. Para alm do aspecto agitador que a bailarina apresenta, queremos focar especialmente em uma das suas aes: a candidatura fictcia s eleies para prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 2008. Durante o perodo das eleies do Rio de Janeiro de 2008, a atriz apresentou sua candidatura, fictcia, ao cargo de prefeita. A campanha trazia chamadas interessantes como: Vote 69! Vote pelo paradoxo!Prefeita da 3 margem do Rio! Alm de contar com um material de marketing muito interessante. Por mais que a performance da bailarina atinja uma parte da populao, e aqui mostramos as limitaes que uma performance tem, as aes da candidatura se deram em locais pblicos, como a praia de Ipanema, o que esgara um pouco mais o potencial da performance. No podemos deixar de falar do compartilhamento dos signos, isso um dos fatores que tambm fecham uma ao, porm, temos estudos tericos que comprovam que por mais que as pessoas estejam divididas em classes e seus universos simblicos sejam diferentes, a apropriao de signos percorre diversas classes e em cada uma delas eles so articulados de um jeito. A questo : o espetculo, em si, j uma mensagem. E dessa maneira, por utilizar ironia, principalmente, a bailarina articula-se com maior proximidade das linguagens populares. A bailarina pode ter sado de um quadro de Dgas para alguns, mas para outros, ela pode ter sado de um circo. Das duas maneiras ela cumpre um papel: dentro do universo do fantstico, ou do nonsense, ela fia uma linha que desarticula a noo
12
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
ordinria de realidade produzindo no s uma cena e um entretenimento, mas uma brecha para a reflexo. Essa brincadeira suscita reflexes muito interessantes nos espectadores que no contexto pblico so transeuntes urbanos e, por isso, no se apresentam dispostos em um territrio demarcado para a arte, como quando esto em um teatro. O corpo, nesse contexto, um dos meios de comunicao que tem o maior potencial para gerar estranhamentos, reflexes, risos e crticas. No se trata, evidentemente, de uma caracterstica apenas do corpo contemporneo, e por isso necessrio relembrar no s a histria da performance, como um campo autnomo da arte, mas toda a histria da mdia. No livro Uma histria social da mdia, Asa Briggs e Peter Burke percorrem uma srie de acontecimentos muito instigantes ocorridos nos sculos XVI, XVII e XVIII, nos quais as comunicaes orais e gestuais se mostravam potentes, assim como os espetculos teatrais dos reis e os rituais festivos do povo que aconteciam nas ruas. Para alm de um mero entretenimento, devemos perceber como essas exibies publicas tinham um carter pedaggico, e como tambm demarcavam, atravs da linha invisvel da arte, um lugar mgico, logo inalcanvel. importante ressaltar que os autores sublinham que muitas coisas daqueles espetculos necessitavam, e existia essa figura, de um mediador para explicar ao pblico do que estavam falando. muito curiosa essa nota, pois muitas vezes defendemos que a arte contempornea, ou conceitual, aquela que no comunica que no quer dialogar, e vemos que a problemtica muito mais complexa. Nos sculos pr-modernos j existiam esses traos, se trata de um jogo de poder, onde as informaes se articulam na disputa simblica e nos interesses daqueles que dispem de mais meios para propagar as significaes que ganharo esse lugar legtimo. Concluindo com classe ou com anti-classe? Para concluirmos nossa breve reflexo acerca da potncia do corpo como mdia, retomaremos alguns pontos fortes deste artigo e que possivelmente sero desenvolvidos mais tarde em outros trabalhos, assim como questes e conceitos que no conseguiu ser trabalhado minuciosamente nesse texto e que mereceria certa relevncia.
13
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
A discusso que nos interessa refletir acerca das prticas de performance enquanto expresses artsticas que tentam trazer novas maneiras de expresso no mundo. No trabalho de Colasanti o riso e da piada suscitam reflexes que nos fazem rir de ns mesmos, e dessa maneira, provocam abalos nas instituies produtoras de verdades. Ser que ao rir de si mesmo, no nos tornamos menos crentes de ns? A bailarina de vermelho no est puramente zombando de uma academia, ou de um sistema de arte, ela inclusa nele, faz uma critica que vlida para ambos os circuitos. Como falamos anteriormente, circuitos estes que se deixam levar por uma vaidade e como ocupam um lugar de produtor de verdades, se tornam espaos de discusses vazias. Acreditamos que o trabalho de Colasanti consegue abrir vrias frentes de debates, assim como atinge diretamente, pelas performances, aqueles que so tomados de assalto pela figura da bailarina. Por mais que estejamos imersos no espetculo e na sociedade da visibilidade no devemos deixar de atuar como sujeitos polticos nos espaos que nos circundam. A bailarina de vermelho faz a crtica a um grupo restrito, um grupo pequeno na sociedade, mas um grupo que dispe de muitos mecanismos culturais e miditicos e que produz verdades e realidades diariamente. Assim como foi defendido por muitos filsofos e escritores como Aristteles, Kant, Bataille e Borges, o riso uma arma estratgica nas relaes sociais e ser o filsofo francs Gilles Deleuze que vai dizer que o riso passa a funcionar como a subverso do bom senso e do senso comum (Deleuze, 1998) e Henri Brgson, no seu livro O riso: ensaio sobre a encenao do cmico, vai dizer que o riso 'reflete' sociedade aquilo que ela e possui, mas que dificilmente reconhece (Xavier, 2001). Portanto, melhor concluirmos com anti-classe, sem esquecermos-nos do que a bailarina de vermelho alertava: Desconfiem de mim! Referncia Bibliografia:
BRGSON, Henri 1983 O riso: ensaio sobre a significao do cmico. Rio de Janeiro, Zahar. BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma histria social da mdia: de Gutemberg Intrernet. Rio de Janeiro: Zahar, 2004
14
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao XIV Congresso de Cincias da Comunicao na Regio Sudeste Rio de Janeiro 7 a 9 de maio de 2009
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetculo. Comentrios sobre a sociedade do espetculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. SOUZA, Jorge Pedro. Elementos de teoria e pesquisa da comunicao e da mdia.So Paulo: Letras Contemporneas, 2004. DELEUZE, Gilles 1998 Lgica do sentido. So Paulo, Perspectiva. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador, 2 vols. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder, Rio de Janeiro:Ed.Graal, 1979.
GREINER, Christine; KATZ, Helena. A natureza cultural do corpo. IN Lies de Dana. Rio de Janeiro: UniverCidade, 1999.
GOLDBERG, Rose Lee. A arte da performance: do futurismo ao presente. SoPaulo: Martins Fontes, 2006.
SANTAELLA, Lucia. Porque a comunicao e as artes esto convergindo? So Paulo: Paulus,2005. SIBILIA, Paula. O show do Eu: a intimidade como espetculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
SOLNS, Piedad. Accionismo viens. Madrid: Editorial Nerea, 2000.
XAVIER, Caco. Aids coisa sria! - humor e sade: anlise dos cartuns inscritos na I Bienal Internacional de Humor, 1997
Referncias Eletrnicas:
Blog da Bailarina de Vermelho: www.abailarinadevermelho.blogspot.com Flickr: www.flickr.com/photos/alessandracolasanti Youtube: http://www.youtube.com/user/bailarinatvshow Myspace: www.myspace.com/alessandracolasanti
Blog do Teatro Clube Paradoxo: http://teatroclubeparadoxo.wordpress.com/ Twitter: http://twitter.com/abailarina
LastFm: http://www.lastfm.com.br/user/devermelho
15
Você também pode gostar
- Memorex (Bloco 07) - Rodada 02Documento38 páginasMemorex (Bloco 07) - Rodada 02Joao Silva Dos Santos100% (9)
- Curso 20magia 20divina 20das 20sete 20chamas 20sagradas 130925160611 Phpapp01Documento7 páginasCurso 20magia 20divina 20das 20sete 20chamas 20sagradas 130925160611 Phpapp01Antonio Peruzzo83% (6)
- Paul RicourDocumento154 páginasPaul RicourRoney Carvalho100% (1)
- A Realidade Abstrata de Mondrian No Universo Da Arte Neoconcreta - RevisadoDocumento12 páginasA Realidade Abstrata de Mondrian No Universo Da Arte Neoconcreta - RevisadoarteinstitucionalAinda não há avaliações
- Agradecimento A Rafael Augustaitiz - Pixa Tudo Rapá! - Gustavo Coelho - AI5Documento16 páginasAgradecimento A Rafael Augustaitiz - Pixa Tudo Rapá! - Gustavo Coelho - AI5arteinstitucional100% (2)
- Dom Quixote e o Processo Criativo ContemporâneoDocumento1 páginaDom Quixote e o Processo Criativo ContemporâneoarteinstitucionalAinda não há avaliações
- Resumo (Acessibilidade)Documento4 páginasResumo (Acessibilidade)arteinstitucionalAinda não há avaliações
- Monografia Pronta Com SumoDocumento54 páginasMonografia Pronta Com Sumoarteinstitucional100% (1)
- OralismoDocumento2 páginasOralismofranciele lodettiAinda não há avaliações
- Descolonizacao Saberes AfricanosDocumento18 páginasDescolonizacao Saberes AfricanosamericpdfAinda não há avaliações
- Dafra Next 250Documento1 páginaDafra Next 250maxsuel italoAinda não há avaliações
- Dissertacao Leandro VfinalDocumento94 páginasDissertacao Leandro VfinalAndre BotelhoAinda não há avaliações
- Artigo de Divulgação Científica - 8 Ano Edualdina - AlunoDocumento14 páginasArtigo de Divulgação Científica - 8 Ano Edualdina - AlunoMaira SantosAinda não há avaliações
- 4 EccDocumento2 páginas4 EccMariana PaulinoAinda não há avaliações
- DMPF Administrativo 2014 02 19 - 035Documento54 páginasDMPF Administrativo 2014 02 19 - 035PauloAinda não há avaliações
- Avaliação 2 Bim Sociologia 1 Série Manhã - MarcioDocumento3 páginasAvaliação 2 Bim Sociologia 1 Série Manhã - MarcioMarcio Luiz EwaldAinda não há avaliações
- Apostila Matemática Básica Coleção Fundamental Volume 2 8Documento26 páginasApostila Matemática Básica Coleção Fundamental Volume 2 8Matemática Mathclassy100% (1)
- Ja 02062021Documento32 páginasJa 02062021Viana AlbertoAinda não há avaliações
- A Ordem e Decência No Culto OkDocumento8 páginasA Ordem e Decência No Culto OkPU4LAU RadioamadorAinda não há avaliações
- Subsídio Final para PentecostesDocumento3 páginasSubsídio Final para PentecostesGeovane FerreiraAinda não há avaliações
- Relatório CCD - Corantes - 1Documento8 páginasRelatório CCD - Corantes - 1Aya MedeirosAinda não há avaliações
- Projetos para As BibliotecasDocumento3 páginasProjetos para As BibliotecasTânia LamaraAinda não há avaliações
- Vol 4 - Conservação e TransformaçãoDocumento244 páginasVol 4 - Conservação e TransformaçãoEliakim LopesAinda não há avaliações
- Decisão - SCSDocumento6 páginasDecisão - SCSMetropolesAinda não há avaliações
- Breve Resumo Da Proposta de Tema para MonografiaDocumento5 páginasBreve Resumo Da Proposta de Tema para MonografiaFlavio CamiloAinda não há avaliações
- Ebook Como Ser Assistente Virtual 2021crs2Documento19 páginasEbook Como Ser Assistente Virtual 2021crs2Sidinei souzaAinda não há avaliações
- Toda Materia Do AnoDocumento207 páginasToda Materia Do AnoLucas CarneiroAinda não há avaliações
- Cap 7: Memória - GazzanigaDocumento35 páginasCap 7: Memória - GazzanigaGodar100% (2)
- CRPG - Manual Do HeróiDocumento23 páginasCRPG - Manual Do HeróiqrweAinda não há avaliações
- Novo Transsexualidade e Ordem Médica Abb1Documento17 páginasNovo Transsexualidade e Ordem Médica Abb1Vee W. PurgeAinda não há avaliações
- Circuitos SequenciaisDocumento18 páginasCircuitos SequenciaisAntonio Carlos CardosoAinda não há avaliações
- Aulas PDFDocumento57 páginasAulas PDFSara SampaioAinda não há avaliações
- Resumo Da Segunda Parte Do Documento Populorum ProgressumDocumento4 páginasResumo Da Segunda Parte Do Documento Populorum ProgressumDiácono Alexandre CaetanoAinda não há avaliações
- Portfolio Filosofia e Sociologia Aplicadaà Saúde Saude 2020 3Documento3 páginasPortfolio Filosofia e Sociologia Aplicadaà Saúde Saude 2020 3washington meloAinda não há avaliações
- Jornalismo de Moda, Cultura e SociedadeDocumento240 páginasJornalismo de Moda, Cultura e SociedadeAdriana TerraAinda não há avaliações