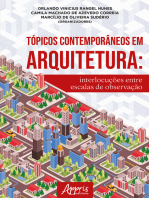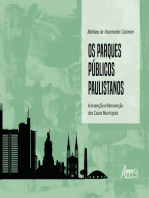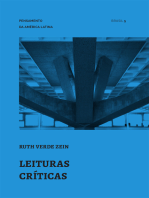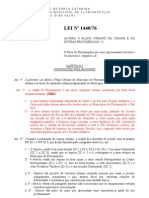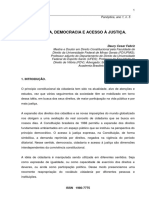Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Construir Casas Ou Produzir Cidades
Construir Casas Ou Produzir Cidades
Enviado por
Mayra Silveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações202 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações202 páginasConstruir Casas Ou Produzir Cidades
Construir Casas Ou Produzir Cidades
Enviado por
Mayra SilveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 202
. 1 .
PRODUZIR CASAS OU CONSTRUIR CIDADES?
DESAFIOS PARA UM NOVO BRASIL URBANO.
Parmetros de qualidade para a implementao
de projetos habitacionais e urbanos
Joo Sette Whitaker Ferreira (coord.)
1 edio
So Paulo . SP . 2012
Editora FUPAM
. 2 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Laboratrio de Habitao e Assentamentos Humanos - LabHab
www.usp.br/fau/depprojeto/labhab
Criado em novembro de 1997, no Departamento de Projeto da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo, o Laboratrio de Habitao
e Assentamentos Humanos iniciou suas atividades com a inteno de interligar as
atividades de ensino, pesquisa e extenso universitria em um mesmo espao, dando
prioridade formulao de alternativas para as demandas habitacionais, urbanas e
ambientais que visem a incluso social. Assim, os trabalhos que desenvolve - planos,
projetos e assessoria a Municpios, ONGs e comunidade - tm sempre um carter
experimental, constituindo-se em processo de formao e capacitao para anlise
crtica e ao propositiva.
D45 Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. Parmetros
de qualidade para a implementa o de projetos habitacionais e urbanos.
Coordenador Joo Sette Whitaker Ferreira. -- So Paulo : LABHAB ; FUPAM,
2012.
200 p. : il. ; 26 x 30 cm
ISBN 978-85-88150-05-8
1. Urbaniza o (Brasil) 2. Poltica habitacional (Brasil) I. Ferreira, Joo Sette
Whitaker, coord. II. Laboratrio de Habita o e Assentamentos Humanos da FAUUSP.
CDD 352.75
Servio de Biblioteca e Informa o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
. 3 .
Autoria dos textos
Joo Sete Whitaker Ferreira, Ana Teresa Carvalho, Angela
Seixas Piloto, Carolina Frignani, Daniela Zilio, Daniele Queiroz,
Fernando Boari, Filipe Maciel, Juliana Petrarolli, Karina Oliveira
Leito, Kathleen Chiang, Letcia Moreira Sgolo, Lgia Lupo, Paulo
Emlio Buarque Ferreira, Rafael Borges Pereira, Tamires Lima
Consultores
Prof. Dr. Caio Boucinhas
consultor em paisagismo e meio ambiente
Prof. Dr. Khaled Ghoubar
consultor de custo e qualidade da construo
Profa. Dra. Roberta Kronka
consultora de conforto ambiental
Escritrios de arquitetura
Peabiru Trabalhos Comunitrios e Ambientais | www.peabirutca.org.br
Vigliecca e Associados | www.vigliecca.com.br
Piratininga Arquitetos Associados | www.piratininga.com.br
JDS/ Julien de Smedt Architects | jdsa.eu
Desenhos
Adrien Apoteker, Daniela Zilio, Daniele Queiroz, Danilo Cesar
Reis Costa, Danilo Zamboni, Fernando Boari, Joo Sete Whitaker
Ferreira, Katleen Chiang, Lgia Lupo.
Ficha tcnica
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de So Paulo - FAUUSP
Diretor Prof. Dr. Marcelo de Andrade Romero
Vice Diretor Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Leme
Laboratrio de Habitao e Assentamentos Humanos -
LABHAB FAUUSP
Coordenador Prof. Dr. Joo Sete Whitaker Ferreira
Pesquisa e desenvolvimento tcnico
Coordenao Geral
Prof. Dr. Joo Sete Whitaker Ferreira FAU/USP
Pesquisadores
Angela Seixas Piloto
Carolina Frignani
Juliana Petrarolli
Karina Oliveira Leito
Letcia Moreira Sgolo
Paulo Emlio Buarque Ferreira
Rafael Borges Pereira
Estagirios
Adrien Apoteker
Ana Teresa Carvalho
Daniela Zilio
Daniele Queiroz
Danilo Cesar R. Costa
Fernando Boari
Filipe Maciel Paes Barreto
Kathleen Chiang
Lgia Lupo
Tamires Lima
Reviso de Texto
Guilherme Salgado Rocha
Projeto Grfco
Helena Rios e Isabel Falleiros
Capa
design e montagem fotogrfca - LabHab
Editora
FUPAM - Fundao para a Pesquisa em
Arquitetura e Ambiente
Diretor Presidente
Prof. Dr. Pedro Taddei Neto
Diretor Vice-Presidente
Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo
Cooperao acadmica
Laboratrio Quap
. 4 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 5 .
Agradecimentos
Este livro o resultado de extensa pesquisa,
desenvolvida no curto espao de seis meses. Para chegar aqui,
o LabHab-FAUUSP teve a colaborao de muitas pessoas, a
quem no podemos deixar de agradecer.
Este projeto no teria sado do papel sem a participao
da Profa. Dra. Rosria Ono, do Departamento de Tecnologia
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que
nos sugeriu a realizao da pesquisa. Tambm no teria
sido possvel ir adiante se no tivssemos contado com a
inestimvel colaborao acadmica do Laboratrio Quadro do
Paisagismo no Brasil LabQuap, tambm da FAUUSP, e da
especial ateno dada pelos professores doutores Silvio Soares
Macedo, Eugnio Fernandes Queiroga e Fbio Mariz Gonalves
e sua equipe de pesquisadores. O LabQuap disponibilizou -
e ajudou-nos a selecionar - sem titubear, seu impressionante
acervo fotogrfco de vistas areas das cidades brasileiras. Sem
essas fotos, o livro no seria possvel, pois a melhor - talvez
nica - maneira de demonstrar o cenrio urbano brasileiro
por meio de imagens.
A experiente participao do Prof. Dr. Khaled Goubar,
chefe do Departamento de Tecnologia da FAUUSP, foi tambm
decisiva. Com o entusiasmo de um jovem pesquisador,
implicou-se intensamente com o trabalho, trazendo
informaes precisas e compartilhando seu excelente mtodo
- certamente um dos nicos no Brasil - de avaliao de custos
da construo.
No poderia deixar de agradecer especialmente
prpria equipe do LabHab, na sua equipe de professores,
em especial a Profa. Dra. Erminia Maricato, fundadora do
LabHab e sempre a primeira entusiasta das atividades que
nele se desenrolam. Devo especial considerao ao jovem
grupo de pesquisadores do LabHab que tomou parte nesse
processo. Estudantes de ps-graduao, jovens professoras e
professores, alunas e alunos, ex-alunas e ex-alunos, do curso
de graduao em Arquitetura e Urbanismo, todos com brilho
e competncia impressionantes, envolveram-se no projeto com
corao e mente de pesquisadores e urbanistas preocupados
com a realidade na qual atuam. deles a responsabilidade
por todo o bom contedo do livro, cabendo a mim, como
coordenador, a responsabilidade pelos eventuais erros.
Alm deles, o LabHab teve a sorte inestimvel de contar
com a ajuda de um grande grupo de pessoas, sensibilizadas
com a proposta e dispostas a contribuir para que ela desse certo,
fornecendo informaes de pesquisa, material iconogrfco,
analisando e revisando o trabalho, debatendo suas ideias,
ponderando nossas argumentaes. A elas, listadas abaixo,
quero transmitir, em nome de toda a equipe do LabHab, a
certeza de que sem sua ajuda nada do que aqui apresentado
teria sido possvel:
Adauto Lcio Cardoso, Beatriz Tone, Carla Sena, Claudia
Eloy, Eduardo Costa, Eduardo Ferroni, Eleusina Holanda de
Freitas, Ezequiel Angelo, Gabriela Ribeiro, Guilherme Petrella,
Guilherme Salgado Rocha, Helena Menna Barreto, Ins
Afonso, Joo de Campos Cruz, Jos Alves e Juliana Corradini,
Jos Baravelli, Juliana Chueri, Lizete Rubano, Lcia Shimbo,
Luciana Royer, Marcelo Scotini, Maria Lucia Refneti Martins,
Marlon Royet, Maurilio Lobato, Nabil Bonduki, Nuno Campos,
Patryck Carvalho, Paula Pollini, Paulo Eduardo Fonseca de
Campos, Raul Valls, Roberta Schumann, Roberto Sampaio,
Rodrigo Vicino, Themis Arago, e equipe da Usina CTAH.
Por fm, gostaramos de agradecer o apoio trazido
pela Fundao para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente -
FUPAM, que aceitou editar o livro, em especial os professores
Pedro Taddei, Jorge Bassani e Ricardo Marques. A Editora
da FUPAM adotou uma importante posio de promover a
difuso das pesquisas realizadas na FAUUSP, muitas delas
com o seu apoio, como neste caso. Assim, graas FUPAM
que este livro pde ter sua verso impressa, alm daquela
divulgada amplamente por meio eletrnico.
Prof. Dr. Joo Sete Whitaker Ferreira
Coordenador do LabHab-FAUUSP
. 6 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 7 .
Apresentao
A pesquisa que embasou a elaborao desta publicao
foi iniciada em 2010 e partiu de uma inquietao: no bojo de
um ciclo de crescimento econmico nacional bastante slido,
que implica uma intensa atividade da construo civil na
rea habitacional, esto sendo construdos nas nossas cidades
prdios e mais prdios, sem qualquer critrio. Novos bairros
crescem Brasil afora em meio a uma espcie de euforia
construtiva, mas no parece haver o cuidado necessrio
com a qualidade urbana resultante, a injustia social que
nossas cidades produzem, tampouco os impactos desse
crescimento sobre o meio ambiente. Em outras palavras, o que
nos preocupava era o seguinte: que tipo de cidades estamos
construindo para as geraes futuras?
Embora o aquecimento da construo civil ocorra
tambm no mercado de alto-padro, sempre o preferido dessa
atividade, e na produo pblica de habitao social, destinada
s faixas de renda mais baixa, a radiografa do fenmeno mostra
que ele se d sobretudo na produo para a classe mdia, no
chamado segmento econmico. A eliminao, a partir de
2006, de alguns gargalos administrativos e institucionais,
dando maior segurana jurdica e fnanceira ao setor da
construo, e levando a signifcativo aumento do crdito
imobilirio, associada ao crescimento da economia nacional,
deu oportunidade de acesso ao fnanciamento habitacional a
uma parcela da populao antes aliada dessa possibilidade,
aquecendo de forma indita a oferta de moradia para as
camadas de renda intermediria. Some-se a isso o lanamento,
em 2009, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV),
com o objetivo de enfrentar a crise econmica justamente por
meio da dinamizao da atividade da construo civil.
Porm, esse signifcativo impulso da construo
ocorre de forma preocupante: em todo o pas, novos bairros
surgem em reas distantes e sem urbanizao, alinhando
centenas de casas idnticas e minsculas, ou enfleirando
torres habitacionais com sofrvel padro construtivo, e grande
impacto sobre o meio ambiente. Em face disto, a pergunta que
nos vem naturalmente : quais os resultados que essa produo
provocar no cenrio urbano brasileiro nos prximos anos?
Estaramos promovendo uma urbanizao adequada
para que as prximas geraes usufruam de uma boa qualidade
de vida, qualquer que seja sua classe social?
O LabHab-FAUUSP trabalha com mais frequncia a
questo da moradia social e dos assentamentos precrios de
baixa renda, embora se preocupasse h algum tempo tambm
com a faixa de mercado do segmento econmico, tendo
inclusive promovido, ainda em 1997
1
, um seminrio sobre a
questo. O desafo era to instigante que resolvemos retomar
esse tema e tentar de alguma maneira contribuir para seu
entendimento.
A melhor forma de faz-lo, no mbito das nossas
competncias acadmicas e de pesquisa, foi empenharmo-
nos na elaborao deste livro. Uma publicao que expusesse
uma ampla pesquisa levantando pelo Pas afora a produo
imobiliria do segmento econmico, fosse ela no mbito
do Programa Minha Casa Minha Vida ou no. O que nos
preocupava era analisar, ilustrando com imagens
2
, a produo
do mercado, a partir de pesquisa sobre as incorporadoras,
construtoras e vendedoras atuantes neste segmento, apontando
os principais problemas que, a nosso ver, vm caracterizando
a produo do setor, salvo raras excees. Queramos, a
partir disso, identifcar as limitaes e impactos possveis
para as cidades, bairros e moradores e ento apresentar aos
leitores os parmetros do que poderamos chamar de uma
boa urbanizao, assim como, por outro lado, mostrar
alternativas reais de projetos arquitetnicos e urbansticos de
melhor qualidade.
A pesquisa resultou ento no presente livro, realizado
com o apoio da Fundao para a Pesquisa em Arquitetura e
Ambiente FUPAM.
No Captulo 1 - Que cidade queremos para as geraes
1 Sob a coordenao de Erminia Maricato, Professora Titular da FAUUSP
e na poca coordenadora do LabHab.
2 Para esse trabalho, conforme j mencionado, contamos com o apoio im-
prescindvel de outro laboratrio de pesquisa da FAU USP, o LabQUA-
P, coordenado pelo Prof. Dr. Silvio Soares Macedo, que permitiu-nos
utilizar seu rico acervo de imagens areas, feitas nas mais diversas ci-
dades do pas e que prontamente disponibilizou-se a ced-las para esta
pesquisa.
. 8 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
futuras? O trgico quadro urbano no Brasil do sculo XXI:
cidades cindidas, desiguais e insustentveis, discute-se o
problemtico e injusto modelo urbano brasileiro, e a necessidade
premente de mudana de paradigmas para a construo de
cidades mais justas e democrticas. A partir da constatao da
ausncia dos arquitetos como agentes de deciso nos atuais
processos de produo habitacional, refete-se tambm nesse
captulo sobre o que seria entendido como boa arquitetura
que, por sua vez, no existe sem boa urbanizao.
No Captulo 2 - Segmento Econmico e o Programa
Minha Casa Minha Vida: regras do jogo, agentes envolvidos
e impactos decorrentes, analisa-se o Programa Federal Minha
Casa Minha Vida, que responde por parte importante da atual
produo voltada ao segmento econmico. A verdade que
o aquecimento desse mercado iniciou-se antes do programa,
e certamente continuar, atrelado ou no a ele. Ainda assim,
indiscutvel tambm que, desde 2009, o PMCMV tornou-se
a locomotiva da produo habitacional do Pas, em indito
esforo de enfrentar a questo da moradia. Por isso, e at mesmo
como contribuio, este livro no poderia deixar de analis-lo,
mais especifcamente na sua vertente voltada justamente para
as camadas de renda at dez salrios mnimos, que constituem
o perfl do segmento econmico. Assim, so destacados nesse
captulo os principais elementos a respeito do programa e
abordadas responsabilidades, atribuies e limitaes das
atuaes de cada um dos agentes envolvidos.
Em seguida o livro radiografa a produo do segmento
econmico, evidenciando seus desastrosos resultados.
Para isso, no Captulo 3 Retrato da atual produo do
segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica
e arquitetnica, so elencados parmetros de qualidade
urbanstica e arquitetnica, que possibilitam analisar a atual
produo do segmento econmico e vislumbrar alternativas
de boas solues para os projetos em curso. Analisam-se
os empreendimentos habitacionais a partir de questes
tcnicas, evidenciando os problemas existentes, e indicando os
parmetros a respeitar para alcanar melhores resultados. luz
desses parmetros, e tambm para ilustr-los, so apresentados
bons exemplos de projetos habitacionais, referncias nacionais
e internacionais, em seus aspectos urbansticos e arquitetnicos.
Mas se h na histria da arquitetura referncias
interessantes de bons empreendimentos habitacionais,
interessava-nos mostrar que isso tambm possvel dentro das
condicionantes atuais que norteiam a produo habitacional
brasileira.
Por isso, no Captulo 4 - Proposies Arquitetnicas
e Urbansticas para trs empreendimentos do segmento
econmico - propusemos a trs escritrios de arquitetura
com renomada experincia na rea habitacional, que
projetassem solues arquitetnicas e urbansticas para trs
empreendimentos hipotticos, com condicionantes semelhantes
ao do segmento econmico. Os projetos apresentados pelos
escritrios Arquiteto Hector Vigliecca e Associados, Piratininga
Arquitetos Assossiados e Peabiru Trabalhos Comunitrios e
Ambientais, evidenciam que o quadro crtico anteriormente
comentado teria outros horizontes possveis, mais promissores
para as nossas cidades. A ideia das simulaes e proposies
equacionar aspectos emblemticos da produo atual que
impactam negativamente o desenvolvimento habitacional e
urbano, revelando melhores solues. Fomos tambm movidos
por outra curiosidade: como um escritrio de arquitetura,
tambm de renome, mas estrangeiro, imerso na realidade
europia e longe dos constrangimentos de custos, legais ou
de toda ordem que afetam os projetos por aqui, responderia
ao mesmo desafo. Por isso convidamos o escritrio belgo-
noruegus JDS Architects a dar resposta conceitual a uma
das situaes hipotticas sugeridas. Por fm, para o caso das
trs primeiras propostas, a anlise dos custos desses projetos,
feita sob a consultoria do arquiteto Khaled Goubar, professor
titular da FAUUSP e especialista no tema, permitiu verifcar a
viabilidade dos projetos apresentados.
A partir do ponto de vista de um laboratrio de pesquisa
habitacional inserido em uma universidade pblica, este
livro retrata uma preocupao cidad: a do futuro das nossas
cidades. Esperamos que tenham boa leitura!
. 9 .
1. Que cidade queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano no Brasil
do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis.
2. Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida. Regras do jogo, agentes
envolvidos e impactos decorrentes
3. Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade
urbanstica e arquitetnica
4. Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento
econmico
Consideraes fnais: possvel evitar um novo drama urbano no Brasil?
Bibliografa
Crdito das imagens
11
39
59
127
187
191
195
Sumrio
. 10 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 11 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Quem passeia por qualquer grande metrpole brasileira
difcilmente deixa de notar que h ali algo de errado: bairros
ultrassofsticados, que no deixam nada a desejar em relao s
grandes cidades desenvolvidas, cotejam favelas que amontoam
gente em condies indignas de vida. Caminhando para as
periferias, casas e barracos se estendem em um horizonte sem
fm. Seus moradores, remetidos a um exlio forado em sua
prpria cidade, perdem horas do dia em nibus apertados. Os
que tm carro, por sua vez, fcam tambm imobilizados, tal o
colapso do trnsito. Contrastando com o abandono das reas
centrais, nos bairros de classe mdia emergem novos prdios a
cada dia, com nomes bonitos, geralmente em ingls ou francs,
a oferecer o conforto relativo de apartamentos cada vez mais
apertados, porm sempre mais caros. Quem passeia nas
nossas cidades sente a pesada poluio do ar, e estar sempre
apreensivo pela possibilidade de v-la sucumbir, em questo
de minutos, a uma tromba dgua. Defnitivamente, h algo de
inquietante no cenrio urbano brasileiro.
Por que chegamos a isso? Qual a possibilidade
de termos, no Brasil, cidades menos problemticas? O
planejamento urbano, essa cincia que se prope a organizar
as cidades, teria sido no Brasil inexistente ou terrivelmente
incuo? Tais questes no so de simples resposta. As cidades
so a expresso espacial das relaes econmicas, polticas
e culturais de uma sociedade e sua histria. Por isso, so
naturalmente espao de confitos e tenses. verdade que a
civilizao humana persegue a confgurao harmoniosa de
seus assentamentos provavelmente desde que nos tornamos
seres sedentrios, e supostamente caberia aos arquitetos e
urbanistas a difcil tarefa.
Querer desenhar as cidades seguindo um projeto de
sociedade idealizado, conforme as vontades dos arquitetos e as
1
Que cidade queremos para as geraes futuras?
O TRGICO QUADRO URBANO NO BRASIL DO SCULO XXI:
CIDADES CINDIDAS, DESIGUAIS E INSUSTENTVEIS.
. 12 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
crenas urbansticas de cada momento, no signifca, porm, que se esteja construindo
a cidade ideal: a histria do pensamento urbanstico marcada pela polmica entre a
crena de que o desenho racional seja capaz de produzir os melhores espaos para se
viver e, por outro lado, a de que as cidades devem crescer naturalmente, conforme as
dinmicas sociais prprias, e sem a interveno to decisiva dos urbanistas.
Decorre desse dilema a sensao de que, talvez, no seja simplesmente possvel
desenhar a cidade ideal. Sua confgurao, seu desenho, sua efccia como abrigo
e local de produo e reproduo social, sua capacidade de promover qualidade de
vida dependero de cada contexto, das correlaes de foras presentes, do momento
histrico, das dinmicas sociais e econmicas. E, sendo as cidades espaos de confitos e
arranjos entre os diversos atores sociais, o que ideal para uns no o ser, certamente,
para outros.
A civilizao humana mostrou-se dramaticamente efcaz em gerar sociedades
desiguais, e por isso sempre produziu espaos tambm desiguais. Da cidade antiga
s metrpoles industriais, passando pelos burgos medievais ou paradisacas cidades
litorneas, fosse por motivos religiosos, econmicos ou militares, os poderosos do
momento sempre se benefciaram, ao longo da histria, dos melhores lugares para
viver. E o desenho dos urbanistas pde servir, paradoxalmente, tanto para garantir-lhes
esses privilgios, em algumas pocas, como para tentar combat-los ou remedi-los,
em outras. Por isso, a primeira constatao que se pode fazer a de que, face trgica
desigualdade que marca as cidades brasileiras, o principal objetivo do urbanismo deve
ser, antes de tudo, o de garantir cidades mais justas. Em outras palavras, cidades que
ofeream, sem diferenciao, qualidade de vida para todos os habitantes, nos dias
de hoje e para as geraes futuras. O equilbrio urbano, entretanto, s ser possvel
quando se conseguir erradicar a misria, que se expressa nos assentamentos informais
desprovidos do atendimento s necessidades mnimas para se viver com dignidade.
1.1a e 1.1b. Autoconstruo informal
comum s favelas das metrpoles
brasileiras. Imagem de Paraispolis e
Jardim ngela, respectivamente, na cidade
de So Paulo-SP, a primeira inserida
na cidade formal (bairro do Morumbi),
a outra na periferia Sul. Observa-se a
precariedade dos assentamentos: casas de
alvenaria inacabada ou mesmo de tbua,
alta densidade com sobreposio de casas,
falta de arruamento e pavimentao, faes
eltricas informais, implantao em declive
acentuado, falta de equipamentos pblicos
e reas verdes.
1.1a
1.1b
. 13 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Quem olha para as periferias pobres brasileiras certamente constatar que seu
padro de urbanizao bastante problemtico. O abandono pelo Estado e a consequente
falta de polticas pblicas e de alternativas habitacionais levam a populao a construir
informalmente sua prpria casa, muitas vezes em encostas inseguras, em reas de
mananciais ou em beiras de crregos de grande fragilidade ambiental. As marcas dessa
urbanizao so a alta vulnerabilidade s calamidades naturais, a falta de perspectivas
de trabalho prximo residncia, a ausncia de transportes e de conexo com as reas
mais centrais, a falta de equipamentos de educao e sade, e a violncia, que aumenta
na mesma proporo em que o Estado se faz ausente. Isso no signifca, evidentemente,
que se deve simplesmente passar por cima de genunas formas de urbanidade e de
morar que surgem na favela, e que s vezes se perdem nos bairros privilegiados. Mas
as eventuais qualidades desaparecem face gravidade das defcincias, dentre as quais
a falta de infraestrutura mnima bsica certamente a mais gritante.
Porm, a discusso sobre os problemas urbanos no se resume a observar
apenas a trgica situao dos assentamentos precrios como se, em contrapartida, as
regies mais ricas das cidades fossem naturalmente bem resolvidas. Nada mais falso:
os bairros abastados nem sempre apresentam situao urbanstica melhor, mesmo com
todos os investimentos, servios e equipamentos que recebem. Ao contrrio, muitas
vezes as solues urbanas e arquitetnicas que adotam resultam em reas de pssima
qualidade, pela forma com que se isolam do restante da cidade e pelos prejuzos
ambientais que causam. Alm do mais, esse raciocnio esconde uma viso dicotmica
da cidade, como se cada lado o rico e o pobre existisse por si s, independentemente
do outro, quando na verdade ambos interagem e se autoalimentam, numa dinmica de
codependncia, para o bem ou para o mal. Por isso, mesmo nas reas mais privilegiadas,
aquilo que vem sendo apresentado como modelo de sucesso urbano infelizmente est
longe de s-lo.
Quais os problemas urbanos a enfrentar?
. 14 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Do ponto de vista das infraestruturas de transporte, por exemplo, nossas
cidades so marcadas por um padro de urbanizao que historicamente privilegiou o
automvel, seja por interesses econmicos, seja pelo fato de que o carro , para quem
pode compr-lo, o meio de transporte aparentemente mais cmodo, e por isso mais
demandado. O favorecimento ao automvel se explicita nos bairros mais ricos, onde
se multiplicam avenidas, pontes e viadutos. Os investimentos nessas obras virias
so marcadamente superiores aos investimentos em transporte pblico, e no raro
que nos tneis e viadutos os nibus sejam simplesmente proibidos. Uma contradio
alarmante quando vemos que, na Regio Metropolitana de So Paulo, por exemplo,
as viagens feitas pelo modo individual (carro ou txi), embora to privilegiadas nos
investimentos, representam apenas 31% do total de viagens dirias, sendo que 36% so
feitas por transportes coletivos, e impressionantes 33% so feitas a p!
1
A ideia de que o automvel a melhor soluo para o transporte, alm de
injusta, falsa verdade, pois, em longo prazo, a opo pelo transporte individual
promove o colapso virio e a saturao do sistema, alm da altssima poluio. Basta
lembrar que, como o automvel , na maioria das vezes, usado por uma nica pessoa,
um nico nibus equivale ao espao ocupado, nas ruas, no mnimo por cerca de 50
carros. Cidades com bons sistemas de transporte pblico rpido de massa oferecem,
sem dvida, qualidade de vida signifcativamente maior a seus moradores.
Destaca-se que a poluio do ar mata por ano cerca de 11 mil pessoas de mais
de 40 anos nas seis maiores cidades do pas (Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro e So Paulo). Com isso, estima-se que 1 bilho de dlares sejam
despendidos anualmente pelo Sistema nico de Sade (SUS) em tratamentos de
1 Pesquisa OD Metr-SP, 2007.
1.2. Exemplo de urbanizao que privilegia
o automvel. Complexo Virio Joo Jorge
Saad, conhecido como Cebolinha na cidade
de So Paulo-SP. Destaca-se a ausncia de
caladas e passarelas que possibilitem um
deslocamento seguro e a transposio das
avenidas pelos pedestres.
1.2
. 15 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
doenas associadas direta ou indiretamente poluio. O aumento de 10 microgramas
de agentes poluentes por metro cbico de ar gera uma ampliao de 2% na taxa de
mortalidade dos habitantes da zona oeste de So Paulo, enquanto na zona leste, mais
pobre, esse aumento ainda mais trgico, atingindo 12%. O menor nvel socioeconmico
, portanto, um fator agravante do efeito nocivo da poluio.
2
Se nos bairros ricos e mais centrais no faltam avenidas, tneis e viadutos, as
periferias contam geralmente com sistema virio precrio, servido por transporte
insufciente, nas grandes metrpoles e nas cidades mdias. A combinao do
espraiamento urbano informal com a falta de transporte efciente condena os moradores
mais pobres a verdadeiro exlio na periferia, enquanto o aumento contnuo das frotas
de automveis leva as cidades ao colapso virio.
2 Todos os dados de acordo com o Laboratrio de Poluio Atmosfrica Experimental da Universi-
dade de So Paulo (SALDIVA, P. H. N. et al, 2009).
1.4
1.3
1.3. Avenida do Estado, So Paulo:
canalizao do rio, vias expressas e trnsito
intenso.
1.4. Predomnio do automvel no
processo de urbanizao brasileiro.
Congestionamento em So Paulo, cuja frota
deve atingir, ainda em 2011, os sete milhes
de automveis.
. 16 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A opo pelo automvel casa-se com a engenharia urbana que preferiu
tamponar ou canalizar os rios e crregos das cidades para, em seu lugar, e dos parques
e margens aprazveis que poderiam oferecer, construir vias expressas de fundo de
vale. A interferncia nos regimes de gua naturais, causada pela impermeabilizao do
solo, decorrente no s das obras virias, mas tambm da livre construo de subsolos
em edifcios comerciais e residenciais, to radical que, a cada ano, nos meses de
chuva, vemos as cidades, dos bairros nobres s periferias, tomadas por enchentes e
alagamentos descontrolados.
Mas a falta de espaos verdes, parques e reas de lazer, na prtica, pouco afeta
os moradores dos bairros mais ricos, pois impera o modelo de construo no qual os
condomnios privados oferecem, em seu interior e de forma exclusiva, piscinas, rvores
e reas de lazer. A lgica de construir condomnios com muros e cercas que se isolam,
ao invs de se abrir para a cidade, produz malha urbana segmentada, pouco fuida,
e que vai aos poucos aniquilando a possibilidade de espaos pblicos de qualidade.
Praas, jardins e rvores por que, se possvel ter tudo isso de maneira exclusiva, no
condomnio?
Some-se a verticalizao excessiva e no regulamentada nem planejada, por
fora de legislao por demais condescendente, que permite que se levantem prdios
sem saber os impactos sobre a rua, ou se h capacidade de infraestrutura para eles,
como suporte virio sufciente para os carros dos moradores, sistemas de esgotamento
e drenagem das guas etc.
O mpeto do mercado imobilirio em construir novos bairros de edifcios
residenciais muitas vezes expulsa outros usos, como o comrcio local de pequeno porte,
e destri confguraes antigas mais ricas, mais harmoniosas, mais vivas. O exemplo
dos grandes condomnios fechados, que se tornaram moda nas ltimas dcadas, mais
um indicativo da forma preocupante como se resolve, no Brasil, a moradia da populao
mais rica, criando modelo depois reproduzido nos empreendimentos econmicos.
1.5a. Modelo de urbanizao que privilegia
o automvel, a canalizao de crregos e
a construo de vias expressas de fundo
de vale. Imagem da Avenida do Estado
na cidade de So Paulo-SP. possvel
observar que o rio Tamanduatei perde sua
relao com a cidade, suas caractersticas
paisagsticas e de contemplao e lazer. A
cidade privada de seus rios.
1.5b. Exemplo de rio natural na cidade
de Edogawa, Japo: reas permeveis
permitindo a expanso do rio em pocas de
chuva, passeios arborizados e privilgio ao
pedestre.
1.5c. Paris-Plage: projeto anual de uso do
Rio Sena, em Paris, nos meses de vero.
A cidade reconquistando seu rio: uso
das margens para atividades de esporte,
recreao e lazer.
1.5a
1.5b 1.5c
. 17 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
1.7. Condomnios horizontais privados em Campinas-SP. O modelo
de condomnios horizontais fechados no atende s normas de
parcelamento do solo e loteamentos. possvel observar o impacto de
grandes reas muradas na fuidez urbana da cidade.
1.8. So Paulo-SP: verticalizao excessiva em bairro originalmente
assobradado. possvel observar, alm da disparidade entre os
altssimos edifcios e a ocupao existente do bairro, a relao
da nova densidade com o porte das ruas. Percebe-se tambm a
impermeabilizao de todo o trreo, ocupado por estacionamentos
subterrneos, contrapondo-se ao jardim interno permevel do imvel
vizinho, na foto encoberto pelas torres.
1.7 1.8
1.6
1.6. Proposta ilustrativa de bom uso da margem do rio.
. 18 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
O RESULTADO DESSE MODELO DE CRESCIMENTO
SE ESCANCARA NOS TELEJORNAIS A CADA
GRANDE CHUVA DE VERO, NAS SECAS DE
INVERNO, NAS SADAS DE FERIADO: NOSSAS
GRANDES CIDADES SO POLUDAS, IMOBILIZADAS
PELOS CONGESTIONAMENTOS, VULNERVEIS S
ENCHENTES, PROPCIAS VIOLNCIA URBANA
PELO DEMASIADO NMERO DE RUAS ERMAS
E ISOLADAS POR MUROS INTERMINVEIS DE
CONDOMNIOS, ESPAOS ABANDONADOS,
PRAAS ESQUECIDAS. SEUS MORADORES TM
MEDO DE SAIR, TM MEDO DA CIDADE. A
METRPOLE BRASILEIRA, PARA RICOS OU PARA
POBRES, UMA VIOLNCIA.
Foge-se das cidades insustentveis que ns mesmos
produzimos, desiste-se da vida de bairro na sua acepo
mais tradicional, para se construir outros bairros exclusivos,
isolados, segmentados, e sem nenhum dos aspectos que
garantiriam riqueza e qualidade da vida urbana: diversidade
de usos, comrcios, nveis de renda, volumetrias, a alternncia
de quarteires construdos com praas ou equipamentos
acessveis a todos, ruas pblicas bem servidas pelo transporte
de massa. Aspectos que trazem grande qualidade, mas que
infelizmente esto sumindo das nossas cidades.
Exemplos disso so justamente os bairros nobres,
exclusivamente residenciais, por onde no se anda noite sem
certa preocupao: sequncia de muros, cercas e guaritas, e
ausncia de comrcios, pessoas e, portanto, de vida urbana,
intimidam e afugentam o transeunte.
O movimento mostra-se ainda mais incoerente quando
vemos que ao mesmo tempo em que forescem os condomnios
fechados distantes, e que se espalham os bairros pobres
informais na periferia, o centro das cidades, ao contrrio, se
esvaziam. Prdios e mais prdios nas reas centrais de todas
as nossas grandes cidades so mantidos vazios, espera de
alguma valorizao. Chega-se ao cmulo de hoje o Brasil ter
cerca de 6 milhes de domiclios residenciais vagos
3
, nmero
comparvel ao dfcit habitacional do pas, que gira em torno
de 5,8 milhes de moradias.
4
3 IBGE, 2010.
4 Fundao Joo Pinheiro, 2008.
1.9. Condomnio de alto padro em
Campinas-SP. possvel observar que o
condomnio potencializa o bairro como
um espao exclusivo e isolado, que por ser
murado e no possuir uso misto segmenta
a cidade e diminui a qualidade de vida
urbana.
1.9
. 19 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
1.10a e 1.10b. So Paulo-SP: exemplo de edifcios vazios em reas
centrais com infra-estrutura, emprego, comrcio, equipamentos
pblicos, que possibilitariam qualidade de vida urbana caso fossem
utilizados como edifcios residenciais.
1.10a 1.10b 1.11
1.12b 1.12a
1.11. Edifcio habitacional em uso, na Rua Sta. Efgnia, So Paulo-SP. A
falta de polticas especfcas de incentivo habitao no centro, assim
como de fscalizao, leva a situaes de degradao acentuada, pela
difculdade dos moradores de faixa de renda baixa em atender os gastos
condominiais de manuteno.
1.12a e 1.12b. Urbanizao com acentuada verticalizao nas metrpoles
brasileiras. So Paulo-SP (a) e Salvador-BA (b).
. 20 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ocorre que, para o bem ou para o mal, as cidades so hoje o local de vida da
maioria dos brasileiros. A taxa de urbanizao do pas passou de 30%, em 1940, a mais
de 80%, muito prxima dos pases desenvolvidos, de formao urbana muito mais
antiga. Segundo o IBGE, neste incio de sculo, as 12 regies metropolitanas e demais
cidades com mais de 350 mil habitantes abrigam cerca de 50% da populao urbana e
respondem por 65% do PIB nacional. Assistimos exploso das cidades mdias, que
tm entre 100 mil e 2 milhes de habitantes, e cuja populao pulou, em dez anos, de
36% para 40% do total de habitantes do pas.
Mas o fenmeno, infelizmente, ocorre segundo os dramticos padres de
urbanizao acima descritos. Ou seja, o crescimento urbano, mesmo motivado por
ciclo econmico virtuoso, gera paradoxalmente a queda da qualidade de vida, quando
ocorre dentro de lgica urbanisticamente nociva. Assim, tanto nas grandes metrpoles
como nas cidades mdias, a exploso econmica e urbana no as mudou para melhor,
mas, ao contrrio, parece ter piorado os efeitos negativos.
Isso porque a valorizao da terra nas reas com infraestrutura, decorrente do
crescimento econmico e das atividades da construo, com a reteno de lotes e a
consequente difculdade de acesso, alimenta o crculo vicioso que difculta a moradia
para os mais pobres: sobram para eles a soluo dos cortios, favelas ou loteamentos
informais cada vez mais distantes, at que s lhes reste como opo a ocupao de reas
protegidas ambientalmente. reas onde, em suma, nem o mercado e nem o Estado
podem construir, dando a essa populao certa tranquilidade, com menos presso
para sua expulso.
Em 2006, o mercado imobilirio sofreu importantes mudanas, ampliando o
papel de protagonismo nas transformaes urbanas no pas. Medidas institucionais
de diversas naturezas contriburam para promover segurana jurdica e fnanceira
ao setor. A signifcativa ampliao do crdito e o fm de gargalos administrativos e
A exploso das cidades na virada do sculo
1.13. Ocupao de assentamentos
informais e precrios em reas protegidas
ambientalmente, em mananciais na
Zona Sul de So Paulo-SP, como nica
possibilidade de moradia para a populao
de baixa-renda.
. 21 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
1.13
. 22 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
1.14a e 1.14b. Ocupao de assentamentos
informais e precrios em reas protegidas
ambientalmente, em beira de igarap
em Manus-AM e no bairro Nordeste de
Amaralina em Salvador-BA.
1.15a a 1.15c. Exemplo do recente
crescimento da construo civil no Brasil,
em Rio Branco-AC (a), Campinas-SP (b)
e Manaus-AM (c). possvel observar a
escolha de terrenos em reas de expanso
afastadas dos centros urbanizados, a
construo em larga escala, com repetio
de tipologias, assim como o impacto
ambiental dos empreendimentos, tanto na
mata quanto em orlas martimas.
1.14a
1.14b
1.15a
1.15b
. 23 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
institucionais trouxeram maior disponibilidade fnanceira
ao mercado da construo. As grandes construtoras, a partir
daquele ano, abriram capital na Bolsa de Valores, atraindo
ainda mais investimentos, inclusive internacionais. A
construo civil explodiu, como ocorrera na dcada de 1970,
no auge do milagre econmico.
A ao do mercado imobilirio privado no Brasil,
entretanto, sempre se voltou preponderantemente para as
camadas de mais alta renda. As polticas pblicas de moradia,
por sua vez, no eram desenhadas para atender efetivamente
aos mais pobres, e assim as classes mdia e mdia baixa,
sem oferta de moradias pelo mercado, drenaram para si os
fnanciamentos pblicos destinados moradia social. Ao longo
da segunda metade do sc. XX, a poltica habitacional brasileira,
mesmo quando foi pouco mais signifcativa, nunca atendeu
efetivamente populao com renda abaixo de cinco salrios
mnimos. Por isso, alis, que essas faixas de renda concentram
hoje cerca de 90% do dfcit habitacional brasileiro
5
. As classes
mdias, entretanto, acessaram os fnanciamentos pblicos do
FGTS e provocaram o impulso de verticalizao ocorrido nas
grandes metrpoles nas dcadas de 1970 e 1980.
As mudanas ocorridas a partir de 2006 alteraram o
quadro. Em decorrncia do aumento signifcativo do crdito, o
mercado imobilirio, pela primeira vez, comeou a deslocar de
forma mais consistente a sua oferta para as chamadas classes
mdias, com renda mensal entre 6 e 15 salrios mnimos
(classe C, segundo a classifcao do IBGE), at mesmo porque
a disponibilidade de dinheiro para investir extrapolava o
limitado universo dos empreendimentos de alto padro.
5 Fundao Joo Pinheiro, 2008.
1.15c
. 24 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
SURGIU NOVO PERFIL DE MERCADO, DENOMINADO PELAS CONSTRUTORAS DE
SEGMENTO ECONMICO. PRATICAMENTE TODAS AS GRANDES EMPRESAS
DO SETOR CONSTITURAM FILIAIS ESPECFICAS PARA ATEND-LO.
1.16a a 1.16d. Exemplo de construes feitas para o segmento
econmico pelas construtoras. Imagens areas da cidade de
Campinas-SP (a,b), Manaus-AM (c) e Porto Alegre-RS (d).
1.16a 1.16b
. 25 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Em razo dos temores quanto aos efeitos no Brasil da crise econmica global de
2008, o governo federal lanou ambicioso programa para aquecer ainda mais o setor da
construo civil, potencialmente capaz de dinamizar a economia nacional face ameaa
da crise. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), plano habitacional anunciado
com o objetivo de promover a construo de 1 milho de casas, veio corroborar o novo
cenrio do mercado imobilirio brasileiro. O programa contempla, por um lado, o
atendimento s camadas de renda abaixo de trs salrios mnimos, com volume indito
de subsdios pblicos para essa faixa e, por outro lado, a construo, pelo mercado, de
moradias para as faixas de renda acima de trs salrios mnimos, com mecanismos de
facilitao da viabilidade fnanceira, que envolvem tambm alguns subsdios pblicos.
Ainda que no seja a nica forma de produo habitacional para as classes de renda
intermediria, o programa acabou englobando, na conjuntura atual, a quase totalidade
da produo do chamado segmento econmico.
Porm, se nas faixas de renda abaixo de trs salrios mnimos, a produo
bastante regulamentada, e envolve diversos agentes operadores pblicos, como
prefeituras, companhias de habitao e o prprio rgo fnanciador, a Caixa
Econmica Federal, no mbito do segmento econmico, entretanto, a construo das
novas moradias ocorre com muito mais liberalidade. Se nas faixas de renda baixa as
exigncias de qualidade mnima j no so muito drsticas, observa-se que os padres
de qualidade estabelecidos para o segmento econmico so excessivamente brandos.
Assim, observa-se que o que est sendo construdo pelo pas afora, e que molda a nova
face das cidades brasileiras, produo de qualidade muito duvidosa. Cenrio bastante
preocupante, que este livro apresenta e analisa.
1.16c 1.16d
. 26 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
1.17
. 27 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Face descrio to dramtica do cenrio urbano brasileiro, cabe certamente a
pergunta: de quem a responsabilidade? A resposta no simples e, sobretudo, no
deve ser individualizada. Ela resultado de dinmica histrica e social, coletiva, que
envolve grande nmero de agentes, e tem provavelmente como um de seus pontos
cruciais a questo da terra.
De fato, na balana do poder poltico e econmico, e isso desde o Brasil Colnia,
o acesso terra rural e urbana sempre foi controlado pelos segmentos dominantes e
difcultado aos grupos sociais mais vulnerveis. Na era do Brasil urbanizado, a questo
ainda central. A reteno de terras vazias e ociosas em reas com infraestrutura, como
parte das dinmicas de investimentos do setor imobilirio, contrasta com os enormes
contingentes populacionais sem alternativas de moradia, empurrados para as periferias.
Dentre os diversos atores que compem a nossa dinmica social, os segmentos
mais pobres de nossa populao talvez sejam os nicos cuja responsabilidade deve ser
amenizada pelo fato de que sofrem de correlao de foras bastante injusta, embora
seja a eles imputada, tantas vezes, a culpa por ocuparem reas indevidas. Porm,
em relao ao que se refere ao respeito do direito moradia, garantido no artigo 6
da Constituio, a maior responsabilidade est na falta de alternativas de habitao
oferecidas pelo mercado e Estado, que, como j se afrmou, empurram esse grupo
social para os assentamentos precrios das periferias, justamente as reas menos
valorizadas. Excetuado esse segmento, os demais agentes sociais certamente dividem,
voluntariamente ou no, em maior ou menor grau, parcela mais importante da
responsabilidade.
Em primeiro lugar, cabe analisar o papel do Estado. Diversos intrpretes
da sociologia brasileira mostraram que no nosso pas o conceito de pblico no
exatamente fel ao signifcado original, que do povo. O Estado pblico brasileiro
construiu-se historicamente tratando o bem de todos como o bem de alguns, mais
poderosos
6
. A equao afetou dramaticamente o modelo da nossa urbanizao. Ao longo
6 MARICATO (2001)
De quem a responsabilidade?
1.17. Contraste social no acesso moradia:
edifcio de luxo no bairro Jardim Leonor ao
lado da favela Paraispolis (So Paulo - SP).
. 28 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
de sculos, as reas das cidades, as mais abonadas, foram
claramente privilegiadas nos investimentos pblicos
urbanos, o que se deve incorreta e injusta priorizao dos
gastos do Estado. Caberia a ele legislar, regular e controlar a
ocupao do territrio de toda a cidade, das edifcaes formais
e informais, prevenindo, fscalizando, oferecendo alternativas
de moradia ou at mesmo punindo quando necessrio, mas
sempre visando organizao de cidades para todos os
habitantes.
Mas, no mbito urbanstico, no o que ocorre. No
se pode dizer que no haja, no Brasil, planejamento urbano.
Muito pelo contrrio, temos leis e planos em abundncia. Mas
fcil constatar que o planejamento foi feito privilegiando
alguns grupos sociais
7
. o que acontece quando se constata
que as polticas de transporte urbano privilegiam o automvel
individual e no o transporte pblico, na contramo de todas
as grandes cidades desenvolvidas. O carro opo de conforto
da classe mdia e locomotiva econmica da indstria, mas a
opo preferencial por esse meio levou, em longo prazo, ao
atual colapso virio das nossas metrpoles.
A ocupao do territrio segue a mesma lgica: quando
reas indevidas so ocupadas por anos a fo, isso ocorre
geralmente sob o olhar condescendente do Estado, que no
7 FERREIRA (2011)
fscaliza. Tal fenmeno acontece, sobretudo, nos bairros pobres
de periferia, onde o descaso do Estado se reverte na soluo
da autoconstruo em reas muitas vezes inadequadas. Mas a
ocupao indevida tambm afeta as reas mais ricas, nas quais
existem leis e regulao urbanstica em muito maior nmero.
reas litorneas preservadas so ocupadas por grandes
empreendimentos hoteleiros, encostas ngremes frente ao mar
recebem manses, bairros inteiros de sobrados habitacionais
so verticalizados da noite para o dia pela ao do mercado
imobilirio, e assim por diante. Nesses casos, o favor,
clientelismo e muitas vezes a corrupo, que ainda marcam
negativamente a realidade dos nossos municpios, resultam
em permissividade com dramticos resultados urbansticos.
No que diz respeito infraestrutura urbana, como
transporte pblico, pavimentao das ruas, saneamento,
energia eltrica, se determinados empreendimentos so
construdos sem que ela exista, essa , sem dvida, questo
que deveria competir ao Estado. De fato, no se pode culpar os
empreendedores por construrem em locais sem infraestrutura
urbana mnima, mas sim o poder pblico municipal, que
autoriza a obra em locais inadequados.
Porm, tais responsabilidades devem ser
compartilhadas. Pois o mercado imobilirio e o da construo
civil, por sua vez, fazem a sua parte, ao colocar quase sempre
1.18. Diferentes possibilidades de ocupao de
uma quadra: de um lado, edifcios isolados e
lote murado, do outro, prdios alinhados na rua,
sem recuos ou muros, possibilitando a criao de
espaos internos arborizados e lotes abertos.
1.18
. 29 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
o retorno fnanceiro frente de princpios bsicos de boa urbanidade. Frequentemente,
foram a expanso urbana para reas sem infraestrutura, onde a terra mais barata
para eles, porm onerosa para o Estado, que ser obrigado a fazer importantes
investimentos pblicos. Alm do mais, no caso do segmento econmico, que tratamos
neste livro, h signifcativos fundos pblicos fnanciando sua produo, por meio de
subsdios e facilidades de crdito. Assim, repassa-se ao setor privado grande parte da
responsabilidade pelo zelo do interesse pblico.
Alm disso, cabe destacar que a Constituio Federal de 1988 instituiu o princpio
da funo social, que indica a prevalncia do interesse pblico sobre o particular no uso
da propriedade urbana. Isso signifca que a produo do espao urbano est sujeita,
em ltima instncia, manuteno do interesse comum, dos espaos de toda a cidade.
Porm, os efeitos da falta de conscincia da necessidade de urbanizao mais
cuidadosa, para o bem das geraes futuras, so diversos e bastante impactantes.
Verticalizao exacerbada, movimentao e impermeabilizao descontrolada do solo,
entre outros exemplos, ocorrem a partir da complacncia do Estado na regulao e
fscalizao, verdade, mas tambm porque parece no haver conscincia de grande
parte dos empreendedores sobre o que fazer a cidade com responsabilidade.
A prpria legislao urbana brasileira, no que tange ocupao do solo e ao
cdigo de obras, contribui em grande medida para a consolidao de um padro de
ocupao em lotes, com a edifcao neles centrada por fora da exigncia de diversos
recuos, que exclui possibilidades de solues melhores do ponto de vista urbanstico,
como edifcios geminados, sem recuo para a rua, mas com jardins comuns nos fundos,
praas internas etc.
1.19
1.19. Foto area do bairro de Pinheiros,
na cidade de So Paulo - SP, mostra
possibilidade de ocupao perifrica de
quadra.
. 30 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
satlites. Mas inconteste, ainda assim, que nela estava
presente marcante qualidade urbana e arquitetnica, trazida
por profssionais que, de alguma maneira, tentavam inserir em
seu projeto parte das refexes e utopias acerca do desenho de
uma desejada cidade ideal. Os modelos das cidades-jardins,
das quadras abertas e verdes, a ideia de trreos pblicos
para favorecer a fuidez urbana, a oferta de equipamentos
nos conjuntos habitacionais e, na escala do edifcio, pilotis,
brise-soleils e reas generosas dos apartamentos constituam
arsenal de solues tcnico-construtivas para dar conforto
s construes, qualidade na sua implantao, integrao
cidade, entre muitos outros atributos.
O que mais impressiona, nesse momento de grande
crescimento urbano, liderado pela intensa produo do
segmento econmico, que tais valores urbansticos e
construtivos, intrnsecos boa arquitetura, parecem ter sido
abandonados, embora a promoo do que se denomina
moradia digna para a qual a arquitetura tem papel central
orientao programtica da poltica urbana federal desde
2003.
A boa arquitetura tem carter emancipatrio e
papel fundamental na promoo da qualidade de vida e
desenvolvimento humano. Casas que no permitem o convvio
familiar, que no oferecem espaos para a reunio da famlia,
brincadeiras e estudos das crianas, no criam condies de
desenvolvimento pessoal, familiar e coletivo.
E a arquitetura?
Nesse cenrio, no h como negar que a arquitetura,
ou talvez a falta dela, tem generosa parte da responsabilidade.
A verdade que, no processo de intensa urbanizao, a boa
arquitetura h algum tempo vem se tornando menos presente.
Cada vez mais restrita a obras pontuais e individuais de uns
ou outros escritrios, no aparece na fenomenal produo do
chamado segmento econmico, que abordamos neste livro.
Os aspectos negativos da nossa urbanizao, anteriormente
elencados, so evidentemente exemplos de m arquitetura.
Houve um tempo em que a profsso tinha papel
bem mais atuante na construo civil. Em meados do sculo
passado, no bojo do sucesso da escola modernista brasileira,
grandes nomes da arquitetura se notabilizaram pelos projetos,
atuando em frentes diversas: construo de cidades inteiras,
como no caso emblemtico de Braslia, mas tambm, por todo
o pas, nas construtoras, em prdios residenciais para setores
de mais alta renda, como se v em bairros de So Paulo ou do
Rio de Janeiro; no poder pblico, construindo edifcios notveis
para museus, escolas, hospitais; e at mesmo nas camadas de
mais baixa renda, com profcua produo de habitaes sociais,
fnanciadas poca do Instituto de Aposentadorias e Penses,
ainda na dcada de 1940.
No seria correto afrmar que essa produo no
tenha, de alguma maneira, contribudo para a consolidao
da desigualdade social urbana brasileira, e Braslia talvez o
melhor exemplo, dividida entre o plano piloto e as cidades-
1.20a 1.20b 1.20c
. 31 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
produo em massa muito questionvel. Reduzem-se aspectos
importantes como a rea dos apartamentos ou o tamanho das
janelas, para manter smbolos de status como as sutes (mesmo
que muito apertadas), os muros, as guaritas. Reproduz-se um
modelo que, em longo prazo, insustentvel e cobrar seu
preo das prximas geraes, mesmo que hoje seduzam o
consumidor pela sua aparncia.
Da forma como vem sendo feita, a expanso urbana
brasileira parece continuar a produzir o oposto de cidades
sustentveis, no s nas periferias pobres, mas tambm nos
novos bairros para as classes mdias e altas. Faz prever futuro
pouco promissor para os habitantes das prximas geraes. Em
suma, pode-se dizer que so insustentveis as cidades que vm
sendo produzidas pelo segmento econmico.
Porm, mesmo com arquitetos atuando nas construtoras,
veremos neste livro que as restries impostas pela busca de
produo em grande escala e de lucratividade impem lgica
que despreza os elementos da boa arquitetura. Esse fenmeno
se torna mais visvel medida que se trata de produo voltada
para renda intermediria, sendo menos evidente nas faixas de
alto padro. Isso porque a disponibilidade de recursos permite,
no segmento de alto padro, solues arquitetnicas marcadas
pelo luxo, uso de materiais suntuosos, dimenses exacerbadas
dos apartamentos, equipamentos de lazer sofsticados. Por isso,
aparentam ser muito bem resolvidas, mesmo que sejam bastante
questionveis, sobretudo no que diz respeito ao modelo de
cidade que simbolizam. Mesmo que agradem o consumo de
luxo, tm uma arquitetura que favorece o status das aparncias,
os excessos e a individualidade, a segregao da cidade e a
excessiva valorizao do automvel. no exagerado nmero de
sutes (s vezes seis por apartamento), de vagas na garagem (h
casos de doze vagas por apartamento), nos clubes e shoppings
exclusivos e nos muros eletrifcados que se expressa o gosto das
elites por um modelo de vida que refuta a cidade.
Nos edifcios do segmento econmico verifca-se
a tendncia a reproduzir esse padro como se fosse boa
arquitetura, quando esta, na verdade, esquecida. Parte-
se do pressuposto, equivocadamente, que as boas solues
arquitetnicas e urbansticas so obrigatoriamente mais
caras, o que no verdade, optando-se no seu lugar por uma
1.20a a 1.20d. Exemplo do papel do arquiteto na construo de
habitao de boa qualidade. Imagens do Conjunto Habitacional IAPI
de 1950 em Belo Horizonte-MG, de uma superquadra na cidade de
Braslia-DF e de edifcios residenciais no bairro de Higienpolis na
cidade de So Paul-SP, respectivamente. possvel observar reas
verdes e de lazer, que permitem a integrao e a convivncia dos
conjuntos residenciais com as cidades.
1.21a e 1.21b. Exemplo de fuidez urbana. As superquadras de Braslia
apresentam trreo livre, amplas reas de lazer pblicas e grandes reas
permeveis e arborizadas entre edifcios residenciais.
1.20d 1.21a 1.21b
. 32 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
AQUI, ENTENDEMOS POR SUSTENTABILIDADE URBANA, A CAPACIDADE
DE EQUACIONAR, DE ANTEMO, O CONJUNTO DOS IMPACTOS DA
URBANIZAO SOBRE A NATUREZA E SEU EQUILBRIO, AO LONGO DO
TEMPO, DE TAL FORMA QUE AS CIDADES E O MEIO AMBIENTE CONTINUEM
A SER USUFRUDOS, COM QUALIDADE E SEM DESTRUIO, PELAS PRXIMAS
GERAES. PENSAR NA CONDIO URBANA DE HOJE , NA PRTICA,
PENSAR NA CIDADE DO NOSSO AMANH.
Um modelo equivocado: busca de
status e falsas solues urbansticas
O modelo urbano de que falamos tem, pois, duas caractersticas marcantes:
desigualdade social e insustentabilidade. O segundo termo deve ser tratado com
ateno especial. De fato, a generalizao de seu uso, em decorrncia do aumento visvel
da degradao do meio ambiente, fez dele um conceito s vezes demais genrico e, por
isso, impreciso.
A sustentabilidade , portanto, questo estrutural. Diz respeito toda a cidade,
aos distintos processos sociais e econmicos que ela desencadeia. Pelo seu fenomenal
impacto sobre a natureza, a cidade uma questo de sustentabilidade em si. Por isso,
solues pontuais de construes ecolgicas so importantes, mas ainda tero pouco
impacto sobre a sustentabilidade urbana enquanto no afetarem a estrutura sistmica
de funcionamento do urbano.
Fica claro que, em compensao, so problemas graves de sustentabilidade urbana
questes como impermeabilizao do solo, deslocamentos e eroso da terra, espraiamento
urbano que gera a necessidade de ampliar sempre mais a rede de infraestrutura, falta de
comrcio e de empregos nos novos bairros, que obriga a deslocamentos desnecessrios,
insufcincia de sistemas de transporte de massa, repetio infndvel de casas, ruas que
no so mais ruas.
De forma ainda esparsa, mas cada vez mais frequente e intensa, a insustentabilidade
urbana brasileira se expressa nos dramas que invadem a cada ano os telejornais:
enchentes, deslizamentos, engarrafamentos monumentais, poluio, violncia.
O cenrio ainda mais pessimista se considerarmos que as mdias e pequenas
cidades, ainda relativamente isentas dos problemas mais graves que assolam as grandes
metrpoles, e que ainda teriam tempo de reverter sua lgica de urbanizao para novo
padro, mais sustentvel, reproduzem, ao contrrio, em menor escala, os equvocos das
nossas grandes metrpoles.
. 33 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Este livro mostrar, nos prximos captulos, justamente
que o boom construtivo do segmento econmico no parece
trazer nenhuma perspectiva de mudana. Empreendimentos
com milhares de novas moradias esto surgindo, muitas vezes
em reas de expanso urbana das cidades mdias, conformando
bairros inteiramente novos.
EM EFEITO PERVERSO, O FENMENO CONSTRUTIVO
ALIMENTA A ESPECULAO IMOBILIRIA E OS
PREOS EXPLODEM, O QUE DIFICULTA O ACESSO
MAIS GENERALIZADO CASA PRPRIA, APESAR DO
DINAMISMO ECONMICO.
1.22. Solues pontuais de construes ecolgicas em edifcios na
Avenida Berrini, So Paulo - SP.
1.23. Grave problema de sustentabilidade ambiental: ocupao na rea
de mananciais da Represa Billings, So Paulo - SP.
A questo central que surge, na discusso, novamente
o velho dilema dos urbanistas: o que cidade justa, cidade
sustentvel? Embora as responsabilidades sejam to
diversas, possvel almejar uma mudana de qualidade nesse
processo? Qual a contribuio para a nova cara das cidades
que esse segmento est produzindo? At que ponto a resposta
demanda habitacional latente do pas deve sobrepor-se ao
dever de se produzir um padro urbano melhor do que o que
at hoje se viu no Brasil?
1.22
1.23
. 34 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
1.24a e 1.24b. Reproduo genrica de panfetos de vendas produzidos
pelas construtoras para o segmento econmico. Flyers semelhantes, seja
de casinhas, seja de prdios de quatro pavimentos sem elevador, seja de
torres, so apresentados para imveis vendidos tanto no Rio Grande do
Sul quanto no Par. No h distino de lugar, diferenciaes quanto ao
clima e s caractersticas de cada local. O panfeto vende to somente
a ideia da casa prpria no padro desejado pela classe mdia, de
edifcios murados e com aparncia de status social.
1.25a e 1.25b. Exemplo da semelhana dos conjuntos produzidos para
o segmento econmico para o mercado e um conjunto habitacional
de produo pblica. Imagem de um conjunto habitacional pblico
na cidade de Salvador-BA (a) e imagem area de um empreendimento
na cidade de Campinas-SP (b). possvel observar que, alm de
esteticamente parecidos, os dois conjuntos possuem a mesma tipologia
de implantao, dos edifcios em repetidos blocos iguais, e das unidades
em torno da circulao vertical.
A difculdade na mudana do padro de urbanizao
esbarra, ainda mais, no fato de que a ideia da cidade justa
no foi ainda assimilada pela sociedade. Ao contrrio, e
infelizmente, os elementos de status que caracterizam e
supostamente embelezam a pssima produo habitacional do
segmento econmico so razo de grande procura e satisfao,
mesmo ambientalmente to questionveis. Em geral, os
aspectos que alimentam os panfetos de vendas de imveis e
embasam o sonho da casa prpria da classe mdia, embutem
equvocos arquitetnicos e urbansticos que parecem,
primeira vista, muito sedutores para o consumidor.
Um apartamento de 40 metros quadrados pequeno
para a famlia mdia brasileira demais exguo. Como
aceitar ento que unidades com essa rea mdia estejam
sendo vendidas a preos razoavelmente elevados, pouco se
diferenciando em tamanho do que faziam BNH e COHABs?
1.24a 1.24b
1.25b 1.25a
. 35 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
Como convencer que um espao gourmet ou um ftness
center no trreo, feitos para compensar as dimenses reduzidas
das unidades habitacionais, e que parecem dar status ao imvel,
na prtica no melhoram o desconforto da falta de espao no
apartamento e acabam muitas vezes subutilizados?
Como conscientizar as pessoas que condomnios
fechados por muros, cercas e guaritas, mesmo que aparentem
mais segurana, na verdade segmentam o tecido urbano e
acabam por gerar ainda mais insegurana? Que esses mesmos
muros eliminam a vitalidade das ruas e matam seu papel de
espao de convvio, transformando-as em corredores para
os carros? Que reas verdes internas aos condomnios so
insufcientes e, sobretudo, muito menores e menos agradveis
do que seriam praas pblicas grandes e bem mantidas? Que
muitas vagas na garagem podem signifcar status e conforto,
mas alimentam modelo urbano de deslumbramento com o
automvel, em detrimento de polticas de transporte pblico
muito mais efcientes, seguras e sustentveis? Que os espaos
que se reservam para estacionar os carros tiram dos moradores
reas muito mais saudveis de lazer e descanso?
Por razes que englobam liberalidade excessiva do
Estado e das leis, exagerado apetite do mercado imobilirio
por bons negcios, falta generalizada de conscincia acerca
dos impactos da urbanizao e da necessidade de fazermos
cidades boas para as prximas geraes, e ideal de consumo
da casa prpria que se deixa seduzir mais pelas aparncias e
status da residncia do que pela capacidade de gerar qualidade
de vida urbana, a dura verdade sobre a produo do chamado
mercado econmico e o cenrio urbano que ela gera que,
infelizmente, aproxima-se de verdadeiro desastre. Em outras
palavras, o Brasil precisa, urgentemente, reinventar seu
modelo urbano, em padres que levem democratizao do
acesso cidade e boa arquitetura.
1.26a a 1.26d. Exemplos de ocupao urbana de empreendimentos do
segmento econmico nas cidades brasileiras.
a. Conjunto residencial na cidade de Porto Alegre-RS: excessiva repetio,
ruas no pavimentadas, falta de reas verdes ou de lazer.
b. Empreendimento vertical na cidade de Campinas-SP: lotes
impermeabilizados, muros segmentando o tecido urbano, nenhuma
interao com a rua, espao trreo destinado prioritariamente ao
automvel, reas de lazer acanhadas, cimentadas e com poucas rvores.
1.26a
1.26b
1.26c
1.26d
c. Condomnio em Natal-RN: empreendimento evidencia a falta de
dilogo e fuidez com o meio urbano externo, isolado dele por muros e
guarita de acesso, e o atendimento do lazer com equipamentos internos e
exclusivos, em detrimento do incentivo ao uso de equipamentos pblicos
de bairro.
d. Empreendimento em Guarulhos-SP: os muros evidenciam o desprezo
para com a rua como espao pblico urbano.
. 36 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Que cidade podemos almejar?
Qual seria, ento, o modelo urbano desejvel? O que seria a cidade justa?
Essas cidades podem ou devem ser desenhadas? Como se altera o padro de produo
macia do segmento econmico, que estudamos neste livro, para que ele conforme
modelos urbanos desejveis, ao contrrio do que ocorre?
Pensar em cidades justas falar, antes de tudo, em dinmicas urbanas no
segregadoras; imaginar um mercado que consiga aliar a lucratividade aos objetivos
de sustentabilidade; recuperar, para isso, solues arquitetnicas e urbansticas
de qualidade, assumindo custos imediatos em nome da preservao e qualifcao
do futuro; criar modelo de consumo da casa prpria mais harmonizado com o
coletivo. Por fm, construir um novo modelo urbano no Brasil fazer a sociedade se
conscientizar que nossas cidades devem mudar drasticamente.
Assim, mesmo quando no so assumidas as responsabilidades do setor pblico
com a proviso de infraestrutura e equipamentos, deveria caber aos empreendedores
a atitude de recusar empreendimentos nesses locais, em nome da qualidade urbana
que estaro criando para as geraes futuras. Deveria partir da populao de classe
mdia, consumidora do mercado econmico, a exigncia por produtos habitacionais
mais sustentveis urbanisticamente, deveria caber aos arquitetos maior participao
nos processos de produo habitacional no Brasil, e deveriam partir de todos cobrana
e fscalizao do poder pblico para exigir dele maior poder de regulamentao dos
processos de ocupao do territrio.
Apesar da complexidade dos problemas enfrentados, no de todo impossvel
defnir regras urbansticas e arquitetnicas que remetam a modelos urbanos mais
agradveis, harmoniosos e sustentveis. Muitos esto em exemplos do passado, e outros
so apenas intuies naturais: que a rua era melhor quando podia ser espao de lazer e
interao social, que os bairros so mais agradveis quando fartos em espaos pblicos,
1.27a e 1.27b. Jardim de Alah, na cidade do
Rio de Janeiro - RJ, e bairro de Edogawa City,
Japo: solues de qualidade urbana em
rea mais urbanizada e densa e em bairro
de sobrados. Qualidade urbanstica com
arborizao generosa, parques e passeios
pblicos, uso adequado da gua, boa relao
pedestres x automveis, correta proporo
entre a escala do pedestre e a dos edifcios.
1.27a
. 37 . Que cidades queremos para as geraes futuras? O trgico quadro urbano do Brasil do sculo XXI: cidades cindidas, desiguais e insustentveis
abertos e acessveis a todos, que o uso misto pode ser garantia
de qualidade de vida e segurana. No parece complicado
imaginar que h mais qualidade de vida urbana quando
os rios so tratados como rios, com margens arborizadas e
permeveis, e no canalizados e esquecidos por baixo de
alguma avenida expressa. Parece bastante lgico que nossas
ruas e bairros sero mais harmnicos se conseguirem oferecer
boa e balanceada diversidade de atividades habitacionais,
comerciais, produtivas, educacionais e de servios; se
conseguirem oferecer solues de moradia adaptadas s
diferentes condies sociais e de renda. No complicado
perceber que construes que utilizam tcnicas e materiais
locais sero mais adequadas ao clima do que a repetio de
verdadeiros e idnticos carimbos arquitetnicos, estejam eles
no frio do Rio Grande do Sul ou no trrido calor do Amap.
Da mesma forma, nem sempre o que a moda dita
obrigatoriamente o melhor, e edifcios sem muros, alinhados
rua, com jardins e reas coletivas internas, podem trazer
infnitamente mais qualidade de vida do que os condomnios
atualmente difundidos. Apartamentos maiores, com p-direito
mais generoso, sero substancialmente mais dignos para se
viver, mesmo que no ofeream, no trreo, miniacademias
de ginstica ou espaos de culinria. Andar a p, de bicicleta
ou de transporte pblico ser sempre mais sustentvel, e
at mais agradvel, se houver cidades que priorizem esses
sistemas em detrimento do poluente automvel. Tudo isso no
signifca, alis, custo maior. Um dos desafos dos arquitetos,
at aqui to ausentes, desenhar e produzir boas solues de
moradia dentro do desafo da economia de custos. A histria
das cidades j viu inmeros exemplos de boas solues, como
algumas aqui mostradas. No utopia imaginar que isso possa
ser resgatado, no bojo das transformaes pelas quais passa o
pas no incio do sculo XXI.
1.27b
1.28
1.28. Ilustrao de proposta para uso integrado do rio na cidade e
valorizao do espao pblico.
. 38 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 39 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
No primeiro captulo deste livro delineou-se o que
poderia ser um modelo de urbanizao mais justo frente
a uma realidade marcada pela segregao e precariedade
dos assentamentos dos mais pobres, sempre relegados s
periferias distantes ou aos interstcios insalubres dos bairros
nobres - quadro que recentemente se agravou ainda mais pela
qualidade questionvel dos novos bairros de classe mdia que
vm surgindo pelo pas afora.
Mostrou-se tambm que parte signifcativa dessa
produo do chamado segmento econmico ocorre no bojo
do Programa Minha Casa Minha Vida, ambicioso programa
2
Segmento econmico e Programa Minha Casa
Minha Vida
REGRAS DO JOGO, AGENTES ENVOLVIDOS E IMPACTOS DECORRENTES
habitacional lanado em maro de 2009 pelo governo federal,
com objetivo de aquecer a atividade da construo civil, como
resposta declarada crise econmica global de 2009.
Dois anos aps o lanamento do Programa, cerca de
1 milho de unidades j foram contratadas, grande parte no
segmento econmico, o que abarca principalmente a faixa de
renda entre trs e dez salrios mnimos. Os nmeros mostram,
portanto, que a produo imobiliria brasileira recente
foi fortemente impulsionada pelo programa, que envolve
importantes recursos pblicos.
. 40 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Isso no signifca, porm, que a responsabilidade pela m qualidade dos atuais
processos de urbanizao conduzidos pelo mercado no segmento econmico deve
ser imputada exclusivamente ao programa. Claro que muitos aspectos negativos
apontados no captulo anterior podem resultar de problemas da poltica em si, porm
viu-se que o papel desempenhado pelas prefeituras e, sobretudo, pelas incorporadoras
e construtoras, tambm lhes d grande parte das responsabilidades. Em suma, em
programas dessa amplitude, os arranjos institucionais so complexos, e entraves de
toda ordem afetam o processo, da elaborao implementao.
Mas no seria possvel levantar um panorama da atual produo habitacional
brasileira para o segmento econmico, em que o Programa Minha Casa Minha Vida
tem peso substancial, sem breve anlise sobre o mesmo, at para entender melhor quais
os problemas e potencialidades. o que ser apresentado neste captulo
1
.
Mesmo sendo, formalmente, um nico programa, com espectro de atendimento
bastante amplo, compreendendo faixas de renda de zero at dez salrios mnimos, o
PMCMV na prtica pode ser visto como uma poltica com diferentes estratgias de
1 As principais informaes sobre o PMCMV esto sistematizadas no quadro das pginas 42 e 43.
quadros. Recursos pblicos previstos no
PMCMV 1 (em R$ bilhes). Metas fsicas e
fnanceiras do PMCMV 1 e 2 por faixa de
renda
. 41 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
atendimento conforme a faixa de renda da populao, em que se diferenciam claramente
dois cenrios: um de subsdio pblico produo habitacional exclusivamente para a
populao de mais baixa renda (de zero a trs salrios mnimos), implementada em
parceria com os municpios para demanda por eles indicada a partir de cadastros
de benefcirios, com o uso de importantes investimentos pblicos a fundo perdido
(oriundos do Oramento Geral da Unio OGU, e alocados no Fundo de Arrendamento
Residencial FAR), operados pela Caixa Econmica Federal.
A outra parte do PMCMV destinada s faixas de renda mdia (at dez salrios
mnimos), a saber, o chamado segmento econmico. composta, minoritariamente,
por recursos no onerosos (na forma de descontos para as faixas at seis salrios
mnimos
2
) e, principalmente, recursos onerosos (a serem devolvidos na forma de
pagamentos de parcelas), advindos do Fundo de Garantia por Tempo de Servio -
FGTS, e com taxa de juros reduzida e maior facilidade de acesso ao crdito.
No h dvida da importncia de ambas as dimenses do programa, embora seja
relevante registrar que aquela destinada s faixas de renda mais baixas , sem dvida,
a mais urgente, dado que nelas se concentra parte signifcativa do dfcit habitacional
brasileiro, de cerca de 5,6 milhes de domiclios
3
.
2 Os subsdios no segmento econmico (desconto direto no preo fnal do imvel) so destinados
faixa de at seis salrios mnimos, contando com recursos do OGU e FGTS. Eles se alteram de
acordo com a faixa de renda e a regio do pas em que se localiza.
3 Fundao Joo Pinheiro, 2008.
ESTE LIVRO NO ABORDA A VERTENTE DE SUBSDIO PBLICO PRODUO
HABITACIONAL DO PROGRAMA, EXCETO EM BREVE EXPLICAO NO FINAL
DESTE CAPTULO. O OBJETO DE ESTUDO TRATADO ESPECIFICAMENTE A
PRODUO HABITACIONAL NO MBITO DO SEGMENTO ECONMICO, PARA
RENDA DE AT DEZ SALRIOS MNIMOS.
. 42 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 43 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
Fonte: Elaborao prpria com base nas normativas do PMCMV at fevereiro de 2011. As regras e nmeros aqui apresentados podem sofrer alterao de acordo com as mudanas no PMCMV.
. 44 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
H hoje acmulo importante de refexo crtica, sobretudo nas universidades,
sobre impasses e perspectivas das polticas habitacionais pblicas de interesse social,
destinadas s faixas de renda mais baixas. O chamado segmento econmico, por
outro lado, ainda no vem sendo devidamente estudado
4
. Uma das razes pode ser o
fato de que segmento que recentemente comeou a crescer, pois a atuao do mercado
privado da construo civil no Brasil tradicionalmente se voltava apenas aos segmentos
de alto padro. A outra razo pode estar ligada ao fato de que se trata, neste caso, de
produo e aquisio exclusivamente privada, que geralmente no recebe a mesma
ateno da produo para a baixa renda, que envolve fundos pblicos.
4 Destacam-se algumas excees, como os recentes estudos de ROYER (2009), SHIMBO (2010),
TONE (2010), MOURA (2011) e CARDOSO (2011) utilizados nesta pesquisa.
A produo habitacional do PMCMV
para o segmento econmico
A MOTIVAO DESTE LIVRO EST JUSTAMENTE EM ANALISAR A PRODUO DO
PMCMV NO MBITO DO SEGMENTO ECONMICO, POR DUAS RAZES:
PRIMEIRAMENTE PORQUE A PRODUO HABITACIONAL DO PROGRAMA NESSA
FAIXA TAMBM UTILIZA SIGNIFICATIVOS VOLUMES DE RECURSOS PBLICOS
SUBSIDIADOS, PARA FAMLIAS COM RENDA DE AT SEIS SALRIOS MNIMOS, O
QUE SUGERE QUE A SOCIEDADE DEVA ACOMPANHAR COM MAIS ATENO
ESSA PRODUO, CONDUZIDA POR EMPRESAS PRIVADAS, POIS ENVOLVE
O INTERESSE PBLICO. EM SEGUNDO LUGAR, PORQUE O CRESCIMENTO
VERTIGINOSO DA PRODUO DO SEGMENTO ECONMICO VERIFICADO
NOS LTIMOS ANOS E A FORMA IMPACTANTE COMO ELA SE TERRITORIALIZA
INSEREM O TEMA NA ORDEM DO DIA E SUSCITAM ANLISE MAIS PROFUNDA.
2.1a a 2.1f. O impactante boom da
construo no Brasil: empreendimentos
habitacionais em Campinas-SP (a,b),
Manaus-AM (c), Porto Alegre-RS (d),
Sorocaba-P (e), Guarulhos-SP (f).
2.1a 2.1b 2.1c
. 45 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
O mercado brasileiro da construo civil sempre atuou
quase exclusivamente para os setores de mais alta renda. Desde
o milagre econmico, nos anos 1970, e em decorrncia de um
modelo econmico de forte concentrao da riqueza, formou-
se demanda considervel por habitaes de alto padro,
muito lucrativa, que o mercado apressou-se em atender. Em
pocas de hiperinfao, investir em imveis de alto padro era
modalidade bastante segura para os setores mais abastados.
Com isso, enquanto crescia o mercado de alto padro,
arrefeceu-se a oferta habitacional privada para os segmentos
de classe mdia e mdia baixa, com certa capacidade
fnanceira, porm no to lucrativa e mais sujeita s incertezas
da economia. Sem linhas de fnanciamento no setor privado,
compatveis com sua possibilidade de endividamento, a classe
mdia baixa acabou recorrendo a autopromoo da moradia
ou se benefciando das polticas pblicas habitacionais, como
a do BNH, pois a lgica de compra da casa prpria que
as caracterizava exigia alguma capacidade de pagamento,
impossvel para os mais pobres. Concomitantemente, a
classe mdia, com mais recursos, acabou drenando para si os
fnanciamentos pblicos, teoricamente destinados habitao
social, o que alavancou, ao longo dos anos 1970, grande impulso
da construo civil e intensa verticalizao nas maiores cidades
brasileiras. Com a crise dos anos 1980, tal impulso diminuiu, e
o mercado da construo voltou a concentrar-se sobretudo no
mercado de alta renda.
Ainda assim, em alguns momentos o mercado tentou
explorar esse nicho mais popular, sem maiores xitos, como
foi o caso do Plano 100, na dcada de 1990, e da produo por
autofnanciamento organizada por cooperativas habitacionais
e algumas empresas do ramo, nesse mesmo perodo, na Regio
Metropolitana de So Paulo
5
. Desde ento, construtoras de
menor porte vinham atuando nesse segmento de mercado,
porm enfrentando grande incerteza e difculdades decorrentes
da capacidade de pagamento limitada pela estagnao
econmica e infao.
As medidas tomadas pelo governo federal a partir
de 2006, mudaram positivamente o quadro, promovendo
segurana jurdica e fnanceira aos agentes do setor imobilirio,
incentivando-os a ampliar a oferta para camadas de renda
intermediria. O fm de alguns gargalos administrativos
e institucionais e a signifcativa ampliao dos crditos
imobilirios trouxeram maiores recursos para o setor, ainda
mais dinamizado com a abertura de capital das maiores
construtoras do pas na Bolsa de Valores. Somado a isso, fatores
macroeconmicos, como o crescimento da economia nacional
e a ampliao dos empregos formais, acompanhados pelo
crescimento real do salrio mnimo, ampliaram a capacidade
de endividamento de parte da populao, possibilitando
seu acesso ao fnanciamento habitacional. O segmento
econmico estava prestes a eclodir, e o PMCMV teve para isso
papel fundamental.
O inegvel aquecimento da atividade da construo
civil - com crescimento na participao do PIB brasileiro e
criao de milhares de postos de trabalho - faz com que ela
seja vista com grande aprovao: como desmerecer um cenrio
5 Sobre o tema, o LABHAB FAUUSP organizou, em 1997, o workshop
Habitao: Como Ampliar o Mercado?
2.1d 2.1e 2.1f
. 46 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
grfcos. Crescimento do crdito e do setor privado: os grfcos ilustram
o crescimento acentuado dos valores direcionados para fnanciamento
habitacional e do nmero de unidades fnanciadas com recursos do
Fundo de Garatia por Tempo de Servio (FGTS) e do Sistema Brasileiro
de Poupana e Emprstimo (SBPE). O nmero de unidades fnanciadas
pelo FGTS passou de 193.818 em 2002 para 489.939 em 2009. J no SBPE,
passou de 28.932 para 421.386 unidades fnanciadas.
de crescimento econmico que multiplica as construes
e aumenta a oferta de emprego, fazendo crescer tambm as
cidades? O problema que, nesse caso, o crescimento urbano
no Brasil, ainda mais quando acelerado, tem por caracterstica
intrnseca o aumento dos impactos sociais e ambientais.
Operaes contratadas com recursos SBPE: construo, aquisio, reforma e material para construo
Investimento e atendimento habitacional com recursos do FGTS por faixa de renda (2002 a 2009)
Fonte: BACEN e ABECIP
Fonte: Apresentao do Ministrio das Cidades, 2009
. 47 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
Porm, a m qualidade urbanstica e arquitetnica no se deve exclusivamente
conduta do mercado imobilirio e da construo e refete tambm, em grande medida,
as atuaes dos demais agentes envolvidos, seja na aprovao dos projetos nos rgos
competentes, seja na liberao de fnanciamento para sua produo. A seguir sero
destacados os principais agentes da produo do segmento econmico no mbito do
PMCMV e suas respectivas responsabilidades, com o objetivo de elucidar os papis
para a promoo de habitaes com melhor qualidade urbanstica e arquitetnica
Vale ressaltar que, fora as responsabilidades e atribuies especfcas de
cada esfera de governo, os arranjos institucionais entre elas ainda tm muito o que
progredir, desvinculando-se das relaes de favores polticos e clientelismo que ainda
frequentemente contaminam esses processos.
A AUSNCIA DE REGULAO OU ATUAO PBLICA EFETIVA SOBRE A
QUESTO CONTRIBUEM PARA QUE O SETOR IMOBILIRIO POSSA AGIR SEM
MUITAS RESTRIES QUANTO QUALIDADE ARQUITETNICA E URBANSTICA.
A IMPLANTAO URBANA E A QUALIDADE DAS UNIDADES HABITACIONAIS
DEPENDEM DAS LEIS MUNICIPAIS DE USO E OCUPAO DO SOLO, DOS
CDIGOS DE OBRA E DE ALGUNS PARMETROS TCNICOS MNIMOS QUE,
NO MBITO LOCAL, SO, EM GERAL, POUCO RIGOROSOS COM OS
INTERESSES DOS EMPREENDEDORES IMOBILIRIOS.
Limitaes para garantia da qualidade arquitetnica e
urbanstica e responsabilidades dos agentes envolvidos
A produo habitacional no Brasil historicamente valorizou a unidade
habitacional em si, e no tanto a importncia da qualidade urbana onde esta se inseriria.
A perspectiva da casa prpria alimentava os sonhos da classe mdia, assim como
os apartamentos de alto padro em luxuosos condomnios nos bairros nobres era o
modelo para os mais abastados. No entanto, produzir casas, nesse sentido restrito, no
signifca construir cidades, em tica sustentvel e justa, como a ressaltada no captulo
anterior.
Ao assumir como mote principal uma perspectiva quantitativa, a produo de 1
milho de casas, o Programa Minha Casa Minha Vida fortalece essa tradio, deixando
em segundo plano aspectos de qualidade arquitetnica e dos impactos urbanos da
produo. De forma geral, a equao entre quantidade e qualidade, que incide sobre a
constante reduo dos custos da construo, um dos desafos mais difceis para a boa
arquitetura e o bom urbanismo.
. 48 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
GOVERNO FEDERAL
Responsvel pela elaborao das diretrizes gerais da
Poltica Urbana e da Poltica Habitacional nacionais. Responde
pela elaborao do PMCMV e defne sua operacionalizao,
as fontes e o montante de recursos mobilizados para sua
execuo e a forma de distribuio nacional. Estabelece
diretrizes e fxa as regras para aquisio e produo das
unidades habitacionais e acompanha e avalia o desempenho
do programa, entre outras atribuies. Portanto, cabe a ele ter
maior interferncia na exigncia de parmetros de qualidade
arquitetnica e urbanstica.
O governo federal deve exigir dos agentes promotores -
o operador fnanceiro, construtoras e municpios -, a observao
da qualidade arquitetnica e urbanstica, alm de incentivar
os municpios, responsveis pela gesto do uso e ocupao do
solo, para a aplicao dos instrumentos do Estatuto da Cidade,
de forma a evitar os impactos urbanos relatados no captulo
anterior. Deve tambm promover a integrao entre as esferas
de governo na implementao das polticas pblicas.
Ao governo federal compete tambm implementar
mecanismos de apoio para aquisio de terras pelos municpios
para atendimento do dfcit habitacional, facilitar a destinao
de terrenos e imveis federais vazios para promoo de
habitao de interesse social e incentivar a reabilitao de
edifcios vazios ou subutilizados em reas centrais.
Em suma, o governo federal tem importante papel para
que se incorpore a questo da qualidade das moradias alm da
simples preocupao quantitativa, podendo condicionar a isso,
inclusive, o fnanciamento dos recursos federais no mbito do
programa.
ESTADOS
Tm participao importante na aplicao das leis sobre
uso e ocupao do solo, principalmente nas reas de jurisdio
estadual, como as reas de proteo ambiental (APAs,
APPs, Mananciais). Respondem pela aprovao dos projetos
localizados nessas reas sensveis e de projetos de grande porte,
com impacto em mais de um municpio. So muitas vezes
responsveis pela infraestrutura de transporte, saneamento,
iluminao e, por isso, tm interferncia em empreendimentos
de maior porte ou em reas ainda no atendidas pelos servios
urbanos.
MUNICPIOS
A Constituio de 1988 promoveu novo papel para os
municpios, que assumiram a prerrogativa da conduo da
poltica territorial e urbana. Eles so hoje responsveis pela
elaborao dos planos diretores e das leis de uso e ocupao
do solo urbano e, portanto, tm participao importante
no mercado de terras e localizao dos empreendimentos
habitacionais, respondem pela aprovao dos projetos e
defnem as medidas mitigadoras a serem executadas pelo
agente promotor, caso haja necessidade em funo dos
impactos provocados pelo empreendimento em aprovao.
Os municpios devem construir as condies polticas
para a implementao dos instrumentos urbansticos do
Estatuto da Cidade, a fm de regular o uso do solo, combater
a reteno de lotes vazios e estabelecer mecanismos efetivos
de controle da atuao do mercado imobilirio com vistas a
garantir a qualidade urbanstica e arquitetnica. Tm que exigir
compensaes ambientais e urbansticas e aes que objetivem
a reduo dos impactos provocados pelos empreendimentos
habitacionais.
. 49 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
A QUESTO DA TERRA E O DESAFIO DO ESTATUTO DA CIDADE
E POSTOS EM PRTICA PELAS ADMINISTRAES MUNICIPAIS. E,
DEVE-SE DIZER, SO RAROS OS CASOS NO BRASIL EM QUE, DEZ
ANOS DEPOIS DA SUA APROVAO, IMPLEMENTARAM-SE DE
FORMA EFETIVA OS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE.
ISSO SE DEVE A UMA SRIE DE FATORES, MAS PROVAVELMENTE
O MAIS SIGNIFICATIVO SEJA A FALTA DA CHAMADA VONTADE
POLTICA: APLICAR INSTRUMENTOS QUE COMBATEM O MAU
USO DO SOLO URBANO SIGNIFICA OPTAR POR ENFRENTAR
INTERESSES FUNDIRIOS E IMOBILIRIOS GERALMENTE PODEROSOS.
ENTRETANTO, EST CLARAMENTE COLOCADO NA CONSTITUIO
FEDERAL QUE ENTRE AS ATRIBUIES DOS DIFERENTES AGENTES,
CABE S PREFEITURAS CONDUZIR A POLTICA URBANA MUNICIPAL.
CLARO QUE A RESPONSABILIDADE DEVERIA SER COMPARTILHADA,
SEMPRE QUE POSSVEL, PELOS EMPREENDEDORES, MEDIDA QUE
ASSIMILAM A IDEIA DE QUE CONSTRUIR SEMPRE MAIS LONGE
ACARRETAR CUSTOS MAIORES PARA O ESTADO, OU SEJA, PARA
TODOS. PORM, VERDADEIRA MUDANA NESSE CENRIO S
SER POSSVEL, DE FATO, QUANDO OS MUNICPIOS BRASILEIROS
INCORPORAREM DE VEZ O ESTATUTO DA CIDADE.
ENQUANTO ISSO NO OCORRE, COM A REDUZIDA
DISPONIBILIDADE DE TERRAS A BAIXO CUSTO, A FORTE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REPRESENTADA PELO PMCMV
PROMOVEU DRAMTICO PROCESSO ESPECULATIVO, QUE
MULTIPLICOU SENSIVELMENTE O PREO DOS LOTES BEM
LOCALIZADOS. COM TAL AUMENTO DO PREO DA TERRA E A
FALTA DE EFETIVAO DOS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA
CIDADE, INEVITVEL A DIFICULDADE EM IMPLEMENTAR A POLTICA
HABITACIONAL PARA BAIXA RENDA, MESMO NO MBITO DO
PMCMV, NOS GRANDES CENTROS URBANOS, COMO SO
PAULO, JUSTAMENTE ONDE SE CONCENTRA, PARADOXALMENTE, O
MAIOR DFICIT HABITACIONAL.
ASSIM, UMA CONSEQUNCIA NEGATIVA DO
PROGRAMA QUE OS SUBSDIOS OFERECIDOS TENDEM A
NO MAIS BENEFICIAR A POPULAO ALVO DA POLTICA
HABITACIONAL, POIS SO DRENADOS PARA COBRIR O
AUMENTO ESPECULATIVO DA TERRA, FAVORECENDO ASSIM
OS PROPRIETRIOS FUNDIRIOS.
O ACESSO TERRA , SEM DVIDA, O PRINCIPAL ENTRAVE
PARA A SOLUO DA PROBLEMTICA HABITACIONAL NO BRASIL,
POIS A RETENO DA TERRA URBANIZADA PELAS CAMADAS DE
MAIS ALTA RENDA AINDA IMPERA DE FORMA GENERALIZADA. O
PROBLEMA, OBVIAMENTE, AFETA A EXPANSO URBANA INFORMAL
PARA A PERIFERIA, MAS TAMBM INTERFERE NEGATIVAMENTE NAS
DINMICAS IMOBILIRIAS, PRIVADAS E PBLICAS. A DRAMTICA
FALTA DE TERRAS GERA SUPERVALORIZAO DAS POUCAS
REAS DISPONVEIS NOS GRANDES CENTROS URBANOS. O
PREO FUNDIRIO ALTO EVIDENTEMENTE TRANSFERIDO PARA O
PREO DA UNIDADE HABITACIONAL, FAZENDO COM QUE, EM
RELAO S FAIXAS DE MENOR RENDA, O MERCADO TENHA QUE
SE DESLOCAR EM DIREO S REGIES MAIS DISTANTES, ONDE
A TERRA MAIS BARATA. ISSO TAMBM AFETA O SEGMENTO
ECONMICO: MELHORES LOCALIZAES, MAIS CARAS, FAZEM
SUBIR O PREO DAS UNIDADES OFERECIDAS, SEM QUE SIGNIFIQUE
MELHOR QUALIDADE URBANSTICA E ARQUITETNICA.
NO MBITO DAS POLTICAS PBLICAS, A SITUAO
TORNA-SE AINDA MAIS DRAMTICA, POIS O ESTADO TEM POUCAS
CONDIES DE ARCAR COM O PREO FUNDIRIO DE TERRENOS
BEM LOCALIZADOS. E QUANTO MAIS ELE SE V OBRIGADO A
CONSTRUIR EM GLEBAS DISTANTES, MAIS ONEROSO SER PARA
TODA A SOCIEDADE, POIS O ESTADO TER QUE ARCAR COM
OS CUSTOS DE EXTENSO DA INFRAESTRUTURA URBANA. ESSA
CONTA, INFELIZMENTE, NO GERALMENTE FEITA, E TALVEZ
PORQUE SEJA MAIS CONVENIENTE, CONVENCIONOU-SE QUE
CONJUNTOS HABITACIONAIS DEVEM SEMPRE ESTAR LONGE NA
PERIFERIA.
PORM, COM A APROVAO DO ESTATUTO DA
CIDADE, EM 2001, OS MUNICPIOS BRASILEIROS AT DISPEM
DA POSSIBILIDADE DE EXERCER COM MAIOR EFETIVIDADE O
CONTROLE DO USO E OCUPAO DO SOLO URBANO, INCLUSIVE
COMBATENDO A RETENO ESPECULATIVA DE TERRAS VAZIAS.
O ESTATUTO PROPE INSTRUMENTOS ESPECFICOS PARA
ISSO, COMO, POR EXEMPLO, IPTU PROGRESSIVO, ZONAS
ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL E DIREITO DE PREEMPO.
ENTRETANTO, PARA FUNCIONAREM, ESSES INSTRUMENTOS DEVEM
SER REGULAMENTADOS NOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS
. 50 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
CAIXA ECONMICA FEDERAL
Agente fnanceiro que concede fnanciamento s
construtoras, incorporadoras ou diretamente ao usurio,
mediante avaliao e aprovao do projeto e/ou imvel. Para
isso, defne os critrios tcnicos indispensveis aprovao dos
projetos e analisa a viabilidade tcnica, jurdica e econmico-
fnanceira dos projetos. A Caixa se baseia em um conjunto
signifcativo de normas (leis, decretos, instrues normativas,
normas tcnicas etc.) para a avaliao. Entre elas, destacam-
se abaixo aquelas que tm maior implicao nas questes
relativas aos parmetros urbansticos e arquitetnicos:
. Manuais normativos da Caixa documentos de
utilizao interna da Caixa, que contm os parmetros mnimos
adotados para anlise de viabilidade tcnica de propostas de
empreendimentos e acompanhamento de obras vinculadas
a operaes de Crdito Imobilirio. Orientam a atividade de
anlise tcnica de engenharia e arquitetura em propostas de
intervenes de interesse pblico, e estabelecem diretrizes
ESSENCIAL ENTENDER QUE, MUITO EMBORA O LANAMENTO DE NOVOS
EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS SEJA OBJETIVO PRIORITRIO PARA ALGUNS PREFEITOS
QUE QUEREM BENEFICIAR-SE POLITICAMENTE DAS OBRAS, A IMPLANTAO DE GRANDES
EMPREENDIMENTOS EM GRANDES LOTES NO REPRESENTA OBRIGATORIAMENTE AVANO
RUMO MODERNIDADE E AO CRESCIMENTO, E MUITO MENOS A UMA CIDADE MELHOR.
DEPENDENDO DA EQUAO ENTRE AS DIVERSAS VARIVEIS ENVOLVIDAS, OS CUSTOS
SOCIAIS DE IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA, SERVIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS EM
GLEBAS DE GRANDES EMPREENDIMENTOS PODEM TORNAR O EMPREENDIMENTO, NA PONTA
DO LPIS, BASTANTE ONEROSO E DESINTERESSANTE PARA A SOCIEDADE. ENTRETANTO, O
MITO DO CRESCIMENTO ATRELADO CONSTRUO CIVIL E PRODUO DE MORADIA
PELO MERCADO PODE AT LEVAR MUNICPIOS A UMA VERDADEIRA COMPETIO, NOS
MOLDES DE UMA GUERRA FISCAL, COM OFERTA DE TERRAS E OUTRAS FACILIDADES
COMO A PROVISO GRATUITA DE INFRAESTRUTURA PARA GARANTIR A VINDA DE
EMPREENDEDORES DO SEGMENTO ECONMICO. A FALSA IMAGEM DO SUCESSO
URBANO ACABA MUITAS VEZES POR FAVORECER A CORRIDA CONSTRUO DE NOVOS
CONJUNTOS, EM DETRIMENTO DE ABORDAGENS MAIS CUIDADOSAS E SUSTENTVEIS
DOS PROCESSOS DE URBANIZAO.
para as atividades de avaliao de imveis, assim como para
os estudos de velocidade de vendas de empreendimentos
imobilirios. Alm disso, antes da entrega da unidade ao
benefcirio, a Caixa exige que os empreendimentos tenham
habitabilidade mnima, o que signifca ter condies de ser
habitado no momento da entrega das chaves, e funcionalidade
plena do empreendimento, que implica funcionamento de
todos os espaos comuns.
. Norma Tcnica Brasileira NBR 9050 estabelece
critrios e parmetros tcnicos para garantia da acessibilidade
universal em edifcaes, mobilirio, espaos e equipamentos
urbanos.
. Norma Tcnica Brasileira NBR 15220 disciplina e
normatiza o desempenho trmico nas edifcaes a partir da
defnio de oito zonas bioclimticas brasileiras, para as quais
estabelece critrios, parmetros e indicadores de projeto para
bom desempenho trmico.
. Normatizao ISO 6241 (da Organizao Internacional
de Padronizaes) norma internacional que, apesar de
ter sido publicada em 1984, ainda vlida como referncia
. 51 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
para mensurar o desempenho das edifcaes. A norma traz
requisitos qualitativos (ex: segurana estrutural), critrios
quantitativos para cumprimento dos requisitos (ex: resistncia
de uma viga) e mtodos de avaliao para a verifcao do
atendimento ou no do critrio (ex: resistncia caracterstica
do concreto).
. Norma Tcnica Brasileira NBR 15575 disciplina o
desempenho de edifcios habitacionais de at cinco pavimentos
a partir de conjunto de requisitos relacionados segurana
estrutural; segurana contra incndio; segurana no uso e
na operao; desempenho trmico; desempenho acstico;
A CAIXA POSSUI TAMBM O SELO CASA AZUL, CERTIFICAO DE
SUSTENTABILIDADE DO PROJETO HABITACIONAL DE PARTICIPAO VOLUNTRIA,
QUE VISA AO USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS NA CONSTRUO,
REDUO DE CUSTO DE MANUTENO E DIMINUIO DO IMPACTO
AMBIENTAL. A CAIXA VERIFICA, DURANTE A ANLISE DE VIABILIDADE TCNICA
DO EMPREENDIMENTO, O ATENDIMENTO AOS CRITRIOS ESTABELECIDOS,
QUE SE DIVIDEM EM QUALIDADE URBANA, PROJETO E CONFORTO, EFICINCIA
ENERGTICA, CONSERVAO DE RECURSOS MATERIAIS, GESTO DA GUA E
PRTICAS SOCIAIS. CRIADO EM 2010, O SELO BASTANTE RECENTE, TENDO
POUCOS EMPREENDIMENTOS CERTIFICADOS AT O MOMENTO. AINDA ASSIM,
EXIGE A GARANTIA DE ALGUNS PARMETROS IMPORTANTES PARA A QUALIDADE
URBANSTICA E ARQUITETNICA DOS EMPREENDIMENTOS, ESPECIALMENTE NO
ASPECTO AMBIENTAL, PODENDO TORNAR-SE INSTRUMENTO IMPORTANTE.
desempenho lumnico; conforto ttil e antropodinmico;
estanqueidade; durabilidade e manutenibilidade; sade,
higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade e
adequao ambiental. Essa norma, embora j em vigor, ainda
no tem sido seguida pelo mercado da construo. Tampouco
exigida para os empreendimentos do PMCMV, embora
haja sinalizaes de que isso venha a ocorrer. A consolidao
e cumprimento pelo mercado, fscalizao e incorporao
ao PMCMV so de grande importncia para a melhoria da
qualidade dos projetos arquitetnicos do segmento econmico.
No caberia aqui anlise exaustiva do arcabouo de
normatizaes com o qual a Caixa trabalha para aprovao
de projetos no mbito do PMCMV. Porm, h de se observar
certo descompasso entre a quantidade de normas e a baixa
qualidade arquitetnica e urbanstica da produo que ocorre
pelo pas. Isso mostra que, certamente por muitas razes, o
rigor da norma no tem o mesmo efeito na aplicao prtica.
possvel dizer que apesar de necessrias para equalizar
a qualidade e a segurana das edifcaes contratadas,
observou-se neste estudo que o conjunto normativo tende a
consolidar apenas parmetros mnimos. A Caixa, detendo-se
em detalhes tcnicos, com certo preciosismo processual, no
tem logrado com eles garantir a qualidade arquitetnica e
urbanstica dos conjuntos residenciais construdos no mbito
do programa.
Na realidade, ainda que existam diferentes graus
de exigncias das agncias regionais da Caixa distribudas
pelo pas, pode-se inclusive dizer que notvel a repetio
de padres arquitetnicos, que, aprovados pelo banco, so
excessivamente reproduzidos, inclusive em empreendimentos
de distintas faixas de renda.
. 52 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
BANCOS PRIVADOS
Os bancos privados tambm podem atuar no PMCMV
como agentes fnanceiros, ainda que a Caixa se mantenha como
agente operador dos recursos do FGTS, que lastreiam parte dos
recursos do PMCMV. Os outros bancos operam na faixa de trs
a dez salrios mnimos, com recursos do FGTS, so agentes
fnanceiros do fundo, enquanto a Caixa agente operador e
fnanceiro. O agente operador responsvel por responder ao
Conselho Curador do FGTS pelos gastos efetuados, enquanto
o agente fnanceiro realiza os gastos com esse recurso. Note-se
que os empreendimentos de zero a trs salrios mnimos so
administrados exclusivamente pela Caixa, pois so realizados
com recursos do FAR.
CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS
No primeiro captulo foi ressaltado que, embora a
competncia sobre a regulao do uso e ocupao do solo urbano
seja do Estado, em sua escala municipal, ainda assim compete
s construtoras e incorporadoras a corresponsabilidade sobre
os resultados da urbanizao dos novos empreendimentos do
PMCMV. Por isso, imprescindvel que a categoria incorpore
sua atuao em movimento de conscientizao para a questo
maiores preocupaes quanto qualidade da insero urbana
e acesso a redes de infraestrututra e transportes.
A PRODUO DE CIDADES MENOS IMPACTANTES E
MAIS JUSTAS QUESTO DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL: O QUE SE FAZ DE ERRADO HOJE, MESMO
SENDO SOLUES QUE NA APARNCIA E DE IMEDIATO
SEJAM BOAS, IR IMPACTAR AS GERAES FUTURAS. A
IMPERMEABILIZAO DO SOLO, SUA CONTAMINAO
POR SISTEMAS INADEQUADOS DE SANEAMENTO E
O DESMATAMENTO TERO CONSEQUNCIAS NAS
PRXIMAS GERAES. DE FORMA AINDA MAIS
PROFUNDA, A SEGREGAO SOCIOESPACIAL, A FALTA
DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAO E DE SADE E AS
CONDIES PRECRIAS DE TRANSPORTE AFETARO AS
CRIANAS E SEU FUTURO.
Disso decorre que um empreendimento habitacional
no tem como ser tratado como outro tipo qualquer de
atividade econmica, pois no devem nortear-se apenas pelos
possveis resultados fnanceiros. Os ganhos imediatos de
um empreendedor podem representar custos sociais muito
maiores no futuro. Portanto, no h dvida que a melhor
urbanizao no Brasil passa por profunda conscientizao, por
parte dos empreendedores e construtores, dos limites sociais e
ticos que sua atividade pressupe.
Tal fato torna-se ainda mais evidente justamente
porque ao atuar no PMCMV, o setor privado se benefcia
de subsdios, ou seja, do comprometimento de importantes
fundos pblicos. Por isso, a responsabilidade social de sua
atividade deve ser-lhe imputada. Os diferentes agentes
da construo civil tm por isso obrigao de assumir
corresponsabilidades quanto sustentabilidade e efeitos
futuros da urbanizao que promovem, em relao qualidade
da arquitetura que produzem, em relao ao espao pblico e
cidade.
H, por fm, um ltimo aspecto importante: comentou-
se no primeiro captulo sobre como os valores da boa
arquitetura foram esquecidos na produo atual do segmento
econmico. Isso quer dizer que, de forma geral, h poucos
arquitetos envolvidos nos processos decisrios ou, quando
existem, devem submeter-se s diretrizes ditadas pelas
prioridades comerciais. Reproduzem meros desenhos e no
mais produzem boa arquitetura.
DE RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS E
INCORPORADORAS ENVOLVER E DAR ESPAO AOS
PROFISSIONAIS DA ARQUITETURA, PARA PROMOVER
SOLUES ARQUITETNICAS E URBANSTICAS
INOVADORAS, ORIGINAIS, ADEQUADAS REALIDADE
DE CADA LOCAL, ECONMICAS, E DE GRANDE
QUALIDADE.
. 53 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
Notas sobre a promoo habitacional
pblica de interesse social e o PMCMV
Como j visto, os programas habitacionais no Brasil destinados populao de
menor ou nenhuma renda, sobretudo na segunda metade do sculo XX, benefciaram,
na maior parte dos casos, a populao de renda um pouco mais elevada. A poltica
pblica de moradia sofria de diversos problemas: falta de subsdios a fundo perdido;
recorte privatista poltica pblica, dando-lhe um enfoque mais econmico do
que habitacional, que alimentavam o sonho da casa prpria e se voltavam ao
favorecimento das grandes empreiteiras no bojo do milagre econmico; difculdade
em se obter terras urbanizadas a preos acessveis para assim baratear o preo das
unidades; e, sobretudo, o clientelismo, que contaminava o oferecimento das moradias
pelos programas pblicos.
Mas, por outro lado, e ao contrrio do que ocorre com a produo do segmento
econmico, as polticas habitacionais pblicas para a baixa renda foram fortemente
reivindicadas pela sociedade civil, em especial os movimentos de luta pela moradia,
ainda no perodo do regime militar. Dessa mobilizao decorreram, sem dvida, ao
longo das ltimas dcadas do sculo passado, avanos considerveis no tratamento
da questo: desde a Constituio de 1988, que estabeleceu o conceito da funo social
da propriedade e deu aos municpios a prerrogativa e responsabilidade da poltica
territorial, at a aprovao, em 2001, do Estatuto da Cidade, que regulamentou
importantes instrumentos para que os poderes pblicos municipais enfrentassem o
mau uso da terra urbana, a reteno especulativa, a informalidade da posse, ou ainda
facilitassem o seu acesso pelas camadas de mais baixa renda. A prpria criao do
Ministrio das Cidades, em 2003, e a implantao dos conselhos e fundos nacionais,
estaduais e municipais de habitao foram outros avanos considerveis na poltica
habitacional brasileira, mesmo que, atualmente, a criao de grande parte deles seja
meramente formal ou esteja em fase de implementao
6
.
Atualmente, a existncia de importantes programas, como o Programa de
Acelerao do Crescimento - PAC, que tem modalidade destinada exclusivamente
urbanizao de assentamentos precrios, ou ainda o PMCMV para as faixas de
baixa renda, mostra que, felizmente, a temtica da informalidade e da precariedade
habitacionais ganham espao na agenda poltica brasileira.
Ainda assim, passada uma dcada desde a aprovao do Estatuto da Cidade,
no se pode dizer que o quadro da habitao de baixa renda no Brasil tenha se alterado
de modo signifcativo. Embora alguns municpios no pas tenham implementado
instrumentos do Estatuto para promover a regularizao fundiria ou combater
a reteno especulativa de terras, a verdade que poucas cidades (ou nenhuma)
6 O governo federal tambm elaborou, entre 2007 e 2008, o Plano Nacional de Habitao, um
importante instrumento da Poltica Nacional de Habitao.
. 54 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
aplicaram efetivamente tais instrumentos de maneira articulada, sistmica e macia, de
tal forma que se alterasse o quadro da desigualdade social urbana. Na prtica, o gargalo
histrico do acesso terra pelos mais pobres continua, e raros so os municpios que
conseguiram, nestes anos, fazer um estoque signifcativo de lotes urbanizados para
promover polticas habitacionais sociais efetivas. A questo essencialmente poltica, e
passa pelo indispensvel compromisso, mas ainda inexistente, de toda a sociedade com
a evidente prioridade que o tema da falta de moradias deveria ter.
O PMCMV representa ento importante compromisso em relao
problemtica habitacional: pela primeira vez destinaram-se subsdios considerveis,
a fundo perdido, para construir habitaes sociais para as faixas de renda muito
baixa. Porm, os obstculos que ele deve enfrentar ainda so enormes.
O maior deles, sem dvida, est relacionado ao acesso a terra bem localizada
que se refete em duas situaes: o j citado processo de valorizao fundiria que o
programa promove, mesmo involuntariamente, que drena os subsdios pblicos ao
pagamento dessa valorizao, benefciando o proprietrio da terra, e no o morador;
e, a implementao dos empreendimentos habitacionais em reas cada vez mais
distantes, com pssima insero urbana.
Fora o problema central da terra, o PMCMV est voltado em grande medida
produo de unidades habitacionais novas, com vistas diminuio do dfcit
habitacional quantitativo
7
, e no compreende modalidades importantes da poltica
habitacional - como a poltica fundiria e desenvolvimento institucional
8
- tambm
relevantes ao enfrentamento efetivo do dfcit habitacional brasileiro. A lei que criou
o programa dispe tambm sobre instrumentos especfcos para facilitar os processos
de regularizao fundiria em reas urbanas, e reabilitao de edifcios vazios, porm
praticamente no tm sido implementados.
O atendimento a espectro to amplo de faixas de renda no mesmo programa gera
certa interferncia entre elas, o que, de alguma forma, confunde a ao pblica: como
j dito, os subsdios pblicos, a princpio destinados baixa renda, benefciam tambm
o segmento econmico, nas faixas at seis salrios mnimos. Esses empreendimentos,
em competio desigual, conseguem adquirir terras urbanizadas mais bem localizadas
e mais valorizadas, do que aqueles para menor renda, que no conseguem fazer frente
7 O clculo das necessidades habitacionais, realizado pela Fundao Joo Pinheiro para o Ministrio
das Cidades, composto pelo dfcit habitacional quantitativo, por reposio ou incremento
do estoque, e pela inadequao de domiclios, ou dfcit qualitativo. Para o clculo do Dfcit
Quantitativo so considerados: (1) as habitaes precrias (domiclios rsticos e domiclios
improvisados), (2) a coabitao familiar (parte das famlias que coabitam involuntariamente e
as famlias que vivem em cmodos), (3) nus excessivo com aluguel (famlias com renda at trs
salrios mnimos que comprometem 30% ou mais de sua renda com aluguel) e, (4) os domiclios
alugados com adensamento excessivo.
Para o clculo da inadequao habitacional so considerados:
(1) densidade excessiva de morador por dormitrio, (2) carncia de servios de infraestrutura, (3)
inadequao fundiria e (4) inexistncia de unidade sanitria interna exclusiva.
8 Conforme publicado, por exemplo, no recente Plano Nacional de Habitao (PLANHAB), que se
estrutura nas seguintes linhas programticas: 1. Integrao Urbana de Assentamentos Precrios e
Informais, 2. Produo e Aquisio da Habitao, 3. Melhoria Habitacional, 4. Assistncia Tcnica
e 5. Desenvolvimento Institucional, partindo da compreenso de que uma poltica habitacional vai
muito alm da produo de unidades habitacionais novas.
. 55 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
a tal valorizao e so empurrados para reas mais perifricas
e menos bem servidas.
A repetio dramtica, mas quase previsvel, a
cada ano, dos desastres decorrentes das chuvas, atingindo
invariavelmente a populao assentada em bairros informais
precrios, prova inquestionvel do quanto a situao
habitacional dos mais pobres ainda , no Brasil, amplo
desafo aos municpios. Sua soluo envolve no s polticas
pblicas de moradia, mas a consolidao de prticas de gesto
conjuntas entre esferas de governo, e o essencial envolvimento
do setor privado e dos proprietrios fundirios. Enquanto a
questo da terra no for enfrentada, inclusive com movimento
de recuperao das reas centrais e seus imveis vazios
tambm para fns de moradia social, as polticas habitacionais
brasileiras esto destinadas a certa inefcincia. Em razo de
tantos entraves, programas de grande amplitude, como o
PMCMV, ainda dinamizam muito mais os setores de renda
mdia, em que atua a iniciativa privada.
Por essa razo, o fortalecimento do PMCMV destinado
s faixas de renda entre zero e trs salrios mnimos
2.2. Exemplo de produo habitacional sem qualidade arquitetnica.
fundamental, se que no deveria, eventualmente, ganhar
vida prpria, como programa autnomo e exclusivo para
habitao de interesse social. Questes especfcas do segmento
de baixa renda devero ser enfrentadas, como o repasse e
subcomercializao de unidades e at a inadimplncia, que
no caso de famlias muito pobres, deve ser equacionada tanto
quanto possvel como varivel aceitvel do programa. Em sua
segunda fase, o PMCMV 2 anuncia mudanas importantes,
inclusive j sinalizadas na mdia nacional: muitas difculdades
acima enunciadas tentam ser enfrentadas, no que diz respeito
ao compromisso dos municpios, dos empreendedores e do
prprio operador fnanceiro, com a necessidade de se fazer a
urbanizao dos empreendimentos, e no somente produzir
casas
9
.
9 Devemos construir cidades, no mais simples conjuntos
habitacionais o ttulo de entrevista com a Secretria Nacional de
Habitao, Ins Magalhes, na publicao Conjuntura da Construo,
de dezembro de 2010.
2.2
. 56 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Do ponto de vista da qualidade arquitetnica, a produo pblica vive hoje
situao paradoxal: por um lado, herda a pssima qualidade da produo do regime
militar, no perodo do BNH, quando a moradia dos grandes conjuntos habitacionais
sequer era considerada propriamente arquitetura pela categoria profssional que,
apesar das excees, ignorou a questo. O resultado foram empreendimentos sem
projeto, de grande impacto ambiental (geralmente pela abusiva movimentao de
terra), com casinhas idnticas ou prdios com planta em formato de H reproduzidos
infnitamente, pssima qualidade construtiva, conjuntos monofuncionais, que se
tornaram imensas, distantes e desagradveis cidades-dormitrios.
Por outro lado, a partir da redemocratizao, nos anos 1990, novas experincias
de polticas habitacionais foram implementadas em algumas cidades, por meio de
iniciativas estaduais ou municipais, como mutires, concursos de arquitetura etc.
A presena mais incisiva de arquitetos nessas polticas - por meio de concursos de
arquitetura ou junto s associaes de mutirantes - marcou certa infexo na qualidade
da produo da habitao social pblica no Brasil. Embora no tenha se generalizado,
sendo ainda marcante o padro herdado do BNH, essa participao dos arquitetos
produziu importantes referncias de projetos com maior qualidade.
Alm disso, a mudana de postura das polticas de interveno em favelas,
enfocando a possibilidade de sua urbanizao, ao invs da sua simples erradicao, fez
com que aumentassem as intervenes com produo de moradia, tambm nesse caso
com certa qualidade.
Apesar desses exemplos de boas solues de melhor qualidade - especialmente
com a introduo de arquitetos em um meio at ento dominado por projetos tcnicos
de fundo de gaveta que eram aplicados indiscriminadamente no territrio -, a produo
pblica hoje, em regra geral, ainda no boa, do ponto de vista arquitetnico. Reproduz
os modelos do perodo do BNH, com conjuntos de milhares de casas idnticas, de
pssima arquitetura. A habitao popular tornou-se sinnimo de baixa qualidade.
Deixa-se tambm contaminar pela m qualidade arquitetnica da produo privada
para a renda mdia, do segmento econmico. Parece paradoxal, em um pas em que a
efcincia do setor privado geralmente muito festejada, que hoje o setor pblico para
baixa renda produza mesmo que em quantidade ainda muito pequena exemplos
de conjuntos habitacionais com mais qualidade do que os produzidos pelo mercado
privado do segmento econmico.
A qualidade arquitetnica nas polticas de habitao social
2.3a a 2.3e. Exemplo de projetos pblicos para habitao de interesse social com maior qualidade
arquitetnica e urbanstica. Imagem de projetos dos escritrios de arquitetura Piratininga (a -
Residencial Cdte. Taylor, So Paulo-SP), Vigliecca e Associados (b, c - Conjunto rea dos Portais,
Osasco-SP), e Peabiru TCA (d, e - Conjunto Residencial Alvorada, So Paulo-SP).
2.3a
2.3b
2.3c
2.3d
2.3e
. 57 . Segmento econmico e Programa Minha Casa Minha Vida: Regras do jogo, agentes envolvidos e impactos decorrentes
2.4a a 2.4c. Exemplo de boas solues projetuais da atualidade:
programa PROSAMIN Igarap So Jos, Manaus-AM, do arquiteto Luis
Fernando Freitas (a, b) e ncleo habitacional no complexo do Alemo
fnanciado pelo PAC - urbanizao de favelas, do arquiteto Jos Mario
Juregui (c).
2.5a a 2.5c. Exemplos de concursos recentes para habitao social e
urbanizao de favela no Brasil: Concurso Habita Sampa (COHAB-
PMSP e IAB-SP, 2004). Projeto: FRENTES Arquitetura. Concurso
Habitao para Todos (CDHU e IAB-SP, 2010). Projeto: Monica Drucker
e Ruben Otero. Concurso Morar Carioca (SMH-PMRJ e IAB-RJ, 2010).
Projeto: Maira Rios (coord.)
2.4a 2.4b 2.4c
2.5a
2.5b 2.5c
. 58 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 59 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Os primeiros captulos deste livro mostraram como ocorre atualmente no
Brasil signifcativo crescimento da produo imobiliria destinada s classes mdias,
o chamado segmento econmico. Mostraram tambm que o Programa Minha Casa
Minha Vida tornou-se alavanca importante dessa produo privada, com fnanciamento
pblico, e da construo de moradias para a populao de baixa renda, nesse caso com
importantes subsdios pblicos.
O boom da construo civil no Brasil est transformando o cenrio urbano do
Pas, porm em direo bastante preocupante, cujas principais caractersticas foram
genericamente analisadas nos captulos anteriores.
3
Retrato da atual produo do segmento
econmico e parmetros de qualidade
urbanstica e arquitetnica
O PRESENTE CAPTULO FAR AGORA RADIOGRAFIA MAIS DETALHADA
DA QUESTO, MOSTRANDO, PARA CADA ASPECTO DESSA PRODUO,
OS PROBLEMAS DA PRODUO ATUAL, SEGUIDOS DE PARMETROS
DE QUALIDADE URBANSTICA E ARQUITETNICA, QUE EVIDENCIAM OS
CAMINHOS PARA A POSSVEL REINVENO DE NOSSO MODELO URBANO.
. 60 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Nota metodolgica
populacionais dos empreendimentos, assim como,
quando possvel, os valores envolvidos no processo de
incorporao e venda.
Entretanto, o objetivo da pesquisa sendo o de
subsidiar as anlises deste livro, e no o de apontar
nominalmente situaes ou empreendimentos especfcos,
os padres observados foram traduzidos para modelos
criados pela equipe de pesquisa. Assim, as simulaes, os
modelos tridimensionais, as esquematizaes, os folders
publicitrios mostrados no livro no so casos reais
especfcos, mas modelos produzidos segundo valores
e parmetros mdios observados na base pesquisada.
Foram desenhados baseando-se em desenhos de
implantao, perspectivas e plantas reais utilizados pelas
construtoras e incorporadoras. Correspondem, portanto, a
situaes reais, genericamente categorizadas.
Essa categorizao levou a trs tipologias
identifcadas como as mais utilizadas, recorrentes em
todo o territrio nacional, correspondendo aos seguintes
modelos: (i) residncias unifamiliares (casas trreas), (ii)
edifcios verticais de quatro a cinco pavimentos e (iii)
edifcios verticais com elevador (torres).
O segundo passo da pesquisa foi a corroborao
do material levantado da internet com situaes reais. Tal
verifcao foi possvel graas s imagens realizadas em
visitas especfcas para esta publicao, ou ainda quelas
disponveis nos bancos de dados do LabHab-FAUUSP e
de seus colaboradores, mas sobretudo graas ao acesso
irrestrito a extenso banco de imagens areas de inmeros
municpios brasileiros, produzidas pelo Laboratrio
de Pesquisa LabQUAP-FAUUSP, e gentilmente
disponibilizadas para a realizao deste livro.
Vale enfatizar que esta publicao no exaustiva,
tampouco se coloca como cartilha a ser seguida
automaticamente. Pelo contrrio, ela pretende sensibilizar
os agentes promotores quanto relevncia de se
introjetar no processo de produo dos empreendimentos
habitacionais um conhecimento especfco de arquitetura e
urbanismo indispensvel para se atingir outro patamar de
qualidade nessa produo.
O quadro da produo do segmente econmico
apresentado neste livro baseou-se em extensa pesquisa,
realizada de setembro a dezembro de 2010, no LabHab-
FAUUSP.
Foi feito levantamento da produo de
grandes construtoras e incorporadoras atuantes no
segmento econmico nas diversas regies do Brasil
e comercializados no mbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, a partir do material de divulgao
disponibilizado pelas mesmas na internet.
As grandes construtoras trabalham todas com
a comercializao por internet, por isso, embora no
exaustiva, tal metodologia permite ter uma abrangncia
razovel da produo do segmento econmico,
alcanando todo o territrio nacional. Mesmo que,
certamente, no se tenha conseguido um panorama
completo da produo, ainda assim foi possvel levantar
cerca de uma centena de empreendimentos por todo o
pas.
Foram selecionados projetos do setor privado com
obras j fnalizadas ou em andamento, com recorte pela
faixa de peo da unidade habitacional (dentro do teto
mximo estipulado na normativa do programa MCMV)
e pelo subsdio anunciado pelas construtoras (entre 17
e 23 mil reais), caracterizando a produo do chamado
segmento econmico.
Entende-se por isso o mercado especifcamente
destinado populao de renda mdia e mdia-
baixa, variando entre trs e dez salrios mnimos, que
apresentou signifcativo aquecimento a partir de 2006, e
passou a ser foco importante do Programa Minha Casa
Minha Vida, a partir de 2009.
Feito tal levantamento, foram realizadas planilhas-
padro para coleta de dados de forma a traduzir
os padres tipolgicos, construtivos, estticos, de
localizao e insero urbana dos empreendimentos no
referido segmento. Verifcou-se tambm as densidades
. 61 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
3.1a.Manaus
3.1d.Campinas
3.1g.Fortaleza 3.1f.Belm 3.1e.Salvador
3.1b.So Paulo 3.1c.Rio Branco
. 62 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
3.1h.Porto Alegre 3.1i.Manaus 3.1j.Rio de Janeiro
3.1n.Belm 3.1m.Natal
3.1o.Belm
3.1l.Rio de Janeiro
3.1p.Mau 3.1q.Mau 3.1r.Guarulhos
3.1u.So Paulo 3.1t.So Paulo 3.1s.Guarulhos
. 63 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Concluindo o captulo, para ilustrar os parmetros de qualidade, sero analisados
seis exemplos reconhecidos de bons projetos habitacionais, nacionais e internacionais,
em seus aspectos urbansticos e arquitetnicos.
Os problemas relatados nos captulos anteriores e os parmetros de qualidade
sugeridos so apresentados segundo as diferentes escalas em que ocorrem: parte-se
da maior escala, que abrange aspectos urbansticos, at chegar menor, relativa s
unidades habitacionais.
IMPORTANTE TER EM VISTA QUE AS ESCALAS SE INTER-RELACIONAM.
ASSIM, A GARANTIA DE MORADIA DE QUALIDADE NO EST APENAS
NA BOA INSERO URBANA, TAMPOUCO NA BOA IMPLANTAO,
COMO TAMBM NO DEPENDE SOMENTE DE CORRETA SOLUO
TIPOLGICA OU TECNOLGICA, ISOLADAMENTE. A QUALIDADE
URBANSTICA E ARQUITETNICA EST NA BOA RELAO ENTRE AS TRS
ESCALAS, EM DILOGO COM O CONTEXTO SOCIOESPACIAL DO QUAL O
EMPREENDIMENTO FAZ PARTE.
3.1a a 3.1u (pginas 61 e 62). Exemplos do
crescimento da produo do segmento
econmico no Brasil. Imagens de diversas
cidades do Brasil (Manaus, So Paulo,
Rio Branco, Campinas, Salvador, Belm,
Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Natal, Mau e Guarulhos). possvel
observar a repetio de tipologias e
solues ao longo do pas, desconsiderando
as diferenas e particularidades de cada
regio.
Escalas de anlise:
Insero urbana: escala que relaciona o
empreendimento cidade e ao bairro em que est
inserido, tendo em vista aspectos como acessibilidade,
presena de servios urbanos e integrao malha
urbana;
Implantao: escala que se refere ao empreendimento,
sua relao com o entorno imediato (ruas vizinhas),
com a forma de ocupao do terreno e a integrao
entre as edifcaes, reas verdes e livres, espaos de
convivncia e circulao;
Unidades habitacionais: escala referente s
caractersticas da edifcao ou da unidade
habitacional, tendo em vista seu dimensionamento,
fexibilidade, conforto ambiental, tcnicas e materiais
adotados, e sistemas construtivos utilizados.
Parmetros de qualidade:
. infra estrutura e servios urbanos;
. localizao e acessibilidade;
. fuidez urbana.
. adequao topografa do terreno;
. paisagismo e impacto ambiental;
. formas de ocupao do terreno;
. reas comuns e de laze;
. densidade e dimenso.
. custo de construo;
. conforto ambiental;
. destribuio das unidades no pavimento tipo;
. dimensionamento;
. fexibilidade;
. desempenho e efcincia;
. sustentabilidade.
. 64 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A anlise da produo atual do segmento econmico evidencia que, em grande
parte dos empreendimentos habitacionais, no tm sido verifcadas boas solues
na escala da insero urbana. O espraiamento urbano, segregao socioespacial,
consolidao de grandes vazios urbanos, bairros monofuncionais, formao de reas
isoladas ou desarticuladas da malha urbana, sem diversidade de usos e grupos sociais,
caracterizam padro de produo das cidades que j se mostrou insustentvel do
ponto de vista ambiental, econmico e social. Por isso, apresentamos a seguir os
entraves mais signifcativos que contribuem para esse cenrio.
O custo do terreno participa da composio dos preos de venda do imvel
e interfere nos resultados fnanceiros do agente promotor. O mercado tende a adquirir
reas mais baratas para a construo dos empreendimentos, sob o argumento de ser
a nica maneira de oferecer imveis a preos acessveis s faixas de menor renda e
obter retorno fnanceiro adequado s expectativas. Porm, os terrenos mais baratos
so justamente os mais distantes do centro, na periferia ou franjas urbanas, e sua
utilizao implica alto custo social, em funo da necessidade de ampliao das redes
de infraestrutura e servios urbanos, e do aumento do custo de vida das famlias, em
decorrncia da difculdade de acesso ao transporte coletivo e das grandes distncias a
se percorrer entre a moradia e locais de trabalho.
Apesar de custos sociais nada desprezveis, percebe-se que as construtoras
insistem em glamurizar um padro de vida suburbano: os folders de empreendimentos
Insero urbana: a produo atual
3.2. Ao fundo, obra do segmento econmico
prxima a shopping-center, em Campinas-
SP.
3.3a a 3.3i. Exemplos de espraiamento
urbano. Imagens de Campinas, Fortaleza,
Manaus, Natal, Sorocaba e Porto
Alegre. Observe-se o impacto ambiental
signifcativo dessa urbanizao, alm da
visvel desconexo de alguns deles em
relao cidade.
3.2
. 65 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
3.3a. Campinas
3.3c. Fortaleza
3.3d. Manaus
3.3e. Manaus 3.3f. Natal
3.3i. Porto Alegre 3.3h. Sorocaba 3.3g. Sorocaba
3.3b. Campinas
. 66 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao de empreendimentos do
PMCMV por faixa de renda no Rio de
Janeiro-RJ (mapa do Observatrio das
Metrpoles - IPPUR/UFRJ - editado pelo
LabHab). Verifca-se a distribuio dos
empreendimentos de acordo com as faixas
de renda, havendo pouqussimos conjuntos
nas regies S e SO, mais valorizadas e
estruturadas.
3.4a a 3.4c. Monofuncionalidade e criao
de cidades-dormitrios em Campinas,
Manaus e Porto Alegre. Ausncia de
comrcio, de servios e equipamentos
urbanos e evidente distanciamento do
centro mais urbanizado.
3.4a 3.4b 3.4c
minimizam a questo, valorizando, como substituio ao
distanciamento do centro, a eventual proximidade de grandes
equipamentos, como shoppings, hipermercados etc.
Morar em reas bem infraestruturadas e equipadas,
perto de centros de comrcio e servios, polos de emprego
e equipamentos de lazer implica, portanto, assumir nus
elevado com o valor da terra urbanizada. Por outro lado,
cumpre destacar que o custo social de implementao de
infraestrutura decorrente de empreendimentos em localizaes
distantes, em geral no computado como parte do custo do
empreendimento, onerando o setor pblico, que raramente impe
regras para a recuperao de pelo menos parte do gasto.
A produo em escala no segmento econmico vem
sendo adotada como forma de diluio dos preos do terreno e
de construo de nmero maior de unidades habitacionais, o que
refora a tendncia de espraiamento territorial, na medida em que
parte das grandes glebas disponveis se encontra fora dos centros
urbanos mais consolidados. No entanto, a m localizao pode
gerar difculdades de insero de mercado do produto imobilirio,
reduzindo signifcativamente sua velocidade de venda, o que
. 67 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
3.5a a 3.5e. Porto Alegre (a), Manaus (b), Campinas(c,d) e Guarulhos(e):
ausncia de fuidez urbana. Presena de grandes reas muradas e malha
viria desfragmentada do restante da cidade.
3.5e
3.5d
3.5c
3.5b
3.5a
signifca alguns desafos para o setor no equacionamento
das variveis, diferentemente da produo da Habitao
de Interesse Social, voltada a faixas de mais baixa renda,
totalmente tolhida da escolha da localizao de sua moradia.
O levantamento sobre a produo atual do segmento
econmico mostrou diversos empreendimentos
localizados fora da malha urbana ou nas franjas das
cidades, por todo o Brasil. claro que o problema relativo
m insero urbana se diferencia de acordo com o porte
e dinmica da cidade: estar localizado na franja de uma
cidade de pequeno porte pode implicar melhor condio de
acessibilidade do que na franja de uma cidade-dormitrio de
grande regio metropolitana. Ainda assim, o problema de m
insero urbana fcou evidente na maior parte das cidades
pesquisadas. A m localizao de um conjunto habitacional
eleva o tempo de deslocamento dirio das famlias, promove
piores condies de acessibilidade, e ainda refora o modelo
urbano baseado no automvel.
Ao construir em terrenos perifricos, deixa-se
de aproveitar e otimizar os terrenos vazios inseridos na
malha urbana, na qual j existem equipamentos, servios
e infraestrutura instalada. Por outro lado, grandes
empreendimentos habitacionais podem ainda assim gerar
impacto urbano negativo, mesmo quando localizados dentro
da cidade, por aumentarem a demanda por equipamentos,
infraestrutura e servios, sobrecarregando a situao existente.
A falta de fuidez urbana, especialmente para
o sistema virio, fca comprometida a partir da insero
urbana de inmeros empreendimentos habitacionais, que
ocupam grandes terrenos com permetros murados, causando
segmentao da malha urbana. Isso difculta os deslocamentos
dirios de grande parte da populao, as possibilidades de
crescimento da cidade e ainda se relaciona, inmeras vezes, com
a falta de diversidade de usos em reas predominantemente
residenciais.
. 68 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Insero urbana: parmetros de qualidade
Os parmetros de qualidade para boa insero urbana
passam pela equao entre custo do terreno e garantia da
qualidade de vida das pessoas. Um terreno mais bem inserido
na cidade pode viabilizar melhores condies de vida, maiores
possibilidades de trabalho, menor custo de vida (menores
gastos com transporte, por exemplo), acesso aos equipamentos
de educao, sade, cultura e lazer existentes, aproveitando a
infraestrutura e servios urbanos instalados.
A ADEQUADA INSERO URBANA DE UM
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL GARANTIDA
POR BOA LOCALIZAO NA MALHA URBANA,
EM REGIES COM INFRAESTRUTURA INSTALADA
E PROVIDAS DE SERVIOS E EQUIPAMENTOS
URBANOS. ALM DISTO, O CONJUNTO
HABITACIONAL BEM INSERIDO NA CIDADE DEVE
ESTAR PRXIMO A ESTABELECIMENTOS DE COMRCIO
E SERVIOS E DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAO,
SADE, CULTURA E LAZER. A ACESSIBILIDADE
EM TEMPO ADEQUADO A CENTRALIDADES
REGIONAIS E LOCAIS E A INTEGRAO REDE DE
TRANSPORTE PBLICO TAMBM SO NECESSRIAS.
EM OUTRAS PALAVRAS, UM EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL BEM INSERIDO NA CIDADE AQUELE
COMPROMETIDO COM PROCESSO DE URBANIZAO
JUSTO E DEMOCRTICO, QUE GARANTA QUALIDADE
DE VIDA AOS MORADORES E AOS DEMAIS
CIDADOS IMPACTADOS POR ELE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE.
So parmetros de qualidade na escala da insero
urbana:
. Infraestrutura e servios urbanos
. Localizao e acessibilidade
. Fluidez urbana
. 69 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
3.6. Edifcio Pirineus, em So Paulo,
construdo por mutiro autogerido para
faixas de renda baixa: observa-se que
a boa localizao na cidade garante a
acessibilidade (presena de transportes
pblicos), a mescla de usos, que permite
disponibilidade de servios e comrcio e
proximidade com equipamentos e trabalho.
3.7. A boa localizao garante diversidade
de usos e dinamismo urbano, como o
caso das reas centrais. Exemplo: centro da
cidade de Montevidu, Uruguai.
Presena (e otimizao) da INFRAESTRUTURA E SERVIOS URBANOS:
em grande medida oriunda de investimentos pblicos, a infraestrutura um
dos mais importantes parmetros de qualidade na escala da insero urbana. Os
empreendimentos habitacionais necessitam estar providos de sistema de abastecimento
de gua, coleta e tratamento de esgotos, pavimentao, iluminao pblica, energia
eltrica, coleta de lixo e drenagem adequada das guas pluviais. A localizao em
rea que j conte com infraestrutura instalada tambm importante, no implicando
extenso das redes, assim como a proximidade a pontos de comrcio, servios bsicos e
equipamentos educacionais, de sade, cultura e lazer, acessveis por rota de pedestres,
preferencialmente.
LOCALIZAO: a boa localizao de um empreendimento habitacional
garantida por adequada insero na malha urbana, que, por sua vez, relaciona-se ao
porte do municpio ou regio onde se insere. A formao de grandes reas habitacionais,
sem mescla de usos, atividades e grupos sociais, deve ser evitada, enquanto a criao
de reas comerciais nos conjuntos habitacionais deve ser estimulada, revertendo a
renda obtida com a locao dessas reas para os gastos condominiais e manuteno.
Alm disto, tambm deve ser evitada a proximidade a fatores prejudiciais ao bem-
estar e ao conforto ambiental dos usurios e moradores, como fontes de rudos,
odores e poluio excessivos e constantes. O uso de vazios urbanos, terrenos em reas
centrais e a reabilitao de edifcios so recomendados, pois contribuem para o melhor
aproveitamento da cidade, especialmente nas grandes metrpoles.
3.6 3.7
. 70 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Exemplos de insero de empreendimentos na mancha
urbana de cidades brasileiras
. 71 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
. 72 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A questo da localizao e acessibilidade dos empreendimentos habitacionais
ganha ainda maior premncia quando se considera que, no Brasil, a quantidade de
unidades habitacionais vazias em reas centrais das nossas cidades, cerca de 5 milhes,
aproxima-se do dfcit habitacional brasileiro total! Embora no se possa fazer essa
conta de forma to direta, pois no processo simples recuperar esses imveis e
reabilit-los (por questes tcnico-construtivas, jurdicas, polticas, culturais etc.), ainda
assim simbolicamente importante imaginar que se essas unidades fossem oferecidas
em sua totalidade para moradia, o dfcit seria quase totalmente sanado.
Complicaes jurdicas quanto propriedade, preo fundirio alegadamente
caro (o que nem sempre verdadeiro), infraestrutura obsoleta, falta de domnio tcnico
para a reabilitao, quanto a materiais, tcnicas, mo de obra, so fatores que elevam
os custos e inibem a formao de um mercado especfco de reabilitao, como ocorreu,
por exemplo, na Europa, a partir do ps-guerra. L, nos dias atuais, cerca de 50% da
atividade da construo civil so compostos por reabilitaes e reformas.
Assim, importante frisar que, mesmo que ainda no seja um cenrio que
compe a produo atual no segmento econmico, a produo de moradias em reas
centrais caminho necessrio para a boa qualidade urbana, pois se resolve, de partida,
a questo da localizao e acessibilidade e da presena de infraestrutura, equipamentos
e servios urbanos.
Moradia na rea central
3.8a e 3.8b. Exemplo de
imveis reabilitados na
regio central de So Paulo-
SP. Edifcio Maria Paula
e edifcio Riskallah Jorge.
Os empreendimentos
reabilitados aproveitam
a infraestrutura que
reas centrais oferecem,
possibilitando boa
localizao, acessibilidade e
presena de equipamentos
e servios.
3.8a 3.8b
. 73 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
ACESSIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO: est
relacionada adequada integrao rede de transporte pblico
e a sistema virio carrovel estruturado. Cumpre destacar
que a proximidade do transporte pblico fundamental, mas
em grandes metrpoles, estar a um quilmetro de um ponto
de nibus pode no signifcar garantia de boa acessibilidade
urbana se no estiver integrado a outras linhas de nibus ou
mesmo a outras modalidades de transporte coletivo (como
trem ou metr). Alm disto, deve ser priorizada a conexo
entre o empreendimento habitacional e polos de empregos
por meio de transporte pblico e a minimizao do tempo e
necessidade de deslocamentos dirios de seus moradores.
FLUIDEZ URBANA: em um empreendimento
habitacional, a fuidez atingida quando se tem boa adequao
malha urbana existente, garantindo dilogo harmonioso
entre os eixos de circulao do conjunto e os existentes no
entorno e, principalmente, o uso e acesso pblicos do trreo,
descartando elementos de ruptura fsica e visual da paisagem
e de isolamento do conjunto, como muros e grades. Os muros
tm a particularidade de criar iluso de segurana. Porm,
muitas vezes, ao difcultar a viso e criar becos sem sada,
aumentam a vulnerabilidade violncia. Ao contrrio, espaos
fuidos, que potencializam a permanente circulao de pessoas
e boa visualizao do ambiente, geram naturalmente maior
segurana.
3.10a a 3.10d. Os
empreendimentos do
segmento econmico
na Mooca, em So
Paulo-SP, isolam-se
da cidade por meio de
grandes reas muradas,
tornando a rua isolada
e erma. Em uma
soluo intermediria,
o uso de grades ainda
permite uma integrao
visual adequada entre
rua e espao privado,
como nos exemplos
de Higienpolis e
Pinheiros, em So
Paulo, em que se
destaca tambm a
presena agradvel
de vegetao.
J o complexo
Bulevar Artigas,
Montevidu, Uruguai,
integra-se direta e
harmoniosamente
malha urbana.
3.9. Edifcio
residencial bem
integrado rede de
trasnporte pblico
em So Paulo.
3.9
3.10a
3.10b
3.10c
3.10d
. 74 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Implantao: a produo atual
Na escala da implantao, algumas incorporadoras e construtoras adotam
modalidades padronizadas por todo o Pas os carimbos em seus
empreendimentos habitacionais voltados ao segmento econmico, desconsiderando
as condies socioespaciais, ambientais e topogrfcas dos terrenos nos quais se inserem.
Desta forma, no foram encontradas solues de implantao
adequadas topografa natural do terreno. Nos estudos de viabilidade
realizados pelas incorporadoras so descartados os terrenos com declividade mais
acentuada, embora estes possam ter solues urbansticas e arquitetnicas interessantes.
As solues de implantao carimbadas so facilmente implantveis em reas planas,
e assim recorre-se a agressivas terraplenagens, com grande volume de corte ou aterro,
impactando na topografa natural do terreno e do entorno.
Os carimbos que se repetem so arranjos pr-defnidos para a disposio
das edifcaes, vagas de estacionamento, reas verdes e de lazer, na tentativa de
minimizar custos e racionalizar a construo. O culto ao automvel como modelo
urbano de locomoo no obstante seu enorme impacto ambiental faz com que
predominem solues em que as grandes reas de estacionamento totalmente ridas,
impermeabilizadas e sem vegetao defnem a implantao dos edifcios para que se
garanta a relao de uma vaga por unidade.
verdade que, em alguns casos, tal atitude reforada pela prpria legislao
municipal, que exige a destinao de uma vaga de carro por apartamento, eliminando
3.11a a 3.11e. Exemplos de empreendimentos com grande impacto ambiental em Belm-PA
(a) e Manaus-AM (b,c,d) e Natal-RN (e). Repetio de tipologias, desmatamento e agressiva
movimentao de terra.
3.12. Simulao a partir de implantao real de empreendimento do segmento econmico: as reas
para estacionamento acentuam a aridez do trreo e a falta de espaos verdes de lazer e convvio.
Observe-se que na simulao foram representados carros estacionados em TODAS as vagas
previstas, o que geralmente no aparece nos folders de vendas das empresas.
3.11a
3.11d
3.11e
3.11b
3.11c
3.12
. 75 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
a possibilidade de outras alternativas de moradia associadas ao uso do transporte
pblico e da locomoo a p. A sobra do espao de estacionamento se constitui na
rea verde, evidentemente insufciente.
Assim, muitas vezes, as reas de estacionamento defnem a disposio
das edifcaes no lote. O objetivo primeiro no atingir a melhor implantao
para os edifcios em termos de conforto ambiental ou garantia de privacidade, mas
obter a maior rea de estacionamento.
Cumpre destacar que, em razo do suposto alto custo, so poucos os
empreendimentos que adotam garagens subterrneas, soluo que permitiria a
implantao mais bem resolvida, quando hoje h solues baratas de lajes em meio-
piso, por exemplo.
As grandes reas de estacionamento, formando verdadeiros bolses nos
conjuntos de edifcios verticais, pavimentadas e sem sombreamento, prejudicam
enormemente a qualidade ambiental do conjunto, exigindo percursos internos longos
e bastante desagradveis pela aridez e falta de sombreamento - entre o carro e a
moradia. Alm disso, as grandes reas impermeabilizadas contribuem para o aumento
do calor no terreno e problemas de drenagem decorrentes. Nos conjuntos de casas
trreas, a vaga em frente ao lote defne a ocupao do terreno, no restando muito
espao constituio de reas comuns, verdes ou de lazer.
Tambm o paisagismo no objeto de preocupao em boa parte
dos empreendimentos habitacionais do segmento econmico. As reas verdes dos
condomnios so projetadas no pouco espao que resta aps implantao dos edifcios e
alocao das vagas de estacionamento no terreno. O paisagismo se resume disposio
de alguma vegetao, de forma pontual.
3.13. Viso area da mesma simulao,
em que se destaca a grande rea para
estacionamento em relao implantao
dos prdios.
3.14. Exemplo de condomnios-clube, em
Campinas-SP. A contiguidade de vrios
condomnios fechados compromete a
fuidez urbana, os equipamentos que
poderiam ser pblicos, para todo o bairro,
so exclusivos dos condminos.
3.13 3.14
. 76 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Outro aspecto de destaque a generalizao do
padro dos condomnios-clube, que marcam nossas
cidades pela ruptura que impem malha urbana, com
imponentes muros e grades, que comprometem a fuidez
urbana e, principalmente, a integrao entre usos e grupos
sociais, pressupostos ao exerccio de verdadeira vida urbana.
Os condomnios-clube geralmente oferecem
equipamentos de lazer (piscina, churrasqueira, quadra de
esportes) internos aos muros dos conjuntos e reproduzem um
modelo comum em empreendimentos residenciais de mais alta
renda. Eles tm, evidentemente, forte apelo mercadolgico,
pois estimulam um modelo de exclusividade muito apreciado.
Em uma sociedade que no valoriza os investimentos em reas
pblicas, apresentando cidades com poucas praas, parques
e espaos similares, a privatizao desses equipamentos
espcie de refexo de cultura urbana j bastante fragilizada.
A privatizao dos espaos de lazer e convivncia prtica
antiurbana, segregadora, e que no privilegia a diversidade
social dos espaos da cidade. A busca de empreendimentos
melhores signifca fazer frente cultura que molda os anseios
da demanda e, dessa maneira, determina viabilidade e sucesso
comercial dos empreendimentos. Em outras palavras, trata-
se, portanto, da difcil tarefa de quebrar valores culturais da
sociedade sobre o que viver bem.
Alm disso, a oferta de espaos de lazer coletivos
no trreo em geral acompanhada da reduo
das reas das unidades habitacionais. Equipamentos
com certo glamour no trreo para uso de todos servem para
disfarar a reduo evidente nos custos construtivos dos
3.15a e 3.15b. Espaos de lazer em condomnios de renda mais alta
e do segmento econmico, em Natal-RN e Sorocaba-SP. O segmento
econmico procura reproduzir o modelo de reas de lazer presentes
em edifcios de alta renda, ainda que as solues apresentem pouca
permeabilidade do solo, rea verde reduzida e exclusividade para o
condomnio, com pouca interao com o bairro.
empreendimentos. Para as incorporadoras e construtoras, a
construo de uma nica sala coletiva de ftness, por exemplo,
bem menos onerosa que o acrscimo de 10m em cada
apartamento de um conjunto.Por fm, na produo atual h
casos em que o elevado adensamento demogrfco e
construtivo de grandes empreendimentos provoca
exagerada concentrao de moradias e de habitantes,
resultando em espaos monofuncionais e solues pouco
agradveis, com espaos livres insufcientes e pouca fuidez
urbana. So muitos blocos iguais, dispostos aleatoriamente no
terreno, sem a devida preocupao com privacidade, insolao
ou ventilao. H, por exemplo, diversos casos em que o
insufciente distanciamento entre as edifcaes compromete
enormemente a salubridade das unidades, prejudicando a
insolao de parte delas.
Deve-se salientar, no entanto, que o adensamento
dos empreendimentos no obrigatoriamente um problema
em si, pois se realizado com qualidade urbanstica, poderia
garantir a viabilidade fnanceira da produo para o segmento
econmico com boa localizao, contrapondo-se tendncia
de espraiamento territorial que historicamente marcou a
produo de moradia popular no Pas.
3.15a 3.15b
. 77 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
GRANDE PARTE DAS CRTICAS QUE PODEM SER FEITAS FORMA COMO O
AQUECIDO MERCADO HABITACIONAL BRASILEIRO VEM ATUANDO EST NO
FATO DE ESTE NO PARECER SE PREOCUPAR EM PRODUZIR CIDADES, MAS
APENAS UNIDADES HABITACIONAIS. EM OUTRAS PALAVRAS, A EQUAO
FINANCEIRA E A BUSCA DE RESULTADOS POR PARTE DOS EMPREENDEDORES
TOLHEM FORMAS DE IMPLANTAO QUE RESGATEM A QUALIDADE URBANA
DESEJADA PARA A CONSTRUO DE BAIRROS DIGNOS DESSE NOME.
3.16a e 3.16b. Exemplos de conjuntos
com baixa densidade, monofuncionais,
pouco arborizados, sem ou com
pavimentao parcial, em Rio Branco-AC
(empreendimento do PMCMV) e Palmas-
TO.
3.16a 3.16b
. 78 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Implantao: parmetros de qualidade
A BOA IMPLANTAO DE UM EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL PRESSUPE A SUA ADEQUAO
TOPOGRAFIA DO TERRENO, MINIMIZANDO
OS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE
ELEVADA MOVIMENTAO DE TERRA, TRANSIO
HARMONIOSA ENTRE OS ESPAOS PBLICOS E
PRIVADOS, APRAZVEL CONFORMAO ESPACIAL DO
CONJUNTO, ESTABELECENDO BOA RELAO ENTRE
AS EDIFICAES E OS ESPAOS LIVRES E VERDES,
DE MODO A GARANTIR CONFORTO AMBIENTAL
E ESPAOS APROPRIADOS PERMANNCIA E
CONVVIO E CIRCULAO. ALM DISTO, A BOA
IMPLANTAO DEVE GARANTIR A INTEGRAO
DO CONJUNTO MALHA URBANA, SEM MUROS
E GRADES, COM DENSIDADE DEMOGRFICA
E DIMENSIONAMENTO ADEQUADOS E
COMPROMETIDOS COM A OTIMIZAO DO USO E
OCUPAO DO SOLO URBANO, PRINCIPALMENTE
EM REGIES COM INFRAESTRUTURA INSTALADA E
PROVIDAS DE EQUIPAMENTOS E SERVIOS URBANOS
OCIOSOS OU SUBUTILIZADOS.
3.17a e 3.17b. Empreendimento com boa implantao, integrando
o edifcio malha urbana, sem o uso de grades ou muros, com boa
mescla de espaos construdos e espaos verdes: conjunto histrico de
Spangen Quarter Housing, do arquiteto Michiel Brinkman construdo
em Roterdam, Holanda, em 1920.
3.17a 3.17b
. 79 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
So parmetros de qualidade na escala da implantao:
. Adequao topografa do terreno
. Paisagismo e impacto ambiental
. Formas de ocupao do terreno
. reas comuns e de lazer
. Densidade e dimenso
3.18. Esquema ilustrativo de manejo de terra. Cortes e aterros importantes
podem ser minimizados com implantaes adequadas ao relevo.
3.18
3.19c
3.20a 3.20b
3.19b
3.19a
ADEQUAO S CONDIES FSICAS DO
TERRENO: de modo a minimizar a necessidade de
movimentao de terra, contribuindo para a reduo do
impacto ambiental causado pelas novas edifcaes e do custo
proveniente dos cortes, aterros e contenes. Os aterros e
cortes devem se dar preferencialmente em uma mesma rea,
reduzindo o trnsito de mquinas na obra e o transporte de terra.
Recomenda-se ainda que as dimenses dos taludes gerados
no ultrapassem 2 metros de altura, pois nessas condies a
estabilidade do terreno garantida com estruturas simples.
As declividades e elementos naturais do terreno devem
ser incorporados ao projeto, reduzindo os custos de implantao
de redes de esgoto e drenagem, e garantindo a segurana e
estabilidade da ocupao. Deve-se, ainda, considerar solues
de implantao que aproveitem o desnvel do terreno para
a implantao de garagens no subsolo ou em meio nvel.
O aproveitamento da topografa pode infuir tambm no
comportamento acstico do empreendimento, reduzindo e
bloqueando, ou potencializando a propagao do som e rudos.
3.20a e 3.20b.Exemplo boa
implantao no terreno. O Conjunto
Habitacional do Pedregulho
(Afonso Eduardo Reidy, 1947), no
Rio de Janeiro-RJ, est localizado em
encosta. A declividade do terreno
permitiu uma entrada do edifcio em
meio nvel. Dessa forma, a circulao
se faz por uma galeria no terceiro
andar, a partir da qual so acessados
os andares inferiores ou superiores,
dispensando o uso de elevadores.
A forma serpenteada do edifcio no
terreno adequada, minimizando a
movimentaes de terra.
3.19a a 3.19c. Solues acsticas ruins, boas e timas que consideram o
declive do terreno como fator de isolamento acstico.
. 80 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
PAISAGISMO: um empreendimento habitacional
deve levar em considerao fatores especfcos de cada zona
bioclimtica
1
, garantindo conforto ambiental com acesso
ao sol e ventilao cruzada nas diferentes estaes do ano.
Alm disto, deve criar condies adequadas permanncia
e convvio dos moradores, com reas sombreadas,
permitindo percursos agradveis no interior do conjunto
e utilizando elementos que promovam transio gradual e
agradvel entre os espaos privados e pblicos.
O uso de vegetao pode melhorar o microclima
local, criar proteo contra radiao solar direta e tambm
melhorar a qualidade do ar. No recomendado dispor
as reas verdes montante dos ventos dominantes, pois
elas no devem interferir no fuxo de ar. Para isto, deve-
se utilizar vegetao que tenha permeabilidade visual
superior a 60%, podendo ser do tipo arbreo, com copa
horizontal, ou vertical transparente e caule desguarnecido.
O paisagismo possibilita a reduo do impacto
ambiental, garantindo reas permeveis, recuperando
crregos, valorizando e preservando elementos naturais.
Permite tambm a reteno e absoro de guas pluviais no
prprio terreno, inclusive prevendo seu reuso na irrigao
das reas verdes, reduzindo a contribuio rede de
drenagem urbana.
FORMAS DE OCUPAO DO TERRENO: em
relao disposio das edifcaes na gleba, s reas de
estacionamento, s reas livres e de lazer, devem permitir
boa insolao e ventilao no conjunto, alm de criar
reas de acesso e uso pblicos. Deve-se evitar a ocupao
de espaos potenciais de convvio e permanncia dos
moradores por estacionamentos, alm de prever mescla de
usos e atender s necessidades de diferentes grupos sociais
no interior do empreendimento.
Em relao s reas de estacionamento nos
empreendimentos habitacionais, vale destacar que o uso
do subsolo, a construo de meios pisos para garagem e de
pavimentos-garagem permitem o aumento do nmero de
1 O Zoneamento Bioclimtico a diviso do territrio brasileiro em
oito zonas relativamente homogneas quanto ao clima, proposta
pela ABNT na NBR 15220-2, Parte 3. Nessa norma, so feitas
recomendaes tcnico-construtivas que otimizam o desempenho
trmico das edifcaes, adequando-as a cada uma dessas zonas.
3.21a e 3.21b. Implantao e paisagismo adequados, em conjunto
habitacional de baixa renda na Rua Santa Cruz, So Paulo-SP, de meados
do sc. XX. Observa-se que o paisagismo do conjunto qualifca as reas
sombreadas por vegetao signifcativa, criando espaos agradveis
de convvio e permanncia. A implantao do conjunto prximo a
movimentada avenida de So Paulo faz transies entre espaos pblicos e
privados garantindo o conforto acstico das habitaes.
3.22. Esquema ilustrativo mostrando o do uso da vegetao para proteger
as aberturas de um edifcio. O paisagismo adequado pode evitar insolao
direta excessiva nas fachadas, alm de criar um microclima local que
equilibra a umidade e o calor, garantindo qualidade ambiental.
3.21a
3.21b
3.22
. 81 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
vagas de estacionamento para os condminos, liberando rea de terreno para recreao
e lazer. Em empreendimentos de alta densidade, o custo no impeditivo, pois pode
ser rateado entre todas as unidades. No caso do pavimento-garagem destaca-se que seu
custo representa apenas um tero do valor do pavimento tipo da edifcao. A deciso
arquitetnica de no usar o trreo como estacionamento deve ser analisada, portanto,
como possibilidade real de melhoria dos conjuntos. Solues para rea centrais, e/
ou com demanda por estacionamentos, podem prever a possibilidade de permutas e
aluguel das vagas excedentes, viabilizando a construo de subsolos.
As boas solues paisagsticas citadas acima devem nortear a ocupao do trreo,
criando reas complementares moradia e nexos com o espao urbano adjacente. As
garagens subterrneas podem permitir a localizao dos espaos de lazer, da vegetao
e do edifcio de forma mais racional e qualifcada, sem que esses elementos sejam
posicionados de forma aleatria ou em espaos residuais, confgurando percursos
prazerosos e espaos agradveis de permanncia e convvio.
Quanto ao distanciamento entre edifcaes, deve-se prever distncia adequada
entre os edifcios, com o objetivo de proporcionar insolao nas unidades habitacionais
no inverno por, no mnimo, trs horas, garantindo padro mnimo de salubridade e
habitabilidade.
Deve-se ainda evitar agrupamentos muito extensos de unidades habitacionais,
dispostas em renques, com o objetivo de promover ventilao natural nas unidades,
entre elas, por entre as paredes externas, ou dentro da unidade, por meio da ventilao
cruzada. As edifcaes no podem se comportar como barreiras para os ventos
dominantes, constituindo grandes massas compactas. Arranjos devem possibilitar
a permeabilidade do vento em todo o conjunto, evitando a existncia de zonas
excessivamente ventiladas e outras carentes de ventilao. As aberturas de entrada do
ar dos edifcios devem estar em planos perpendiculares direo predominante dos
ventos, para garantir conforto trmico, principalmente nos perodos mais quentes do
3.23. Conjunto Habitacional Zezinho
Magalhes em Guarulhos- SP (arq. Vilanova
Artigas, Fbio Penteado e Paulo Mendes da
Rocha, 1967): implantao com adequada
utilizao dos espaos condominiais. O
uso do trreo para estacionamento no
compromete reas de lazer e convvio, os
recuos entre edifcios permitem insolao
e ventilao apropriadas nas unidades
habitacionais.
3.23
. 82 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
ano, sobretudo nas regies de temperaturas mais elevadas.
Cabe destacar que os edifcios em pilotis tambm favorecem
boas condies de ventilao.
REAS COMUNS E DE LAZER: devem ser
instrumento de integrao dos empreendimentos cidade, por
meio do tratamento adequado das reas privadas, condominiais,
semipblicas e pblicas. Deve-se priorizar o acesso e uso pblico
dos trreos e a mescla de usos, permitindo o desempenho de
diferentes funes e atividades. O comrcio local de apoio
dinamiza a vida do conjunto habitacional e traz segurana,
ao contrrio do que se imagina. Alm disso, reas comerciais
podem ser alugadas para ajudar no custeio de despesas
condominiais. Eventualmente, praas nos condomnios podem
ter acesso pblico, integrando-se cidade e dando fuidez
urbana ao conjunto. A presena de equipamentos pblicos
no bairro, para a prtica de esportes ou atividades culturais,
eliminaria a necessidade de espaos equivalentes internos aos
empreendimentos, buscando-se em lugar disso aumento da rea
til de cada unidade.
DENSIDADE E DIMENSIONAMENTO DO
EMPREENDIMENTO: adequar ao porte do municpio e da
regio em que se insere e ao dfcit habitacional local ou regional.
Ou seja, morfologia do entorno e escala e necessidades do
municpio ou regio. Dependendo do porte do empreendimento
e da cidade em que ser inserido, sua implantao pode implicar
aumento substancial da demanda por servios e equipamentos
pblicos, cuja execuo seria invivel ao governo local. Como as
cidades maiores tm preos fundirios mais elevados, comum
surgirem nas cidades menores vizinhas, com glebas mais baratas,
empreendimentos gigantescos, que sero cidades-dormitrio,
incompatveis, entretanto, com a escala do municpio em que se
implantam.
Dimensionamento, densidade construtiva e densidade
demogrfca devem ser compatveis com boa qualidade de
vida: empreendimentos exageradamente grandes criaro
3.24a e 3.24b. Boa integrao do edifcio na cidade: Conjunto Nacional,
So Paulo-SP (David Libeskind, 1954). A rea comum do trreo do
edifcio integra o conjunto malha urbana com o uso comercial e o
tratamento das reas pblicas, semi-pblicas e privadas do edifcio. Esse
tipo de soluo traz fuidez urbana ao empreendimento.
3..25a e 3.25b. Exemplo de insero adequada ao porte do municpio e
s construes do entorno: casas do Programa PROSAMIN nos igaraps
de Manaus-AM. O conjunto se insere na malha urbana e no entorno sem
segmentar o espao urbano e respeitando a altura dos edifcios vizinhos.
Ainda que composto por casas unifamiliares, este empreendimento
possui densidade compatvel com o local e oferece reas de lazer e
convvio aos moradores.
3.24a 3.24b
. 83 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
espaos superdimensionados e ridos, empreendimentos
demasiadamente populosos potencializaro problemas de
convivncia, ou reduziro o acesso a equipamentos geralmente
insufcientes, e assim por diante. A cidade agradvel aquela
RAZES TCNICAS, OS DIMETROS NO PODEM
SER DIMINUDOS. SENDO ASSIM, A REDUO DAS
DENSIDADES HABITACIONAIS NOS EMPREENDIMENTOS
NO REPRESENTA DIMINUIO NOS CUSTOS DE
IMPLEMENTAO DAS REDES DE INFRAESTRUTURA.
LOGO, O AUMENTO DA DENSIDADE POUCO INTERFERE
NO DIMENSIONAMENTO DA REDE DE INFRAESTRUTURA.
E AINDA, DENSIDADE MAIOR PERMITE A DIVISO
DOS CUSTOS POR NMERO MAIOR DE UNIDADES
HABITACIONAIS, REDUZINDO SEU CUSTO POR UNIDADE.
O DESAFIO EST EM ESTABELECER, A PARTIR DISSO, OS
LIMITES DE ADENSAMENTO QUE PERMITAM, POR UM
LADO, RACIONALIZAR O CUSTO DE INFRAESTRUTURA,
MAS, POR OUTRO LADO, QUE NO GEREM
PROBLEMAS LIGADOS AO SUPERPOVOAMENTO DO
EMPREENDIMENTO.
RELAO ENTRE DENSIDADE DEMOGRFICA E CUSTO DE
INFRAESTRUTURA E SERVIOS URBANOS
POR KHALED GHOUBAR
MASCAR (1998) AFIRMA QUE O CUSTO DE
IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIOS
URBANOS POR HECTARE VARIA RELATIVAMENTE POUCO
EM FUNO DA QUANTIDADE DE USURIOS, POIS O
CUSTO DAS REDES DE INFRAESTRUTURA EST MUITO
MAIS ASSOCIADO SUA EXTENSO (QUANTIDADE
DE METROS POR HECTARE) QUE CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO (QUANTIDADE DE LITROS OU METROS
CBICOS POR HECTARE).
ALM DISTO, A MAIORIA DAS REDES DE ESGOTO
DIMENSIONADA COM A CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO DE DENSIDADES MDIAS E ALTAS. POR
cuja equao entre o nmero de pessoas, a densidade construtiva
e a oferta de equipamentos e servios seja equilibrada, o que no
desafo simples, e por isso mesmo deve ser incorporado no
planejamento dos empreendimentos habitacionais.
3.25a 3.25b
. 84 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Unidades habitacionais: a produo atual
Empreendimentos verticais sem elevador: so os que
se reproduzem mais amplamente no territrio nacional. As
edifcaes com quatro e cinco pavimentos so preponderantes.
Sua vantagem econmica prescindir do elevador, em funo
do nmero de pavimentos, na quase totalidade das legislaes
municipais. Todos os exemplos levantados dessa tipologia
apresentam unidades no trreo, no sendo encontradas
solues com pilotis, que gerariam composies mais ricas do
piso trreo e das reas coletivas, alm de favorecer a ventilao,
como j visto. Grande parte deles adota edifcios com planta no
formato H, historicamente usado na produo de moradia
popular.
Mais uma vez, os problemas de insero urbana e de
implantao, comentados anteriormente, so signifcativamente
determinados por essa tipologia, que geralmente enseja
o uso de muros, forte adensamento construtivo e trreos
impermeabilizados, que priorizam as vagas de automveis,
como se v no modelo ilustrativo.
O tratamento cuidadoso da escala da unidade habitacional , sem dvida,
essencial ao alcance de melhor qualidade arquitetnica. Veremos, ao analisar a
produo atual, que tal cuidado ainda est longe de ocorrer. A produo atual do
segmento econmico apresenta, em linhas gerais, trs tipos de edifcaes, defnidas
para cada empreendimento em funo de anlises de demanda e viabilidade fnanceira,
legislao municipal, custo da terra, entre outros.
Empreendimentos horizontais: em grande medida
tendem a se afastar da mancha urbana, localizando-se fora dela
ou em reas de expanso da cidade. Em sua maioria, por terem
baixas densidades, muitas vezes inferiores a 150 habitantes
por hectare, so conjuntos de grande porte e ocupam grandes
terrenos, para permitir produo em larga escala, que torne
rentvel o empreendimento.
Foram identifcadas duas solues de arranjos das
unidades nessa tipologia.
- Renque de casas geminadas
- Casas isoladas no lote
Do ponto de vista da unidade habitacional, a repetio
infndvel de casinhas idnticas impede a identifcao do
morador com sua casa, e elimina a alternncia entre residncias
e outros tipos de atividades, comerciais ou comunitrias, que
quebrariam a monotonia.
3.26 3.27
. 85 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Empreendimentos verticais com elevador: mais
encontrados em municpios de maior porte ou nas regies
metropolitanas do Pas, pois o nmero alto de pavimentos
permite maior oferta de unidades. Nessas cidades, a menor
disponibilidade de terrenos e a maior consolidao urbana
fazem com que os terrenos utilizados sejam geralmente
menores e mais bem inseridos na malha urbana. Esses
conjuntos apresentam as maiores densidades construtivas e
demogrfcas, muitas vezes superiores a 900 habitantes por
hectare. Por isso, sua implantao acaba sendo a de torres
contguas, sem variao de altura e impactantes quando
inseridas em bairros residenciais horizontais, com forte
impermeabilizao do trreo devido priorizao das vagas
de automveis
3.26. Maquete eletrnica que tipifca
empreendimentos horizontais, reproduzindo
empreendimentos existentes no mercado
econmico. Normalmente localizam-se fora
da malha urbana e longe de comrcios e
servios. Tambm caracterstica desses
empreendimentos a monotonia visual das casas
e a falta de elementos que faam a transio
entre espaos pblicos e privados. Na maquete,
foram colocados um carro para cada vaga, o
que realmente no aparece nos folders das
construtoras.
3.27. Maquete eletrnica exemplifcando
empreendimentos verticais de quatro
pavimentos sem elevador. A maquete
reproduz empreendimentos existentes no
mercado econmico. a tipologia mais
produzida no pas, pois o gabarito de at
quatro andares normalmente no exige a
utilizao de elevadores, segundo a maioria
das legislaes municipais. A implantao
H, mais comumente utilizada, permite a
construo de patamares pequenos no terreno,
mas geralmente acarreta grande monotonia na
disposio dos edifcios.
3.28. Maquete eletrnica que exemplifca
empreendimentos verticais com elevador,
reproduzindo empreendimentos existentes
no mercado voltado ao segmento econmico.
Essa tipologia mais frequente em municpios
de maior porte ou regies metropolitanas,
pois permite maior adensamento, implantao
em terrenos menores. So marcados por
excessiva impermeabilizao do solo para
estacionamentos em detrimento de reas
arborizadas e de convvio entre moradores. Os
trs modelos so marcados pela separao da
malha urbana por grandes reas muradas.
3.28
. 86 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A EQUAO DA GRANDE ESCALA X QUALIDADE DA CONSTRUO: UMA
DAS DIFICULDADES PRODUO DE MORADIAS EM GRANDE ESCALA DIZ
RESPEITO AOS DESAFIOS TECNOLGICOS QUE ISSO REPRESENTA PARA
OS EMPREENDEDORES. CONSTRUIR MUITO CARO, A TERRA NECESSRIA
PARA ISSO TAMBM O CADA VEZ MAIS. O PREO FUNDIRIO E O
CUSTO DA CONSTRUO PESAM NA COMPOSIO DO EMPREENDIMENTO
E AS CONSTRUTORAS, COMO GESTORAS DE NEGCIO QUE PRESSUPE
RETORNO FINANCEIRO, TENTARO DILUIR OS CUSTOS NO PREO FINAL
DO IMVEL. COMO SE TRATA DE SEGMENTO DE MERCADO QUE NO
CONSEGUE ARCAR COM PREOS DEMASIADAMENTE ALTOS, A TENDNCIA
DAS CONSTRUTORAS SER TENTAR DIMINUIR AO MXIMO OS CUSTOS DA
CONSTRUO. PARA ISSO, H DUAS SADAS: REBAIXAR A QUALIDADE
CONSTRUTIVA UTILIZANDO MATERIAIS MAIS SIMPLES OU INVESTIR NA
PESQUISA DE SOLUES TECNOLGICAS QUE PERMITAM RACIONALIZAR E
ACELERAR A CONSTRUO. CONSTATA-SE, PELA PESQUISA FEITA, QUE AS
CONSTRUTORAS DO SEGMENTO ECONMICO DIVIDEM-SE ENTRE ESSAS
DUAS OPES.
A exaustiva repetio tipolgica em mbito nacional aspecto que permeia
as trs composies tipolgicas estudadas e requer anlise mais acurada, tanto no que
se refere ao seu impacto no conforto ambiental e s adequaes morfologia do terreno,
quanto s necessidades regionais ou decorrentes das variaes no perfl e composies
familiares e grupos sociais.
Se para a produo automobilstica a repetio seria sinnimo de aperfeioamento
e qualidade, no caso das moradias a racionalizao da construo leva repetio
infndvel de casas iguais, o que tem impacto esttico bastante negativo, mas tambm
afeta a riqueza dos espaos construdos, gerando bairros sem personalidade, casas
que pecam pela mesmice. Isso quando a adoo de sistema construtivo especfco por
uma construtora no a leva a repetir indiscriminadamente a tipologia pelo Pas afora,
independentemente das caractersticas climticas e culturais de cada regio, o que
mais grave.
As incorporadoras e construtoras tm dado pouca importncia questo
do conforto nos conjuntos habitacionais voltados ao segmento econmico. A
reproduo dos carimbos na implantao dos empreendimentos e nas solues
tipolgicas das edifcaes e unidades habitacionais impe fortes limitaes escolha
das melhores orientaes das edifcaes, para boa captao de iluminao natural e de
ventos dominantes e adequaes projetuais de acordo com as necessidades e exigncias
especfcas de cada regio ou zona bioclimtica. Uma regra simples da boa arquitetura
. 87 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
parece ter sido esquecida: cada projeto deve respeitar as
caractersticas climticas locais, na escolha dos materiais, no
desenho das plantas, no uso de aberturas etc. Geralmente, as
solues autctones, que representam a cultura local, como
casas caiaras, casas caipiras, so indicativas das melhores
solues para a regio, pois incorporam o saber local e suas
tradies. No entanto, o presente estudo verifcou a repetio
sem constrangimento de plantas e sistemas construtivos
idnticos por todo o Pas, estranhas s solues locais e alheias
ao tamanho continental do Brasil e sua enorme variedade
climtica.
O mapa abaixo apresenta uma tipologia produzida no
mercado do segmento econmico e repetida sem variaes por
todo o Brasil, independentemente da zona bioclimtica em que
se insere. Trata-se de uma residncia unifamiliar horizontal
trrea, de paredes macias de concreto moldadas in-loco, p-
direito de 2,90m e geminada em dois lados.
As casas possuem cobertura de telha cermica e no
possuem laje, mas contam com forro de gesso acartonado de
1,5cm de espessura conformando assim uma cobertura no
ventilada. As janelas so de alumnio e tm dimenses padres
de esquadrias industrializadas. As paredes externas possuem
10cm de espessura e so revestidas com argamassa texturizada
com espessura de 0,5cm e aplicada diretamente na superfcie
de concreto. As paredes internas tm espessura de 8cm e as
paredes comuns a duas casas 12cm.
A adoo de paredes macias de concreto pouco
recomendvel devido baixa inrcia trmica deste material,
que rapidamente atinge a temperatura do ambiente externo
no desempenhando a funo de isolante trmico. Isto pode
ser observado a partir da anlise especfca do desempenho
dessa tipologia adotada em Feira de Santana - Bahia (zona
bioclimtica 8) e em Lages Santa Catarina (zona bioclimtica
1). Em Lages, a soluo adequada somente nos meses mais
quentes, sendo que no perodo de inverno as temperaturas
mapa. Mapa do Brasil que mostra a localizao de um mesmo
empreendimento habitacional repetido em cidades em diferentes zonas
bioclimticas. Este tipo repetio no leva em considerao o conforto
ambiental em um pas de dimenso continental e diferentes climas.
Mapa realizado pelo LabHab-FAUUSP a partir do levantamento da
produo de grandes construtoras, entre setembro e dezembro de 2010:
para este exemplo, tomou-se um lanamento dessa tipologia de uma
nica construtora. Mas a repetio de um mesmo empreendimento
em diversas cidades do territrio comum a todas as construtoras
levantadas na pesquisa.
. 88 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
a
f
b
c
d
e
3.29. Maquete eletrnica com a reconstituio de um apartamento de
55m, conforme empreendimentos existentes no mercado. Na
reconstituio da planta, os mveis foram desenhados conforme o
tamanho mnimo sugerido pelos manuais da Caixa. Dado o reduzido
tamanho da unidade, os folders das empresas geralmente mostram
o mobilirio em tamanho menor. Se fossem desenhados na medida
correta, como aqui, os mveis simplesmente no caberiam.
3.30a e 3.30b. Verifca-se que a cozinha tem dimenses bastante
reduzidas, que impossibilitam dispor uma mesa para os cinco possveis
moradores (apartamento de dois quartos). A soluo pretendida, de
colocar uma mesa encostada parede e um balco do tipo cozinha
americana, impede a abertura da porta do armrio do gabinete da
pia. Para permitir a abertura da geladeira, na proposta da construtora
recorreu-se a um chanfro numa das quinas do balco.
3.30c. As dimenses da sala permitem a colocao de dois sofs, com
pouca possibilidade de variao na sua disposio, e sem nenhuma
sobra para mveis de apoio.
3.30d. No quarto menor (dos flhos?), cabem duas camas, eventualmente
uma delas beliche (para 3 flhos), sem espao para duas mesas de
cabeceira, uma para cada cama. No se considera a possibilidade de
uma mesa de estudos, e no h armrios embutidos. O espao ocupado
pelo guarda-roupa quase impossibilita a abertura do mesmo.
imagem 3.30e. Na planta apresentada no folder estudado, a rea de
circulao da sute principal insufciente para a colocao de armrio
(no tamanho mnimo sugerido pela Caixa), que obstrui a entrada do
banheiro.
imagem 3.30f. A rea de servio relegada a um espao exguo no canto
da cozinha, sem separar-se desta, de modo que o tanque de roupas fca
encostado ao fogo. Tambm no h espao adequado para circulao,
alm de no se prever lugar arejado para a secagem da roupa.
3.29
3.30a
3.30b
3.30c
3.30d
3.30e
3.30f
. 89 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
internas no ultrapassam 12C, o que est completamente fora
da zona de conforto. J em Feira de Santana, nos meses mais
quentes, as temperaturas internas so altas demais, mesmo
durante a madrugada; enquanto a mxima externa se encontra
por volta dos 32C, a interna atinge 34C. Essa anlise comprova
que a reproduo indiscriminada de uma mesma soluo
tipolgica e construtiva, que ocorre com muita freqncia no
Pas atualmente, bastante inadequada.
CASAS IDNTICAS REPRODUZIDAS S CENTENAS,
TIPOLOGIAS ARQUITETNICAS IDNTICAS E
APLICADAS COMO CARIMBOS, QUAISQUER
QUE SEJAM A REGIO E O CLIMA, SISTEMAS
CONSTRUTIVOS ARCAICOS OU COM POUCA
PERFORMANCE TERMOACSTICA, SO ELEMENTOS
QUE CONTRIBUEM PARA A M QUALIDADE
GENERALIZADA DA PRODUO, SALVO,
EVIDENTEMENTE, ALGUMAS EXCEES.
UM DOS DESAFIOS CONSIDERAR AS
CARACTERSTICAS REGIONAIS QUE INFLUENCIEM
OS PROJETOS, EM UM PAS DE PROPORES
CONTINENTAIS. EM QUE MEDIDA A REPETIO DE
PADRES DE NORTE A SUL ADEQUADA? TRATA-SE
DE OTIMIZAO E RACIONALIZAO DO PROJETO
E DA CONSTRUO OU DE ECONOMIA QUE
RESULTA EM PROJETOS INADEQUADOS E DE BAIXA
QUALIDADE?
O conforto da unidade habitacional no s
garantdo pelos aspectos trmicos e acstcos. O reduzido
dimensionamento das unidades habitacionais dos
empreendimentos do segmento econmico outra das
questes crtcas observadas, que evidentemente afeta em muito
o conforto. Mais uma vez, destaca-se uma obviedade da boa
arquitetura: mantendo-se limites razoveis quanto ao exagero e
desperdcio, viver em espaos generosos viver melhor.
Porm, de forma geral, as construtoras e incorporadoras
tm optado pelas dimenses mnimas dos ambientes exigidas
pelos rgos de aprovao, comprometendo seriamente
a qualidade de vida dos moradores. H uma tipologia
modelo, reproduzida amplamente, com rea inferior a 45m
2
.
No possvel aceitar que seja confortvel um apartamento
de 45m para dois dormitrios, ou seja, com possibilidade de
comportar cinco pessoas. Isso signifca 8,8 m por pessoa. A
ttulo de comparao, o BNH indicava rea mnima de 12m
por pessoa.
A reduo das reas das unidades no ocorre em razo
de diminuio do nmero de cmodos. Ou seja, tem-se nmero
grande de ambientes, com dimenses demasiadamente
reduzidas. Na tentativa de escamotear tal problema, comum
as plantas apresentadas nos flderes promocionais maquiarem
a dimenso dos mveis, fazendo-os caber em ambientes
sem espao sufciente. No modelo a seguir, reconstituiu-se
uma tipologia de planta real, ofertada pelo mercado, porm
desenhando-se os mveis em seu tamanho real e em disposio
de uso efetivo.
Alm disto, a reduo das reas determina a
monofuncionalidade dos ambientes. Por exemplo, os
quartos so dimensionados apenas para cumprir a funo do
descanso, impossibilitando a ocorrncia de outras funes,
como estudo; salas no esto dimensionadas para garantir
mais de um uso concomitante, e as dimenses das cozinhas
impossibilitam o seu uso por mais de um morador. H casos de
quartos para o beb de dimenses mnimas, aparentemente
adaptao de projetos malfeitos, e que sugerem que o beb no
ir crescer e necessitar, no futuro, de um cmodo de verdade.
O GRANDE DESAFIO EST EM ESTABELECER
OUTRO PATAMAR DE QUALIDADE QUANTO AO
DIMENSIONAMENTO DAS CASAS, QUE NO SE
RESTRINJA APENAS A GARANTIR A HABITABILIDADE
MNIMA, E QUE OFEREA ESPAOS MAIS
GENEROSOS E CONFORTVEIS.
Por outro lado, verifca-se que a produo macia
das grandes construtoras tem imposto padronizao
tecnolgica incompatvel com as especifcidades
regionais. Parmetros como conforto trmico, desempenho e
efcincia dos materiais, muitas vezes so menosprezados em
funo da economia de escala.
. 90 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Para o setor imobilirio, um dos fatores de maior
peso na defnio do sistema construtivo o seu impacto no
custo de construo, em razo da elevada participao desse
componente no preo de venda das unidades habitacionais
para o segmento econmico. Por isso, priorizam-se sistemas
construtivos mais econmicos, diminuio do tempo de
execuo da obra, aumento da produtividade, reduo do
nmero de fornecedores e reduo da mo de obra empregada.
As inovaes tecnolgicas na construo civil ainda so
muito incipientes, mais focadas no aumento de lucratividade do
que no ganho de qualidade, e enfrentam grandes difculdades
de aprovao e captao de fnanciamento, pois, por no serem
normatizadas, a adequabilidade precisa ser comprovada, o
que torna o processo bastante moroso.
A implementao de efcientes sistemas de gesto, que
permitem s empresas trabalhar de forma mais integrada
e contribuem na diluio das despesas operacionais, a
estruturao de processos logsticos, capazes de reduzir o tempo
de execuo das obras, e a adoo de sistema de suprimento
unifcado tm sido priorizadas pelo setor. A centralizao das
compras a partir de lista unifcada de fornecedores garante
padronizao dos materiais e reduo dos preos, pelo volume
negociado. Alm disto, a automatizao de diversos processos
no ciclo de obras proporciona melhorias no controle de gastos
e reduz custos de construo.
Tais iniciativas no so, a rigor, nem positivas e nem
negativas para a qualidade arquitetnica e urbanstica dos
empreendimentos. Tudo depender, evidentemente, dos
objetivos que as justifquem: a racionalizao da gesto de
obra ou dos sistemas construtivos levaria ao aumento da
padronizao e das solues carimbo, ou permitiria ateno
maior a solues de arquitetura alternativas e de maior
qualidade. Por enquanto, observa-se que a busca pela reduo
dos tempos, na aprovao do projeto, em sua concepo e
elaborao, e na construo do empreendimento habitacional,
pauta as decises do setor mais para aumentar produtividade
e retorno fnanceiro do que priorizar a boa arquitetura.
3.31a a 3.31d. Exemplos de padronizao da construo no canteiro
de obras. A padronizao da construo refere-se a uma diminuio
dos custos de construo e do tempo de execuo de obras, mas no
tem correspondido necessariamente a uma maior qualidade dos
empreendimentos.
3.31a
3.31b
3.31c
3.31d
. 91 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
COMPETE A UM SISTEMA CONSTRUTIVO
INDUSTRIALIZADO DA CONSTRUO, E
PARTICULARMENTE DESTINADO HABITAO
ECONMICA-POPULAR, BUSCAR A REDUO DOS
CUSTOS DA CONSTRUO (NO QUE SE REFERE
A ASPECTOS DE OBRA E GESTO) ATRAVS DE
UMA ESCALA DE PRODUO ECONOMICAMENTE
ADEQUADA A ELA, O QUE POR SUA VEZ EXIGE UMA
SUSTENTABILIDADE NO FLUXO DE OBRAS, POR CERTO
PRAZO DE TEMPO, PARA PERMITIR A AMORTIZAO
DOS INVESTIMENTOS E A FORMAO DE UMA
MO-DE-OBRA NUMEROSA E QUALIFICADA. ESSA
UMA CONDIO BSICA E IMPRESCINDVEL
ALAVANCAGEM DO SETOR A UM NVEL MAIOR DE
EXCELNCIA TECNOLGICA E SATISFAO, AINDA
QUE TARDIA, DA DEMANDA HABITACIONAL SOCIAL
POR MAIS VOLUME, QUALIDADE, ECONOMIA,
DIVERSIDADE E VELOCIDADE DE PRODUO.
DENTRE OS ASPECTOS ESSENCIAIS PARA
QUE OCORRA UM EFETIVO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAO DA CONSTRUO CIVIL NO
SEGMENTO HABITACIONAL ECONMICO-POPULAR,
PODE-SE DESTACAR OS QUE SEGUEM.
NO QUE SE REFERE PRODUO NO REFERIDO
SETOR DA CONSTRUO CIVIL:
AUMENTO NA DIVERSIDADE DOS PRODUTOS
ATRAVS DA PR-FABRICAO E DA MONTAGEM
DAS CONSTRUES DENTRO DE SISTEMAS ABERTOS,
EM SINTONIA COM A DIMENSO CONTINENTAL
DO BRASIL E SUAS DISTINTAS REGIES CLIMTICAS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS, A EXIGIR ABORDAGENS
DIVERSIFICADAS NA CONCEPO E EXECUO DOS
PROJETOS;
GRANDE ACELERAO NA VELOCIDADE DA
PRODUO, COM A CONSEQUENTE REDUO
NO PRAZO DE RETORNO DOS INVESTIMENTOS E
REDUO DO PRAZO DE ACESSO DOS USURIOS
FRUIO DOS BENS PARA ELES PRODUZIDOS;
EFETIVO CONTROLE TECNOLGICO DA PRODUO,
REDUZINDO SIGNIFICATIVAMENTE AS PATOLOGIAS
PRESENTES NOS SISTEMAS CONVENCIONAIS;
REDUO NO NMERO DE INSUMOS E
COMPONENTES NA PRODUO, INDUZINDO
DA REDUO DE PRAZOS E DO MAIS EFICIENTE
CONTROLE TECNOLGICO DA PRODUO.
NO QUE SE REFERE SUSTENTABILIDADE DESTA
PRODUO:
ELIMINAO DE DESPERDCIOS DE GUA, ENERGIA
E MATERIAIS, COM EFETIVO E ECONMICO
REAPROVEITAMENTO DOS RESTOS DA PRODUO;
OBEDINCIA S NORMAS GERAIS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;
REDUO DOS CUSTOS PELA ESCALA DA
PRODUO, REDUO DOS PRAZOS E
DESPERDCIOS.
E POR FIM, NO QUE SE REFERE AO TRABALHO NESTE
SETOR DA CONSTRUO CIVIL:
PROMOO DA MO-DE-OBRA EM TERMOS DE
QUALIFICAO, PRODUTIVIDADE, BENEFCIOS
TRABALHISTAS E SALRIOS;
ELIMINAO DA HORA OCIOSA DOS CAROS
EQUIPAMENTOS ELETRO-MECNICOS-PNEUMTICOS,
E DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA ERA DIGITAL;
PLENO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAES
DA NR.18 ( NORMA REGULAMENTADORA DO
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO, REFERENTE
S CONDIES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
NA INDSTRIA DA CONSTRUO) NO QUE TANGE
A SEGURANA E HIGIENE DO TRABALHO.
NOTAS SOBRE A INDUSTRIALIZAO DA CONSTRUO CIVIL
POR KHALED GHOUBAR
. 92 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
E as inovaes tecnolgicas?
Apesar da predominncia da alvenaria estrutural nas construes para o
segmento econmico por vrios motivos, como custo, produtividade, durabilidade,
baixa manuteno, farta oferta, entre outros , a necessidade de ampliao de escala,
com aquecimento do mercado econmico, determinante ao desenvolvimento de
novas tecnologias. Da forma de organizao de logstica ao canteiro de obras, novos
sistemas de informaes e tcnicas construtivas so introduzidos, sempre visando
reduo de custos e prazos. Destacam-se, como sistemas construtivos: paredes de
concreto moldadas in loco, paredes em PVC+concreto, steel-frame, blocos de EPS,
grandes painis cermicos pr-fabricados (JetCasa), formas blanche, paredes pr-
moldadas em concreto, entre outras.
A difuso em larga escala dessas tcnicas deve ocorrer nos prximos anos.
imprescindvel, portanto, que, alm das certifcaes ofciais, sejam feitos estudos
especfcos de desempenho trmico e acstico capazes de atender s diferentes
realidades climticas do Pas, como referido anteriormente. Concomitantemente, o
avano dessas tcnicas deve ser acompanhado de estudos sobre sua otimizao no
que diz respeito ao projeto arquitetnico, para serem alavancas de melhoria, e no
fatores de consolidao do padro repetitivo e sem qualidade, observada na produo
atual.
Alm disso, as universidades poderiam ter um papel importante para
fomentar o surgimento de novas tecnologias construtivas adaptadas realidade do
pas. H trabalhos de pesquisa nesse sentido, porm ainda isolados. A constituio de
programas de fomento pesquisa sobre esse tema poderia dar importante impulso
nesse sentido.
3.32a a 3.32c. Exemplos do
papel que a universidade pode
exercer na pesquisa sobre
novas tecnologias. Trabalhos
Finais de Graduao de
Rafael Passarelli (2009), na
FAU USP, e de Cristhy Matos
(2010) FAU Mackenzie. O
primeiro (a,b) props sistema
construtivo modulado em
madeira para habitaes de
interesse social, o segundo
(c) um conjunto habitacional
de HIS de construo rpida,
com utilizao de conteiners
adaptados. Em ambos os casos,
os estudos mostraram boas
solues trmico-acsticas
e custos mais baixos do que
o atualmente conseguido na
produo pblica.
3.32a 3.32b 3.32c
. 93 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Unidades habitacionais: parmetros de qualidade
BOAS SOLUES TECNOLGICAS E DE PROJETO
ARQUITETNICO NAS ESCALAS DA EDIFICAO
E DA UNIDADE HABITACIONAL SO AQUELAS
COMPROMETIDAS COM A REDUO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS, E, SOBRETUDO, COM O CONFORTO
DO USURIO, NO CORRETO DIMENSIONAMENTO
DOS AMBIENTES E NA ADOO DE ORIENTAES
ADEQUADAS DAS EDIFICAES, QUE PRIVILEGIEM
A CAPTAO DOS VENTOS DOMINANTES E DA
ILUMINAO NATURAL, E NOS ARRANJOS DOS
AMBIENTES NAS UNIDADES, DE MODO A ATENDER
AOS DIFERENTES PERFIS E COMPOSIES FAMILIARES
E GRUPOS SOCIAIS.
Em relao s solues tecnolgicas projetadas
e empregadas na construo, consideram-se aqui como
referenciais aquelas que respeitam as variaes bioclimticas,
garantindo conforto ambiental, bom desempenho,
durabilidade, com baixo custo de construo e manuteno.
Ou seja, que equacionem a complexa relao entre custos
reduzidos e qualidade elevada.
So parmetros de qualidade na escala das unidades
habitacionais:
. Custos da construo
. Conforto ambiental
. Distribuio das unidades no pavimento tipo
. Dimensionamento
. Flexibilidade
. Desempenho e efcincia
. Sustentabilidade
projeto arquitetnico, e no aumento do lucro. A incorporao
das tcnicas de clculo deve alimentar o desenvolvimento do
projeto, embasando as boas solues arquitetnicas. Os custos
de manuteno tambm necessitam ser levados em conta
por projetistas e construtoras, garantindo aos compradores o
mnimo de gastos com o imvel durante o perodo em que est
comprometido com o fnanciamento.
CONFORTO AMBIENTAL: priorizar a ventilao
cruzada nas unidades, as boas condies de conforto trmico
e desempenho acstico adequado. As aberturas devem ser
dimensionadas e posicionadas, e os caixilhos corretamente
desenhados, de modo a permitir boas condies de ventilao
e iluminao. Priorizar sistemas que possibilitem diferentes
desempenhos, em funo das variaes regionais, diversidade
climtica e usos, garantindo tambm conforto acstico. Adotar
a NBR 15575 como parmetro mnimo.
A atual preocupao com o meio ambiente tem
indicado a urgncia de se pensar mecanismos e dispositivos
de maior efcincia energtica, por questes econmicas e pelo
prprio esgotamento de recursos no renovveis. Aspectos
relacionados adequabilidade da edifcao ao clima local
tornam-se cada vez mais importantes e determinantes nas
solues adotadas em projeto. A NBR 15220 refete esse fato, e
fundamental ser considerada nas decises de projeto.
O fuxo de ar interno nas unidades habitacionais
favorecido ou difcultado em funo da localizao e do tipo
de aberturas existentes. A ventilao cruzada nos ambientes
favorece enormemente o conforto trmico, facilita e acelera a
renovao do ar.
Recomenda-se que os tamanhos das aberturas sigam as
propores indicadas na NBR 15220 que estabelece percentuais
mnimos e mximos para aberturas de acordo com as zonas
bioclimticas , e serem protegidas da radiao solar direta.
Nas zonas mais quentes, por exemplo, indicada a
adoo de coberturas ventiladas, por meio de abertura entre
telhado e forro, ou laje, ou telhas que permitam a passagem de
ar.
CUSTOS DA CONSTRUO: a primeira
recomendao a necessidade de se pensar primeiramente a
economia na construo como elemento para a melhoria do
. 94 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Em relao ao som dissipado e/ou conduzido pela
estrutura e vedaes, alm das questes relacionadas ao rudo
externo, preciso que haja cuidados especfcos, adotando
solues construtivas que minimizem os impactos nas
estruturas e promovam o isolamento do material construtivo,
como indicado na NBR 15575.
DISTRIBUIO DAS UNIDADES NOS
PAVIMENTOS-TIPO: garantir a privacidade das unidades, a
facilidade de acesso, boa relao entre o nmero de unidades no
pavimento e as circulaes vertical e horizontal, maximizao
do uso de iluminao natural nas reas condominiais e
melhores condies de conforto ambiental: orientao
adequada, iluminao natural e ventilao cruzada.
3.33. Croqui exemplifcando a ventilao
cruzada necessria para a salubridade da
habitao: aberturas em paredes opostas
facilitam a renovao do ar e favorecem o
conforto trmico. A dimenso e orientao
das aberturas devem ser adequadas para
permitir o fuxo de ar nos ambientes.
3.34. Exemplifcao de como a cobertura
ventilada pode facilitar a renovao do ar
e possibilitar maior conforto trmico nas
zonas bioclimticas mais quentes.
3.35a a 3.35d. Exemplos em croquis de
solues construtivas que mitiguem
o impacto dos rudos dissipados e/ou
conduzidos pelas estruturas e vedaes e
rudos externos.
3.36a e 3.36b. Exemplo de adequada
implantao de edifcios com boa
distribuio das unidades habitacionais
no pavimento tipo. Conjunto habitacional
COPROMO (projeto arquitetnico Usina
Centro de Trabalho para o Ambiente
Habitado) construdo em regime de mutiro
autogerido em 1992, em Osasco-SP. A
circulao vertical com uso de estruturas
metlicas permitiu um espao para
convvio no terrao em frente unidade.
A implantao tem vegetao abundante,
espaos de convvio com boa insolao,
formando percursos agradveis para os
moradores.
3.33 3.34
3.35a 3.35b
3.35c 3.35d
3.36a 3.36b
. 95 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
ALGUNS ASPECTOS SOBRE A PLANTA H E A PLANTA LAMINAR
A PLANTA H, COM UNIDADES HABITACIONAIS NO TRREO,
AMPLAMENTE ADOTADA NA PRODUO ATUAL, EMBORA OTIMIZE O USO
DA CIRCULAO VERTICAL NUM ESPAO MNIMO QUE ATENDE A QUATRO
APARTAMENTOS, APRESENTA GRANDES PROBLEMAS: (I) SEMPRE QUE O
EDIFCIO ESTIVER IMPLANTADO NO EIXO NORTE-SUL, UMA DE SUAS FACHADAS
NO RECEBER ILUMINAO NATURAL, (II) COMPROMETE A VENTILAO
CRUZADA POR NO ESTAR IMPLANTADA SOBRE PILOTIS, O QUE IMPEDE AS
CORRENTES ASCENDENTES DE AR (O CHAMADO EFEITO CHAMIN).
A PLANTA LAMINAR, QUE JUSTAPE VRIOS APARTAMENTOS, EMBORA
APRESENTE REA DE CIRCULAO MAIOR SE COMPARADA TIPOLOGIA H,
TEM VANTAGENS SIGNIFICATIVAS: (I) FAVORECE A VENTILAO CRUZADA E
INSOLAO MAIS EQUNIME ENTRE OS APARTAMENTOS, CARACTERSTICAS
QUE DEVEM TER GRANDE IMPORTNCIA NA DEFINIO DO PROJETO, EM
SE TRATANDO DE UM PAS COMO O BRASIL, COM MAIS DE 50% DE SUA
REA MARCADOS POR CLIMA QUENTE E MIDO, E; (II) OTIMIZA A TORRE DE
ESCADAS AO SERVIR A MAIS APARTAMENTOS, RATEANDO SEU CUSTO POR
UM NMERO MAIOR DE UNIDADES.
AINDA ASSIM, NEM UM NEM OUTRO MODELO SER O IDEAL: A
BOA ARQUITETURA AQUELA QUE CONSEGUE VARIAR AS TIPOLOGIAS EM
FUNO DO TERRENO, DO CLIMA, DA VISTA, DA ACESSIBILIDADE, DO RUDO.
ASSIM, BOAS SOLUES SO AQUELAS QUE NO ADOTAM TIPOLOGIA
NICA, MESMO QUE LAMINAR, MAS PROMOVEM A JUNO DE VRIAS
ALTERNATIVAS, EM HARMONIA COM O LOCAL E SEUS CONDICIONANTES.
DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES: contemplar espaos necessrios
ao uso de cada ambiente, com mobilirio adequado ao tamanho e perfl da famlia,
sem comprometer a circulao. O dimensionamento das unidades pode se referenciar
na NBR 15575, como parmetro mnimo; no entanto, precisa permitir tambm o
desenvolvimento de outras funes no ambiente, inclusive a fexibilidade nos arranjos
do mobilirio. Considerar tambm a possibilidade de uso dos cmodos para trabalho e
estudo, por exemplo, e nas cozinhas a presena concomitante de mais de um morador.
A frequncia de uso de cada cmodo necessita ser utilizada para defnio de suas
dimenses e nmero de habitantes. As reas de circulao internas unidade devem ser
reduzidas e solues de cozinha sem espao para armazenamento evitadas. Otimizar o
uso de prumadas hidrulicas no edifcio e internamente s unidades.
. 96 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
O que justifica a reduo das reas das moradias: o custo?
Dessa maneira, o aumento de 10% na rea de
um cmodo hipottico, sem outras modifcaes, ir
impactar nas parcelas relativas aos planos horizontais
e verticais em propores diferentes, como mostra o
quadro. Nas aberturas no haver qualquer mudana e
nos itens Instalaes prediais e Canteiro o aumento
de rea muito pouco afetar. Portanto, observa-se que o
comum se pensar que o aumento de rea de
um edifcio representa aumento proporcional do seu
custo de produo, o que no verdade. importante
lembrar que, em linhas gerais, a composio dos custos
aumento de superfcie construda proposto no exemplo,
que pode trazer grande melhora no conforto ambiental
na unidade habitacional, acarreta elevao de 5,73% nos
custos de construo, ou seja, pouco mais da metade do
percentual da ampliao de rea proposta.
Fonte: Mascar,1998
por Khaled Ghoubar
A EXPERINCIA PORTUGUESA:
POSSIBILIDADES PARA O (RE)DIMENSIONAMENTO DA HABITAO
A EXPERINCIA PORTUGUESA APRESENTA ASPECTOS
BASTANTE INTERESSANTES SOBRE A QUESTO DO
DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE HABITACIONAL, POIS
DEFINIDA A METRAGEM MNIMA PARA A HABITAO,
AMPLIADA PROPORCIONALMENTE, EM FUNO DO NMERO
DE PESSOAS QUE NELA HABITARO.
A LEGISLAO PORTUGUESA DEFINE QUE A UNIDADE
HABITACIONAL DEVE TER, NO MNIMO, 38M
2
, ACRESCIDOS
DE 10M
2
PARA CADA PESSOA QUE NELA HABITAR.
ASSIM, UMA UNIDADE PROJETADA PARA QUATRO PESSOAS
TERIA REA TOTAL DE 78M, CERCA DE 19M/PESSOA.
VALE DESTACAR QUE A REA MNIMA S PERMITIDA
NOS CASOS DE REABILITAO DE EDIFCIOS. NOS DEMAIS
CASOS, SO ACEITAS APENAS UNIDADES COM NVEIS
PREFERENCIAIS DE QUALIDADE, OU SEJA, REA 25% MAIOR
QUE A REA MNIMA.
FONTE: SAMORA, PATRCIA. PROJETOS DE HABITAO E FAVELAS: ESPECIFICIDADES E
PARMETROS DE QUALIDADE. TESE DE DOUTORADO, FAUUSP, 2009.
da construo est distribuda em 25% para os planos
horizontais, 45% para os planos verticais, 25% para
as instalaes e 5% para o canteiro de obras, como se
verifca no quadro:
. 97 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE: referem-se s possibilidades de
alterao interna s unidades, segundo as diferentes necessidades de seus moradores. Um
projeto adequado possibilita a variao nos arranjos dos cmodos, para se adequarem s
diversidades e mudanas no perfl e composio familiares e de uso. Famlias crescem,
pessoas envelhecem: um apartamento para composio de quatro moradores, dois adultos,
um adolescente e um beb, no espao de alguns anos, talvez passe a ser de um casal com
uma criana, e, no futuro, de um casal, ou uma nova famlia, da prxima gerao. O uso de
alvenarias leves, no estruturais, por exemplo, possibilitaria alteraes de planta a custos
baixos.
Recomenda-se prever variao tipolgica nas unidades em um mesmo
empreendimento, visando atender a diferentes perfs familiares e grupos sociais,
contribuindo para a diversidade social nos condomnios.
DESEMPENHO E EFICINCIA: priorizar sistemas construtivos que possibilitem
diferentes desempenhos trmico, em funo das variaes regionais, diversidade climtica
e disponibilidade de materiais.
3.37. Exemplo de planta adequada fexibilizao
dos espaos internos: Edifcio Modular Lambda
em So Paulo-SP (arq. Abraho Sanovicz, dcada
de 1970). A disposio dos itens estruturais,
pilares e vigas, e as paredes de alvenaria leve
permitem a adequao interna dos ambientes
para as diversas confguraes familiares,
com diferentes possibilidades de arranjos. Em
vermelho, paredes de alvenaria leve, facilmente
removveis, que permitem mudanas de layout.
ALGUMAS ADEQUAES PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO TRMICO DE
TIPOLOGIAS AMPLAMENTE REPRODUZIDAS NO PAS
A REPETIO INDISCRIMINADA DE SOLUO TIPOLGICA E CONSTRUTIVA EM
MBITO NACIONAL COMPROMETE O CONFORTO TRMICO NAS MORADIAS
PRODUZIDAS. EM MUITOS CASOS, PARA SE OBTER BOM DESEMPENHO TRMICO,
ADOTANDO O MESMO SISTEMA CONSTRUTIVO EM DIFERENTES REGIES
BIOCLIMTICAS, NECESSRIO PROMOVER ALGUMAS ALTERAES PARA A
GARANTIA DE SUA ADEQUABILIDADE, COMO AUMENTAR A ESPESSURA DO
REVESTIMENTO DAS PAREDES; AMPLIAR O TAMANHO DAS ABERTURAS; UTILIZAR
FORRO, ESPECIALMENTE NAS EDIFICAES QUE NO POSSUEM LAJE; ADOTAR
PAREDES DE CONCRETO MAIS ESPESSAS, ENTRE OUTRAS.
EM ALGUNS CASOS PROMOVER AS ALTERAES NECESSRIAS PARA
A GARANTIA DA ADEQUABILIDADE DE UM SISTEMA CONSTRUTIVO
DESACONSELHVEL ECONMICO E TECNOLOGICAMENTE, UMA VEZ QUE A
SUBSTITUIO DO SISTEMA CONSTRUTIVO PODE OFERECER UMA SOLUO MAIS
SIMPLES, EFICIENTE E ECONMICA.
Recomenda-se adotar como parmetro mnimo a NBR 15575, para garantir
adequada segurana estrutural, conforto ambiental, durabilidade, fexibilidade e
manutenibilidade (maior durao com menor custo de manuteno). Tambm considerar
os requisitos de desempenho da ISO 6241.
3.37
. 98 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
3.38a e 3.38b. Unit Dhabitation de Marselha (Le Corbusier, 1947) e
Maison du Brsil, Paris, (Lcio Costa e Le Corbusier, 1959), na Frana,
exemplos histricos de arquitetura com estrutura e apartamentos
modulados.
3.39. Beddington Zero Energy Development (BEDZED), ecovila em
Londres, Inglaterra, projeto do arquiteto Bill Dunster.
Alm disto, o uso intensivo da modulao na construo,
para reduo de perdas de materiais pela necessidade de cortes,
e a adoo de dimenses padronizadas, permitindo a utilizao
de componentes industrializados ou pr-fabricados para reduzir
as perdas de materiais e os resduos produzidos, so exemplos
de efcincia na construo.
E a sustentabilidade?
A questo da sustentabilidade est na ordem do
dia. Decorre do fato de que a economia mundial atingiu
nveis expressivos de desperdcio e de agresso ao meio
ambiente. Cada vez mais, percebe-se que em todas as
reas o mundo no teria a capacidade de oferecer a seus
habitantes patamares semelhantes de consumo e conforto
decorrentes da sociedade industrial. Pior, os patamares
atingidos por uns so por si s destrutivos das reservas e
dos recursos naturais do planeta.
Tal preocupao tambm atinge, o que normal, o
setor da construo. Com o agravante de tratar-se de setor
especialmente impactante para o meio ambiente. A anlise
dessa questo tem, neste caso, de seguir as escalas de anlise
em sentido inverso: da construo da unidade habitacional
insero urbana, passando pela implantao. Para cada
uma, os desafos e solues que se apresentam tm ordem
de grandeza especfca.
No mbito da construo, os impactos ambientais
referem-se obra em si: movimentao e eroso de
terra, alterao da base geogrfca natural, canalizao
de crregos e nascentes, mas tambm uso de materiais
no reciclveis, ou com forte impacto sobre os recursos
naturais, como areia ou pedra, produo de entulho e
outros resduos, poluio sonora, e assim por diante.
Neste caso, possvel prever medidas mitigadoras,
como uso de materiais de baixo impacto ambiental, na
explorao dos recursos naturais e em sua utilizao fnal;
adoo de materiais disponveis na regio, diminuindo a
necessidade de transporte; reutilizao de componentes,
como formas e escoras; gesto de resduos de construo
e de demolio e tambm a minimizao do uso de asfalto
nas reas de estacionamento e vias internas, visando
maximizar a absoro das guas pluviais.
No mbito do projeto em si, a chamada arquitetura
ecolgica tambm est em voga. Certamente, ela pode
3.38a
3.38b
. 99 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
relativizar muito os impactos da construo civil tradicional.
Porm, como analisado neste livro, ela pouco representa
face aos impactos muito maiores da urbanizao em maior
escala, que discutiremos a seguir. Ainda assim, nem por isso
saudvel menosprezar os esforos em repensar a prtica
da arquitetura e da construo em moldes menos agressivos
ao meio ambiente, que apresentem sustentabilidade
construtiva, adotando solues que garantam durabilidade
elevada e reduzida necessidade de manuteno. Algumas
solues construtivas comprometidas com essas diretrizes,
visando a economia energtica e dos recursos naturais,
podem ser incorporadas ao projeto: medidores individuais,
reuso de gua e aproveitamento da gua de chuva, uso de
sistemas de captao da energia solar,controle do consumo
de gua das bacias sanitrias; economizador de energia nas
reas comuns, uso de materiais construtivos sustentveis
etc.
Porm, na escala da implantao, e sobretudo na
da insero urbana, que a atual dinmica de produo
do segmento econmico verdadeiramente impactante
ambientalmente. Na implantao dos empreendimentos,
so fatores de insustentabilidade ambiental a excessiva
impermeabilizao do solo para privilegiar o automvel
(assim como o prprio modelo automobilstico em si), a
decorrente falta de reas verdes, sombreamento exagerado
por causa de gabaritos muito altos, alterao do perfl
natural do solo com cortes e grandes aterramentos.
A arquitetura ecolgica que benefcia uma edifcao
sem dvida fundamental, mas pouco afeta os efeitos
trgicos sobre o meio ambiente da urbanizao em sua
escala mais ampla. O modelo do automvel em detrimento
do transporte pblico, espraiamento da cidade para reas
sempre mais distantes, custo e impacto da construo da
infraestrutura necessria a essa expanso, recorte da cidade
por muros e cercas, falta de equipamentos pblicos para
todos, falta de moradia e desigualdade social e segregao
urbana que jogam milhes de pessoas sobre as reas
ambientalmente frgeis, so os verdadeiros problemas
ambientais ligados urbanizao que o Pas vive.
Paradoxalmente, o momento de grande crescimento
econmico traz a perspectiva de piora dessa questo,
pois o aquecimento provoca diretamente a acelerao da
urbanizao, refetido, por exemplo, no boom construtivo
do segmento econmico. Crescer economicamente,
produzindo cidades injustas e insustentveis, com todos
os problemas elencados, talvez o mais impactante dos
problemas ambientais. urgente e imprescindvel a
mudana radical na lgica dessa produo habitacional e
urbana.
Como ressaltado no primeiro captulo, o maior
impacto ambiental , sem dvida, aquele que atinge os
seres humanos em sua integridade e dignidade: morar em
casas apertadas, longe do trabalho, vivendo o estresse de
transportes insufcientes, falta de escolas, creches, postos
de atendimento sade, alternativas prximas de diverso,
esporte e lazer, so situaes de insustentabilidade.
O desenvolvimento urbano sustentvel , portanto,
o que garante hoje, mas sobretudo no futuro, condies de
vida digna para todos. Situao que infelizmente est longe
de acontecer.
3.39
. 100 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Alguns exemplos de boas
solues arquitetnicas e
urbansticas em conjuntos
habitacionais
Uma vez que se exemplifcou, neste captulo, parmetros tcnicos que poderiam
conferir maior qualidade s solues arquitetnicas e urbansticas em projetos
habitacionais, seria interessante mostrar como essas solues se verifcam, na prtica,
em situaes reais. No faltam, na histria da arquitetura, exemplos de bons projetos
habitacionais. Alguns deles, produzidos em diferentes perodos e localizaes, ajudam
a ilustrar os parmetros de qualidade relacionados anteriormente.
importante destacar, entretanto, que praticamente impossvel encontrarmos
situaes perfeitas, que atendam todos os aspectos necessrios uma boa soluo
arquitetnica e urbanstica. Como j comentado no primeiro captulo deste livro,
a arquitetura ou a cidade ideais so mais uma utopia de referncia, pois as
condicionantes e especifcidades histricas, culturais econmicas e polticas de cada
lugar certamente iro afetar a possibilidade de se atender a todos os parmetros de
qualidade.
Porm, quando vrios deles so atendidos, no h dvida que o resultado
ganha qualidade. Os exemplos a seguir demonstram exatamente isso. So seis casos,
entre uma infnidade de outros que poderiam tambm constar aqui, escolhidos por
apresentarem um conjunto de solues que, se no atendem exaustivamente a todos
os parmetros apontados neste captulo, destacam-se por valorizar alguns deles, de tal
forma que permitiram um resultado condizente com a boa arquitetura. Em alguns
casos destaca-se a insero urbana, em outros a implantao, ou ainda a qualidade das
unidades habitacionais.
No se trata de fazer aqui um estudo comparativo, muito menos apontar
exemplos a serem seguidos, mas demonstrar como, na prtica, estas solues mostram-
se bastante superiores ao que o segmento econmico vem produzindo hoje no Brasil, e
resultam em conjuntos que atendem a necessidade de uma melhor qualidade de vida,
contribuindo para a melhoria do ambiente urbano.
. 101 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Copan
transformadas em quitinetes e apartamentos de um
dormitrio. Com isso, o edifcio concludo em 1961 fcou com
1.160 unidades habitacionais, 72 lojas no trreo, e um cinema,
que hoje utilizado como sede de uma igreja.
O edifcio se destaca por um conjunto de atributos: sua
arquitetura e solues estticas, com a caracterstica planta
em S, que o insere na quadra de maneira harmoniosa, o
transformaram em uma referncia visual na regio. O trreo
comercial servindo de transio entre o espao pblico, da rua,
e o privado, do prdio conferem uma excelente integrao
cidade. O edifcio tem sua funo habitacional, mas tambm
um elemento criador de vitalidade urbana. Por outro lado,
a variedade de tipologias permite uma ocupao das mais
variadas, com diversos perfs de moradores, o que traz
dinamismo a um prdio de grande densidade populacional.
Por estar em uma regio central, de muita movimentao, tal
densidade no um problema, mas ao contrrio contribui para
o uso intenso e dinmico do edifcio e do seu trreo comercial.
Provavelmente um dos maiores indicativos da qualidade
do projeto do edifcio est no fato de que ainda hoje sobrevive
ao passar do tempo mantendo esse dinamismo e continuando
a ser uma referncia de boa qualidade de vida em uma regio
tida como degradada.
O edifcio COPAN um marco da cidade de So Paulo
e da arquitetura brasileira. Projetado na dcada de 1950
por Oscar Niemeyer, como parte das encomendas feitas ao
arquiteto para as comemoraes do IV Centenrio da cidade,
tornou-se, naquele perodo, cone emblemtico da So Paulo
recm-ingressa na modernidade.
Parte integrante do processo de verticalizao ocorrido
nas reas mais centrais de So Paulo, num perodo de
acentuado crescimento populacional, o edifcio refete uma
proposta moderna de vida urbana. O uso misto, que envolve
habitaes mas tambm uma galeria comercial, a presena de
equipamentos culturais, a diversidade tipolgica das unidades
habitacionais, que permite atender diferentes perfs de renda e
composio familiar, compem esta proposta.
Construdo por etapas, entre as dcadas de 1950 e 1960, o
projeto original, encomendado pela Companhia Panamericana
de Hotis, previa dois edifcios, um de uso misto e outro que
abrigaria um hotel. Em 1957, aps problemas fnanceiros, o
Banco Bradesco comprou os direitos de construo do projeto,
e tornou o edifcio do hotel a sua sede.
Quanto ao edifcio de uso misto, o projeto contava
inicialmente com um teatro, que no foi construdo, e um
total de 900 apartamentos. Porm os blocos E e F foram
redesenhados, e suas unidades originalmente de 4 dormitrios
edifcio Copan
3.40
. 102 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
600m: Escola Est. de 1 e 2 Caetano de Campos
500m: Escola Mun. Inf. Armando de Arruda Pereira
750m: Escola Mun. Infantil Gabriel Prestes
850m: Escola Mun. Infantil Patrcia Galvo
1500m: Escola Est. 1 Paulo Machado Carvalho
650m: Colgio e Univ. Presbiteriana Mackenzie
300m: Praa da Repbica
450m: Praa Dom Jos Gaspar
450m: Praa Franklin Roosevelt
900m: Vale do Anhangaba
1300m: Teatro Municipal de So Paulo
550m: SESC Consolao
70 lojas no trreo
700m: Santa Casa de Misericrdia
850m: Hospital Geritrico e de Convalescentes D.
Pedro II
educao
dentro da mancha urbana
regio metropolitana
10m
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico
uso residencial
ocupado
condominial
uso comercial
desocupado
individual
uso servios
estacionamento
grades
200m
So Paulo: cerca de 19.223.897 hab
sade
lazer
comrcio
edifcio Copan
. 103 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
2. Implantao
Ocupao do terreno
Densidade
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
8325 hab/ha
72 lojas no trreo e um cinema com capacidade para
1500 pessoas
0% de terreno ocupado por vagas (dois pavimentos do
subsolo ocupados por estacionamento - 221 vagas)
0% de reas permeveis
Cria escadarias e praas para ligar o nvel da rua ao
nvel da praa de toros.
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
de 32 a 180m
2
; +/- 50% de 2 tipologias menores; 448
quitinete; 192 de 1 dormitrio; varia desde quitinete at
3 dormitrios.
Modulao
Uso de materiais locais de baixo impacto
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
Utiliza modulao/padronizao de elementos
construtivos
ventilao cruzada
insolao adequada
compatibilidade com mobilirio mnimo
otimizao da circulao
compartilhamento de usos nos cmodos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
No em todas as tipologias, e quando tem, ela no muito
boa
Existem reclamaes de moradores em avaliaes ps-
ocupao sobre as dimenses das quitinetes
Dentro da tipologia existe otimizao da circulao,
porm a circulao do edifcio, nos andares, no
otimizada
edifcio Copan
. 104 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
planta da tipologia de 2 dormitrios
planta da tipologia quitinete
escala 1:200
Arquitetura: Oscar Niemeyer e equipe
Local: So Paulo, Brasil
Ano Projeto: 1951
Ano Construo: 1951 - 1965
Total de unidades habitacionais: 1160 unidades
rea do terreno: 6.006m
rea construda: 120.000m
rea da unidade: de 32m a 180m
Perfl da demanda: famlias de mdia renda
Forma de produo: por construtora
3.41 3.42
edifcio Copan
. 105 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Conjunto Residencial Passo dAreia
O Conjunto Residencial Passo DAreia foi concebido
durante o governo de Getlio Vargas, na dcada de 1940,
promovido pelo poder pblico com recursos do Instituto
de Aposentadorias e Penses dos Industririos (IAPI)
e destinado aos trabalhadores sindicalizados do setor
industrial. Foi o maior conjunto produzido pelos IAPs neste
perodo, com previso inicial de 1.691 unidades habitacionais,
posteriormente atingiu um total de 2.456 unidades.
O conjunto se localiza a cerca de seis quilmetros do
centro de Porto Alegre, no eixo de expanso da rea industrial
do municpio, em bairro ento denominado Passo DAreia.
Como concepo, o projeto buscou estruturar o novo bairro
a partir da diversidade de usos e servios para alm da
moradia. Foram propostos dois eixos virios estruturadores,
que concentrariam os ncleos de comrcio, os equipamentos
sociais e a rea de lazer. Percebe-se que o projeto arquitetnico
habitacional foi pensado, desde o incio, tambm na sua
dimenso urbana.
A diversidade das tipologias habitacionais , sem
dvida, o fator mais marcante deste conjunto. Foram propostas
para os lotes unifamiliares casas isoladas no lote e geminadas,
tanto trreas quanto assobradadas. Os blocos multifamiliares
tm dois, trs e quatro pavimentos, com apartamentos de dois
a quatro dormitrios.
O resultado um conjunto que oferece boas condies
de moradia associadas a uma qualifcada vida urbana, com
espaos de uso pblico, praas e reas verdes, que dialogam
harmonicamente com os prdios.
Passados mais de 60 anos desde a sua inaugurao,
o conjunto ainda conserva a maioria de seus conceitos
fundamentais. Contudo, o cercamento dos blocos ocasionou
considervel prejuzo para o conjunto, que perde a sua
multiplicidade de percursos e tem prejudicado o uso do trreo
como espao de convvio. Hoje, estacionamentos no previstos
originalmente ocupam parte desses espaos. Entretanto, o
conjunto permanece como um dos locais mais arborizados e
bem servidos de equipamentos de Porto Alegre.
Conjunto Residencial Passo dAreia
3.43 3.44 3.45
. 106 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
no conjunto:
Escola Estadual Dom Becker
Escola de 2 Grau Dom Becker
Escola Estadual especial Recanto da Alegria
Escola Est. de Ensino Fund. Padre Theodoro Amstad
Col. Salesiano Dom Bosco Casa do Pequeno Operrio
Igreja Nossa Senhora de Ftima
Secretaria de Estado de Cultura
Delegacia de Polcia
Agncia dos Correios e Telgrafos
educao
sade
lazer
comrcio
1800m: Hospital Nossa Senhora da Conceio
no conjunto: Centro Esportivo / Praas
1200m: Campo de Golfe Porto Alegre Country Club
no conjunto: Comrcio diversifcado de escala local,
principalmente ao longo da Av. dos Industririos
500m: Supermercado Carrefour
dentro da mancha urbana
regio metropolitana
4,0 km da estao Farrapos
4,1 km do aeroporto Internacional
Salgado Filho
Municpio de Porto Alegre: 1.409.939 habitantes (Fonte: IBGE,
2010)
Regio Metropolitana de Porto Alegre: 3.960.068 habitantes
(Fonte: IBGE, 2010)
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico uso residencial
ocupado
condominial uso comercial
desocupado
individual uso servios
estacionamento
grades
Conjunto Residencial Passo dAreia
. 107 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Densidade. Aproximadamente 181,76 hab/ha no conjunto,
considerando mdia de 5 membros por famlia (mdia da poca
da construo do conjunto). O projeto inicial previa densidade
bruta de 150 hab/ha, tendo por base para a implantao do
conjunto, as densidades decorrentes das cidades-jardim
inglesas Bourneville (75hab/ha), Hampstead (150 hab/ha),
Lechworth (100 hab/ha), Port Sunlight (125 hab/h) e a cidade
paulista Osasco (91 hab/ha)
0% de terreno ocupado por vagas
No foram previstas vagas de garagem, mas as imagens
mostram a privatizao das reas pblicas entre os blocos
residencias, com fechamentos por grade no nvel da quadra,
com acrscimos irregulares de coberturas para garagens
45% de permeabilidade no conjunto, 36,78% considerando
somente as reas pblicas
A implantao do conjunto foi feita considerando a
topografa, proporcionando acessos de pedestre e traado
virio de baixa declividade; apresenta sucesso de
pequenos muros de arrimo na Av. Plnio Brasil Milano
2. Implantao
Ocupao do terreno
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
Foram construdos: Escolas, Ncleos de comrcio no
trreo e edifcios comerciais e de servios, Campo
esportivo, Mercado, Posto do IAPI (administrao),
Delegacia de polcia, Agncia dos correios e telgrafos,
Igreja, Cinema, Estao de tratamento de esgoto
Foram previstos em projeto mas no construdos:
Centro de sade, Biblioteca, Feira, Cinema
tipologias: casa trrea 2 dorm. - 56 unid., casa trrea 3
dorm. - 433 unid., casas sobrepostas geminadas 2 dorm. -
76 unid., casas sobrepostas gaminadas 3 dorm. - 428 unid.,
bloco 4 dorm. - 6 unid., bloco 3 dorm. - 564 unid., bloco 2
dorm.- 646 unid., bloco 1 dorm. - 288 unid.
possui 11 tipologias de unidades habitacionais em
casas isoladas trreas, sobradas ou geminadas, blocos
residncias de 2, 3 e 4 pavimentos
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
Modulao. Utiliza modulao/padronizao
de elementos construtivos. Preocupao com a
estandardizao da arquitetura, em busca de um
racionalismo na produo arquitetnica, capaz de ser
seriada e produzida em escala industrial
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
ventilao cruzada
insolao adequada
compatibilidade com mobilirio mnimo
otimizao da circulao
compartilhamento de usos nos cmodos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
Conjunto Residencial Passo dAreia
Uso de materiais locais de baixo impacto.
Material, estrutura, acabamento: alvenaria; concreto
armado; madeiramento no telhado; cobertura
cermica; piso de parque nas reas secas; lambri de
madeira nos forros; detalhes em pedra e elemento
cermicos na fachada; esquadrias de madeira
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
. 108 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
Arquitetura: Marcos Kruter
Local: Avenida Assis Brasil, Passo d Areia, Porto Alegre RS
Ano Projeto: 1941
Ano Construo: 1942-1953 (incio e fm)
Total de unidades habitacionais: 2.456 (aproximadamente
12.286 habitantes, considerando a mdia da poca, de 5
membros por famlia)
rea do terreno: 675.963 m
rea da unidade: diversas (ver tabela)
Perfl da Demanda: Trabalhadores sindicalizados do Instituto
da Aposentadorias e Penses dos Industririos (IAPI), de
renda baixa a mdia.
Forma de produo: diversas construtoras participaram
da obra, em diferentes perodos e etapas, entre elas a
Construtora Azevedo Et Moura Gertum de Porto Alegre.
planta casa 3 dormtrios
planta edifcio multifamiliar 2 dormitrios
escala 1:200
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
Conjunto Residencial Passo dAreia
. 109 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Torres del Parque
O conjunto Torres del Parque, concebido pelo arquiteto
colombiano Rogelio Salmona na dcada de 1960, est localizado
prximo ao centro da cidade de Bogot, inserido numa
rea com muitos equipamentos e servios. Contrasta com o
gabarito baixo predominante do seu entorno, referenciando-
se visualmente com a paisagem natural da cidade, com as
montanhas ao redor de Bogot.
O projeto tem as preocupaes observadas na maior
parte da obras de Salmona: a relao com as tradies urbanas,
arquitetnicas e construtivas. As trs torres habitacionais
foram projetadas e implantadas de modo a valorizar a Praa
de Toros, importante regio da cidade, e vizinho ao conjunto.
Destaca-se neste caso a maneira como o projeto tratou
cuidadosamente a relao entre um empreendimento vertical
contemporneo e um edifcio histrico do patrimnio cultural
da cidade, por meio de trajetos abertos ao pblico, e at mesmo
no uso do material construtivo, o tiolo. No raro se ver,
nesses casos, e ao contrrio do que ocorre nesse projeto, novas
torres construdas pelo mercado imobilirio em linguagem
absolutamente diferente, e at agressiva, em relao ao entorno
imediato, mesmo que seja este um local histrico.
A implantao das torres se destaca pela fuidez
urbana, j que no h grades e muros. Os diferentes nveis
das ruas adjacentes so integrados por um conjunto de
escadarias, ptios e reas ajardinadas, abertos ao uso pblico,
que funcionam como reas de lazer e estar. Lojas se abrem
para esse espao pblico no trreo dos edifcios. Assim como
no COPAN, a integrao cidade dada pelo dinamismo dos
usos diversos, e pelo tratamento adequado da relao espao
pblico x espao privado.
Vale destacar tambm a variedade tipolgica das
unidades, que tm de trs a quatro dormitrios, contabilizando
aproximadamente 300 unidades. Mais uma vez, percebe-se que
a possibilidade de oferecer alternativas de moradia a famlias
de perfs diferentes confere dinamismo e qualidade ao projeto,
diferentemente do que ocorre quando so feitos carimbos
repetitivos de tipologias idnticas e sem variao, como ocorre
comumente na produo do segmento econmico.
Torres del Parque
3.52
. 110 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
200m: Universidad Colegio Mayor de Condinamarca
700m: Colgio Maria Auxiliadora
1000m: Colgio San Bartolom La Merced
300m: Universidad Distrital Macarena
100m: Planetrio
200m: Museu Nacional da Colmbia
500m: Parque Central Bavaria
100m: Parque La Independencia
200m: Biblioteca Nacional
800m: Centro Comercial San Martin
300m: Mercado de Pulgas
1000m: Unidad Peditrica Hospital Centro Oriente
700m: Hospital La Perseverancia
educao
regio metropolitana
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico
uso residencial
ocupado
condominial
uso comercial
desocupado
individual
uso servios
estacionamento
grades
700m
Bogot: 7.363.782 hab
sade
lazer
comrcio
dentro da mancha urbana
Torres del Parque
. 111 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
2. Implantao
Ocupao do terreno
Densidade
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
sem informao
Espao para comrcio no trreo.
0% de terreno ocupado por vagas
20% de reas permeveis
Cria escadarias e praas para ligar o nvel da rua ao
nvel da praa de toros.
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
Variao no tamanho e na quantidade de dormitrios,
entre 3 e 4; alguns tipo possuem o ptio externo.
Os cmodos so bem generosos em todas as tipologias
Modulao
Uso de materiais locais de baixo impacto
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
Utiliza modulao/padronizao de elementos
construtivos
ventilao cruzada
insolao adequada
compatibilidade com mobilirio mnimo
otimizao da circulao
compartilhamento de usos nos cmodos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
Cmodos bem generosos.
3.53
Torres del Parque
. 112 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
Arquitetura: Rogelio Salmona
Local: Bogot, Colmbia
Ano Projeto: 1963 - 1966
Ano Construo: 1964-1970
Total de unidades habitacionais: 294
unidades
Perfil da Demanda: classe mdia/
classe mdia-alta.
Forma de produo: construo
tradicional.
Planta de tipologia de 4 dormitrios Planta de tipologia de 4 dormitrios
1 pavimento
1 pavimento
2 pavimento 2 pavimento escala 1:200
3.54 3.55
Torres del Parque
. 113 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
COVIMT1
O Conjunto Habitacional Covimt1, localizado na cidade
de Montevidu, no Uruguai, foi construdo entre 1971 e 1972
no mbito das experincias habitacionais desenvolvidas pelas
cooperativas de habitao de ajuda mtua uruguaias. Com a
promulgao da Lei Nacional de Habitao, em 1968, criou-se
um fundo pblico composto principalmente pela arrecadao
de parte da massa salarial da populao atravs de um
imposto para fnanciamento habitacional. Tal fundo favoreceu
o desenvolvimento de inmeras experincias cooperativas
voltadas produo habitacional, muitas delas em atuao at
hoje.
Este conjunto, projetado pelo Centro Cooperativista del
Uruguay, foi realizado em mutiro autogerido para famlias de
trabalhadores da indstria txtil uruguaia. Localizado na rea
de expanso da mancha urbana, est prximo a uma estao
de trem e de alguns servios e equipamentos. Trata-se de um
conjunto pequeno, com 30 unidades habitacionais implantadas
em um nico lote, perpendiculares rua de acesso. Esto
divididas em dois blocos, estruturados por um espao pblico
arborizado, que d acesso s unidades e no qual foi construdo
um salo comunitrio. As casas, com rea de 60 a 90m, variam
entre dois e quatro dormitrios, sendo as de dois dormitrios
passveis de modifcao com o tempo e com a transformao
do perfl familiar.
Tambm neste caso, a variedade de alternativas,
a presena de equipamentos, a facilidade de acesso pelo
transporte pblico, e a qualidade das reas coletivas e pblicas,
muito arborizadas, conferem indiscutvel qualidade de vida ao
conjunto.
COVIMTI
3.56
. 114 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
2800m: Escola n199
3000m: Faculdade de Agronomia
3500m: Colgio y Liceo Bet-el
3000m: Liceo N 36 Instituto Batlle y Ordez
3000m: Jardim Japons
1500m: Parque Osvaldo Roberto
3100m: Parque Luis Rivero
3300m: Museu Juan Manuel Blanes
900m: Supermercado Devoto
2500m: Supermercado Multiahorro n5
2500m: Farmcia Noti
4600m: Hospital Misurraco
educao
no limite da mancha urbana
grande cidade ( + de 500 000 habitantes)
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico
uso residencial
ocupado
condominial
uso comercial
desocupado
individual
uso servios
estacionamento
grades
350m
Estao Pearol
3500 m
terminal rodovirio CO.ME.SA.)
Montevidu: 1.325.968 habitantes (cidade) e 1.668.335
habitantes (regio metropolitana).
sade
lazer
comrcio
COVIMTI
. 115 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
2. Implantao
Ocupao do terreno
Densidade
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
aprox. 167,25 hab/ha
Equipamentos no, porm prev o jardim comunitrio
semi pblico (aonde fca o centro comunitrio), alm
dos equipamentos construdos pela associao das
cooperativas.
0% de terreno ocupado por vagas
18% (aprox.) de reas permeveis
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
o conjunto possui trs tipologias diferentes, uma com
dois dormitrios, uma com trs dormitrios e uma com
quatro dormitrios, tendo todas apenas um banheiro.
as casas foram pensadas para permitir uma posterior
evoluo at quatro dormitrios
Modulao
Uso de materiais locais de baixo impacto
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
Utiliza modulao/padronizao de elementos
construtivos
O caixilho original foi feito com madeira pelo prprios
cooperados.
ventilao cruzada
insolao adequada
compatibilidade com mobilirio mnimo
otimizao da circulao
compartilhamento de usos nos cmodos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
um dos quartos
na sala
3.57
COVIMTI
. 116 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
Arquitetura: Centro Cooperativista del Uruguay. Arquiteto:
Mario Spallanzani.
Local: Montevidu, Uruguai.
Ano Projeto: 1968
Ano Construo: 1971 - 1972
Total de unidades habitacionais: 30 unidades
rea do terreno: aproximadamente 73 x 86 m
2
rea da unidade: aproximadamente de 60 a 90 m
2
.
Perfl da Demanda: baixa renda
Forma de produo: cooperativas de ajuda mtua mutiro.
Planta da tipologia de 2 dormitrios - trreo
Planta da tipologia de 4 dormitrios - trreo
primeiro andar
primeiro andar
escala 1:200
3.58
3.59
COVIMTI
. 117 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Quinta da Malagueira
O bairro Quinta da Malagueira, na cidade de vora, foi
projetado pelo arquiteto portugus lvaro Siza, e construdo
em meados da dcada de 1970. O terreno, com 27 hectares, foi
cedido pela Cmara Municipal s associaes de moradores e
cooperativas locais. O projeto do bairro organiza-se a partir de
um eixo virio em articulao com a malha existente e com
ligao ao centro da cidade a partir do qual se distribuem as
ruas de acesso s unidades habitacionais. Esse eixo concentraria
tambm comrcios, praa, clnica, hotel e um restaurante. Por
falta de recursos alguns equipamentos no foram construdos.
As 1.200 unidades habitacionais, que se distribuem
em vias de pedestres ligadas ao eixo principal, dividem-se
em duas tipologias principais, que podem ser modifcadas
de acordo com a alterao do perfl familiar (unidades
evolutivas). A partir de ptios internos, distribuem-se de um a
cinco dormitrios.
A implantao das casas e das ruas se adapta topografa
natural do terreno, sem grandes movimentaes de terra. Um
aqueduto foi projetado ao longo do conjunto, acomodando a
infra-estrutura levada da cidade para o bairro.
O uso misto, a mistura de classes sociais, a hierarquia
viria, a forma urbana da relao casa-lote-rua e a preocupao
com o uso da vias como espao de convvio social so algumas
das caractersticas marcantes da Quinta da Malagueira.
Quinta da Malagueira
3.60 3.61
. 118 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
1500m: Escola Secundria de Severim de Faria
1000m: Conservatrio Reg. de vora Eborae Msica
900m: Escola Bsica Integrada da Malagueira
1400m: Jardim Pblico
400m: Piscinas Municipais
1500m: Teatro Municipal
Ao longo de toda a rua principal do projeto
1800m: Hospital do Esprito Santo E.P.E.
2100m: Hospital da Misericrdia
educao
cidade pequena (at 100 000 habitantes)
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico
uso residencial
ocupado
condominial
uso comercial
desocupado
individual
uso servios
estacionamento
grades
800m
terminal rodovirio
vora: cerca de 41.159 hab (dado de 2004)
sade
lazer
comrcio
dentro da mancha urbana
Quinta da Malagueira
. 119 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
2. Implantao
Ocupao do terreno
Densidade
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
aprox. 262,3 hab/ha
No eixo virio central foram concebidos em projeto
os comrcios e a praa da cpula, um lugar pblico
semicoberto de convvio entre os moradores que por
questes de falta de investimento no foi realizado,
tanto como uma clnica, um hotel e um restaurante. O
projeto tambm previu um aqueduto que acomoda a
infraestrutura levada da cidade para o bairro.
0% de terreno ocupado por vagas
20% de reas permeveis
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
duas principais tipologias evolutivas tipo A (com ptio na
frente) e tipo B (com ptio nos fundos). Dentro do tipo A
as casas variam de 2 a 5 dormitrios, e as do tipo B de 1 a
4 dormitrios.
tipologia evolutiva das casas
Modulao
Uso de materiais locais de baixo impacto
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
Utiliza modulao/padronizao de elementos
construtivos
ventilao cruzada
insolao adequada
compatibilidade com mobilirio mnimo
otimizao da circulao
compartilhamento de usos nos cmodos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
Quinta da Malagueira
. 120 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
Arquitetura: Alvaro Siza
Local: vora, Portugal
Ano Projeto: 1975
Ano Construo: 1977 - 1995
Total de unidades habitacionais: 1200 unidades
rea do terreno: 27 hectares
rea construda: 13,5 hectares
rea da unidade: lote de 8 x 12m (as reas
variam)
Perfl da Demanda: renda baixa e mdia-baixa
Forma de produo: mutiro e construo
tradicional
planta tipo A: com o ptio na frente
planta tipo B: com o ptio atrs
1 andar da tipologia com 5 dormitrios
1 andar da tipologia com 5 dormitrios 1 andar da tipologia com 1 dormitrio trreo igual para todas tipologias
1 andar da tipologia com 1 dormitrio trreo igual para todas tipologias
escala 1:200
3.62
3.64
3.63
3.65
Quinta da Malagueira
. 121 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
Unio da Juta
O Conjunto Habitacional Unio da Juta, construdo no
ano de 1993, pelo sistema de mutiro autogerido, foi concebido
pela Usina - Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado.
O terreno faz parte da gleba Fazenda da Juta, em So Mateus,
So Paulo-SP, e foi cedido pela CDHU Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de So
Paulo, que tambm fnanciou o projeto.
Construdo entre 1994 e 1997 com a participao dos
moradores (Associao Unio da Juta), houve no processo
grande preocupao com a racionalizao da construo e
adequao do canteiro de obras s necessidades do processo
de mutiro. Elementos do projeto, como as torres de escada
metlica, visavam otimizar a dinmica da obra (no caso, por
exemplo, economizando nos andaimes). A implantao das
torres habitacionais conforma praas e vilas no trreo. So trs
tipologias diferentes, todas com rea de 65m, totalizando 156
unidades. Alm dos blocos habitacionais, foram construdos
um centro comunitrio, uma creche e uma padaria.
O projeto tem vrios elementos de destaque: o
primeiro, sem dvida, que mostra ser possvel atingir grande
qualidade de projeto mesmo com as signifcativas restries
oramentrias e tcnicas relativas ao regime de mutiro. Nem
por isso a qualidade do projeto sofreu prejuzo, pelo contrrio:
solues inteligentes de projeto e na escolha dos materiais
permitiram uma construo simples, porm com muita
qualidade. Alm disso, mais uma vez destaca-se a variedade de
tipologias dos apartamentos oferecidos, uma delas, alis, com
cozinha aberta sala, padro inovador para esse tipo de perfl,
mas que teve muito sucesso junto aos moradores. Tambm o
tamanho das unidades foge regra das habitaes de interesse
social, e o espao um pouco mais generoso do que o habitual
traz sem dvida grande ganho na qualidade de vida. Por fm,
a cuidadosa implantao propiciou a existncia de espaos
verdes de uso coletivo, com grande qualidade urbanstica.
Apesar de no ter sido a primeira experincia de
mutiro para edifcao vertical, o Unio da Juta teve grande
signifcado por ter exemplifcado que um mutiro autogerido
capaz de produzir habitao com qualidade construtiva, alm
de fortalecer as relaes de comunidade.
Unio da Juta
3.66 3.67
. 122 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Localizao / Porte da Cidade
Acessibilidade / Mobilidade
Fluidez urbana
1. Insero urbana
Equipamentos urbanos
em frente: Sem identifcao
1500m: EEPG Professora Ivone P. T. Ruggieri
1400m: Colgio ABC Mau
1100m: CEI Diretor Luiz Gonzaga do Nascimento Jr.
1300m: EMEI Ataulfo Alves
1200m: EMEF Imperatriz Dona Amlia
1900m: EMEI Vicente de Carvalho
1500m: EMEF Rodrigues de Carvalho
1200m: Praa Maria de Lourdes Coutinho Rosa
1800m: Praa Manoel C. de Lisboa
1800m: Praa Eng. Raul Ferreira de Barros
1800m: Praa dos Camargos
1700m: Praa Humberto Reis Costa
50m : Padaria Comunitria Unio da Juta
em frente: UBS Juta II
1800m: Hospital Estadual Sapopemba
educao
adequao malha
muros
tipo de uso do trreo
pblico
uso residencial
ocupado
condominial
uso comercial
desocupado
individual
uso servios
estacionamento
grades
20m
So Paulo: cerca de 19.223.897 hab.
sade
lazer
comrcio
dentro da mancha urbana
regio metropolitana
Unio da Juta
. 123 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
2. Implantao
Ocupao do terreno
Densidade
Possui equipamentos complementares moradia
adequao topografa
paisagismo
reas sombradas
insolao adequada
espaos pblicos
579 hab/ha
Centro comunitrio que abriga creche, padaria, capela,
salas de formao e biblioteca.
0% de terreno ocupado por vagas
0% de reas permeveis
3. Tipologia e Tecnologia
fexibilidade interna s unidades
variao tipolgica no conjunto
Trs tipologias com sala, 2 quartos, cozinha e banheiro: a
disposio dos ambientes, em cada tipologia, distinto.
Uma das tipologias possui sala e cozinha conjugadas.
Modulao
Uso de materiais locais de baixo impacto
Uso de componentes industrializados ou pr-
fabricados
Conforto / Sustentabilidade
Dimensionamento e Agenciamento espacial
Utiliza modulao/padronizao de elementos
construtivos
O mdulo utilizado a medida do bloco cermico.
ventilao cruzada
insolao adequada
compartilhamento de usos nos cmodos
depsitos e/ou armrios embutidos
otimizao de prumadas hidrulicas na unidade
otimizao de prumadas hidrulicas no pavimento
proteo solar
3.68
Unio da Juta
. 124 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Ficha tcnica
Arquitetura: Usina CTAH
Local: Sapopemba, So Paulo, Brasil
Ano Projeto: 1992
Ano Construo: 1993-1998
Total de unidades habitacionais: 156 unidades
rea do terreno: 6.006 m
rea construda: 15.206,55m
2
(condominial); 11.292,60 m
2
(habitacional); 1.915,32 m
2
(institucional)
rea da unidade: 65m
2
Custo unidade habitacional: R$ 13.400,00 (valores de 1998)
Custo total: R$ 2.150.000,00 (valores de 1998: inclui assessoria
tcnica, material, projetos, mo de obra especializada e
canteiros)
Sistema Construtivo
Circulao: escadas metlicas
Cobertura: telha cermica
Forma de produo: mutiro com assessoria
Plantas de tipologia de 2 dormitrios
escala 1:200
3.69 3.70
Unio da Juta
. 125 . Retrato da atual produo do segmento econmico e parmetros de qualidade urbanstica e arquitetnica
. 126 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 127 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
4
Proposies arquitetnicas e urbansticas
para trs empreendimentos do segmento
econmico
O reconhecimento de defcincias de toda ordem na
produo do segmento econmico, amplamente analisadas
nos captulos anteriores, instiga a busca de alternativas que
faam dessa produo possibilidade de transformao real de
nossas cidades.
Se o dilema produzir casas ou construir cidades
pressupe o exerccio da crtica sobre a atuao do mercado
e a indicao de parmetros de qualidade desejveis,
tambm estimula a apresentao de propostas de projeto que
qualifquem o debate.
Uma das questes citadas no primeiro captulo a falta
de boas solues de arquitetura, infuenciando a m qualidade
fnal dos empreendimentos. Acredita-se que, mesmo dentro
das determinaes do mercado, com todas as imposies
de custo, legislao ou adequao demanda, bons projetos
arquitetnicos podem produzir solues de qualidade muito
superior percebida hoje no mbito do segmento econmico.
Trata-se, portanto, de chamar ao arquitetos que apresentem
propostas que elevem o padro da produo atual e tambm de
salientar a importncia de introjetar na cadeia produtiva deste
segmento o conhecimento especfco prprio da arquitetura,
que hoje tem papel menor.
Assim, foram convidados trs escritrios brasileiros com
experincia no campo da arquitetura residencial no segmento
econmico, e um escritrio estrangeiro com renome no
mercado europeu, para desenvolverem exerccios projetuais,
a partir dos parmetros discutidos no captulo anterior e em
contraposio aos modelos que se espalham pelo Pas.
Os captulos anteriores mostraram que existem
trs tipologias predominantes no mbito da produo do
segmento econmico: casas unifamiliares (isoladas, geminadas
ou assobradadas), blocos sem elevador de quatro ou cinco
. 128 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
pavimentos (alm do trreo), e torres com elevador (com altura
varivel entre oito e 22 pavimentos).
A partir de estudos de viabilidade, as construtoras
defnem qual a tipologia mais conveniente para os terrenos
disponveis, equacionando variveis como o preo da terra,
o perfl da demanda e sua renda, a legislao urbanstica
municipal, a densidade construtiva e nmero de vagas de
garagem, para maximizar seus ganhos.
Tal reduo das alternativas de projeto a apenas trs
tipos de tipologia , como comentado no captulo anterior, um
dos fatores determinantes da baixa qualidade arquitetnica
e urbanstica da produo atual do segmento econmico.
A justifcativa para essa padronizao a da racionalizao
da construo, com o objetivo de ganhar escala, rapidez
e diminuio de custos. A discusso sobre a necessria
industrializao da construo civil assunto premente, como
foi colocado no captulo trs. Entretanto, cabe observar que, ao
contrrio de outros bens de consumo produzidos em grandes
quantidades em padres idnticos, no caso da habitao, a
excessiva padronizao para a obteno de quantidade acaba
eliminando a variedade de tipologias arquitetnicas e de
padres de implantao dos conjuntos, e gera um impacto
bastante negativo na qualidade fnal.
A questo que se coloca ento se, com bons projetos
arquitetnicos e urbansticos, seria possvel chegar a resultados
mais satisfatrios, dentro de custos equivalentes. Por isso,
props-se ento que cada um dos escritrios brasileiros
desenvolvesse um projeto dentro das trs tipologias citadas.
Ao mesmo tempo, fez-se a simulao do que o mercado
provavelmente proporia em cada situao, a partir dos
exemplos amplamente levantados nesta pesquisa. Cada um
dos escritrios convidados desenvolveu ento uma soluo
alternativa para os mesmos, apontando aspectos de qualidade
importantes para esses arquitetos.
Para apoiar os projetos, foram apresentados aos
escritrios de arquitetura diversos conjuntos projetados
e construdos em todo o Pas, com base no levantamento
realizado, com as peculiaridades de cada tipologia. Os
problemas da produo atual e os parmetros usualmente
utilizados pelas construtoras serviram de mote para discusso
sobre qual seria a forma de enfrentamento da questo pelos
escritrios. O primeiro aspecto apontado foi a necessidade
de qualifcar a insero urbana dos conjuntos. Nesse sentido,
visando auxiliar as solues de projeto, aspectos como a
possibilidade de acesso a comrcio, servios, infraestrutura
consolidada e rede qualifcada de transporte pblico foram
fundamentais na defnio dos terrenos propostos.
Vale observar que no houve restries aos projetos
pedidos, exceto que se encaixassem na realidade de custos de
cada uma das tipologias e da legislao edilcia. Obviamente,
solicitou-se que os escritrios atentassem para os parmetros
de qualidade elencados no captulo trs. O objetivo evidenciar
como, da prancheta desses arquitetos, sairiam ideias que, ainda
que dentro das condicionantes da nossa realidade, fujam das
solues automatizadas que o mercado produz, valorizando
aspectos de boas solues arquitetnicas que so raras no
cenrio urbano brasileiro atual.
No mesmo intuito, foi convidado um escritrio
estrangeiro para dar ideia sobre a tipologia de torres. O
contexto europeu, com realidade econmica e legislaes
urbansticas e edilcias completamente diferentes da brasileira,
tornaria insensato que se exigisse, nesse caso, adequao
aos critrios de custo, densidade e tamanho solicitados aos
escritrios brasileiros. Basta lembrar, para exemplifcar, que na
maioria daqueles pases, projetos pblicos de habitao social
tm custos mais elevados do que os do mercado, por tratar-
se de bens pblicos destinados locao. Por isso, solicitou-se
uma proposta conceitual, mostrando o que um escritrio de
arquitetura apresentaria, na Europa, para empreendimento do
tipo.
Para a realizao dos projetos, a equipe do LabHab
FAUUSP selecionou terrenos reais, dentro da malha urbana
de cidades em reas metropolitanas do Estado de So Paulo,
que se enquadrassem nas faixas de preo e dimenso nas quais
o segmento econmico trabalha. So, portanto, terrenos em
que caberiam empreendimentos desse tipo, adotando o valor
mximo por unidade de R$ 130.000,00, conforme o teto do
PMCMV 1.
. 129 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico . 129 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
A partir dos projetos apresentados pelos trs escritrios,
a equipe do LabHab, sob orientao do Prof. Dr. Khaled
Ghoubar, elaborou oramento dos mesmos, chegando a uma
estimativa do preo de venda das unidades habitacionais de
cada um dos empreendimentos.
importante frisar que a encomenda feita aos escritrios foi um
estudo preliminar para as reas defnidas e que os respectivos
oramentos esto adequados ao grau de detalhamento e
preciso prprios a esta fase de projeto.
1. COMPOSIO DO PREO DOS IMVEIS RESIDENCIAIS
DO SEGMENTO ECONMICO
Para a anlise dos custos da construo dos trs empreendimentos
habitacionais desenvolvidos pelos escritrios convidados, foi
considerada a seguinte composio de preo para imveis:
. CUSTOS DE CONSTRUO, representando 60% do Valor
Geral de Venda (VGV) do empreendimento. Foram considerados
todos os materiais, maquinrio, servios especializados, mo
de obra e BDI (bonifcaes e despesas indiretas) de 30%, para
as edifcaes habitacionais, infraestrutura, terraplenagem e
equipamentos urbanos e comunitrios.
. PROJETO, GESTO E LUCRO, representando 30% do Valor
Geral de Venda do empreendimento. Foram considerados
os projetos e outros custos correlatos, despesas comerciais,
administrativas, fnanceiras, de incorporao, impostos,
propaganda e os resultados fnanceiros lquidos.
. TERRENO, representando 10% do Valor Geral de Venda do
empreendimento. Foram considerados os preos do terreno e
os custos correlatos.
A composio do preo dos empreendimentos (VGV=60+30+10)
baseou-se em consultas realizadas a representantes do
Oramento dos projetos
Nota metodolgica
com contribuio de Khaled Ghoubar
setor imobilirio, bem como em planilhas oramentrias de
projetos habitacionais lanados nos ltimos anos voltados
especifcamente ao segmento econmico. Vale ressaltar que
foram considerados apenas empreendimentos voltados para
este segmento, posto que a composio de preo muito se
altera em funo do perfl do produto e da demanda atendida.
Alm dessas fontes, para a defnio da participao percentual
do preo do terreno no preo de venda do empreendimento,
foram ainda consideradas informaes constantes dos
relatrios trimestrais de empresas de capital aberto na
Bovespa, que apresentam em seus sites ofciais dados sobre
suas operaes imobilirias.
Cabe destacar tambm que nesses percentuais (60+30+10)
no foram consideradas as variaes decorrentes dos tempos
de aprovao, desenvolvimento, lanamento e venda dos
empreendimentos habitacionais, que muito interferem na
composio de preos, tampouco foram consideradas as
diferentes modalidades de aquisio do terreno. Desse modo,
foram assumidas mdias gerais referenciais para a defnio
dos percentuais, desconsiderando variaes regionais ou
decorrentes do perfl e porte dos agentes promotores.
2. CUSTOS DE CONSTRUO
A elaborao dos oramentos dos custos de construo
especfcos aos trs projetos desenvolvidos foi feita de modo
a no s listar os itens demandados pelas obras, mas tambm
a subsidiar o processo de projeto de arquitetura e urbanismo.
Para tanto, foi adotada a metodologia desenvolvida pelos
professores da FAUUSP Drs. Khaled Ghoubar e Jorge Oseki,
denominada Matriz para o redesenho do projeto espacial, a
partir de indicadores tipologicamente anlogos de consumos
e custos. Esta metodologia se mostra efciente, pois na fase
dos estudos preliminares, o elenco de opes de sistemas
. 130 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
construtivos, materiais e agenciamento dos espaos desejados relativamente grande,
o que difculta as decises iniciais fundamentais. Mas, se o projetista j dispuser de
alguma referncia interessante a ser empregada criticamente como orientadora dos
desenhos, ele pode contar com tal instrumento metodolgico (em planilha eletrnica).
Essas matrizes so produzidas a partir de projetos de tipologias e contextos anlogos
aos projetos em estudo, detalhadamente desenhados e orados, de onde se tiram os
indicadores de consumos e custos de interesse ao redesenho desse mesmo projeto, ou
de outro qualquer que lhe guarde estreita semelhana. Trata-se de matrizes interativas
entre as especifcaes, quantidades de servios e seus custos de produo, permitindo
simulaes de interveno no projeto, sem necessariamente desenh-las. Um exemplo
dessa matriz, em planilha eletrnica, o abaixo apresentado, correspondente ao projeto
de embrio habitacional da COHAB-SP, de fnal da dcada de 1980, em So Paulo.
(TABELA)
. 130 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
construtivos, materiais e agenciamento dos espaos desejados relativamente grande,
o que difculta as decises iniciais fundamentais. Mas, se o projetista j dispuser de
alguma referncia interessante a ser empregada criticamente como orientadora dos
desenhos, ele pode contar com tal instrumento metodolgico (em planilha eletrnica).
Essas matrizes so produzidas a partir de projetos de tipologias e contextos anlogos
aos projetos em estudo, detalhadamente desenhados e orados, de onde se tiram os
indicadores de consumos e custos de interesse ao redesenho desse mesmo projeto, ou
de outro qualquer que lhe guarde estreita semelhana. Trata-se de matrizes interativas
entre as especifcaes, quantidades de servios e seus custos de produo, permitindo
simulaes de interveno no projeto, sem necessariamente desenh-las. Um exemplo
dessa matriz, em planilha eletrnica, o abaixo apresentado, correspondente ao projeto
de embrio habitacional da COHAB-SP, de fnal da dcada de 1980, em So Paulo.
(TABELA)
. 131 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
O clculo dos custos dos empreendimentos seguiu as orientaes bsicas da NBR.12.721
- Avaliao de custos de construo para incorporao imobiliria e outras disposies para
condomnios edilcios, mas sem usar os critrios das reas equivalentes, isto , todos
os servios foram medidos em suas verdadeiras grandezas, e os custos na sua quase
totalidade foram calculados por unidade especfca, ou quando o caso no permitia,
foram estimados por indicadores do mercado especfco que guardassem com eles uma
estreita analogia.
Os bancos de dados utilizados como referncia para os levantamentos foram:
(i) PINI-VOLARE: para o levantamento dos preos dos insumos, materiais, servios e
mo de-obra, foi utilizada a base de dados do sofware especializado oramentao
da Construo Civil, denominado VOLARE e o TCPO.13 - Tabela de Composio de
Preos para Oramentos, na verso 13, da PINI Sistemas, disponvel na FAUUSP, no
padro econmico-popular, com preos de maro de 2008. Esse sofware e base de
dados do VOLARE um sistema aberto customizao pelos usurios, o que sempre
o desejvel, pois permite adequar os servios construtivos s especifcidades do projeto.
A esses valores, foi incorporado BDI de 30%
1
.
(ii) CUB-SP: para a atualizao dos custos de construo orados a partir da base PINI
Sistemas, foi utilizado o ndice de correo da CUB-SP. Esse ndice foi escolhido entre
outras possibilidades, primeiro por seguir as orientaes bsicas da NBR.12.721, a
mesma usada para a base PINI, e depois pelo fato de os projetos orados localizarem-se
no estado de So Paulo. Tal ndice atualiza os dados de maro de 2008 para fevereiro
de 2011.
(iii) CEF-SINAPI: os custos do m
2
de construo das reas comerciais e equipamentos
comunitrios, foram orados a partir da base CEF-SINAPI, dados esses referentes a
maro de 2011 e fornecidos diretamente pelo site: webp.caixa.gov.br, acessado no dia
14/04/2011. Como tais preos no compreendiam BDI, foram recalculados com adio
de 30% do valor referente a este.
Estes custos dos servios quantifcados e organizados, seguindo as recomendaes da
NBR.12.721, trazem nas suas composies uma produtividade da mo de obra horria
relativamente baixa, o que nos leva a considerar que o custo real do empreendimento
poder ser reduzido com uma produtividade maior que aquela considerada pelos
coefcientes das planilhas oramentrias padro. Alm disso, eles mostram todos os
insumos de materiais com seus custos de tabela, no grande varejo, unitrios e de 1
qualidade, o que possibilita ainda redues do custo fnal do empreendimento, devidas
sua escala de produo. Dado o escopo deste estudo, essas variaes no foram
consideradas, embora se saiba que, no caso dos ganhos de escala, elas podem ser da
ordem de 20 a 50% para mo de obra; de 20 a 30% para materiais; e 40 a 60% para
equipamentos.
Como a arbitragem do BDI depende de contextualidades econmicas nacionais, da
1
A base de dados j conta com BDI de 22%, que foi substitudo pelo de 30%.
. 131 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
O clculo dos custos dos empreendimentos seguiu as orientaes bsicas da NBR.12.721
- Avaliao de custos de construo para incorporao imobiliria e outras disposies para
condomnios edilcios, mas sem usar os critrios das reas equivalentes, isto , todos
os servios foram medidos em suas verdadeiras grandezas, e os custos na sua quase
totalidade foram calculados por unidade especfca, ou quando o caso no permitia,
foram estimados por indicadores do mercado especfco que guardassem com eles uma
estreita analogia.
Os bancos de dados utilizados como referncia para os levantamentos foram:
(i) PINI-VOLARE: para o levantamento dos preos dos insumos, materiais, servios e
mo de-obra, foi utilizada a base de dados do sofware especializado oramentao
da Construo Civil, denominado VOLARE e o TCPO.13 - Tabela de Composio de
Preos para Oramentos, na verso 13, da PINI Sistemas, disponvel na FAUUSP, no
padro econmico-popular, com preos de maro de 2008. Esse sofware e base de
dados do VOLARE um sistema aberto customizao pelos usurios, o que sempre
o desejvel, pois permite adequar os servios construtivos s especifcidades do projeto.
A esses valores, foi incorporado BDI de 30%
1
.
(ii) CUB-SP: para a atualizao dos custos de construo orados a partir da base PINI
Sistemas, foi utilizado o ndice de correo da CUB-SP. Esse ndice foi escolhido entre
outras possibilidades, primeiro por seguir as orientaes bsicas da NBR.12.721, a
mesma usada para a base PINI, e depois pelo fato de os projetos orados localizarem-se
no estado de So Paulo. Tal ndice atualiza os dados de maro de 2008 para fevereiro
de 2011.
(iii) CEF-SINAPI: os custos do m
2
de construo das reas comerciais e equipamentos
comunitrios, foram orados a partir da base CEF-SINAPI, dados esses referentes a
maro de 2011 e fornecidos diretamente pelo site: webp.caixa.gov.br, acessado no dia
14/04/2011. Como tais preos no compreendiam BDI, foram recalculados com adio
de 30% do valor referente a este.
Estes custos dos servios quantifcados e organizados, seguindo as recomendaes da
NBR.12.721, trazem nas suas composies uma produtividade da mo de obra horria
relativamente baixa, o que nos leva a considerar que o custo real do empreendimento
poder ser reduzido com uma produtividade maior que aquela considerada pelos
coefcientes das planilhas oramentrias padro. Alm disso, eles mostram todos os
insumos de materiais com seus custos de tabela, no grande varejo, unitrios e de 1
qualidade, o que possibilita ainda redues do custo fnal do empreendimento, devidas
sua escala de produo. Dado o escopo deste estudo, essas variaes no foram
consideradas, embora se saiba que, no caso dos ganhos de escala, elas podem ser da
ordem de 20 a 50% para mo de obra; de 20 a 30% para materiais; e 40 a 60% para
equipamentos.
Como a arbitragem do BDI depende de contextualidades econmicas nacionais, da
1
A base de dados j conta com BDI de 22%, que foi substitudo pelo de 30%.
. 132 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
regionalidade e do porte das empresas, julgou-se adequado aplicar BDI de 30%, usual na
construo civil. Objetiva-se, dessa maneira, reforar a argumentao de que possvel
produzir melhores empreendimentos, mesmo assegurados tais ganhos para o investidor.
Pela mesma razo foi eleita a base PINI como referncia, j que reconhecidamente no
meio da construo civil ela apresenta coefcientes de baixa produtividade como o
prprio setor se reconhece, embora no seja verdade em canteiros que contam com
maior racionalizao e mecanizao. Ou seja, a pesquisa se vale, grosso modo, de um
referencial de valores alargado, a fm de garantir a credibilidade dos nmeros.
Alm destas fontes, para orar os componentes do custo de construo no detalhados
pelos escritrios em seus estudos preliminares (terraplenagem, fundaes, etc.), foram
utilizados percentuais e indicadores apontados por estudos do Prof. Khaled Ghoubar
sobre empreendimentos recentes desenvolvidos pela CDHU em licitaes pblicas.
3. SIMULAO DE PREO DE TERRENO
Para a anlise da relao entre o preo de terreno e o preo das unidades habitacionais,
a partir dos custos de construo orados nos trs projetos desenvolvidos, foram feitas
trs simulaes.
Primeiramente, foi adotado como preo do terreno o valor correspondente a 10% do
preo total do empreendimento, assumindo a composio (VGV=60+30+10). Sabido o
custo de construo (orado a partir da metodologia descrita acima) e admitindo que
ele representa 60% do VGV, chegamos ao preo do m do terreno para esta situao.
Como o preo do terreno efetivamente varia de acordo com a localizao e regio, foram
elaboradas simulaes de preos das unidades habitacionais a partir de variaes no
preo do terreno. Nas simulaes apresentadas, o preo fnal da unidade habitacional e
a composio do VGV variam, enquanto o custo da construo e o percentual do item
projeto, gesto e lucro se mantm fxos. Com isso foi possvel simular a composio
do preo para duas outras situaes: (i) preo da unidade habitacional correspondendo
a R$130mil (teto do PMCMV 1) e, (ii) preo do terreno correspondendo ao seu preo de
mercado em reas valorizadas, como em municpios de reas metropolitanas do estado
de So Paulo.
. 132 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
regionalidade e do porte das empresas, julgou-se adequado aplicar BDI de 30%, usual na
construo civil. Objetiva-se, dessa maneira, reforar a argumentao de que possvel
produzir melhores empreendimentos, mesmo assegurados tais ganhos para o investidor.
Pela mesma razo foi eleita a base PINI como referncia, j que reconhecidamente no
meio da construo civil ela apresenta coefcientes de baixa produtividade como o
prprio setor se reconhece, embora no seja verdade em canteiros que contam com
maior racionalizao e mecanizao. Ou seja, a pesquisa se vale, grosso modo, de um
referencial de valores alargado, a fm de garantir a credibilidade dos nmeros.
Alm destas fontes, para orar os componentes do custo de construo no detalhados
pelos escritrios em seus estudos preliminares (terraplenagem, fundaes, etc.), foram
utilizados percentuais e indicadores apontados por estudos do Prof. Khaled Ghoubar
sobre empreendimentos recentes desenvolvidos pela CDHU em licitaes pblicas.
3. SIMULAO DE PREO DE TERRENO
Para a anlise da relao entre o preo de terreno e o preo das unidades habitacionais,
a partir dos custos de construo orados nos trs projetos desenvolvidos, foram feitas
trs simulaes.
Primeiramente, foi adotado como preo do terreno o valor correspondente a 10% do
preo total do empreendimento, assumindo a composio (VGV=60+30+10). Sabido o
custo de construo (orado a partir da metodologia descrita acima) e admitindo que
ele representa 60% do VGV, chegamos ao preo do m do terreno para esta situao.
Como o preo do terreno efetivamente varia de acordo com a localizao e regio, foram
elaboradas simulaes de preos das unidades habitacionais a partir de variaes no
preo do terreno. Nas simulaes apresentadas, o preo fnal da unidade habitacional e
a composio do VGV variam, enquanto o custo da construo e o percentual do item
projeto, gesto e lucro se mantm fxos. Com isso foi possvel simular a composio
do preo para duas outras situaes: (i) preo da unidade habitacional correspondendo
a R$130mil (teto do PMCMV 1) e, (ii) preo do terreno correspondendo ao seu preo de
mercado em reas valorizadas, como em municpios de reas metropolitanas do estado
de So Paulo.
. 133 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
NMERO DE UNIDADES: 883 unidades
DENSIDADE: 164 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 e 3 dormitrios
NMERO DE PAVIMENTOS: casas trreas
REA DA UNIDADE: 2 dorm. 40m / 3 dorm. 50m
Para implantao da tipologia de EMPREENDIMENTOS
HORIZONTAIS, optou-se por um terreno em rea de expanso
de uma metrpole paulista em bairro em fase de consolidao,
com diversos loteamentos surgindo com as caractersticas da
urbanizao dispersa. Ligada rea central da cidade por vias
estruturais, a gleba tem as caractersticas tpicas do padro de
unidades horizontais, existindo inclusive empreendimentos
desse tipo na vizinhana. As solues comumente apresentadas
pelo mercado para tal situao adotam baixas densidades, com
unidades isoladas em longos e montonos renques de casas,
sistemas virios ortogonais em terrenos acidentados (gerando
ruas com grande declive), grande movimentao de terra,
deteriorao de crregos e nascentes, unidades habitacionais
mnimas e pssimas condies de conforto ambiental.
O terreno conta com duas nascentes, um desafo ao
projeto, pois comum que empreendimentos desse tipo, nessa
ESTUDO 1.
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
Empreendimento horizontal de baixa densidade
situao, driblem as restries ambientais, gerando danos
irreparveis.
No levantamento da produo do segmento
econmico, de um universo de cerca de 100
empreendimentos em todo o pas, verifcou-se que, para
esta tipologia, a densidade dos empreendimentos varia de
93 habitantes por hectare (hab/ha), a 330 hab/ha. Em mdia,
os empreendimentos apresentam uma densidade de 100
hab/ha, nas reas metropolitanas de So Paulo.
Criou-se uma simulao do que seria normalmente
produzido no segmento econmico, dentro das restries
do terreno e da cidade, e tomando por base a mdia de
densidade para esta tipologia, resultando no seguinte
modelo, semelhante a vrios empreendimentos mostrados
no captulo anterior:
4.1
. 133 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
NMERO DE UNIDADES: 883 unidades
DENSIDADE: 164 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 e 3 dormitrios
NMERO DE PAVIMENTOS: casas trreas
REA DA UNIDADE: 2 dorm. 40m / 3 dorm. 50m
Para implantao da tipologia de EMPREENDIMENTOS
HORIZONTAIS, optou-se por um terreno em rea de expanso
de uma metrpole paulista em bairro em fase de consolidao,
com diversos loteamentos surgindo com as caractersticas da
urbanizao dispersa. Ligada rea central da cidade por vias
estruturais, a gleba tem as caractersticas tpicas do padro de
unidades horizontais, existindo inclusive empreendimentos
desse tipo na vizinhana. As solues comumente apresentadas
pelo mercado para tal situao adotam baixas densidades, com
unidades isoladas em longos e montonos renques de casas,
sistemas virios ortogonais em terrenos acidentados (gerando
ruas com grande declive), grande movimentao de terra,
deteriorao de crregos e nascentes, unidades habitacionais
mnimas e pssimas condies de conforto ambiental.
O terreno conta com duas nascentes, um desafo ao
projeto, pois comum que empreendimentos desse tipo, nessa
ESTUDO 1.
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
Empreendimento horizontal de baixa densidade
situao, driblem as restries ambientais, gerando danos
irreparveis.
No levantamento da produo do segmento
econmico, de um universo de cerca de 100
empreendimentos em todo o pas, verifcou-se que, para
esta tipologia, a densidade dos empreendimentos varia de
93 habitantes por hectare (hab/ha), a 330 hab/ha. Em mdia,
os empreendimentos apresentam uma densidade de 100
hab/ha, nas reas metropolitanas de So Paulo.
Criou-se uma simulao do que seria normalmente
produzido no segmento econmico, dentro das restries
do terreno e da cidade, e tomando por base a mdia de
densidade para esta tipologia, resultando no seguinte
modelo, semelhante a vrios empreendimentos mostrados
no captulo anterior:
4.1
. 134 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
PEABIRU TRABALHOS COMUNITRIOS E AMBIENTAIS
MARO 2011
EQUIPE DO PROJETO: Alexandre Hodapp Olivera Marques,
Caio Santo Amore, Maria Rita Brasil de S Horigoshi, Rafael
Borges Pereira (arquitetos e urbanistas), Nunes Lopes dos
Reis, Marina Barrio Pereira, Jlia Paccola Ferreira Nogueira
(estagirios).
Equipe da Peabiru (2011): Coordenao (2010-11): Andr
Drummond Soares de Moura (arquiteto e urbanista), Andrea
Quintanilha de Castro (arquiteta e urbanista), Maria Rita
Brasil de S Horigoshi (arquiteta e urbanista); Membros: Caio
Santo Amore de Carvalho (arquiteto e urbanista), Fernando
Nigro Rodrigues (arquiteto e urbanista), Joana da Silva Barros
(mestre e doutoranda em sociologia), Leandro de Oliveira
Coelho (engenheiro civil), Nunes Lopes dos Reis (estagirio
de arquitetura e urbanismo); Colaboradores: Alexandre
Hoddap Oliveira Marques (arquiteto e urbanista), Angela
Pilloto (arquiteta e urbanista), Rafael Borges Pereira (arquiteto
e urbanista), Daiane da Silva Santos (auxiliar administrativa),
Dimitri Pinheiro da Silva (socilogo), Jlia Paccola F. Nogueira
(estagiria de arquitetura e urbanismo), Marina Barrio Pereira
(estagiria de arquitetura e urbanismo) Michele Lima de
Souza (sociloga), Thelma Luiza de A. Cardoso (estagiria de
arquitetura e urbanismo)
A PEABIRU TRABALHOS COMUNITRIOS E
AMBIENTAIS uma ONG de Assessoria Tcnica fundada em
1993 e que tem como misso contribuir para a universalizao
do direito cidade e moradia digna por meio da construo
e efetivao de polticas pblicas e da assessoria tcnica
voltada a populaes vulnerveis e organizaes populares
e sociais. Para tanto compe equipes interdisciplinares para a
prestao de servios nas reas socioambiental, de arquitetura,
urbanismo, engenharia e tecnologia, atendendo a rgos do
poder pblico, associaes de direito privado e movimentos
populares e sociais.
............................................................................................................
O projeto desenvolvido pela assessoria tcnica Peabiru
Trabalhos Comunitrios apresenta, como se ver adiante,
alternativa diametralmente oposta. A partir de um desenho
urbano pautado no respeito s condicionantes ambientais,
desenham-se quadras abertas, com variaes tipolgicas em
todo o conjunto.
A existncia de nascentes no terreno, que poderiam
inibir o projeto, foi ponto de partida para o desenho dos espaos
pblicos e sistema virio. A implantao do conjunto segue a
lgica no do enfleiramento de unidades, mas de criao de
ambiente urbano de qualidade. Outro fundamento central a
proposta de trabalhar a questo fundiria do empreendimento
atravs do parcelamento da gleba em diversos pequenos
condomnios, integrando o conjunto ao tecido urbano e criando,
ao mesmo tempo, espaos de uso comum nos miolos de quadra.
A proposta toma partido dos desnveis internos s quadras
para criar solues que adaptam as construes topografa e
reduzem as movimentaes de terra. Em situaes especfcas
de acesso so criadas unidades comerciais, garantindo assim a
variedade de usos to importante dinmica urbana.
As unidades habitacionais se diferenciam
substancialmente de padres difundidos pela produo do
segmento econmico. Desde a soluo de quadra at a escala
dos ambientes internos, o usurio a referncia. Unidades
facilmente adaptveis garantem fexibilidade de uso. A
diversidade de tipos habitacionais garante respostas s variadas
demandas e s mudanas nas composies familiares.
B. PROJETO
. 135 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico . 135 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
REA DO TERRENO: 19,33 ha
NMERO DE UNIDADES: 1.071
REA DAS UNIDADES: de 48,26 a 68,47 m
REA CONSTRUDA - HABITAES: 79.069,20 m
REA CONSTRUDA - OUTROS USOS: 3.382,26 m
REA CONSTRUDA TOTAL: 82.451,46 m
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 199,48 hab/ha
NMERO DE VAGAS: 1.071
A proposta da Peabiru foi elaborada para um bairro
perifrico e consolidado, rea de expanso de municpio-polo
de Regio Metropolitana, classicado como tipologia B no Plano
Nacional de Habitao. Trata-se de rea dotada de infraestrutura
completa, oferta satisfatria de equipamentos pblicos, comrcio
e servios, considerada a demanda existente.
O padro usual para esse tipo de conjunto o parcelamento
do tipo loteamento, com quadras alongadas, de at 200m de
comprimento, compostas por lotes unifamiliares com reas que
variam entre 125m e 250m, a depender da legislao municipal
e da disponibilidade e preo da terra. Nos casos de quadras com
os lotes mnimos, a densidade lquida resultante (excludas todas
as reas pblicas) gira em torno de 285 habitantes por hectare e
a densidade bruta prxima a 150 hab/Ha.
Como DIRETRIZ URBANSTICA, foi mantida a modalidade
de parcelamento do solo tipo loteamento, com reserva mnima
de 35% de rea pblica, formada por sistema de circulao,
reas para implantao de equipamentos pblicos e comunitrios
e espaos livres de uso pblico, como determina a lei federal
6766/79. O lote mnimo adotado foi o de 125m, denido pela
mesma lei.
Apesar dessas denies preliminares, no se partiu de
quadras padro, que do pouca relevncia s condies do stio,
adotando como nico determinante o aproveitamento mximo
das redes de infraestrutura implantadas. O partido urbanstico
baseou-se nas caractersticas naturais do stio, em particular a
topograa e presena de nascentes e cursos dgua, j que a
gleba no possua outras referncias como aoramentos rochosos
e massas de vegetao. Os aspectos naturais foram cruzados s
diretrizes municipais de melhoramento virio e s caractersticas
do entorno imediato, visando integrao do sistema virio
existente ao do novo conjunto.
O stio tem declividade pouco acentuada (chega a 16%
nos casos mais crticos) e abriga duas nascentes que formam
............................................................................................................
cursos dgua que correm em sentidos opostos, em linhas de
talvegue bem denidas. O desenho das faixas de proteo
permanente ao redor desses os de gua (30m) e das nascentes
(50m), respeitando os parmetros da legislao ambiental, tornou-
se a referncia inicial do desenho urbano. As duas APPs foram
unidas por uma rea verde que a praa central do conjunto,
formando uma espcie de corredor verde, que se integrar a um
futuro parque linear, tambm previsto como diretriz do municpio.
As reas livres ao redor dos crregos e nascentes tero funo
contemplativa, com propostas de revegetao e uso controlado,
enquanto a praa central ser tomada efetivamente como espao
de lazer, dotada de mobilirio urbano, mini-quadra poliesportiva,
parquinho infantil e estao de ginstica, propiciando convvio
de crianas, jovens, adultos e idosos.
A partir da denio dessas REAS VERDES, que
abrangem 13,2% da rea total do loteamento, o traado virio
priorizou minimizar movimentos de terra, com vias de baixa
declividade, que possibilitam passeios com maior acessibilidade
a pessoas com alguma diculdade (permanente ou temporria) de
locomoo, o trnsito de carrinhos de beb ou de compras. Em
relao s REAS INSTITUCIONAIS, que participam com 5,24%
da rea da gleba parcelada, incorporou-se o terreno de uma
escola j implantada. Correspondendo a 22,74% do loteamento,
o sistema virio foi hierarquizado a partir das vias coletoras
denidas na diretriz de melhoramento e que praticamente
contornam o conjunto. A malha de penetrao no loteamento
aberta e formada por vias locais de dois nveis, com larguras
diferenciadas de leitos carroveis e passeios. As vias locais de
nvel 1 (com 6m de via e 2m de passeio) s fazem interseo com
as de nvel 2 (com 9m de via e 2,5m de passeio) e essas, por sua
vez, levam s vias coletoras.
Este traado virio bsico resultou em quadras que
apresentam formatos no regulares, difceis de serem moduladas
com lotes padronizados, mais prximos da forma quadrada e
com desnveis internos, em funo da priorizao de vias menos
ngremes. Ao se denir, de modo ainda geral, lotes unifamiliares
convencionais voltados para as vias, so criados miolos de
quadra que se conguram como lotes multifamiliares, tratados
como vilas ou condomnios horizontais que compartilham
abastecimento de gua e energia eltrica, estacionamento na
proporo de 1 vaga por unidade e as reas livres de uso comum
que devem receber tratamento paisagstico.
. 136 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.................................................................................................................................................
. 137 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
1
1
2
. 138 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.................................................................................................................................................
. 139 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 140 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.................................................................................................................................................
. 141 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 142 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Os TIPOS HABITACIONAIS foram desenvolvidos de modo a oferecer diferentes
alternativas ao pblico consumidor e, ao mesmo tempo, responder a essa diversidade de
situaes de implantao: com dois ou trs dormitrios; trreas e adaptveis a portadores
de decincia ou assobradadas; isoladas em lotes unifamiliares ou agrupadas para
implantao nos multifamiliares; geminadas ou recuadas em pleno menos em das laterais;
implantadas em terreno plano ou em desnvel; evolutivas ou completas; com uso estritamente
residencial ou misto; com ou sem garagem incorporada? Foram algumas das questes que
nortearam o desenvolvimento das unidades habitacionais.
Considerando os desastres da poltica habitacional baseada em unidades evolutivas,
que na verdade justicam de modo torto a cultura do puxadinho pela ausncia de alternativas
de atendimento habitacional, foi entendido que as unidades deveriam ser apresentadas
como produtos acabados e que a diversidade de tipos teria como potencial responder s
diferentes demandas habitacionais e s naturais mudanas nas composies familiares.
Chegou-se enm a quatro TIPOS-HABITACIONAIS: dois destinados implantao em lote
unifamiliar, ambas para terreno aplainado e com garagem incorporada edicao, sendo
uma TRREA, geminada nas duas laterais, adaptada a portadores de decincia e com
programa de dois dormitrios; e outra ASSOBRADADA, com trs dormitrios, geminada de
um dos lados. O sobrado tambm possibilita implantao em renque, geminado dos dois
lados, compondo os condomnios em lotes multifamiliares. Dois outros tipos so escalonados
em MEIO NVEL, adequando-se s declividades internas das quadras: um INDIVIDUAL e
outro SOBREPOSTO, com duas unidades autnomas. Esses tipos possibilitam acessos
diametralmente opostos (frente e fundos) e em nveis diferentes, o que os tornam viveis tanto
para situaes de aclive quanto de declive. No tipo individual ainda se prev a implantao
de pequenas UNIDADES COMERCIAIS OU DE SERVIO, com acesso e funcionamento
.................................................................................................................................................
. 143 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
independentes da habitao, situao que ocorre nas faces de
quadra voltadas s vias coletoras.
A organizao dos programas nos quatro tipos no
pretendeu fugir muito ao convencional, exceto pela integrao dos
espaos de sala e cozinha que favorecem a ventilao cruzada,
muito embora em todas as unidades seja possvel essa separao
posteriormente.
Os ambientes e vos esto modulados em 15cm, de modo
que possam ser executados em alvenaria estrutural armada de
blocos de concreto ou cermicos da famlia 29cm. Trata-se de um
processo construtivo bastante dominado e com possibilidade de
fornecimento de material em praticamente todo o pas, com bons
resultados em relao racionalizao construtiva e diminuio
de desperdcios. A espessura das paredes estruturais (com 15cm)
confere adequado desempenho trmico e acstico edicao.
Todas as unidades tm laje de forro e telhado leve embutido
em platibandas, com telhas em brocimento sem amianto sobre
estrutura de madeira, formando um colcho de ar que contribui
com o isolamento trmico. Com essa soluo para cobertura
tambm se procurou fugir ao padro duas guas, to presente
no imaginrio da habitao popular, conferindo aspecto formal
de apelo imediato de um produto diferenciado. Os sistemas
hidrulicos e eltricos devem ser concebidos como independentes
da estrutura de modo a criarem frentes paralelas de obra e so
previstos sistemas de aquecimento solar que melhoram a ecincia
do edifcio no consumo de energia. As esquadrias adotadas tm
medidas comerciais, com contramarcos ou guarda-corpos que
criam diferenciais nas fachadas.
As CONCEPES urbansticas e habitacionais dessa
proposta resultam em densidades lquidas que superam em pelo
menos 15% aquelas que so obtidas no padro de parcelamento
usualmente adotado para esse tipo de conjunto, com nmeros que
giram em torno dos 350 hab/Ha. Em relao ao empreendimento
como um todo, nota-se que mesmo com a reserva das reas
verdes em torno das nascentes e cursos dgua, que aumentam o
percentual mnimo de rea pblica, a densidade bruta supera em
30% a do parcelamento convencional, passando de cerca de 150
para 200 hab/Ha.
bvio que no existe soluo nica e que a melhor
soluo costuma ser a mais adequada s condies reais impostas
no processo de projeto e de produo, da cidade ou do edifcio.
Contudo, o que esse ensaio possibilita a demonstrao de que
desenhos especcos para situaes especcas, considerando
todas as exigncias legais, criando espaos livres de uso coletivo
com carter pblico ou comunitrio, no se contrapem ao
aproveitamento do potencial construtivo, o que tambm representa
que a infraestrutura e demais benesses.
.................................................................................................................................................
. 144 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Sala de estar 6,95 14%
2 quartos 15,25 31%
Cozinha / sala de jantar 12,62 26%
Banheiro 2,58 5%
rea de servio 2,41 5%
rea de circulao 2,47 5%
rea de contato piso-parede 6,55 13%
REA TOTAL CONSTRUDA 48,83 100%
QUADRO DE REAS (m)
.................................................................................................................................................
. 145 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 146 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Sala de estar 7,46 11%
3 dormitrios 21,08 31%
Cozinha / sala de jantar 14,48 21%
Banheiro 2,89 4%
rea de servio 1,82 3%
Lavabo 1,68 2%
rea de estudo 1,31 2%
rea de circulao 8,54 12%
reas de contato piso-parede 9,20 13%
REA TOTAL CONSTRUDA 68,47 100%
QUADRO DE REAS (m)
.................................................................................................................................................
. 147 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 148 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Sala de estar 8,06 14%
2 dormitrios 15,98 27%
Cozinha / sala de jantar 10,09 17%
Banheiro 2,75 5%
rea de servio 2,96 5%
rea de estudo 0,60 1%
rea de circulao 9,65 16%
reas de contato piso-parede 9,27 16%
REA TOTAL CONSTRUDA 59,36 100%
QUADRO DE REAS (m)
.................................................................................................................................................
. 149 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 150 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Sala de estar 8,03 17%
2 quartos 15,73 33%
Cozinha / sala de jantar 9,79 20%
Banheiro 2,57 5%
rea de servio 2,47 5%
rea de circulao 3,51 7%
rea de contato piso-parede 6,16 13%
REA TOTAL CONSTRUDA UH 48,26 100%
REA TOTAL CONSTRUDA
TIPOLOGIA (2 UH) 96,53
QUADRO DE REAS (m)
.................................................................................................................................................
. 151 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
Peabiru TCA
. 152 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
C. ESTUDO DE PREO DO EMPREENDIMENTO PROJETADO
. 153 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
ESTUDO 2.
Projeto para empreendimento vertical sem elevador
Para a tipologia de EMPREENDIMENTOS VERTICAIS SEM ELEVADOR,
foi escolhido um terreno situado na Regio Metropolitana de So Paulo, em rea
urbanisticamente consolidada, prximo a equipamentos pblicos, com vias estruturais
de transporte, junto a uma grande rea verde.
ndices urbansticos, dimenses, condies topogrfcas, possibilidade de
adensamento e o preo do terreno aproximam-no do que o mercado tem aproveitado
para implantao da tipologia vertical sem elevador. Na pesquisa realizada, verifcou-
se que nesta tipologia, o mercado trabalha com densidades muito variadas, indo de 360
hab/ha at 1065 hab/ha, com uma mdia de 440 hab/ha, nas reas metropolitanas de So
Paulo. A simulao da proposta do mercado baseou-se na mdia, tambm neste caso,
dentro das restries especfcas do local, resultando no modelo apresentado abaixo. O
mercado busca compatibilizar estacionamentos no trreo com a implantao do maior
nmero possvel de blocos, isolando o conjunto em relao ao tecido urbano por meio
de muros e guarita. O padro adotado no modelo abaixo pode ser visto em muitos
registros fotogrfcos dos captulos anteriores.
NMERO DE UNIDADES: 576 apartamentos
DENSIDADE: 460 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 e 3 dormitrios
NMERO DE BLOCOS: 36 blocos
NMERO DE PAVIMENTOS: 4 pavimentos
REA DA UNIDADE: 2 dorm. 40m / 3 dorm. 50m
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
4.2
. 153 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
ESTUDO 2.
Projeto para empreendimento vertical sem elevador
Para a tipologia de EMPREENDIMENTOS VERTICAIS SEM ELEVADOR,
foi escolhido um terreno situado na Regio Metropolitana de So Paulo, em rea
urbanisticamente consolidada, prximo a equipamentos pblicos, com vias estruturais
de transporte, junto a uma grande rea verde.
ndices urbansticos, dimenses, condies topogrfcas, possibilidade de
adensamento e o preo do terreno aproximam-no do que o mercado tem aproveitado
para implantao da tipologia vertical sem elevador. Na pesquisa realizada, verifcou-
se que nesta tipologia, o mercado trabalha com densidades muito variadas, indo de 360
hab/ha at 1065 hab/ha, com uma mdia de 440 hab/ha, nas reas metropolitanas de So
Paulo. A simulao da proposta do mercado baseou-se na mdia, tambm neste caso,
dentro das restries especfcas do local, resultando no modelo apresentado abaixo. O
mercado busca compatibilizar estacionamentos no trreo com a implantao do maior
nmero possvel de blocos, isolando o conjunto em relao ao tecido urbano por meio
de muros e guarita. O padro adotado no modelo abaixo pode ser visto em muitos
registros fotogrfcos dos captulos anteriores.
NMERO DE UNIDADES: 576 apartamentos
DENSIDADE: 460 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 e 3 dormitrios
NMERO DE BLOCOS: 36 blocos
NMERO DE PAVIMENTOS: 4 pavimentos
REA DA UNIDADE: 2 dorm. 40m / 3 dorm. 50m
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
. 154 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
O escritrio Hector Vigliecca Arquitetos Associados
enfrenta o desafo apresentado pela gleba, com a maximizao
da densidade bruta, visando reduo da infuncia do preo
da terra no valor fnal do empreendimento (pois este se divide
por um nmero maior de unidades). Por outro lado, trata-se de
uma rea com fuxos interrompidos por barreiras fsicas, que
juno de tecidos desconexos. Prope-se ento nova costura
urbana, com defnio de hierarquia viria e criao de grande
eixo com edifcios sobre pilotis, abrindo a quadra para as
caladas. Uma via com trreos comerciais traz a variedade de
usos necessria vida urbana com qualidade.
As quadras so implantadas de forma a criar ptios
internos, grande relao com rea verde e uso dos trreos como
rea de lazer. A topografa original respeitada, com o uso de
plats e edifcios escalonados como soluo para os desnveis, e
aproveitamento de meio nvel para criao de estacionamentos
semienterrados. Alm de diminuir a movimentao de terra, a
soluo se destaca por permitir a oferta de estacionamento em
nmero razovel, sem ser a custosa alternativa de construo
de pisos subterrneos.
A relao topografa/morfologia do conjunto se
evidencia nos desenhos, em que se ressalta a qualidade do
espao livre resultante: prope-se a criao de praas internas,
com soluo paisagstica integrada aos estacionamentos ao ar
livre, o plantio de vegetao defnindo novos eixos visuais e
virios. Solues de drenagem superfcial e reteno de guas
pluviais, somadas a razovel rea permevel, graas soluo
dada aos estacionamentos, conferem qualidades ambientais
raramente encontradas em condomnios semelhantes.
O projeto recupera valores urbanos clssicos, como a
especial ateno dada esquina e seu papel de cruzamento e
encontro, recuperao de alinhamentos dos edifcios com a
rua, s ruas comerciais e passagens de pedestres para acesso
aos miolos de quadras, alm da ateno aos edifcios sobre
pilotis.
As unidades habitacionais propostas, com diferentes
confguraes, buscam atender a diferentes composies
familiares, com fexibilidade interna e possibilidade de
usos compartilhados em vrios cmodos. Solues simples
garantem bom desempenho trmico das unidades. O uso de
mobilirio fxo para ordenamento dos espaos outro aspecto
que diferencia a proposta.
............................................................................................................
ARQUITETO HCTOR VIGLIECCA E ASSOCIADOS
MARO 2011
EQUIPE DO PROJETO: Hctor Vigliecca, Luciene Quel,
Ronald Werner Fiedler, Neli Shimizu, Caroline Bertoldi,
Bianca Riotto, Pedro Ichimaru Bedendo, Kelly Bozzato,
Srgio Faraulo.
ADMINISTRATIVO: Paulo Serra, Luci Maie
O escritrio VIGLIECCA E ASSOCIADOS foi fundado
em 1995 por Hector Vigliecca, arquiteto uruguaio com
mais de 35 anos de trabalhos realizados no Brasil, onde
tambm se dedica ao ensino da arquitetura; e pela
arquiteta e urbanista Luciene Quel, formada em 1995 pela
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie.
A atuao do escritrio se estende por todo o territrio
nacional e tem como principais focos os projetos nos
campos da habitao, instituies educacionais, culturais
e esportivas, alm de planos e projetos urbanos.
REA DO TERRENO: 40.507 m
NMERO DE UNIDADES: 887
REA DAS UNIDADES: de 52 a 65 m
REA CONSTRUDA - HABITAES: 56.232 m
REA CONSTRUDA - OUTROS USOS: 12.231 m
REA CONSTRUDA TOTAL: 68.463 m
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 788,44 hab/ha
NMERO DE VAGAS: 872
B. PROJETO
. 155 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico . 155 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
............................................................................................................
HABITAO CIDADE
Entendemos que a habitao no pode ser mais uma
preocupao quantitativa ou sanitria, mas sim qualitativa e
ambiental. Os planos de habitao como o Minha Casa Minha
Vida esto empurrando as novas habitaes s periferias mais
inspitas, esbanjando territrios em uma colonizao dispersa,
cujas conseqncias sero catastrcas para os custos de energia.
Entendemos tambm que a arquitetura das habitaes
no hoje um problema que reclame experimentos estticos ou
inovaes estilsticas; um problema urbano, de la civitas ou
polis, ou seja, cidado e poltico. Necessitamos mais arquitetura,
certo; mas sobre tudo, necessitamos mais cidade.
1
Denitivamente a urbanidade contempornea depende
1. AV Monografas 1997. Luis Fernndez Galiano
2. A leste do centro: territrios do urbanismo. Regina Meyer; Marta Dora Grostein
de forma muito clara da qualidade dos espaos pblicos
oferecidos para a populao exercer sua vida cotidiana. Diante
dessa premissa assume-se que o territrio sobre o qual se atua
sempre ator do processo de transformao da sociedade e nunca
resultante.
2
Um projeto que adota os edifcios como pontos de inexo
urbana, que podem receber habitaes, comrcios e servios
pblicos; que conformem centralidades, e tenham conguraes
resultantes da geograa e das suturas da malha viria do entorno,
ir gerar, sem dvida, realidades urbanas de formas insuspeitas,
inseridas no contexto da cidade com um valor inequvoco de
identidade e urbanidade prprias.
. 156 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A CONEXO COM A
MALHA ESTRUTURAL DA
CIDADE E O TRANSPORTE
PBLICO.
Suturar o tecido urbano,
reestruturando as
vias e ruas internas,
eliminando os pontos
cegos e estabelecendo com
legibilidade as conexes
e continuidades com a
hierarquia da malha viria
do entorno e da cidade.
A FORMA DA MALHA
URBANA PBLICA E A
GEOGRAFIA.
Evidenciar a geografa
e desenhar as infra-
estruturas de modo
compatvel so dois valores
insubstituveis para se
obter uma paisagem
urbana prpria.
AS REAS VERDES E OS
EQUIPAMENTOS DE LAZER
Valorizar os espaos livres
de carter local com o valor
de praas urbanas, que
marquem espacialmente
a hierarquia das
centralidades e de reas
livres na escala regional
como parques, que possam
se transformar em pontos
de referncia tanto para a
populao do complexo
quanto do local onde se
insere.
OS VETORES COMERCIAIS
E A INDUO AO USO.
A insero de edifcaes
de uso misto
habitacional, institucional,
de comrcio e servios
de carter local e
regional - estabelecendo
centralidades, e
constituindo pautas para
ativar a urbanidade, age
como dinamizador de
transformao no setor
urbano onde se insere o
projeto. Resulta, portanto,
na valorizao da prpria
interveno.
.................................................................................................................................................
. 157 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 158 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
A ESQUINA CONSTRUDA E O RESTABELECIMENTO DO
VOLUME URBANO.
Uma revalorizao de elementos formais da cidade
tradicional nunca invlidos.
A SOLIDARIEDADE COM A VIZINHANA.
Consideramos tica a ao de ponderar as novas
volumetrias de acordo com as existentes no entorno,
evitando sombras indesejadas e espaos tridimensionais
residuais.
O DIREITO A ESTACIONAMENTO E O USO PERTINENTE
DO SOLO.
O projeto evita a ocupao exclusiva do solo pblico
e privado com os estacionamentos. Aproveitando os
desnveis seria pouco oneroso estabelecer uma laje
pr-fabricada, criando um subsolo com o mnimo de
escavao. Libera-se assim o solo do interior das quadras
para arborizao e lazer de crianas e adultos.
.................................................................................................................................................
. 159 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 160 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
CONFORTO, VENTILAO, INSOLAO E ISOLAMENTO
TRMICO.
Todas as tipologias tem duas fachadas opostas e portanto
ventilao cruzada garantida . Alm disso a confgurao
das paredes externas induz sua ocupao por armrios,
que funcionaro de fato como efcientes isolantes trmicos.
O MOBILIRIO FIXO ESTRUTURADOR E A INDUO AO
USO.
Quando se trata de habitaes de reas menores que
50m
2
recomendado o uso de um mobilirio fxo como
estruturador da organizao dos espaos internos.
.................................................................................................................................................
. 161 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
AS VARIEDADES TIPOLGICAS.
As variedades tipolgicas se confguram como uma
ampliao da oferta de espao a diferentes constituies
familiares, assim como a espaos comerciais e de servios
comunitrios.
.................................................................................................................................................
. 162 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
O SISTEMA DE DRENAGEM E SUSTENTABILIDADE.
Implantao de sistema de drenagem sob o eixo das vielas
conectado caixas de reteno sob as reas livres, permitindo
assim o armazenamento de guas pluviais no caso de grandes
volumes de chuva, de forma a conter os alagamentos. Caixas de
gua para reuso em irrigao, limpeza e bacias. Tubos de vidro
a vcuo na cobertura dos prdios geraro gua quente sem
custo de energia.
DEFINIO DE PARMETROS URBANSTICOS ESPECFICOS
PARA O PERMETRO/ENTORNO DO PROJETO.
Tal ao se faz necessria para regular e induzir uma ocupao
que valorize e potencialize as intervenes j realizadas.
Cada interveno deveria gerar, por direito e obrigao, uma
condio de expanso associada que evite as descontinuidades
estranhas.
.................................................................................................................................................
. 163 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 164 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
....................................................... .........................................................................................
. 165 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
O objetivo essencial propor o entendimento de que
a habitao para o segmento econmico no um problema
de quantidade, nem de custo, nem de tecnologia, o objetivo
essencial a construo da cidade.
Temos conscincia de que no faremos revoluo com
o urbanismo nem com a arquitetura, mas vericamos tambm
que o baixo grau de urbanizao acaba por revelar a
incompletude da nossa constituio como sociedade civil
3
e
somos conscientes de que no podemos confundir as aes
necessrias provenientes do pacto social urbano com uma
proposta de cidade.
Hector Vigliecca
....................................................... .........................................................................................
3. Memorial da Operao Urbana Carandiru Vila Maria SP. Arq. Anne
Marie Sumner
. 166 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
C. ESTUDO DE PREO DO EMPREENDIMENTO PROJETADO
. 167 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
Projeto para empreendimento vertical com elevador
Para a tipologia de EMPREENDIMENTOS VERTICAIS COM ELEVADOR,
escolheu-se um terreno na Regio Metropolitana de So Paulo, em rea urbana lindeira
uma rodovia de grande fuxo de carros. A regio passa por mudana na sua vocao
fabril, com surgimento de diversos condomnios e reas comerciais. O preo do terreno,
a facilidade de acesso, e o perfl dos empreendimentos na regio apontam para a
tipologia de torres com elevador, implantadas em meio a um condomnio fechado, com
mnima rea de lazer e praticamente todo o trreo tomado por vagas de estacionamento.
Alguns terrenos no seu entorno j oferecem empreendimentos assim, para o segmento
econmico.
Nesta tipologia, a pesquisa da produo do segmento econmico apontou
densidades que variam de 550 hab/ha at impressionantes 2250 hab/ha! Mais uma vez,
destaca-se a grande variao de densidade, em todo o pas, conforme as especifcidades
locais. A mdia de cerca de 1100 hab/ha, nas reas metropolitanas de So Paulo. No
caso desta simulao, atendendo as restries locais, foi possvel trabalhar com os
valores mdios de densidade, resultando no modelo abaixo, tambm semelhante aos
apresentados no captulo anterior:
NMERO DE UNIDADES: 288 apartamentos
DENSIDADE: 1008 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 dormitrios
NMERO DE BLOCOS: 3 blocos
NMERO DE PAVIMENTOS: 12 pavimentos
REA DA UNIDADE: 45m
ESTUDO 3.
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
4.3
. 167 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
Projeto para empreendimento vertical com elevador
Para a tipologia de EMPREENDIMENTOS VERTICAIS COM ELEVADOR,
escolheu-se um terreno na Regio Metropolitana de So Paulo, em rea urbana lindeira
uma rodovia de grande fuxo de carros. A regio passa por mudana na sua vocao
fabril, com surgimento de diversos condomnios e reas comerciais. O preo do terreno,
a facilidade de acesso, e o perfl dos empreendimentos na regio apontam para a
tipologia de torres com elevador, implantadas em meio a um condomnio fechado, com
mnima rea de lazer e praticamente todo o trreo tomado por vagas de estacionamento.
Alguns terrenos no seu entorno j oferecem empreendimentos assim, para o segmento
econmico.
Nesta tipologia, a pesquisa da produo do segmento econmico apontou
densidades que variam de 550 hab/ha at impressionantes 2250 hab/ha! Mais uma vez,
destaca-se a grande variao de densidade, em todo o pas, conforme as especifcidades
locais. A mdia de cerca de 1100 hab/ha, nas reas metropolitanas de So Paulo. No
caso desta simulao, atendendo as restries locais, foi possvel trabalhar com os
valores mdios de densidade, resultando no modelo abaixo, tambm semelhante aos
apresentados no captulo anterior:
NMERO DE UNIDADES: 288 apartamentos
DENSIDADE: 1008 hab/ha
TIPOLOGIAS: 2 dormitrios
NMERO DE BLOCOS: 3 blocos
NMERO DE PAVIMENTOS: 12 pavimentos
REA DA UNIDADE: 45m
ESTUDO 3.
A. ESCOLHA DO TERRENO E SIMULAO
. 168 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
PIRATININGA ARQUITETOS ASSOCIADOS
EQUIPE: Jos Armnio de Brito Cruz, Marcos
Artigas Forti, Mariana Martinez Wilderom e
Renata Semin
.....................................................................................................
A proposta apresentada pelo escritrio Piratininga Arquitetos
Associados se diferencia ao abrir o lote, criar reas comerciais no trreo,
propor usos comunitrios e solucionar a questo do estacionamento de
modo a no ocupar todo o trreo do empreendimento.
A grande oferta de transporte pblico e a proximidade a vias expressas
encorajaram os arquitetos a tratar o lote como uma pea a mais na lgica urbana
da fuidez. Dessa forma, permite-se o acesso de no moradores aos ambientes
do trreo, com criao de galeria comercial, creche e outros usos. Uma praa
elevada garante rea de recreao sobre a garagem, e inusitado fechamento
no bloco junto rodovia isola as unidades do rudo dos automveis e confere
identidade ao conjunto. Solues no usuais para o segmento econmico,
com requinte arquitetnico. O projeto difere tambm da tipologia habitual
de mercado por uma menor verticalizao, e conseqentemente menor
densidade. Os arquitetos optaram por tal soluo, com o objetivo de otimizar
questes de conforto como a insolao e a ventilao naturais nos pavimentos
inferiores e na rea de trreo do conjunto, evitando sombreamento exagerado
que as simulaes com maior altura indicaram. Ainda assim, seria possvel,
por determinaes mercadolgicas, aumentar os pavimentos, chegando a
uma maior densidade, porm perdendo-se em conforto, o que mostra que
muitas vezes a soluo mercadolgica mais favorvel impacta o resultado
arquitetnico e urbanstico. As unidades se distribuem ao longo das lminas,
tambm neste caso com grande diversidade tipolgica, atendendo s mais
variadas formaes familiares.
Neste terreno, solicitou-se tambm ao escritrio belgo-dinamarqus
JDS Architects uma proposta conceitual. Sem se prender s mesmas restries
quanto densidade populacional e os custos, a proposta traz elementos
interessantes e pouco usuais no universo da produo arquitetnica local.
A implantao dos prdios e o conceito de alternncia dos gabaritos entre
eles visam equalizar entre os apartamentos a vista externa. A tipologia em
lmina favorece a insolao e a ventilao das unidades. No trreo, tambm
so propostos usos de comrcio e servios. Os arquitetos propem uma
grande variedade de tamanhos nas unidades, buscando a maior diversidade
possvel dos perfs de usurios. Com uma densidade muito menor do que a
praticada pelo mercado local, chega a ter apartamentos de mais de 100m.
A adoo de terraos em alguns apartamentos, que chegam a ter 25% da
rea til (apto de 75m para terrao de 25m) sugere uma tipologia de uso
diferente, em que o acesso rea aberta e ensolarada no precisa ser somente
em espaos coletivos no trreo. Por outro lado, os terraos superiores
convertem-se em reas comuns para os apartamentos que no dispem
de terraos individuais. Por fm, o projeto prope o uso generalizado de
cermica alveolar em espuma, custoso material (no Brasil) mas que permite
paredes vegetais respirantes.
PIRAT PIRA PIRA ININGA ARQUITETOS ASSOCIADOS
EQUIPE: Jos Armnio de Brito Cruz, Marcos
Artigas Forti, Mariana Martinez Wilderom e
Renata Semin
..................................................................................................... .....................................................................................................
B. PROJETO
. 169 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.....................................................................................................
Desde 1984 a empresa Piratininga Arquitetos Associados
(PAA) atua no desenvolvimento de projetos de Urbanismo e
Arquitetura. constituda por 4 socios arquitetos e equipe de 25
profssionais.
O exerccio de projeto tem sido tambm sobre projetos de
regenerao urbana, principalmente em reas centrais de grandes
centros urbanos, como o Plano Habitacional para reabilitao da
rea central de Fortaleza/ Cear exposto e aprovado em frum
pblico em 2009, e com as intervenes realizadas na cidade de So
Paulo/ So Paulo como as novas caladas da Av. Paulista e aquelas
em fase de implementao como a requalifcao urbana dos espaos
pblicos da regio Nova Luz. Alm das proposies em reas
centrais, novos plos de desenvolvimento urbano tem sido objeto de
dedicao profssional como o Parque Tecnolgico de So Paulo, no
bairro do Jaguar no municpio de So Paulo/ So Paulo, o Parque
Empresarial de Piracicaba/ So Paulo, o Projeto Paisagstico da
Praia do Sol, na margem da represa Guarapiranga em So Paulo/ So
Paulo, a Urbanizao e Remanejamento de Moradias de Interesse
Social na cidade de So Lus/ Maranho e o desenvolvimento
imobilirio privado em Cotia/ So Paulo. So de grande interesse
tambm o projeto de incluso econmico-territorial da regio Sul
de So Paulo que abrange uma rea de 2.260 hectares com propostas
de intervenes urbansticas e edilcias e a consultoria Companhia
de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de So Paulo
(CDHU), coordenou o levantamento (identifcao de tipologias,
determinao de intervenes e estimativa de investimento) em nove
subdistritos da regio central do municpio de So Paulo para estudo
de viabilidade tcnica e fnanceira para o adensamento de domiclios
na rea central.
O histrico de projetos de edifcaes realizados relaciona,
entre outros: o restauro e modernizao da Biblioteca da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, o projeto da Biblioteca
Central e a Faculdade de Fisioterapia do campus II da Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas, o restauro e modernizao da
sede da Associao de Advogados de So Paulo, a Escola Palanque
para a Fundao para o Desenvolvimento da Educao; as galerias
de arte Luciana Brito e Vermelho, o Teatro Municipal e o Pao
Municipal de So Carlos / So Paulo; ao uso habitacional, como o
Conjunto Residencial Comandante Taylor (habitao de interesse
social), edifcios de apartamentos e residncias unifamiliares; ao
uso empresarial, como o Centro de Apoio ao Negcio da COSAN,
em Piracicaba/ So Paulo, o Instituto Tecnolgico da Vale do Rio
Doce, em Belm/ Par (em parceria com o arquiteto Paulo Mendes
da Rocha), o Laboratrio de Bionanomanufatura do Instituto de
Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo (IPT), o Centro de
Monitoramento Territorial da Prefeitura do Municpio de So
Paulo, a Unidade tecnico-administrativa Fleury S.A.
Para o desenvolvimento dos projetos os arquitetos
coordenam equipes multidisciplinares, necessrias em razo da
complementaridade de suas especialidades tcnicas, e interagem com
as instituies pblicas, privadas e mistas no sentido de viabilizar
a implementao dos projetos contratados. Nos projetos acima
so envolvidas as empresas e profssionais de Engenharia Civil,
de Economia, Geotecnia, Geografa, Pedagogia, Sociologia, Direito
Urbanstico que compem com o Urbanismo e com a Arquitetura no
sentido de consolidar a integridade do projeto.
Alm do processo de desenho de projeto, dedica-se tambm
superviso tcnica dos servios de execuo de obras com o objetivo
de preservar a qualidade e monitorar a conformidade do projeto at
sua concretizao.
. 169 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.....................................................................................................
Desde 1984 a empresa Piratininga Arquitetos Associados
(PAA) atua no desenvolvimento de projetos de Urbanismo e
Arquitetura. constituda por 4 socios arquitetos e equipe de 25
profssionais.
O exerccio de projeto tem sido tambm sobre projetos de
regenerao urbana, principalmente em reas centrais de grandes regenerao urbana regenerao urbana
centros urbanos, como o Plano Habitacional para reabilitao da
rea central de Fortaleza/ Cear exposto e aprovado em frum
pblico em 2009, e com as intervenes realizadas na cidade de So
Paulo/ So Paulo como as novas caladas da Av. Paulista e aquelas
em fase de implementao como a requalifcao urbana dos espaos
pblicos da regio Nova Luz. Alm das proposies em reas
centrais, novos plos de desenvolvimento urbano tem sido objeto de
dedicao profssional como o Parque Tecnolgico de So Paulo, no
bairro do Jaguar no municpio de So Paulo/ So Paulo, o Parque
Empresarial de Piracicaba/ So Paulo, o Projeto Paisagstico da
Praia do Sol, na margem da represa Guarapiranga em So Paulo/ So
Paulo, a Urbanizao e Remanejamento de Moradias de Interesse
Social na cidade de So Lus/ Maranho e o desenvolvimento
imobilirio privado em Cotia/ So Paulo. So de grande interesse
tambm o projeto de incluso econmico-territorial da regio Sul
de So Paulo que abrange uma rea de 2.260 hectares com propostas
de intervenes urbansticas e edilcias e a consultoria Companhia
de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de So Paulo
(CDHU), coordenou o levantamento (identifcao de tipologias,
determinao de intervenes e estimativa de investimento) em nove
subdistritos da regio central do municpio de So Paulo para estudo
de viabilidade tcnica e fnanceira para o adensamento de domiclios
na rea central.
O histrico de projetos de edifcaes realizados relaciona,
entre outros: o restauro e modernizao da Biblioteca da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, o projeto da de Arquitetura e Urbanismo da USP de Arquitetura e Urbanismo da USP Biblioteca
Central e a Faculdade de Fisioterapia do campus II da Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas, o restauro e modernizao da
sede da Associao de Advogados de So Paulo, a Escola Palanque
para a Fundao para o Desenvolvimento da Educao; as galerias
de arte Luciana Brito e Vermelho, o Teatro Municipal e o Pao
Municipal de So Carlos / So Paulo; ao uso habitacional, como o
Conjunto Residencial Comandante Taylor (habitao de interesse
social), edifcios de apartamentos e residncias unifamiliares; ao
uso empresarial, como o Centro de Apoio ao Negcio da COSAN,
em Piracicaba/ So Paulo, o Instituto Tecnolgico da Vale do Rio
Doce, em Belm/ Par (em parceria com o arquiteto Paulo Mendes
da Rocha), o Laboratrio de Bionanomanufatura do Instituto de
Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo (IPT), o Centro de
Monitoramento Territorial da Prefeitura do Municpio de So
Paulo, a Unidade tecnico-administrativa Fleury S.A.
Para o desenvolvimento dos projetos os arquitetos
coordenam equipes multidisciplinares, necessrias em razo da
complementaridade de suas especialidades tcnicas, e interagem com
as instituies pblicas, privadas e mistas no sentido de viabilizar
a implementao dos projetos contratados. Nos projetos acima
so envolvidas as empresas e profssionais de Engenharia Civil,
de Economia, Geotecnia, Geografa, Pedagogia, Sociologia, Direito
Urbanstico que compem com o Urbanismo e com a Arquitetura no
sentido de consolidar a integridade do projeto.
Alm do processo de desenho de projeto, dedica-se tambm
superviso tcnica dos servios de execuo de obras com o objetivo
de preservar a qualidade e monitorar a conformidade do projeto at
sua concretizao.
. 170 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Este estudo projetual para habitao insere-se em lote
urbano localizado na Regio Metropolitana de So Paulo e
delimitado por vias de acesso de grande uxo de veculos. Esta
localizao proporciona condio de implantao de volumes
com altura entre 18 e 25 metros com o objetivo de adensar a rea
construda e gerar rea livre e sempre que oportuno, permevel
no lote.
O entendimento da localizao junto s 2 vias pblicas
conduz o estudo a organizar espacialmente zonas de transio
para o interior do lote. O conjunto projetado dispe 3 volumes
de forma a criar ptios internos acessveis aos moradores, como
atributos de qualidade arquitetnica e urbanstica.
O estudo prev um volume transverso conectado ao trreo
do bloco C para atividades de comrcio e servios e uma praa
de acesso que estende o percurso da via pblica para o interior
do lote, realizando a rea de transio entre os usos pblico e
privado.
O acesso ao estacionamento de veculos dos moradores
aproveita-se da condio topogrca da rua, com diferena de nvel
de 3 metros, que permite o projeto de uma superfcie de 2680m
para 120 veculos (1,7 vaga por apartamento). A cobertura do
estacionamento gera uma rea de convivncia delimitada pelos
blocos de apartamentos B e C - e est conectada torre de
circulao vertical do bloco A.
Os espaos abertos propostos no interior do lote (3100m)
so dedicados a jardins e ptios para atender s necessidades
de lazer e entretenimento dos moradores. A conexo com os
equipamentos comunitrios propostos creche e centro comunitrio
amplia os limites dos ambientes construdos em direo reas
externas locadas na extenso de cada um dos usos.
Com o objetivo de abrigar diferentes composies sociais
indivduos sozinhos at famlias de 6 pessoas, o estudo desenha
uma diversidade de tipologias para as unidades habitacionais
(quitinete, um, dois e trs dormitrios) e suas respectivas dimenses
(de 28 a 77 m) induz a uma dinmica social intensa e rica de
experincias de convvio. So 207 unidades, com 9 tipologias,
que ocupam 28% da rea do lote e que comportam at 745
pessoas. A densidade populacional lquida resultante de 650,94
habitantes por hectare o que potencializa o uso da infra-estrutura
de servios disponvel nesta regio da cidade.
Alm das reas descobertas no trreo, a circulao
horizontal para acesso aos apartamentos projetada como
caladas suspensas em cada pavimento, com o afastamento
conveniente para garantir a privacidade de cada unidade. Estas
reas de circulao so construdas com sistema estrutural de
ao para justaposio aos volumes de alvenaria e concreto dos
apartamentos. Esta soluo propicia maior leveza das peas
estruturais e da composio arquitetnica, alm de oferecer uma
extenso de convvio alm da soleira de cada apartamento. As
torres de circulao vertical com escadas e elevadores esto
distribudas ao longo do percurso das caladas suspensas.
O volume paralelo rodovia tem 8 pavimentos e protegido
por um grande painel de placas pr-fabricadas de concreto que
atua como barreira acstica e de insolao voltada para o poente
e estrutura-se com os elementos de circulao vertical escadas e
elevadores - do bloco A. Uma passarela para pedestres conecta
em nvel a rea verde, ao longo do oleoduto (rea no edicvel)
paralela rodovia, torre de circulao do bloco A.
Os outros dois volumes projetados como lminas ao longo
do lote, voltados para orientao Norte, tm alturas distintas para
permitir a insolao dos pavimentos inferiores e dos ptios. A
soluo construtiva adotada de estrutura de concreto armado
com vos de 7,5 X 7,5m para permitir variedade de organizao
espacial, com plantas variadas por pavimento e ao longo deles.
Desta forma, a independncia dos sistemas estrutura e vedao
leva diversidade de conguraes no apenas das plantas, mas
tambm das fachadas de cada bloco.
No sentido de aumentar o rendimento para uso dos espaos
internos, a circulao se mescla aos usos coletivos o que implica
na necessidade e convenincia de dispor o mobilirio de forma a
organizar os percursos sem prejuzo das atividades desenvolvidas
em cada ambiente. O uso compartilhado e mltiplo dos espaos
requer a disponibilidade de instalaes para equipamentos e para
o desempenho de atividades especcas como locais para estudo,
para trabalho em casa ou para entretenimento.
.................................................................................................................................................
REA DO TERRENO: 11.448m
NMERO DE UNIDADES: 207
REA DAS UNIDADES: de 28,12 a 82,81m
REA CONSTRUDA - HABITAES: 13.637,65m
REA CONSTRUDA - OUTROS USOS: 3.802,79m
REA CONSTRUDA TOTAL: 17.440,44m
DENSIDADE HABITACIONAL BRUTA: 650,94 hab/ha
NMERO DE VAGAS: 140
. 170 .
Este estudo projetual para habitao insere-se em lote
urbano localizado na Regio Metropolitana de So Paulo e
delimitado por vias de acesso de grande uxo de veculos. Esta
localizao proporciona condio de implantao de volumes
com altura entre 18 e 25 metros com o objetivo de adensar a rea
construda e gerar rea livre e sempre que oportuno, permevel
no lote.
O entendimento da localizao junto s 2 vias pblicas
conduz o estudo a organizar espacialmente zonas de transio
para o interior do lote. O conjunto projetado dispe 3 volumes
de forma a criar ptios internos acessveis aos moradores, como
atributos de qualidade arquitetnica e urbanstica.
O estudo prev um volume transverso conectado ao trreo
do bloco C para atividades de comrcio e servios e uma praa
de acesso que estende o percurso da via pblica para o interior
do lote, realizando a rea de transio entre os usos pblico e
privado.
O acesso ao estacionamento de veculos dos moradores
aproveita-se da condio topogrca da rua, com diferena de nvel
de 3 metros, que permite o projeto de uma superfcie de 2680m
para 120 veculos (1,7 vaga por apartamento). A cobertura do
estacionamento gera uma rea de convivncia delimitada pelos
blocos de apartamentos B e C - e est conectada torre de
circulao vertical do bloco A.
Os espaos abertos propostos no interior do lote (3100m)
so dedicados a jardins e ptios para atender s necessidades
de lazer e entretenimento dos moradores. A conexo com os
equipamentos comunitrios propostos creche e centro comunitrio
amplia os limites dos ambientes construdos em direo reas
externas locadas na extenso de cada um dos usos.
Com o objetivo de abrigar diferentes composies sociais
indivduos sozinhos at famlias de 6 pessoas, o estudo desenha
uma diversidade de tipologias para as unidades habitacionais
(quitinete, um, dois e trs dormitrios) e suas respectivas dimenses
(de 28 a 77 m) induz a uma dinmica social intensa e rica de
experincias de convvio. So 207 unidades, com 9 tipologias,
que ocupam 28% da rea do lote e que comportam at 745
pessoas. A densidade populacional lquida resultante de 650,94
habitantes por hectare o que potencializa o uso da infra-estrutura
de servios disponvel nesta regio da cidade.
Alm das reas descobertas no trreo, a circulao
horizontal para acesso aos apartamentos projetada como
caladas suspensas em cada pavimento, com o afastamento
conveniente para garantir a privacidade de cada unidade. Estas
reas de circulao so construdas com sistema estrutural de
ao para justaposio aos volumes de alvenaria e concreto dos
apartamentos. Esta soluo propicia maior leveza das peas
estruturais e da composio arquitetnica, alm de oferecer uma
extenso de convvio alm da soleira de cada apartamento. As
torres de circulao vertical com escadas e elevadores esto
distribudas ao longo do percurso das caladas suspensas.
O volume paralelo rodovia tem 8 pavimentos e protegido
por um grande painel de placas pr-fabricadas de concreto que
atua como barreira acstica e de insolao voltada para o poente
e estrutura-se com os elementos de circulao vertical escadas e
elevadores - do bloco A. Uma passarela para pedestres conecta
em nvel a rea verde, ao longo do oleoduto (rea no edicvel)
paralela rodovia, torre de circulao do bloco A.
Os outros dois volumes projetados como lminas ao longo
do lote, voltados para orientao Norte, tm alturas distintas para
permitir a insolao dos pavimentos inferiores e dos ptios. A
soluo construtiva adotada de estrutura de concreto armado
com vos de 7,5 X 7,5m para permitir variedade de organizao
espacial, com plantas variadas por pavimento e ao longo deles.
Desta forma, a independncia dos sistemas estrutura e vedao
leva diversidade de conguraes no apenas das plantas, mas
tambm das fachadas de cada bloco.
No sentido de aumentar o rendimento para uso dos espaos
internos, a circulao se mescla aos usos coletivos o que implica
na necessidade e convenincia de dispor o mobilirio de forma a
organizar os percursos sem prejuzo das atividades desenvolvidas
em cada ambiente. O uso compartilhado e mltiplo dos espaos
requer a disponibilidade de instalaes para equipamentos e para
o desempenho de atividades especcas como locais para estudo,
para trabalho em casa ou para entretenimento.
................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
REA DO TERRENO: 11.448m
NMERO DE UNIDADES: 207
REA DAS UNIDADES: de 28,12 a 82,81m
REA CONSTRUDA - HABITAES: TT 13.637,65m
REA CONSTRUDA - OUTROS USOS: 3.802,79m
REA CONSTRUDA TOTAL: TT 17.440,44m
DENSIDADE HABITA TT CIONAL B AL AL RUTA TT : 650,94 hab/ha
NMERO DE VAGAS: 140
. 171 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
PERMEABILIDADE URBANA
.................................................................................................................................................
. 172 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
CORTE LONGITUDINAL
.................................................................................................................................................
. 173 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
0 10 50 100
.................................................................................................................................................
PLANTA PAVIMENTO TIPO
. 174 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.................................................................................................................................................
28,12 m
2
56,25 m
2
82,81 m
2
56,28 m
2
56,25 m
2
28,12 m
2
42,19 m
2
42,19 m
2
56,25 m
2
C1 C2
. 175 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 176 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
........................................................................
Piratininga
. 177 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
C. ESTUDO DE PREO DO EMPREENDIMENTO PROJETADO
. 178 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos . 178 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
REA DO TERRENO: 11.448m
NMERO DE UNIDADES: 75
REA DAS UNIDADES: de 37,5m
2
a 179m
2
REA INTERNA S HABITAES: 5963m
2
REA DE TERRAOS PRIVADOS: 875m
2
REA DE TERRAOS COLETIVOS: 237,5m
2
REA DE CIRCULAO: 1270m
2
JDS ARCHITECTS
ARQUITETO: Julien De Smedt.
EQUIPE JDS: Renaud Pereira, Lasse Lyhne-Hansen, Francisco Villeda
JDS um escritrio multidisciplinar focado em arquitetura
e design que desenvolve desde projetos de grande escala at
projetos de mobilirio. Atravs do contnuo desenvolvimento
de rigorosos mtodos de anlise e execuo, JDS capaz de
combinar pensamento inovador com produo efciente. O
escritrio conta com a colaborao de 30 profssionais, possui um
vasto portifolio de trabalhos internacionais e costuma envolver
consultores externos quando necessrio. JDS foi fundado e
dirigido por Julien De Smedt.
.................................................................................................................................................
D. PROPOSTA CONCEITUAL
. 179 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
volume inicial
terraos criados volumes verdes
B1
B2
reduo de altura vistas
. 180 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.................................................................................................................................................
. 181 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.................................................................................................................................................
. 182 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
.............................. ..................................................................................................................
. 183 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
.............................. ..................................................................................................................
JDS
. 184 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Destaca-se em todos os projetos o cuidado com
alguns parmetros essenciais boa qualidade arquitetnica,
apontados no captulo anterior: integrao urbana, por meio de
espaos pblicos e condominiais corretamente equacionados,
implantao que no privilegia apenas o carro, com criao
de reas verdes e espaos de convvio, busca de vitalidade
urbana por meio da variedade de usos e presena de comrcio,
valorizao dos espaos externos que conformam uma
disposio dos edifcios que foge monotonia dos alinhamentos
convencionais, variedade de tipologias das unidades que
possibilita o atendimentos a perfs familiares diversos, uso
cuidadoso do terreno, minimizando a movimentao de terra
e outros impactos ambientais.
interessante observar que, ao oferecer espaos
pblicos e condominiais ricos e integrados, ao favorecer a
vitalidade e a integrao urbanstica, os projetos apresentados
estabelecem outros padres de vida em apartamentos, fugindo
das solues atualmente muito valorizadas pelo mercado
como atrativos para o consumidor: os projetos apresentados
no se preocupam em oferecer a churrasqueira individual no
terrao, comum aos lanamentos imobilirios nas faixas de
mais alto padro do segmento econmico, ou ainda as piscinas
condominiais. Em contrapartida, oferecem plantas de unidade
mais variadas, as vezes em dois pavimentos e, sobretudo,
com reas teis mais generosas, proporcionando indiscutvel
qualidade de vida, independentemente de tais equipamentos,
que muitas vezes mais servem de chamariz de vendas do que
so efetivamente utilizados no dia a dia.
Outra questo interessante diz respeito s tipologias de
empreendimentos verticais sem e com elevador. O mercado
tende a engessar sua produo nessas duas variantes, uma
de gabarito mais baixo, para evitar o uso de elevador, outra
mais verticalizada, justamente para diluir os custos do
mesmo. Os projetos realizados mostram que essa diviso
acaba eliminando alternativas intermedirias de ocupao
de lote e densidade, que podem gerar melhores resultados
urbansticos. sintomtico observar que ambos os projetos, do
Hector Vigliecca ou do Piratininga, optaram por escapar desse
engessamento: nem o primeiro ateve-se tipologia de quatro
pavimentos sem elevador, que seria mais provavelmente
realizada pelo mercado, nem o segundo limitou-se a produzir
torres. Alis, nem mesmo o escritrio Peabiru restringiu-se
nica tipologia de casas geminadas, propondo tambm casas
sobrepostas e uma grande variedade de plantas. No caso das
duas tipologias verticais, cada um dos escritrios apresenta
solues que diversifcam as tipologias, das unidades e dos
edifcios, chegando a uma densidade parecida, entre 500 e
800 hab/ha, bastante adequada para uma boa relao entre o
espao construdo e os moradores. Ambos diferem tambm,
em alguns aspectos, das tipologias solicitadas: o escritrio
Hector Vigliecca chega a propor elevador em alguns edifcios
do conjunto, enquanto que o escritrio Piratininga Arquitetos
Associados opta por um nmero de pavimentos menor do
que o mximo possvel. Como j foi dito, a opo consciente
dos arquitetos por uma reduo de densidade decorreu
de simulaes que mostraram a necessidade de reduzir as
reas sombreadas e aumentar a insolao e a ventilao
nas unidades dos andares inferiores, resultando em maior
conforto. A questo das densidades possveis e as desejveis,
do nvel de verticalizao ou das confguraes dos edifcios,
so elementos que devem ser incorporados anlise das
construtoras e incorporadoras em seus empreendimentos.
Uma observao detalhada dos projetos apresentados
permite verifcar sua indiscutvel qualidade. Ainda assim,
resta a questo: essa qualidade possvel dentro dos custos
atuais do mercado da construo civil? Pode ser alcanada,
como nos projetos propostos, dentro dos preos mximos
estabelecidos, por exemplo, pelo Programa Minha Casa Minha
Vida (R$ 130.000 de teto mximo no MCMV1)? o que se
tentou verifcar a seguir.
Notas sobre os projetos apresentados
. 185 . Proposies arquitetnicas e urbansticas para trs empreendimentos do segmento econmico
Aplicando-se aos trs projetos apresentados uma mesma
metodologia de anlise de custos (ver nota metodolgica),
verifcou-se que absolutamente possvel desenvolver,
com preos equivalentes aos praticados pelo mercado,
empreendimentos com qualidade arquitetnica e urbanstica
superiores.
Os projetos desenvolvidos se enquadraram nos
valores do PMCMV1, maior programa habitacional federal
em desenvolvimento, que serviu de base para o estudo aqui
apresentado
2
.
As solues apresentadas seguiram os parmetros de
qualidade apontados no captulo trs, para a garantia de bons
projetos arquitetnicos e urbansticos, como por exemplo:
dimenses espaciais mais generosas para as unidades
habitacionais e seus ambientes; mais conforto trmico e
ambiental; maior integrao dos empreendimentos com o
tecido urbano; uso misto nos conjuntos; boa insero urbana;
menor impacto ambiental.
Os oramentos dos projetos apresentados foram
estimados com custos de construo elaborados a partir de
bases de preos de insumos e servios praticados no varejo,
considerando os mesmos padres tecnolgicos adotados na
construo civil habitacional, trazendo nas suas composies
uma baixa produtividade relativa, e sem levar em conta
possveis redues de custos em negociaes com fornecedores
ou ganhos de escala de produo e produtividade do trabalho.
Assim, a rigor, os preos de insumos considerados nesta
simulao de custos so provavelmente mais elevados do que
aqueles que uma construtora conseguiria.
Alm dessa possvel economia nos custos de construo,
o preo dos imveis dos projetos analisados tambm pode
2 Vale lembrar que estes valores foram aumentados recentemente, para
R$ 170 mil nas regies metropolitanas, para a modalidade do programa
promovida pelo mercado.
Anlise dos projetos a partir do levantamento de custos
ser reduzido com a racionalizao nos processos de gesto
da construo e outras modalidades de aquisio do terreno
como permuta, por exemplo, que no foram considerados na
simulao.
Ou seja, nos oramentos apresentados, o retorno
fnanceiro das empresas foi assegurado, havendo ainda
margem para ampliao da sua lucratividade, mesmo em
projetos de qualidade bastante superior aos das trs tipologias
predominantes no mercado e repetidas pelo pas, mostradas no
captulo trs e que foram a base comparativa para os projetos
solicitados.
As tabelas apresentadas anteriormente, para cada
um dos trs projetos propostos, mostram que apesar da
importncia do custo do terreno para a composio fnal do
preo dos imveis nos projetos estudados, constata-se que
este menos impactante do que geralmente se argumenta: nas
simulaes realizadas, um acrscimo de 100 a 150% no preo
do metro quadrado dos terrenos, resultou em uma variao
mdia de apenas 15 a 20% no preo fnal da unidade.
Cabe ressaltar tambm que, observados a normativa
urbanstica e os parmetros de qualidade arquitetnica e
urbana, um maior adensamento do nmero de unidades no
terreno pode viabilizar economicamente empreendimentos
localizados em reas mais valorizadas. O que indica que
a opo por terrenos mais bem localizados no por si s
impeditiva para a viabilizao de empreendimentos no
segmento residencial econmico.
com contribuio de Khaled Ghoubar
. 186 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 187 .
Consideraes finais: possvel evitar um
novo drama urbano no Brasil?
O objetivo deste livro suscitar a refexo e contribuir
para lanar uma ampla discusso por parte de todos os agentes
envolvidos no processo de produo habitacional, sobre os
caminhos da nossa urbanizao e a qualidade das cidades que
o Pas est construindo e deixando para as geraes futuras.
Polticos, empresrios, empreendedores da construo
civil, engenheiros, arquitetos, pesquisadores, estudantes de
arquitetura, usurios, se cada um desses importantes agentes
ao menos se conscientizar da discutvel qualidade do boom
construtivo que o Pas vive, da gravidade do cenrio e dos
riscos sociais e ambientais que ele engendra para o futuro,
largo passo ser dado para a correo do rumo.
fundamental ter em mente que o pas j enfrenta um
signifcativo passivo ambiental-urbano, fartamente apontado
no primeiro captulo deste livro, decorrente da descontrolada
urbanizao iniciada ainda na dcada de 1970, resultante
do modelo de acelerado crescimento econmico associado
extremada concentrao da renda. Se tal debate no for
efetivamente assumido pela sociedade, a herana ambiental-
urbana negativa tende a agravar-se, por sobre o passivo
anterior (ainda no resolvido), deixando para as prximas
geraes uma tragdia sem precedentes.
Das discusses apresentadas neste livro, fcam claros os
gargalos para uma urbanizao mais sustentvel, e que deveriam
pautar uma poltica de concertao nacional sobre o futuro
das nossas cidades. So eles: a concentrao da propriedade
fundiria e a difculdade de acesso terra urbanizada para
os segmentos de mais baixa renda, as bolhas especulativas
que elevam o seu preo, justamente em decorrncia dessa
concentrao; os entraves poltico-administrativos, entre
esferas de governo e no mbito interno das administraes,
difcultando a gesto da poltica territorial urbana; a expectativa
. 188 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
de lucratividade da atividade da construo colocando-se
muitas vezes frente da qualidade arquitetnica, urbanstica e
ambiental dos empreendimentos habitacionais; o insufciente
grau de regulao, de exigncias qualitativas e de fscalizao
da atividade da construo habitacional; a generalizao de
um ideal de cidade, difundido pelo marketing imobilirio
e bem aceito pela populao, mais focado nas aparncias
imediatas de ascenso social do que na qualidade de vida
de longo prazo; a manuteno da matriz que privilegia o
transporte automotivo individual em detrimento do pblico;
as limitaes ainda signifcativas para a industrializao efetiva
da construo civil, com ganhos de produtividade e utilizao
de novas tecnologias, privilegiando amelhoria de qualidade
alm do retorno fnanceiro; e, enfm, a inexistncia de esforos
efetivos para a construo de um mercado de reabilitao de
edifcios, para paulatinamente dar novo uso aos milhares de
imveis abandonados nos grandes centros urbanos
1
.
Como se insistiu ao longo desta publicao, no se
pretende apontar culpados, mas mostrar a complexidade das
engrenagens econmicas, sociais, polticas e culturais que
alimentam uma urbanizao que aprofunda os problemas ao
invs de resolv-los. Cada agente social tem, em certa medida,
responsabilidades no processo, e a melhoria nas perspectivas
da urbanizao somente ser possvel se todos assumirem
compromisso com o futuro.
O livro mostra que os problemas existentes no ocorrem
por falta de capacidade tcnica e operacional para evit-los. Os
aspectos negativos da produo habitacional so claramente
identifcveis. Dois deles, entretanto, so mais dramticos: a
questo da terra urbanizada e seu acesso restrito, e os impactos
ambientais da urbanizao. O primeiro, porque sem dvida
a questo mais delicada e complexa a enfrentar, pois afeta a
lgica com que se estruturou a propriedade fundiria urbana
no Brasil. Polticas habitacionais que incorporem a questo
fundiria como um de seus aspectos prioritrios so, portanto,
imprescindveis para o real enfrentamento da questo urbana
no Brasil. O segundo aspecto, dos impactos ambientais da m
urbanizao, tambm dramtico pois simplesmente no tem
retorno: como j foi dito, o passivo ambiental que geramos nos
dias de hoje ser uma herana maldita para as geraes futuras.
1 Vale notar que na Europa o mercado de reforma e reabilitao equiva-
le a cerca da metade da atividade total da construo civil.
Os demais problemas apontados so, de certa forma,
mais contornveis: os parmetros de qualidade para melhores
solues de arquitetura e urbanizao esto, em grande
medida, aqui elencados. O que falta para v-los aplicados?
Talvez o caminho esteja mesmo na possibilidade da sociedade
brasileira tomar conscincia sobre a nossa urbanizao
profundamente problemtica e os interesses e confitos nela
envolvidos, para gerar uma presso efetiva por mudanas nas
atitudes de todos os agentes envolvidos. Nesse sentido, comea
pelo Estado a obrigao de intensifcar a frgil regulao da
atividade e exigir respeito a parmetros comprometidos com
uma melhor qualidade dos empreendimentos do que o que se
pratica atualmente.
Esta no tarefa simples, pois depende de ampla
refexo sobre o que vem a ser a boa qualidade de vida urbana.
O segmento econmico, quem o produz e quem o consome,
reproduz padres de habitao aparentemente sofsticados,
geralmente calcados nos hbitos pouco sustentveis dos
setores de alta renda, mas na verdade bastante prejudiciais
construo de cidades mais justas e equilibradas: culto ao
automvel, preferncia por condomnios-clube fechados,
obsesso por muros e pela exclusividade do espao. As pessoas
se sujeitam a morar em espaos exageradamente exguos,
ludibriados pela presena de churrasqueiras, piscinas e outras
facilidades exclusivas, e abrem mo da vida na cidade, nas ruas,
nas praas, abdicando de uma vida urbana verdadeiramente
rica. E o mercado alimenta e realimenta o modelo, certo do
seu sucesso comercial, em um crculo vicioso que parece no
ter fm.
Enquanto isso, rvores so derrubadas, movimenta-se
terra sem parcimnia, tamponam-se rios, tudo para a abertura
de novos bairros, cada vez mais distantes, dada a exagerada
valorizao da terra urbana, com projetos arquitetnicos
e urbansticos sofrveis, que muitas vezes sequer recebem
infraestrutura adequada, ou dispem de transporte pblico
sufciente para acess-los. A urbanizao dispersa e impactante
se refete de forma mais intensa nos setores de baixa renda,
marcada do mesmo modo pela falta de qualidade arquitetnica
e urbanstica.
Pode ser compreensvel que o mercado da construo,
como um agente privado da economia, busque sempre a
maximizao de seus ganhos, o que fatalmente o levar a
. 189 .
reduzir o tamanho das unidades e a situ-las onde a terra for
mais barata. Compreensvel, mas no aceitvel, se o objetivo
for a construo de cidades com qualidade de vida para todos.
Menos aceitvel ainda que se produzam empreendimentos
com arquitetura e implantaes urbansticas pouco diferentes
dos sofrveis conjuntos habitacionais pblicos construdos h
trs dcadas, mas agora vendidos a preos de mercado. Da a
necessidade premente de uma maior regulao da atividade,
sempre no sentido de garantir a viabilidade econmica dos
empreendimentos, porm com maior qualidade e respeito
ambiental.
Um dos fatores que levam a tal situao a relativa
estagnao nos processos de industrializao da construo
e de avanos tecnolgicos do setor. As experincias de
inovao so incipientes, e geralmente ocorrem mais voltadas
melhoria da gesto da obra, da efcincia da mo de obra
e da produtividade, mantendo os mtodos construtivos
tradicionais, com pouca ateno busca de melhores padres
de qualidade urbanstica e arquitetnica.
Fato que a construo civil ainda essencialmente
manufatureira, benefciando-se de mo de obra barata
porm pouco qualifcada para novos padres tecnolgicos,
encontrando difculdades em alcanar uma escala de produo
mais signifcativa, com maior racionalizao. Neste cenrio,
a necessidade de produo em grande escala contrape-se
busca de qualidade e diversidade, justamente pela limitao da
industrializao do setor e dos necessrios avanos tecnolgicos
para tal. No h dvida que cabe ao setor industrial brasileiro
alavancar esse salto, para alcanar, como colocou o Prof.
Ghoubar no captulo anterior, condies de sustentabilidade
no fuxo de obras que permitam uma amortizao dos
investimentos e a formao de mo de obra qualifcada e
com melhores condies de trabalho. ais condies poderiam
permitir alcanar volume, qualidade, economia, diversidade e
velocidade de produo, de tal forma a garantir sistemas de
pr-fabricao que permitam diversidade construtiva, reduo
dos insumos e dos impactos ambientais.
No mbito dos projetos arquitetnicos, as propostas
apresentadas na publicao, por arquitetos com larga
experincia na produo habitacional, mostram que solues
alternativas, pautadas pela qualidade dos espaos internos
e coletivos, e pela recuperao da vida urbana so
absolutamente factveis, at mesmo em relao aos custos. Em
outras palavras, no verdade o argumento do mercado de
que a m qualidade da produo seja resultado de imposio
de custos.
Os clculos de custos apresentados mostram tambm
que, embora signifcativos, os impactos decorrentes da
variao do preo da terra so menos importantes do que se
poderia imaginar. Nas simulaes apresentadas, observou-
se que um elevado aumento no preo do terreno resultou
em uma elevao signifcativamente menor do preo fnal da
unidade habitacional, ou seja, o preo da terra diludo no
conjunto do empreendimento. Alm disso, mesmo fxando
um preo da terra compatvel com o valorizado mercado da
Regio Metropolitana de So Paulo, ainda assim o preo fnal
da unidade enquadrou-se nos limites do PMCMV, com mais
folga aps a elevao do teto do programa no PMCMV 2 (de
R$ 170 mil).
A questo ento outra. Trata-se de acreditar que de fato
projetos melhores so possveis. Que o medo das enchentes,
da poluio, da violncia, somente ser superado com a
reconquista da cidade como espao das relaes sociais, de
vida e de convvio em conjunto com projetos arquitetnicos e
urbanos que lhe permitam ter esse papel.
A atual produo do segmento econmico tem
inestimvel importncia nessa reconquista. Sua vitalidade
e o volume da produo tm potencial de transform-lo em
modelo. A produo pblica para a habitao social, e outros
empreendimentos do mercado, podem se inspirar e replicar
as boas solues urbanas, quando elas ocorrerem. Toda a
sociedade, destacadamente o setor da construo civil e os
gestores municipais, tem grande responsabilidade para que
tais transformaes verdadeiramente aconteam.
Depende dessa mobilizao a perspectiva de
corrigirmos o rumo do caos urbano que o Brasil vive hoje. Com
a consequncia de estarmos assim assegurando cidades mais
dignas e justas para as prximas geraes.
. 190 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
. 191 .
Bibliografia
ABIBI FILHO, Alfredo Eduardo; MONETTI, E. Modelo para identifcao de
comportamento de clusters nos mercados residenciais de Real Estate. In: SEMINRIO
INTERNACIONAL DA LARES intitulado Mercados emergentes de Real State: Novos
desafos e oportunidades. So Paulo: 2008.
ALENCAR, Claudio Tavares de. Do marketing do produto engenharia do produto
a mudana de foco necessria para atuao nos segmentos econmicos do mercado
residencial. In: Revista Construo e Mercado, n.83, p. 20-22, So Paulo: junho de 2008.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a
edifcaes, mobilirio, espaos e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: 2004.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 15220: Desempenho
trmico de edifcaes. Parte 2: Mtodo de clculo da transmitncia trmica, da
capacidade trmica, do atraso trmico e do fator solar de elementos e componentes de
edifcaes. Rio de Janeiro: 2005.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 15575: Edifcios
habitacionais de at cinco pavimentos Desempenho. Rio de Janeiro: 2010.
BARAVELLI, Jos Eduardo. O cooperativismo uruguaio na habitao social de So
Paulo. Das cooperativas FUCVAM associao de moradia Unidos de Vila Nova
Cachoeirinha. Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP.
So Paulo: 2008.
BARBARA, Fernanda. Duas tipologias habitacionais: o conjunto Ana Rosa e o edifcio
COPAN. Contexto e anlise de dois projetos realizados em So Paulo na dcada de
1950. Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So
Paulo: 2004.
BONDUKI, Nabil Georges. Habitao econmica promovida pelos IAPs e IPESP em
So Paulo, no perodo de 1930 a 1964. So Paulo: 1998 (mimeo).
BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitao social no Brasil. Arquitetura moderna,
lei do inquilinato e difuso da casa prpria. So Paulo: Estao Liberdade / FAPESP,
1998.
BONDUKI, Nabil Georges; KOURY, Ana Paula; MANOEL, Slua Kairuz. Anlise
tipolgica da produo de habitao econmica no Brasil (1930-1964). In: Anais 5
Seminrio DOCOMOMO Brasil. So Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.
BRASIL. Lei n.11.977, de 7 de julho de 2009. Dispe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida PMCMV e a regularizao fundiria de assentamentos localizados em
reas urbanas.
. 192 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
BRASIL. Lei n.12.424, de 16 de junho de 2011. Dispe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida PMCMV 2 e a regularizao fundiria de assentamentos localizados em
reas urbanas.
CAIXA ECONMICA FEDERAL. MTE Manual Tcnico de Engenharia. Braslia: CEF,
2002.
CARDOSO, Adauto (coord.). Relatrio de pesquisa: Entre a poltica e o mercado:
desigualdades, excluso social e produo da moradia popular na Regio Metropolitana
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011 (mimeo).
CARDOSO, Adauto L.; Arago, Thmis A.; ARAJO, Flvia S. Habitao de interesse
social: poltica ou mercado? Refexos sobre a construo do espao metropolitano. In:
Anais do XIV ENANPUR. Rio de Janeiro: 2011.
CARVALHO, Kelly. Mercado imobilirio. In: Revista Construo & Mercado, n.45. So
Paulo, abril-2005.
CASTRO, Ricardo. Salmona. Bogot: Villegas Editores, 1998.
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SO PAULO. Pesquisa Origem-Destino
2007. So Paulo: METRO, 2007.
DEVECCHI, Alejandra Maria. Reformar no construir. A reabilitao de edifcios
verticais: novas formas de morar em So Paulo no sculo XXI. Tese de Doutorado.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP. So Paulo: 2010.
FERREIRA, J. S. W. So Paulo. Cidade da intolerncia ou urbanismo brasileira.
Estudos Avanados USP. So Paulo, 2011.
FLECK, Brigite. Alvaro Siza. Londres: Spon, 1995.
FONSECA, Nuno de Azevedo. A arquitetura do mercado imobilirio e seu processo
de produo na cidade de So Paulo. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo USP. So Paulo: 2000.
FRENCH, Hillary. Os mais importantes conjuntos habitacionais do sculo XX. Porto
Alegre: Bookman, 2009.
GALVO, Walter Jos Ferreira. COPAN-SP: a trajetria de um mega empreendimento,
da concepo ao uso. Estudo compreensivo do processo com base na Avaliao Ps-
Ocupao. Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So
Paulo: 2007.
JOHN, Vanderley Moacyr; PRADO, Racine Tadeu Arajo (Coords.). Selo Casa Azul:
Boas prticas para habitao mais sustentvel. So Paulo: Pginas & Letras Editora e
Grfca, 2010.
. 193 .
MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 3 edio. Petrpolis:
Vozes, 2001.
MASCAR, Juan Luis. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: 2003.
MASCAR, Juan Luis (Org.). O custo das decises arquitetnicas. Porto Alegre: Sagra
Luzzato, 1998.
MINISTRIO DAS CIDADES. Instruo Normativa n.13, de 6 de abril de 2009.
Disponvel em: www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/
programas-e-acoes/mcmv/in/IN-01302009%20%28Diretrizes%20Gerais%20-%20
Descontos%29.pdf, acessado em 01 de janeiro de 2011).
MINISTRIO DAS CIDADES. Dfcit habitacional no Brasil 2007. Braslia: Ministrio
das Cidades, 2009.
MORETTI, Ricardo de Sousa; DEVECCHI, Alejandra. Possibilidades e limitaes das
solues de projeto habitacional de densidade intermediria. s/l, s/d (mimeo).
MOURA, Andr Drummond Soares de. Novas solues, velhas contradies: a
dinmica cclica da industrializao em sua forma canteiro. Dissertao de Mestrado.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So Paulo, 2011.
MEDEIROS, Fabio Bonfm. O Dfcit habitacional e o movimento das grandes empresas
construtoras e incorporadoras em direo baixa renda. Revista Construo &Mercado,
n.90, p. 24-27. So Paulo: janeiro de 2009.
MRV ENGENHARIA. R2T2010 Relatrio Trimestral da empresa MRV Engenharia
2o trimestre de 2010. So Paulo: 2010.
NAKANO, Kazuo. Relatrio: ofcina para defnio de diretrizes e critrios para
anlises de grandes empreendimentos habitacionais. In: Workshop Grandes
Empreendimentos Habitacionais. So Paulo: Ministrio das Cidades, 2009.
NOGUEIRA, Ada Pompeu. O habitar no espao urbano perifrico: conjuntos de
habitao social. Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
USP. So Paulo: 2003.
PASCALE, Andrea. Atributos que confguram qualidade s localizaes residenciais:
uma matriz para clientes de mercado na cidade de So Paulo. Dissertao de mestrado
em Engenharia Civil POLI USP. So Paulo: 2005
PETRELLA, Guilherme Moreira. Das fronteiras do conjunto ao conjunto das fronteiras.
Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So Paulo:
2009.
ROLNIK, R.; REIS, J.; KLINTOWITZ, D. ; BISCHOF, R. . Como produzir moradia bem
localizada com os recursos do programa Minha Casa Minha Vida? Braslia: Ministrio
das Cidades, 2010.
. 194 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
ROYER, Luciana de Oliveira. Financeirizao da poltica habitacional: limites e
perspectivas. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So
Paulo: 2009.
SALDIVA, P. H. N. (et al.). Infuence of socioeconomic conditions on air pollution
adverse health efects in elderly people: an analysis of six regions in So Paulo, Brazil.
In: Journal of Epidemiology and Community Health, v. 58, p. 41-46. s/l: 2009.
SANTOS, Jos Paulo dos. Alvaro Siza: obras y proyectos 1954-1992. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, 1995.
SAMORA, Patricia Rodrigues. Projetos de habitao e favelas: especifcidades e
parmetros de qualidade. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
USP. So Paulo: 2009.
SCHUCHMANN, Roberta. Habitao nada popular. Trabalho Final de Graduao.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP. So Paulo: 2008.
SHIMBO, Lucia Zanin. Habitao social, habitao de mercado: a confuncia entre
estado, empresas construtoras e capital fnanceiro. Tese de Doutorado. Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo USP. So Carlos: 2010.
TLLEZ, German Castaeda. Rogelio Salmona: obra completa 1959/2005. Bogot:
Fondo Editorial Escala, 2006.
TESTA, Peter. Arquitectura de Alvaro Siza. Porto: Faup, 1988.
TONE, Beatriz Bezerra. Notas sobre a valorizao imobiliria em So Paulo na era do
capital fctcio. Dissertao de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP.
So Paulo: 2010.
VILLA, Simone Barbosa. O produto imobilirio paulistano. In: VI Seminrio
Internacional da LARES. So Paulo: LARES Latin American Real StateSociety, 2006.
. 195 .
Crdito das imagens
Captulo 01
Abertura do captulo (p.10):
Joo Sete Whitaker Ferreira. Manaus-AM. 2009
Ucha Aratangi. So Paulo-SP. 2009.
1.1a. Acervo LabHab. So Paulo-SP. 2003
1.1b. Joo Sete Whitaker Ferreira. So Paulo-SP. 2010
1.2. Acervo LabQuap. So Paulo-SP. 2008
1.3. Ilustrao de Danilo Zamboni. 2010
1.4. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
1.5a. Acervo LabQuap. So Paulo-SP. 2008
1.5b. Jorge Oseki. Edogawa, Japo. 1997
1.5c. Jorge Oseki. Paris, Frana. 2002
1.6. Ilustrao de Danilo Zamboni. 2010
1.7. Acervo LabHab. Campinas-SP. 2008
1.8. Acervo LabQuap. So Paulo-SP. 2008
1.9. Acervo LabHab. Campinas-SP. 2008
1.10a. Acervo LabHab. So Paulo-SP. 2008
1.10b. Acervo LabHab. So Paulo-SP. 2008
1.11. Joo Sete Whitaker Ferreira. So Paulo-SP. 2007
1.12a. Acervo LabQuap. So Paulo-SP. 2008
1.12b. Acervo LabQuap. Salvador-BA. 2010
1.13. Acervo LabHab. So Paulo-SP. 2005
1.14a. Joo Sete Whitaker Ferreira. Manaus-AM. 2009
1.14b. Acervo LabQuap. Salvador-BA. 2008
1.15a. Acervo LabQuap. Rio Branco-AC. 2011
1.15b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
1.15c. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
1.16a. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
1.16b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
1.16c. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
1.16d. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
1.17. Tuca Vieira. So Paulo-SP. 2008
1.18. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
1.19. Joo Sete Whitaker Ferreira. So Paulo-SP. 2011
1.20a. Nabil Bonduki. Acervo do Grupo de Pesquisa Pioneiros
da Habitao Social no Brasil. Belo Horizonte-MG. 2009
1.20b. Nabil Bonduki. Braslia-DF. 2010
1.20c. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
1.20d. Joo Sete Whitaker Ferreira. So Paulo-SP. 2011
1.21a. Acervo LabQuap. Braslia-DF. 2009
1.21b. Nabil Bonduki. Acervo do Grupo de Pesquisa Pioneiros
da Habitao Social no Brasil. Braslia-DF. 2010
1.22. Acervo LabQuap. So Paulo-SP. 2008
1.23. Acervo LabHab. So Paulo-SP. 2005
1.24a. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
1.24b. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
1.25a. Acervo LabQuap. Salvador-BA. 2010
1.25b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
1.26a. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
1.26b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
1.26c. Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
1.26d. Fernando Boari. Guarulhos-SP. 2011
1.27a. Acervo LabQuap. Rio de Janeiro-RJ. 2008
1.27b. Jorge Oseki. Edogawa, Japo. 1997
1.28. Ilustrao de Danilo Zamboni. 2010
. 196 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Captulo 02
Abertura do captulo (p.38):
Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
Rodrigo Nunes, Acervo Ministrio das Cidades. Rio de
Janeiro-RJ. 2009
2.1a. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
2.1b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
2.1c. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
2.1d. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
2.1e. Acervo LabQuap. Sorocaba-SP. 2008
2.1f. Fernando Boari. Guarulhos-SP. 2011
2.2. Guilherme Petrella. So Paulo-SP. 2009
2.3a. Acervo Piratininga. So Paulo-SP. 2010
2.3b. Leonardo Finoti, Acervo Vigliecca e Associados.
Osasco-SP. 2011
2.3c. Leonardo Finoti, Acervo Vigliecca e Associados. Osasco-
SP. 2011
2.3d. Acervo Peabiru. So Paulo-SP. 2010
2.3e. Acervo Peabiru. So Paulo-SP. 2010
2.4a. Joo Sete Whitaker Ferreira. Manaus-AM. 2011
2.4b. Joo Sete Whitaker Ferreira. Manaus-AM. 2011
2.4c. Rodrigo Nunes, Acervo Ministrio das Cidades. Rio de
Janeiro-RJ. 2009
2.5a. Concurso Habita Sampa (COHAB-PMSP e IAB-SP).
Projeto FRENTES Arquitetos. 2004. Ilustrao Guihereme
Petrella.
2.5b. Concurso Habitao para Todos (CDHU e IAB-SP).
Projeto Monica Drucker e Ruben Otero. 2010
2.5c. Concurso Morar Carioca (SMH-PMRJ e IAB-RJ). Projeto
Maira Rios (coord.). Ilustrao Guihereme Petrella.
Captulo 03
Abertura do captulo (p.58):
Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
Guilherme Petrella. Guarulhos-SP. 2007
3.1a. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.1b. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.1c. Acervo LabQuap. Rio Branco-AC. 2011
3.1d. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.1e. Acervo LabQuap. Salvador-BA. 2010
3.1f. Acervo LabQuap. Blem-PA. 2008
3.1g. Acervo LabQuap. Fortaleza-CE. 2009
3.1h. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
3.1i. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.1j. Acervo LabQuap. Rio de Janeiro-RJ. 2008
3.1l. Acervo LabQuap. Rio de Janeiro-RJ. 2008
3.1m. Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
3.1n. Acervo LabQuap. Blem-PA. 2008
3.1o. Acervo LabQuap. Blem-PA. 2008
3.1p. Helena Rios. Mau-SP. 2011
3.1q. Helena Rios. Mau-SP. 2011
3.1r. Fernando Boari. Guarulhos-SP. 2011
3.1s. Fernando Boari. Guarulhos-SP. 2011
3.1t. Fernando Boari. So Paulo-SP. 2011
3.1u. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.2. Acervo LabQuap Campinas-SP. 2008
3.3a. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.3b. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.3c. Acervo LabQuap. Fortaleza-CE. 2009
3.3d. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.3e. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.3f. Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
3.3g. Acervo LabQuap. Sorocaba-SP. 2008
3.3h. Acervo LabQuap. Sorocaba-SP. 2008
3.3i. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
3.4a. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.4b. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.4c. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
3.5a. Acervo LabQuap. Porto Alegre-RS. 2010
3.5b. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.5c. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
. 197 .
3.5d. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.5e. Fernando Boari. Guarulhos-SP. 2011
3.6. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.7. Joo Sete Whitaker Ferreira. Montevideu Uruguai. 2010
3.8a. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.8b. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.9. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.10a. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.10b. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.10c. Joo Sete Whitaker Ferreira. So Paulo-SP. 2011
3.10d. Raul Valles. Uruguai. sem data
3.11a. Acervo LabQuap. Blem-PA. 2008
3.11b. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.11c. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.11d. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.11e. Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
3.12. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.13. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.14. Acervo LabQuap. Campinas-SP. 2008
3.15a. Acervo LabQuap. Natal-RN. 2009
3.15b. Acervo LabQuap. Sorocaba-SP. 2008
3.16a. Acervo LabQuap. Rio Branco-AC. 2011
3.16b. Acervo LabQuap. Palmas-TO. 2008
3.17a. Eduardo Ferroni. Holanda. 2006
3.17b. Eduardo Ferroni. Holanda. 2006
3.18. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.19a. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.19b. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.19c. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.20a. Stepan Norair Chahinian. Acervo do grupo de pesquisa
Pioneiros da Habitao Social no Brasil. Rio de Janeiro-RJ.
2006
3.20b. Stepan Norair Chahinian. Acervo do grupo de pesquisa
Pioneiros da Habitao Social no Brasil. Rio de Janeiro-RJ.
2006
3.21a. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.21b. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.22c. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.23. Guilherme Petrella. Guarulhos-SP. 2007
3.24a. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.24b. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.25a. Acervo LabQuap. Manaus-AM. 2009
3.25b. Joo Sete Whitaker Ferreira. Manaus-AM. 2011
3.26. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.27. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.28. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.29. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30a. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30b. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30c. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30d. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30e. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.30f. Maquete Eletrnica. Danilo Costa. 2011
3.31a. Beatriz Tone. Sumar-SP. 2008
3.31b. Beatriz Tone. Sumar-SP. 2008
3.31c. Beatriz Tone. Sumar-SP. 2008
3.31d. Beatriz Tone. Sumar-SP. 2008
3.32a. Maquete Eletrnica. Rafael Passarelli. 2011
3.32b. Maquete Eletrnica. Rafael Passarelli. 2011
3.32c. Maquete Eletrnica. Cristhy Matos. 2011
3.33. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.34. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.35a. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.35b. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.35c. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.35d. Ilustrao de Kathleen Chiang. 2011
3.36a. Joo Sete Whitaker Ferreira. Osasco-SP. 2005
3.36b. Joo Sete Whitaker Ferreira. Osasco-SP. 2005
3.38a. Juliana Petrarolli. Marselha, Frana. 2008
3.38b. Juliana Petrarolli. Paris, Frana. 2008
3.39. One Planet linving in Suton. Disponvel no Banco de
imagens gratuitas htp://www.everystockphoto.com/photo.
php?imageId=3804721. BedZED, Londres, Reino Unido. Sem
data.
3.40. Tuca Vieira. So Paulo-SP. 2008.
3.41. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.42. Helena Rios. So Paulo-SP. 2011
3.43. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.44. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.45. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.46. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.47. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.48. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.49. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
. 198 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
3.50. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.51. Nabil Bonduki. Porto Alegre-RS. 2010
3.52. Joo Sete Whitaker Ferreira. Bogot, Colmbia. 2006.
3.53. Joo Sete Whitaker Ferreira. Bogot, Colmbia. 2006.
3.54. Joo Sete Whitaker Ferreira. Bogot, Colmbia. 2006.
3.55. Joo Sete Whitaker Ferreira. Bogot, Colmbia. 2006.
3.56. Jos Eduardo Baravelli. Montevideo, Uruguai. 2006.
3.57. Jos Eduardo Baravelli. Montevideo, Uruguai. 2006.
3.58. Jos Eduardo Baravelli. Montevideo, Uruguai. 2006.
3.59. Jos Eduardo Baravelli. Montevideo, Uruguai. 2006.
3.60. Nuno Campos. vora, Portugal. 2007
3.61. Nuno Campos. vora, Portugal. 2007
3.62. Ins Afonso. vora, Portugal. 2003
3.63. Ins Afonso. vora, Portugal. 2003
3.64. Ins Afonso. vora, Portugal. 2003
3.65. Ins Afonso. vora, Portugal. 2003
3.66. Acervo Usina CTAH. So Paulo-SP. 2006.
3.67. Acervo Usina CTAH. So Paulo-SP. 2006.
3.68. Acervo Usina CTAH. So Paulo-SP. 2006.
3.69. Acervo Usina CTAH. So Paulo-SP. 2006.
3.70. Acervo Usina CTAH. So Paulo-SP. 2006.
Captulo 04
Abertura do Captulo (p.126)
Projetos PEABIRU Trabalhos Comunitrios e Ambientais,
HECTOR VIGLIECCA e Associados, PIRATININGA
Arquitetos Associados e JDS Architects. 2011.
4.1. Maquete Eletrnica Danilo Costa.2011.
ESTUDO 1
PEABIRU Trabalhos Comunitrios e Ambientais. 2011.
4.2. Maquete Eletrnica Danilo Costa. 2011.
ESTUDO 2
HECTOR VIGLIECCA e Associados. 2011.
4.3. Maquete Eletrnica Danilo Costa. 2011.
ESTUDO 3
PIRATININGA Arquitetos Associados. 2011.
ESTUDO 3.d
JDS Architects. 2011.
. 199 .
. 200 . Produzir casas ou construir cidades? Desafos para um novo Brasil urbano. Parmetros de qualidade para a implementao de projetos habitacionais e urbanos
Você também pode gostar
- Moradia popular no Recife: políticas públicasNo EverandMoradia popular no Recife: políticas públicasAinda não há avaliações
- Apresentação Dados - Cap.7 - Bairros Sustentáveis - Livro Urbanismo Sustentável.Documento21 páginasApresentação Dados - Cap.7 - Bairros Sustentáveis - Livro Urbanismo Sustentável.joaolneryAinda não há avaliações
- Mirante 9 de Julho, São PauloDocumento15 páginasMirante 9 de Julho, São PauloAntoniela GonçalvesAinda não há avaliações
- Habitacao FlexivelDocumento0 páginaHabitacao FlexivelFernanda Oliveira100% (1)
- A Rua e A Sociedade CapsularDocumento12 páginasA Rua e A Sociedade CapsularMa BelleAinda não há avaliações
- Braganca, Mateus, Gouveia Construccao Sustenavel o N Ovo Paradigma Do Setor Da ConstrucaoDocumento16 páginasBraganca, Mateus, Gouveia Construccao Sustenavel o N Ovo Paradigma Do Setor Da ConstrucaoLizbeth Gamarra LazoAinda não há avaliações
- Do Analógico ao Digital: A Evolução das Técnicas de Documentação do Ambiente ConstruídoNo EverandDo Analógico ao Digital: A Evolução das Técnicas de Documentação do Ambiente ConstruídoAinda não há avaliações
- Questões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaNo EverandQuestões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaAinda não há avaliações
- Métricas Urbanas: Abordagens paramétricas para planejamento de bairros e cidades mais sustentáveisNo EverandMétricas Urbanas: Abordagens paramétricas para planejamento de bairros e cidades mais sustentáveisAinda não há avaliações
- Da Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaNo EverandDa Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaAinda não há avaliações
- Espacos Livres de Uso Publico Elisangela Medina Benini OrgDocumento131 páginasEspacos Livres de Uso Publico Elisangela Medina Benini OrgDenise Alvares BittarAinda não há avaliações
- 1 - História Da Arquitetura e UrbanismoDocumento154 páginas1 - História Da Arquitetura e UrbanismoMariana SantanaAinda não há avaliações
- Miolo ScribDocumento11 páginasMiolo ScribMetanoia EditoraAinda não há avaliações
- Livro Desafios para A Sustentabilidade Urbana Nas Cidades BrasileirasDocumento202 páginasLivro Desafios para A Sustentabilidade Urbana Nas Cidades BrasileirasMebels NjanjeAinda não há avaliações
- Densidade UrbanaDocumento22 páginasDensidade UrbanaGiana Cristina da SilvaAinda não há avaliações
- Metodologia de Ensino Arquitetura Inclusiva - PROJETAR 2003Documento13 páginasMetodologia de Ensino Arquitetura Inclusiva - PROJETAR 2003helen_arquitetura8907Ainda não há avaliações
- O Movimento Nacional Pela Reforma Urbana e o Processo de Democratizao Do Planejamento Urbano No BrasilDocumento181 páginasO Movimento Nacional Pela Reforma Urbana e o Processo de Democratizao Do Planejamento Urbano No BrasilCelidonio NavinaAinda não há avaliações
- Acioly 1998 - Densidade UrbanaDocumento6 páginasAcioly 1998 - Densidade UrbanaMarina De NadaiAinda não há avaliações
- Livro Urbanismo Área EDocumento27 páginasLivro Urbanismo Área EEduarda GonçalvesAinda não há avaliações
- Tese AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE Escritorios Brasileiros Diretrizes e Base Metodologica PDFDocumento334 páginasTese AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE Escritorios Brasileiros Diretrizes e Base Metodologica PDFrwurdigAinda não há avaliações
- Arquitetura Urbanismo Paisagismo-Vol4Documento233 páginasArquitetura Urbanismo Paisagismo-Vol4WELITON RODRIGUESAinda não há avaliações
- Praças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFDocumento4 páginasPraças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFagnaldoAinda não há avaliações
- RAFAELASILVARIOS ArtigoDocumento12 páginasRAFAELASILVARIOS ArtigoNAVEGANDO GUARUJÁAinda não há avaliações
- Placemaking, Urbanismo e o Futuro Dos Espaços PúblicosDocumento4 páginasPlacemaking, Urbanismo e o Futuro Dos Espaços PúblicosOlívia Teixeira SantiagoAinda não há avaliações
- Noções Planejamento UrbanoDocumento14 páginasNoções Planejamento UrbanoGiordano AndriãoAinda não há avaliações
- Aula Habitacao AUP 276 2016Documento75 páginasAula Habitacao AUP 276 2016André Nery FigueiredoAinda não há avaliações
- Neves, Laert AdoçaoDocumento104 páginasNeves, Laert Adoçaorafinhadapaz100% (1)
- Intervenção Social No Monteiro: Uma Proposta HabitacionalDocumento96 páginasIntervenção Social No Monteiro: Uma Proposta HabitacionalDaniella BurleAinda não há avaliações
- Brasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXINo EverandBrasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXIAinda não há avaliações
- Monografia Parque Anchieta - Leonardo Filipe Da SilvaDocumento334 páginasMonografia Parque Anchieta - Leonardo Filipe Da SilvaMALO DE MOLINA DA SILVA100% (3)
- Colégio Pies DescalzosDocumento25 páginasColégio Pies DescalzosNani GfAinda não há avaliações
- Aula04planoconceitual 141003084733 Phpapp01 PDFDocumento64 páginasAula04planoconceitual 141003084733 Phpapp01 PDFAmandaSantosAinda não há avaliações
- Aula 1 - Urbanismo TáticoDocumento30 páginasAula 1 - Urbanismo TáticoMonica BarcelosAinda não há avaliações
- Roteiro para Construir No NordesteDocumento31 páginasRoteiro para Construir No NordesteJoyce ReisAinda não há avaliações
- Agenda SustentavelDocumento78 páginasAgenda SustentavelLuiza HorschutzAinda não há avaliações
- Arquitetura Efêmera em BambuDocumento83 páginasArquitetura Efêmera em BambuGustavo Tenório100% (1)
- Habitações de Baixo Custo Mais SustentáveisDocumento488 páginasHabitações de Baixo Custo Mais Sustentáveisapi-3704111100% (11)
- Aulas AUDocumento6 páginasAulas AUSamuel SantosAinda não há avaliações
- Jardins Historicos - ComunicacoeswDocumento322 páginasJardins Historicos - ComunicacoeswErika NozAinda não há avaliações
- Sistemas de Espaços Livres e Esfera Pública em Metrópoles BrasileirasDocumento11 páginasSistemas de Espaços Livres e Esfera Pública em Metrópoles BrasileirasPatricia CorreaAinda não há avaliações
- AF Parklets MunicipaisDocumento20 páginasAF Parklets MunicipaisaceroebooksAinda não há avaliações
- Resumo Do Texto 1: Patrimônio Histórico. SustentabilidadeDocumento8 páginasResumo Do Texto 1: Patrimônio Histórico. Sustentabilidadedinho_belemAinda não há avaliações
- Ramos e o Bem Morar em São Paulo - Marina Cristina WolffDocumento38 páginasRamos e o Bem Morar em São Paulo - Marina Cristina WolffPedro BeresinAinda não há avaliações
- Construção Sustentável - Chapter 2CDocumento58 páginasConstrução Sustentável - Chapter 2CTironeNunes100% (2)
- O Urbanismo Sustentável No Brasil A Revisão de Conceitos Urbanos para o Século XXI (Parte 02)Documento19 páginasO Urbanismo Sustentável No Brasil A Revisão de Conceitos Urbanos para o Século XXI (Parte 02)Profa Daniele SantAnnaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalNo EverandDesenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalAinda não há avaliações
- Relações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNo EverandRelações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Habitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraNo EverandHabitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraAinda não há avaliações
- Tópicos Contemporâneos em Arquitetura: Interlocuções Entre Escalas de ObservaçãoNo EverandTópicos Contemporâneos em Arquitetura: Interlocuções Entre Escalas de ObservaçãoAinda não há avaliações
- Os Parques Públicos Paulistanos:: A Invenção e Reinvenção dos Casos MunicipaisNo EverandOs Parques Públicos Paulistanos:: A Invenção e Reinvenção dos Casos MunicipaisAinda não há avaliações
- Arquitetura e flexibilidade: em habitação social dignaNo EverandArquitetura e flexibilidade: em habitação social dignaAinda não há avaliações
- Espaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaNo EverandEspaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaAinda não há avaliações
- Megaestrutura e Metrópole: Uma Arqueologia do Programa de Rem KoolhaasNo EverandMegaestrutura e Metrópole: Uma Arqueologia do Programa de Rem KoolhaasAinda não há avaliações
- Seria melhor mandar ladrilhar?: Biodiversidade - como, para que e por quêNo EverandSeria melhor mandar ladrilhar?: Biodiversidade - como, para que e por quêAinda não há avaliações
- Habitação de interesse social no Brasil: Diálogos e perspectivasNo EverandHabitação de interesse social no Brasil: Diálogos e perspectivasAinda não há avaliações
- MACHADO - A Política Na FavelaDocumento18 páginasMACHADO - A Política Na FavelaJulio Santos FilhoAinda não há avaliações
- Apandemia deCOVID-19 e Suas Repercussões Na Epidemia Da Obesidade de Crianças e AdolescentesDocumento8 páginasApandemia deCOVID-19 e Suas Repercussões Na Epidemia Da Obesidade de Crianças e AdolescentesEmiliaCarolleAinda não há avaliações
- Apresentação UrbanizaçãoDocumento19 páginasApresentação UrbanizaçãonatalportelatianguaAinda não há avaliações
- Manual Drenagem V3 SPDocumento130 páginasManual Drenagem V3 SPclarissa_393900123Ainda não há avaliações
- O Pensamento de Jane Jacobs Na Perspectiva Da Cidade Includente - ResumoDocumento3 páginasO Pensamento de Jane Jacobs Na Perspectiva Da Cidade Includente - Resumogiovana mariaAinda não há avaliações
- Revisão A1 - 9 AnoDocumento7 páginasRevisão A1 - 9 AnoXjhxxjx Z sndnsAinda não há avaliações
- 6º Ano - REGULAR GEO - 2023 PlanejamentoDocumento5 páginas6º Ano - REGULAR GEO - 2023 PlanejamentoAnna Luiza Souza VieiraAinda não há avaliações
- População e Meio AmbienteDocumento25 páginasPopulação e Meio AmbienteFrancisco AmenoAinda não há avaliações
- 1440.76 - Altera o Plano Urbano Da CidadeDocumento21 páginas1440.76 - Altera o Plano Urbano Da CidadesamuelioAinda não há avaliações
- Zedequias Vieira Cavalcante 2Documento4 páginasZedequias Vieira Cavalcante 2LuTango de DeusAinda não há avaliações
- A Concepção e o Uso Do Conceito de Fracasso Escolar No Jornal Folha de S.Paulo (1958-2008)Documento102 páginasA Concepção e o Uso Do Conceito de Fracasso Escolar No Jornal Folha de S.Paulo (1958-2008)Vagner de AlencarAinda não há avaliações
- Mobilidade Sustentável: o Uso Da Bicicleta Como Meio de Transporte em Maringá, PR, BrasilDocumento15 páginasMobilidade Sustentável: o Uso Da Bicicleta Como Meio de Transporte em Maringá, PR, BrasilRicardo AlbertinAinda não há avaliações
- Amorim Carvalho Barros - 2015Documento10 páginasAmorim Carvalho Barros - 2015Laíse Machado LopesAinda não há avaliações
- Monografia Recadastramento Imobiliário de Juiz de Fora e ADocumento62 páginasMonografia Recadastramento Imobiliário de Juiz de Fora e AKezia kelAinda não há avaliações
- CEJA - Plano de Curso 2021 Componente Curricular Geografia - 7º AnoDocumento9 páginasCEJA - Plano de Curso 2021 Componente Curricular Geografia - 7º Anojose amorimAinda não há avaliações
- Questões Enem de Geografia - Página 5 .PDF 81 A 100Documento10 páginasQuestões Enem de Geografia - Página 5 .PDF 81 A 100leticia figueiredoAinda não há avaliações
- Elaborando Propostas e Temas Prioritários para o Plano Diretor Participativo (2007)Documento28 páginasElaborando Propostas e Temas Prioritários para o Plano Diretor Participativo (2007)Bárbara M. EckertAinda não há avaliações
- Vila Hortência em Perspectiva: Fábrica de CulturaDocumento112 páginasVila Hortência em Perspectiva: Fábrica de CulturaVitória Amorim100% (1)
- David Harvey Cidades RebeldesDocumento21 páginasDavid Harvey Cidades RebeldesSuelen Santos da SilvaAinda não há avaliações
- Sobre o ONU-HabitatDocumento2 páginasSobre o ONU-Habitatpesquisa familiarAinda não há avaliações
- Módulo III - IdusDocumento79 páginasMódulo III - IdusMatheus BocardoAinda não há avaliações
- CH02-Desenvolvimento e Mobilidade SustentveisDocumento20 páginasCH02-Desenvolvimento e Mobilidade SustentveisamericoAinda não há avaliações
- Cidadania, Democracia e Acesso A JustiçaDocumento36 páginasCidadania, Democracia e Acesso A Justiçajean michel ConstantinoAinda não há avaliações
- Dinâmica Da Terciarização e Reestruturação Urbana No Rio de JaneiroDocumento19 páginasDinâmica Da Terciarização e Reestruturação Urbana No Rio de Janeirothiagopdfsdf 57Ainda não há avaliações
- Objetivos de Geografia Sobre As CidadesDocumento22 páginasObjetivos de Geografia Sobre As CidadesBeatriz OliveiraAinda não há avaliações
- Teste 3 - 11ºFDocumento8 páginasTeste 3 - 11ºFMarco LopesAinda não há avaliações
- SeminarioDocumento5 páginasSeminariocamila araujoAinda não há avaliações
- Martins, 2007Documento538 páginasMartins, 2007Anderson Santos100% (1)
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocumento264 páginasCidade Cultura e Global I ZaoPaula GeorgiaAinda não há avaliações
- 5o Encontro Internacional de Historia Colonial PDFDocumento174 páginas5o Encontro Internacional de Historia Colonial PDFHaroldo MatosAinda não há avaliações