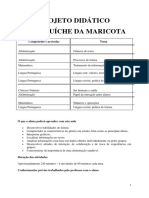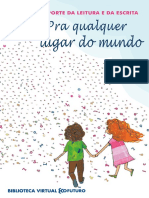Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Brecht Na Educação
Brecht Na Educação
Enviado por
Alex Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasBrecht Na Educação
Brecht Na Educação
Enviado por
Alex OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
A LEITURA COMPARTILHADA DAS PEAS DIDTICAS DE BERTOLT
BRECHT: CONSTRUINDO SIGNIFICADOS PARA O PROCESSO DE
ALFABETIZAO
Autoria: Natlia Kneipp Ribeiro Gonalves
Instituio: UNAR Centro Universitrio de Araras Dr. Edmundo Ulson.
O presente trabalho teve como objetivo compreender as reflexes que
as peas didticas de Bertolt Brecht podem trazer ao processo educativo e,
mais especificamente, ao processo de alfabetizao, por meio das discusses
e sentidos produzidos na e pela leitura dessas peas, em uma situao de
interlocuo, construda entre pesquisadora e professoras que alfabetizam.
A proposta de envolvimento das professoras alfabetizadoras teve como
inteno descobrir o que pensam em relao ao processo de alfabetizao,
conhecer seus modos de fazer, voltando o olhar para as atividades
desenvolvidas nas salas de aula, seus objetivos e intenes; oferecendo uma
leitura compartilhada das peas didticas brechtianas como instrumento de
reflexo do processo de alfabetizao desenvolvido em sua prxis pedaggica.
O contato com as professoras se realizou por meio de uma seqncia de
entrevistas, foram disponibilizadas na ntegra as peas didticas de Brecht
(Aquele que diz sim, Aquele que diz no, A pea de Baden-Baden sobre o
acordo, A exceo e a regra, O vo sobre o oceano, A deciso) para que fosse
possvel compartilharmos nossas leituras e reflexes em uma situao de
interlocuo.
A palavra constitua-se, assim, em produto e produo dessa interao;
palavra que o territrio comum entre locutor e interlocutor, ponte de definio
de si prprio em relao ao outro (BAKHTIN, 2004); palavra que, assim
pensada, pode constituir-se, tambm, em possibilidade de interao cognitiva.
O propsito das entrevistas era o de construo de idias, apontamentos
de caminhos, troca de experincias e re-elaborao das possibilidades de
atuao, na prxis pedaggica, no processo de alfabetizao, por meio da
reflexo sobre alguns princpios que constituem as peas didticas.
Foram feitas quatro entrevistas com trs professoras alfabetizadoras,
duas da rede pblica e uma da rede particular, visando construir, juntamente
com elas, algumas possibilidades para a discusso do processo de
alfabetizao. A atuao dessas professoras foi contextualizada, discutimos
temas referentes s suas concepes sobre o processo de alfabetizao,
relaes desenvolvidas pela leitura e reflexo das peas didticas frente a seus
modos de fazer, atividades que desenvolvem, posturas que assumem no
cotidiano de suas prticas pedaggicas e, por fim, a discusso de princpios
didticos que vo emergindo nessa situao de interlocuo, na busca da
construo de uma relao entre o ato de alfabetizar e os princpios didticos
que as peas de Brecht contm.
Foi criado um ambiente de interlocuo, entre as professoras
alfabetizadoras e a pesquisadora, uma situao que desestabilizava as
professoras de seus fazeres cotidianos e quanto pesquisadora, foi possvel
no somente refletir sobre as concepes que se encontram postas no
panorama brasileiro, e que embasam, primeira vista, o processo de
alfabetizao nas escolas, mas, sobretudo, investigar as contribuies e
possveis relaes entre as peas didticas e as concepes, as prticas e as
representaes que fundamentam o processo de alfabetizao dos sujeitos
dessa pesquisa.
As professoras desenvolveram, nos embates travados pelos desafios e
impasses do dia-a-dia, interpretaes e significaes em suas leituras e
vivncias, analisando a prpria prtica. Essa postura, expressa nos modos de
ler as peas didticas, foi marcada desde o incio pelo princpio de
estranhamento e desestabilizao, tanto pelo contedo das peas, quanto
pelos dilogos desenvolvidos nas entrevistas.
E foi, tambm, por meio desse contedo que as relaes com o ato de
alfabetizar se estabeleceram, na valorizao do conhecimento do outro, pelo
compartilhar.
Como afirma Morais (1996, p. 12-13) ao discorrer sobre a leitura:
Lemos para saber, para compreender, para refletir. Lemos tambm
pela beleza da linguagem, para nossa emoo, para nossa
perturbao. Lemos para compartilhar. Lemos para sonhar e para
aprender a sonhar. (...) Ler pastar, digerir, ler tambm respirar.
(...) O texto transforma-se em ser vivo. Ele respira, transpira, aceita
ser lido ou se recusa. Ele nos envolve.
Assim, o ato de ler possuiu a inteno de discutir, em forma de parceria,
as representaes e concepes terico-prticas da prxis pedaggica das
professoras; fosse pelo direcionamento do olhar para a sala de aula, fosse pela
vivncia no cotidiano escolar ou, ainda, pelo convite feito pela pesquisadora ao
dilogo e leitura das peas didticas. Isso se tornou possvel por meio da
proposio e abertura de caminhos para a interao entre pesquisadora e
professoras, na busca de que fosse refletido o processo de alfabetizao pelas
leituras e discusses das peas, vistas em seus princpios didticos.
A leitura das peas didticas e a construo de significados sobre o ato
de ler e escrever: algumas consideraes
As peas didticas, durante as entrevistas, ganharam vida, ou melhor,
tornaram-se vivas por meio das enunciaes verbais concretas, pelas
interaes verbais entre pesquisadora e professoras.
O dilogo constituiu-se em uma das formas possveis de ocorrer essa
interao, que sempre, de acordo com Bakhtin (2004), um fenmeno
sociolgico (ainda que seja uma enunciao individual) e esta a condio que
torna possvel seu desenvolvimento entre os indivduos; o eu e o outro so
consagrados pela linguagem, pelo dilogo.
Dessa forma, pesquisadora e professoras construram possveis
relaes entre a leitura das peas didticas, com seus sentidos e significaes;
e o processo de alfabetizao, com suas concepes, modos de fazer e
representaes.
Como principais discusses so destacadas:
A no acomodao em situaes do cotidiano e a mudana enquanto
possibilidade no fazer pedaggico se constituram em pontos de
discusso entre pesquisadora e professoras, traduzindo a idia de um
princpio didtico fundamental dessas peas: o de que possvel
modificar rotinas, criando outros caminhos e outras prticas;
Na leitura das professoras, a possibilidade de mudanas tem incio na
tomada de conscincia das atitudes e expectativas do sujeito. E isso
pode ocorrer quando o professor volta seu olhar para a prpria prtica,
analisando-a e posicionando-se como sujeito (ator) desse processo; a
ao-reflexo-ao das peas didticas;
A alfabetizao vista enquanto processo, um caminhar que se
desenvolve no fazer e na relao entre os sujeitos; essa idia remete ao
princpio de que mudanas se constituem em construes contnuas,
pressupondo o abandono de alicerces e caminhos pr-determinados. Os
modos de fazer e pensar em alfabetizao so refletidos luz do
princpio de estranhamento delineado nas peas didticas.
Durante as entrevistas, professoras e pesquisadora foram construindo
relaes entre a leitura das peas didticas (bem como o que elas nos levam a
pensar) e a reflexo do processo de alfabetizao (enquanto prpria prtica
pedaggica). As relaes e discusses realizadas tiveram embasamento
terico pautado, sobretudo, em Vigotski, Bakhtin e Brecht.
Os resultados e discusses podem ser agrupados e sintetizados em seis
eixos fundamentais, expressos pelas falas das professoras alfabetizadoras
durante as entrevistas.
1. A leitura das peas, o compartilhamento do ato de ler e as reflexes
suscitadas:
Eu acho que as peas te levam a pensar, essa coisa de no comeo eu achar
uma coisa, depois conseguir ver outra, concordar com ele, pensar, refletir,
ainda que eu no concorde ou concorde elas te levam a pensar. As nossas
conversas foram muito boas, me levaram a pensar muitas coisas, repensar
outras. (Professora Ana).
2. A prtica como meio de aprendizagem:
Eu descobri isso fazendo, na prtica n... quando eu parei de dar aula era uma
realidade, quando eu voltei era outra, ento foi um desafio, foi difcil, mas da
trabalhando que eu descobri que era o que eu queria fazer mesmo, da gostei
muito, acho que vale a pena, sempre um desafio, sempre em construo, tem
que adaptar realidade de cada ano, fazer diferente, porque eu, na minha
prtica, estou sempre construindo, medida que eu vejo que uma coisa no
funciona eu vou mudando, vou buscando outros caminhos, porque eu venho
com o esqueleto do meu trabalho e conforme a classe eu vou desenvolvendo
isso, ou pode ser que no esteja legal, vamos retomar (Professora Solange).
3. Desafios da prtica e interpretaes de leitura e vivncias:
H teorias que me ensinam que eu teria que trazer o cotidiano, que eu teria
que trabalhar no concreto dos alunos, mas no me explicou porque que ele
no sabia escrever o nome dele (...) quando a gente se depara com alunos
com dificuldade, penso por que que desta forma muitos alunos aprenderam e
este especificamente no aprende? Porque foi dada a mesma condio, ofereci
as mesmas oportunidades e ele no vai? Algumas concepes param a, no
me explicam porque este aluno no est aprendendo apesar de eu estar
diversificando ou dando um atendimento mais individualizado. Por que ele no
conseguiu? (Professora Ana).
4. Atividades que expressam significados atribudos alfabetizao:
O trabalho com o entendimento do texto, nem que seja oralmente, isso eu no
deixo de fazer. (...) Da a gente vai interferindo quando eles esto mais
acostumados, quando a leitura e a escrita tm significado pra eles, da a gente
v o que que est faltando aqui, o que que est faltando ali... (Professora
Maria Nazar).
5. Os significados do processo de alfabetizao luz dos princpios
didticos:
Na alfabetizao o professor no pode chegar com frmula pronta na sala de
aula, pelo menos eu no chego, eu vou com o objetivo e o incio n? Ento eu
acho que o professor tem que fazer este trabalho mesmo de trazer o aluno pro
mundo da leitura e da escrita, mostrar que aquilo uma coisa prazerosa. No
tem nada pronto, a gente vai construindo (Professora Solange).
6. Carter dinmico e em constante construo dos modos de fazer e
pensar em alfabetizao:
Minha atuao nunca vai ser suficiente pra mim, eu sempre vou achar que
est faltando alguma coisa, que eu sou capaz e que os meus alunos so
capazes de muito mais (Professora Ana).
Eu acho que a atuao muda, n (pausa) como se voc fosse por um
caminho e depois v que por aqui no, tenta de novo e de outra forma.
(Professora Solange).
s vezes voc fica pensando se vai dar certo, se isso mesmo, se est dentro
da proposta e se est dentro da proposta ser que vai ser vivel dar isso? Tem
sempre que refletir, ir mudando e ir adequando de acordo com as
necessidades. (...) Acho que as concepes e a minha atuao esto
caminhando juntas, tem que sempre que aperfeioar, pra aprender cada vez
mais e fazer cada vez mais um trabalho melhor (Professora Maria Nazar).
Assim, foi sendo realizada a reflexo dos princpios didticos (vistos
enquanto posturas, contedo e forma) frente prxis pedaggica das
professoras.
As peas didticas foram vivenciadas no ato de colocar o texto em
movimento, pelo ato de movimentar o pensamento, tendo como foco o
processo de alfabetizao e tendo como meio a inter-relao e o
compartilhamento da leitura, a produo de conhecimentos e a reflexo,
expressas pela construo de possibilidades e significados.
Reflexes e consideraes finais (o recomeo de outros pensamentos)
As peas didticas foram se constituindo, dessa forma, em instrumento
de reflexo do processo de alfabetizao, por meio dessa leitura
compartilhada, pela discusso dos princpios didticos inerentes a essas peas
e, sobretudo, quando professoras e pesquisadora se posicionavam em dilogo
constante e tenso com a prpria prtica; seja refletindo sobre as intricadas
malhas do fazer pedaggico, seja no desenvolvimento das anlises, estudos e
construo dessa pesquisa.
O processo de alfabetizao foi sendo delineado enquanto prtica de
comunicao e interao social e os modos de ensinar e aprender, colocados
em pauta pela reflexo dos princpios didticos, revelaram um processo de
alfabetizao em constante construo e re-construo, possuidor de um
carter dinmico e inconcluso; assim como a reflexo sobre a ao e como o
prprio fazer pedaggico.
Esses aspectos remetem ao princpio da ao nas peas didticas,
segundo o qual fazer melhor do que sentir; assim, na ao e por meio dela
que as professoras refletem, (re) estruturaram e (re) constroem suas
concepes, modos de ensinar e aprender, representaes e prticas sobre o
processo de alfabetizao.
As relaes entre as peas didticas e o processo de alfabetizao no
se esgotam nessa pesquisa, pois existem tantas relaes quantas leituras
forem possveis se desenvolver.
Portanto, so vrios os trajetos a serem percorridos, assim como podem
ser vrios os caminhos a serem trilhados...
(...) O rio que passa dura
Nas ondas que h em passar,
E cada onda figura
O instante de um lugar.
Pode ser que o rio siga,
Mas a onda que passou
outra quando prossiga.
No continua: durou.
(PESSOA, F. Poesias inditas. Lisboa: tica, 1970).
REFERNCIAS
AGUENA, C. A. et al. Alfabetizao: catlogo de base de dados. So Paulo:
FDE, 1990.
BAKHTIN, M. Questes de literatura e de esttica. A teoria do romance.
So Paulo: Hucitec, 1990.
___________. Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Hucitec, 2004.
BARBOSA, J. J. Alfabetizao e Leitura. So Paulo: Cortez, 1990.
BIRRAQUE, M. J. Brecht: cena engatilhada. 1975. Proposta brechtiana para
um teatro revolucionrio. Dissertao (Mestrado) Universidade de So Paulo,
1975.
BISCOLLA, V. M. Construindo a alfabetizao: um estudo de caso. 1989.
151p. Dissertao (Mestrado) Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da
Universidade de So Paulo. So Paulo, 1989.
BOAL, A. Teatro do oprimido e outras poticas polticas. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1980.
BOGDAN, R; BIKLEN, S. Investigao qualitativa em educao: uma
introduo teoria e aos mtodos. Lisboa: Porto Editora, 1994.
BORNHEIM, Gerd. Brecht: a esttica do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
BRECHT, B. O vo sobre o oceano (traduo de Fernando Peixoto) IN:
Teatro completo, 2
a
. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, v.3, 1992.
BRECHT, B. A pea didtica de Baden-Baden sobre o acordo (traduo de
Fernando Peixoto) IN: Teatro completo, 2
a
. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,
v.3, 1992.
BRECHT, B. Aquele que diz sim e aquele que diz no (traduo de Paulo
Csar Souza) IN: Teatro completo, 2
a
. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, v.3,
1992.
BRECHT, B. A deciso (traduo de Ingrid Dormien Koudela) IN: Teatro
completo, 2
a
. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, v.3, 1992.
BRECHT, B. A exceo e a regra (traduo de Geir Campos) IN: Teatro
completo, 2
a
. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, v.4, 1994.
CARVALHO, F.A.D. A pedagogia do espectador. 2001, 242p. Tese
(Doutorado) Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, 2001.
COELHO, M. H. M. Menor marginalizado: tentativas de alfabetizao. 1989.
89p. Dissertao (Mestrado em ) - Universidade Federal do Cear. Fortaleza,
1989.
COMNIO, J.A. Didtica magna. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1985.
CHARTIER, R. A histria cultural: entre prticas e representaes. Lisboa:
Difel, 1990.
FERREIRO, E. Reflexes sobre Alfabetizao. So Paulo: Cortez, 1993.
___________. Cultura escrita e educao: conversas de Emlia Ferreiro com
Jos Antnio Castorina, Daniel Goldin e Rosa Maria Torres. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
FIORAVANTE, M. L. Um trabalho coletivo em educao-alfabetizao:
carncia ou possibilidade? 1983. 452p. Dissertao (Mestrado) - Fundao
Getlio Vargas. Rio de Janeiro, 1983.
FREIRE, P. A importncia do ato de ler em trs artigos que se completam.
So Paulo: Autores Associados, Cortez, 1984.
FREITAS, H.C.L. Alfabetizao e universo cultural: anlise de cartilhas
utilizadas nas escolas de Campinas. 1979. 157p. Dissertao (Mestrado)
Faculdade de Educao, Universidade de Campinas. Campinas, 1979.
GONALVES, J. E. A significao do processo de alfabetizao na
criana. 1978. 92p. Dissertao (Mestrado) - Universidade Federal
Fluminense. Niteri, 1978.
GUMPERZ, J. C. A construo social da alfabetizao. Porto Alegre: Artes
Mdicas, 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Ministrio do
Planejamento e gesto. Disponvel em <http//www.ibge.gov.br>. Acesso em: 8
maro 2005.
KOUDELA, I. D. A pea didtica de Bertolt Brecht: um jogo de
aprendizagem. 1987. 233p. Tese (Doutorado em artes) - Depto Artes Cincias
da Eca, Universidade de So Paulo, 1987.
___________.Modelo de ao no jogo teatral: A pea didtica de Bertolt
Brecht. 1995. 163p. Tese (Livre Docncia) Depto Artes Cnicas da Eca,
Universidade de So Paulo, 1995.
LDKE, M; ANDR, M.E.D.A. Pesquisa em educao: abordagens
qualitativas. So Paulo: EPU, 1986.
MALNIC, M. P. Aspectos da recepo de Brecht no Brasil. Dissertao
(Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da
Universidade de So Paulo, 1980.
MONIZ, E. Bertolt Brecht: antologia poltica. So Paulo: Perspectiva, 1983.
MORAIS, J. A arte de ler. So Paulo, Ed. UNESP, 1996.
MORTATTI, M.R.L. Os sentidos da alfabetizao. So Paulo, Ed. UNESP:
CONPED, 2000.
PASTA, Jr. J. A. Trabalho de Brecht: breve introduo ao estudo de uma
classicidade contempornea. So Paulo: tica, 1986.
PEIXOTO, F. Brecht: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.
PEIXOTO, F. Brecht: Uma introduo ao teatro dialtico. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1981.
PIEVE, M. G. Por uma alfabetizao pluriforme nos ciclos de idade. 2000.
157p. Tese (Mestrado) - Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do
Sul. Rio Grande do Sul, 2000.
PISCATOR, E. Teatro Poltico. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1968.
SALIM, T. M. Alfabetizao: ponto de partida ou ponto final? 1984. 111 p.
Tese (Mestrado) Pontifcia Universidade Catlica. Rio de Janeiro, 1984.
SILVA, L. L. M. et al. O ensino de lngua portuguesa no primeiro grau. So
Paulo: Atual, 1986.
SMOLKA, A. L. B. A criana na fase inicial da escrita: a alfabetizao como
processo discursivo. So Paulo: Cortez; Campinas, SP: Editora da Unicamp,
1988.
SOARES, M. B. Letramento: um tema em trs gneros. Belo Horizonte:
Autntica, 2002.
_____________. Dossi: Letramento. Educao & Sociedade. Revista de
Cincias da Educao, So Paulo: Cortez; Campinas: Cedes, n.23, p.1-328,
dez. 2002.
_____________. Letramento e Alfabetizao: as muitas facetas. Revista
Brasileira de Educao, So Paulo, n.25, p.5-17, jan/abr. 2004.
SOARES, M. B; MACIEL, F. Alfabetizao. Braslia: MEC/Inep/Comped, Srie
Estado do Conhecimento, 2000.
TANAKA, A. Y. et al. Alfabetizao: catlogo de base de dados. So Paulo:
FDE, v.4, 1994.
VIGOTSKI, L. S. A formao social da mente: o desenvolvimento dos
processos psicolgicos superiores. So Paulo: Martins Fontes, 1998.
WOLF, V. Objetos slidos. So Paulo: Siciliano, 1992.
ZAN, C. Tendncias Atuais da Alfabetizao. Cadernos de Pesquisa, So
Paulo, v.2, n. 1, p.76-91, 1993.
Você também pode gostar
- TRIAGEM PSICOLÓGICA - Roteiro para EntrevistaDocumento7 páginasTRIAGEM PSICOLÓGICA - Roteiro para EntrevistaMário Jorge75% (8)
- 1 ACCLE Bateria de Testes de Avaliação Das Competências de Linguagem para A Leitura e Escrita. Registo No IGAC N.ºDocumento10 páginas1 ACCLE Bateria de Testes de Avaliação Das Competências de Linguagem para A Leitura e Escrita. Registo No IGAC N.ºMário Jorge100% (1)
- Educar Sem Gritar, Com Base No Coração e Na ResponsabilidadeDocumento5 páginasEducar Sem Gritar, Com Base No Coração e Na ResponsabilidadeMário Jorge100% (1)
- Modelo PROJETO ACELERA APRENDIZAGEM EDITADODocumento13 páginasModelo PROJETO ACELERA APRENDIZAGEM EDITADOSecretaria de EducaçãoAinda não há avaliações
- BBT - Teste de Fotos e ProfissõesDocumento6 páginasBBT - Teste de Fotos e ProfissõesMário JorgeAinda não há avaliações
- Práticas Estratégias Educativas Na PhdaDocumento196 páginasPráticas Estratégias Educativas Na PhdaMário Jorge100% (1)
- Domínios de Esquemas Precoces Na DepressãoDocumento15 páginasDomínios de Esquemas Precoces Na DepressãoMário JorgeAinda não há avaliações
- A Importância Do Vínculo Mãe-Bebê No Processo de Desenvolvimento de Uma Criança - Psicologia Clínica - AtuaçãoDocumento6 páginasA Importância Do Vínculo Mãe-Bebê No Processo de Desenvolvimento de Uma Criança - Psicologia Clínica - AtuaçãoMário JorgeAinda não há avaliações
- Atividades Divertidas para AlfabetizarDocumento9 páginasAtividades Divertidas para AlfabetizarMargareth SantosAinda não há avaliações
- Dificuldades de Aprendizagem Na Leitura e Na EscritaDocumento135 páginasDificuldades de Aprendizagem Na Leitura e Na EscritaMário JorgeAinda não há avaliações
- Dislexia - Questões FrequentesDocumento5 páginasDislexia - Questões FrequentesMário JorgeAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Cultura EscolarDocumento190 páginasDireitos Humanos e Cultura EscolarJulio SosaAinda não há avaliações
- 2 Cadernos Cenpec n2 Educacao Integral SebDocumento169 páginas2 Cadernos Cenpec n2 Educacao Integral SebWladimir Stempniak MeskoAinda não há avaliações
- Uma História Social Do ConhecimentoDocumento35 páginasUma História Social Do ConhecimentoMário JorgeAinda não há avaliações
- Conhecendo High ScopeDocumento9 páginasConhecendo High ScopeMário JorgeAinda não há avaliações
- O Mindfulness É A Espiritualidade Do CapitalismoDocumento6 páginasO Mindfulness É A Espiritualidade Do CapitalismoMário JorgeAinda não há avaliações
- Efeito PigmaliãoDocumento3 páginasEfeito PigmaliãoMário JorgeAinda não há avaliações
- A Dislexia e o Contexto EscolarDocumento15 páginasA Dislexia e o Contexto EscolarMário JorgeAinda não há avaliações
- Piaget, Vygotsky e Wallon - Tripé Teórico Da EducaçãoDocumento5 páginasPiaget, Vygotsky e Wallon - Tripé Teórico Da EducaçãoMário JorgeAinda não há avaliações
- Projeto Didático o Sanduiche Da MaricotaDocumento48 páginasProjeto Didático o Sanduiche Da Maricotaelsianap4Ainda não há avaliações
- Geografia e Os Desafios Da Escola PublicaDocumento52 páginasGeografia e Os Desafios Da Escola Publicarebeca_borges_1Ainda não há avaliações
- Passaporte para Qualquer Lugar Do Mundo Da Escrita e Da Leitura PDFDocumento40 páginasPassaporte para Qualquer Lugar Do Mundo Da Escrita e Da Leitura PDFPrisvolpeAinda não há avaliações
- Projeto PNAICDocumento40 páginasProjeto PNAICAnna.Ainda não há avaliações
- Atividade de Produção Textual Sobre A Sua InfânciaDocumento1 páginaAtividade de Produção Textual Sobre A Sua InfânciaLuciana BarateliAinda não há avaliações
- Guia PNLD 2023 Anos Iniciais Ensino Fundamental Obras Didaticas ApresentacaoDocumento55 páginasGuia PNLD 2023 Anos Iniciais Ensino Fundamental Obras Didaticas ApresentacaoNatan Oliveira FerreiraAinda não há avaliações
- E-Book InterpretAÇÃO CRIANDO BONS LEITORESDocumento49 páginasE-Book InterpretAÇÃO CRIANDO BONS LEITORESAdriana De Souza BatistaAinda não há avaliações
- Variação Linguistica - Parte 3Documento16 páginasVariação Linguistica - Parte 3KamilaAinda não há avaliações
- 4.2 Língua Portuguesa - Análise Da ACARA - Ing PDFDocumento76 páginas4.2 Língua Portuguesa - Análise Da ACARA - Ing PDFyechezkielAinda não há avaliações
- DIALOGOS INTERCULTURAIS CURRICULO E EDUCacaoDocumento224 páginasDIALOGOS INTERCULTURAIS CURRICULO E EDUCacaoInocêncio pascoalAinda não há avaliações
- Caderno de Orientações Prioritárias para A Pré-EscolaDocumento38 páginasCaderno de Orientações Prioritárias para A Pré-EscolajoeliaAinda não há avaliações
- Apostila I Discriminacao VisualDocumento58 páginasApostila I Discriminacao VisualGleilza MartinsAinda não há avaliações
- As Novas Tecnologias Como Tecnologia Assistiva: Utilizando Os Recursos de Acessibilidade Na Educação EspeciDocumento77 páginasAs Novas Tecnologias Como Tecnologia Assistiva: Utilizando Os Recursos de Acessibilidade Na Educação Especipedroaugusto00Ainda não há avaliações
- Oficina de AlfabetizaçãoDocumento26 páginasOficina de AlfabetizaçãoAlda Cavalcante100% (1)
- VERIFICADO Texto PedroVagnerultimaversaoDocumento23 páginasVERIFICADO Texto PedroVagnerultimaversaoPedro VagnerAinda não há avaliações
- Planejamento Nas Séries Iniciais Do Ensino FundamentalDocumento34 páginasPlanejamento Nas Séries Iniciais Do Ensino FundamentalFernandoAinda não há avaliações
- Alfabetização E Letramento: Uma Reflexão Sobre A Importância Desse Processo Nas Séries Iniciais Raile Cabral Barbosa Cristina Leite de BritoDocumento22 páginasAlfabetização E Letramento: Uma Reflexão Sobre A Importância Desse Processo Nas Séries Iniciais Raile Cabral Barbosa Cristina Leite de BritoVanessa MartinsAinda não há avaliações
- PortfólioDocumento11 páginasPortfólioElizapaula GarciaAinda não há avaliações
- 1 Especificos Portugues InglesDocumento156 páginas1 Especificos Portugues InglesJanice FerreiraAinda não há avaliações
- Apromoção Da Leitura Revisto 13-07Documento12 páginasApromoção Da Leitura Revisto 13-07Marcia CostaAinda não há avaliações
- Ensino Fundamental Um Relatorio de EstagDocumento17 páginasEnsino Fundamental Um Relatorio de EstagDííh GarciaAinda não há avaliações
- Audiodescrição Como Ferramenta PedagógicaDocumento51 páginasAudiodescrição Como Ferramenta PedagógicamarxmenezesAinda não há avaliações
- Currículo - Atividades ComplementaresDocumento12 páginasCurrículo - Atividades ComplementaresEliane Lima BarbosaAinda não há avaliações
- Edital 10-2016 - Provas (Código 61 Ao 90)Documento59 páginasEdital 10-2016 - Provas (Código 61 Ao 90)Mazé Santos LimaAinda não há avaliações
- Alfabetização. Por Onde ComeçarDocumento1 páginaAlfabetização. Por Onde ComeçarmyramarcelAinda não há avaliações
- Peb II CienciasDocumento12 páginasPeb II CienciasElton Freitas do BomfimAinda não há avaliações