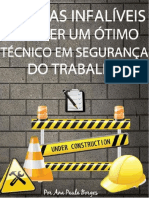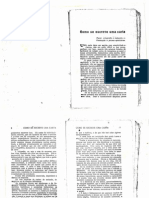Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas PDF
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas PDF
Enviado por
Gex GeoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas PDF
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas PDF
Enviado por
Gex GeoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fundao Konrad Adenauer
e
Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Fortaleza, Cear
2006
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas
Manejo sustentvel de recursos naturais
em regies semi-ridas no Nordeste do Brasil
Copyright 2006
EDITOR RESPONSVEL
Klaus Hermanns
ORGANIZADORES
Angela Kster
Jaime Ferr Mart
Ingo Melchers
COORDENAO EDITORAL
Miguel Macedo
COPYDESK
Vianney Mesquita
CAPA
Wiron Teixeira
DIAGRAMAO
Wagno @lves
Impresso em papel reciclado
Impresso no Brasil Printed in Brasil
As opinies externadas nas contribuies deste livro so
de exclusiva responsabilidade dos seus autores
Todos os direitos desta edio reservados
FUNDAO KONRAD ADENAUER
Av. Dom Lus, 880 - Salas 601/602 - Aldeota
60160-230 - Fortaleza - CE - Brasil
Telefone: 0055 - 85 - 3261.9293 / Telefax: 00 55 - 85 - 3261.2164
www.sustentavel.inf.br
e-mail: kas-fortaleza@adenauer.org.br
e
GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT - (GTZ) GmbH
Programa de Desenvolvimento Regional no Nordeste do Brasil voltado para o Combate Pobreza
Rua Joaquim Felipe, 101
50050-340 - Recife - PE - Brasil
Telefone: 0055 - 81 - 3221.0075 / Telefax: 00 55 - 81 - 3222.1959
T264g
Tecnologias Apropriadas para Terras Secas - Manejo sustentvel de recursos
naturais em regies semi-ridas no Nordeste do Brasil /organizadores: Angela
Kster, Jaime Ferr Mart, Ingo Melchers - Fortaleza: Fundao Konrad Adenauer,
GTZ 2006.
212p.
ISBN 85-99995-02-2
1. Recursos naturais - Conservao - Brasil, Nordeste. 2. Desenvolvimento susten-
tvel - Brasil, Nordeste. I. Kster, Angela. II Mart, Jaime Ferr. III. Melchers, Ingo.
IV. Konrad-Adenauer-Stiftung V. Deutsche Gesellschaft fr technische Zusamme-
narbeit
CDD - 323.60981
Sumrio
Os Autores ................................................................................................................5
Apresentao ........................................................................................................ 11
Introduo: Tecnologias para o semi-rido nordestino ................. 15
Angela Kster, Jaime Ferr Mart
I Energias renovveis no semi-rido
1 Desertifcao e a questo energtica no semi-rido
brasileiro: desafos e oportunidades para as energias renovveis 21
Luiz Augusto Horta Nogueira
2 Plo gesseiro de Pernambuco
Diagnstico e perspectivas de utilizao dos energticos
forestais na regio do Araripe ...................................................................... 51
Eliseu Rossato Toniolo, Julio Paupitz e Francisco Barreto Campello
3 Biodiesel e o combate desertifcao ................................................. 71
Ingo Melchers
4 Tecnologias para o desenvolvimento sustentvel
do semi-rido ........................................................................................................83
Jrgdieter Anhalt
II Tecnologias para o manejo de gua e do solo
5 Tecnologias de captao e manejo de gua de chuva em regies
semi-ridas ..................................................................................................................... ....103
Johann (Joo) Gnadlinger
6 P1MC: a sociedade civil executando uma
poltica pblica ................................................................................................. 123
Elzira Saraiva
7 A Bomba d gua Popular e a construo
do programa BAP ............................................................................................. 139
Kurt Damm e Neide Farias
8 As barragens de conteno de sedimentos para
conservao de solo e gua no semi-rido ........................................... 157
Jos Carlos Arajo
III Tecnologias para a produo agrcola sustentvel no semi-rido
9 Manejo sustentvel da Caatinga ............................................................ 169
Gerda Nickel Maia
10 Crculos de prosperidade
Projeto Mandalla DHSA ............................................................................ 177
Fredericky Labad e Nina Rodrigues
11 Uma estratgia alternativa para a viabilizao
da caprino e da ovinocultura
de base familiar do semi-rido ................................................................... 195
Clovis Guimares Filho
5
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
OS AUTORES
Angela Kster doutora em cincias poltica pela Universidade
Livre de Berlim. Desde 2001 coordena projetos da Fundao Konrad
Adenauer, escritrio Fortaleza e a partir de 2006 atua como coordena-
dora geral do projeto Agricultura Familiar, Agroecologia e Mercado,
co-fnanciado pela Unio Europia.
Jaime Ferr Mart engenheiro agrnomo e mestrando em ci-
ncias do solo e nutrio de plantas pela Universidade Federal do Cea-
r. Atualmente coordenador tcnico do projeto Agricultura Familiar,
Agroecologia e Mercado pela Fundao Konrad Adenauer e coordena-
dor da clula de Agricultura Urbana na Secretaria de Desenvolvimento
Econmico da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Luiz Augusto Horta Nogueira consultor internacional em
bioenergia, tendo trabalhado para diversas agncias das Naes Unidas.
Entre 1998 e 2004 foi diretor da ANP - Agncia Nacional de Petrleo
e atualmente professor titular do Instituto de Recursos Naturais da
UNIFEI - Universidade Federal de Itajub.
Eliseu Rossato Toniolo engenheiro forestal, especialista e
mestre em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. Foi especia-
lista nacional em Sensoriamento Remoto no projeto de cooperao
tcnica na rea forestal (PNUD/FAO/IBAMA) nos Estados de Per-
nambuco, Paraba, Rio Grande do Norte e Cear entre 1991 e 1997. Foi
coordenador do projeto IBAMA/PNUD/BRA/93/033 e responsvel
pela rea Florestal do Projeto (Manejo Florestal, Extenso Florestal)
no Estado do Cear em 1996. consultor em Sensoriamento Remoto
e Manejo Florestal desde 1991. Diretor da Empresa GEOPHOTO
6
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
desde 1998.
Francisco Barreto Campello engenheiro forestal com especia-
lizao em Desenho e Gesto de Projetos Florestais Participativos. Atua
nas reas de Planejamento, Extenso e Manejo Florestal junto a Projetos
de Cooperao Tcnica do Governo Brasileiro com as Naes Unidas
no Nordeste. Foi coordenador geral da coordenao Geral de Gesto de
Florestas Nacionais e Reservas Equivalentes da Diretoria de Florestas
do IBAMA. Foi Diretor Substituto da Diretoria de Florestas do IBAMA
e atualmente o coordenador regional do Projeto de Conservao e
Uso Sustentvel na Caatinga MMA/PNUD/GEF/BRA/02/G3.
Julio Paupitz engenheiro forestal, mestre em micro-economia
forestal. Atuou como gerente de projetos de desenvolvimento fores-
tal com nfase na gerao de processos de participao de populaes
camponesas em co-manejo de reas protegidas. Foi funcionrio da FAO
e nessa capacidade trabalhou no Peru na promoo de um programa
de extenso forestal para o desenvolvimento de fontes renovveis de
energia na regio andina. Trabalhou como consultor em diversos pases
latino americanos. Atualmente reside em Curitiba e se encontra a servio
de STCP Engenharia de Projetos como consultor permanente na fun-
o de planejador de projetos e analista de aspectos socio-ambientais.
Ingo Melchers engenheiro agrnomo e trabalha atualmente como
coordenador do componente Combate Desertifcao do Programa
Nordeste da GTZ.
Jrgdieter Anhalt engenheiro mecnico formado pela Univer-
sidade de Wilhelmshaven, na Alemanha. Tambm tem cursos nas reas
de gerenciamento de projetos, planejamento de projetos por objetivos,
mecnica fna e economia de recursos naturais, dentre outros. autor de
vrios artigos apresentados no Brasil e no Exterior. Sua experincia pro-
fssional inclui o Centro de Pesquisa Nuclear Jlich (Alemanha), Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais e a Sociedade Alem de Cooperao
Tcnica (GTZ), onde foi administrador do Programa de Disseminao
de Energias Renovveis - PRODER. Desde 1996, Diretor do Institu-
to de Desenvolvimento Sustentvel e Energias Renovveis (IDER) e da
Brasil Energias Solar e Elicia Ltda (BRASELCO).
7
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
8
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Joo (Johann) Gnadlinger nasceu na ustria, e est vivendo per-
manentemente no Brasil desde 1977. Ele estudou pedagogia (mestrado),
na Universidade de Salzburg, ustria, e Manejo do Meio Ambiente e
gua (mestrado), na Universidade de Londres, Inglaterra. Desde 1991,
est trabalhando no IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecu-
ria Apropriada), em Juazeiro-BA, e se dedica ao manejo do meio am-
biente e da gua, especialmente no Semi-rido Brasileiro. Em 1999 foi
um dos fundadores da ABCMAC (Associao Brasileira de Captao
e Manejo de gua de Chuva) e presidente da entidade desde 2003.
Atualmente presidente da Associao Brasileira de Captao e Manejo
de gua de Chuva ABCMAC, Petrolina, PE e Assessor do Instituto
Regional da Pequena Agropecuria Apropriada IRPAA, Juazeiro, BA,
cooperador da Agncia Austraca de Colaborao para o Desenvolvi-
mento Horizont 3000, Viena, ustria.
Elzira Maria Rodrigues Saraiva agrnoma e scia-fundadora
do ESPLAR. Atualmente coodena a equipe tcnica do P1MC, uma vez
que o ESPLAR a Unidade Gestora Microregional (UGM) que atende
ao Frum Microrregional Fortaleza de Convivncia com o Semi-rido.
Kurt Damm comerciante industrial, profssional na rea de
Recusos Humanos, consiliador com estudos acadmicos em Histria,
Sociologia e Cincias Politicas. Desde dos anos 80 trabalha na rea da
Cooperao Internacional. Atualmente atua como cooperante do DED
no projeto da Bomba dgua Popular, em Juazeiro-BA.
Neide Farias tcnica agrcola. Filha de agricultores familiares
com experincia em agroecologia, ela est cursando o 4 perodo de
Faculdade de Administrao de Pequena e Media Empresa. Atualmente
coordenadora executiva do Programa Bomba dgua Popular.
Jos Carlos de Arajo engenheiro civil pela Universidade Fede-
ral do Cear (1985); mestre em Engenharia Civil pela Universidade de
Hannover, Alemanha (1989); doutor em Engenharia Civil (Hidrulica e
Saneamento) pela Universidade de So Paulo (1994) e ps-doutorado
pela Universidade de Birmingham, Reino Unido (2004). Foi engenheiro
da Consultora SIRAC (1985 - 1988); professor da Universidade Federal
de Ouro Preto, MG, (1993 - 1997); consultor da COGERH na rea
9
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
gesto de recursos hdricos (1996 - 1997) e professor da Universidade
Federal do Cear desde 1997. reas de atuao: gesto de recursos h-
dricos, modelagem hidrolgica do semi-rido e processos erosivos em
bacias hidrogrfcas.
Gerda Nickel Maia graduada em Cincias Florestais pela Uni-
versidade Georg-August, em Gttingen e especializada em Agroecolo-
gia e Agroforesta. De origem alem, reside em Fortaleza, Cear, desde
o fnal dos anos 90. Desenvolveu estudos para diversas instituies, com
enfoque na caatinga, no desenvolvimento de um manejo sustentvel e
em sistemas agroforestais para a regio semi-rida do nordeste. Em
2004 publicou o livro Caatinga rvores e arbustos e suas utilidades.
Nina Rodrigues jornalista h 20 anos com dezesseis anos de
experincia em televiso e especializao em Jornalismo Ambiental, no-
tadamente em Permacultura. Em 1993, chefou a Central de Jornalismo
da TV Cabugi, afliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte. Nos
anos de 1994 a 1996, chefou a Sucursal da TV Record em Braslia.
co-autora de O Livro das Deusas, lanado pela Publifolha em dezembro
de 2005 e editora da revista PERMEAR sobre Ecologia.
Fredericky Labad formado em Comunicao Social pela Uni-
versidade Federal da Paraba com vasta experincia em televiso e Rdio.
Em 2004 foi um dos co-participantes responsveis pela criao e ideali-
zao da TV UFPB. Trabalhou como responsvel pela criao de peas
publicitrias na Coordenao de Educao a Distncia da Universidade
Federal da Paraba. Em maio de 2005 foi convidado para assumir a Ges-
to de Comunicao da Agncia Mandalla - DHSA onde atualmente se
encontra em atividade.
Clovis Guimares Filho, graduado em Medicina-Veterinria,
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Master of Science
em Animal Science pela University of Arizona, Tucson, USA. Ex-pes-
quisador da Embrapa Semi-rido (CPATSA), onde ocupou o cargo de
Chefe-Adjunto de Pesquisa & Desenvolvimento, e, como pesquisador,
publicou de 50 trabalhos e artigos tcnico-cientfcos sobre pecuria (ca-
prino-ovinocultura) e desenvolvimento da regio semi-rida. Atualmen-
te consultor de organizaes de produtores (Associao de Criadores
de Caprinos e Ovinos de Petrolina e Regio ASCCOPER, com sede
em Petrolina-PE e Cooperativa Agroindustrial do Semi-rido CO-
GRISA, com sede em Jaguarari-BA). Presta servios de consultoria
ainda Embrapa (Programa de Pesquisa em Agricultura Familiar), ao
SEBRAE-PE e GTZ.
11
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Apresentao
A discusso e o desenvolvimento de tecnologias adequadas para o
semi-rido est ganhando mais ateno pela emergncia do avano da
desertifcao e da desestruturao social das reas rurais. A demanda
por tecnologias adaptadas e de baixo custo tem seu foco na agricultura
familiar, que ainda prevalece no Nordeste brasileiro. Cerca da metade
das 4 milhes unidades produtivas da agricultura familiar em todo o
Brasil se encontram no Nordeste, a maior parte desses em condies de
sustentao social e econmica difceis.
O desafo secular consiste em encontrar no um, mas muitos e di-
ferentes caminhos para reduzir as desigualdades e a pobreza e assim
mudar a face do serto, mostrando sua viabilidade e diversidade. Entre
os atores de mudana da face do semi-rido destacam-se os movimen-
tos sindicais e sociais, notadamente a Articulao no Semi-rido, ASA,
algumas empresas privadas comprometidas com a questo social e uma
srie de aes e programas governamentais que ampliam o acesso da
agricultura familiar a tcnicas apropriadas e sustentveis em prol de uma
convivncia com o semi-rido e de redistribuio de renda. Evidente-
mente devem ser destacadas as mltiplas aes de captao, uso e gesto
participativa de gua.
A Alemanha um dos pases que investe na cooperao tcnica para
o desenvolvimento sustentvel e o combate pobreza no Nordeste.
A Fundao Konrad Adenauer desenvolve, por meio do seu escri-
trio em Fortaleza, um programa com este objetivo e realiza diferentes
atividades no mbito das estratgias de convivncia com o semi-rido,
em parceria com a Articulao do Semi-rido (ASA), o Frum Cearen-
12
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
se pela Vida no Semi-rido e outras organizaes da sociedade civil e
instituies do poder pblico. Em 2005, promoveu em Fortaleza um
seminrio sobre tecnologias apropriadas para o semi-rido, reunindo
pesquisadores, organizaes no governamentais e governamentais, que
apresentaram e discutiram tecnologias desenvolvidas para solucionar
problemas relacionados captao de gua, preservao de solos e ma-
nejo sustentvel de recursos naturais. Este ano 2006 iniciou o projeto
Agricultura Familiar, Agroecologia e Mercado, que recebe para cinco
anos o co-fnanciamento da Unio Europia e conta com a parceria
do Centro de Cincias Agrrias da Universidade Federal do Cear e do
CETRA. O projeto tem entre seus objetivos o fortalecimento da organi-
zao social e da qualifcao de agricultores familiares na produo, pla-
nejamento, gesto e comercializao de produtos orgnicos, com maior
participao de mulheres e jovens e a difuso de tecnologias apropriadas
e adaptadas para o manejo sustentvel dos recursos naturais (solos e
gua), o reforestamento e o combate desertifcao.
Esta publicao se desenvolve em parceria com a GTZ, que apia
h 40 anos projetos brasileiros, com o objetivo de reduzir as desigualda-
des sociais e contribuir para a proteo do meio ambiente. Atravs do
Programa Nordeste e seu componente Combate Desertifcao, a
GTZ contribuiu para a elaborao e colabora na implementao do Pla-
no de Ao Nacional de Combate Desertifcao e Mitigao dos Efei-
tos da Seca (PAN). Para tal trabalha em estreita parceria com a Secretaria
de Recursos Hdricos no Ministrio de Meio Ambiente, SRH/MMA e
a ASA. Para apoiar formas sustentveis de uso de terras no semi-rido
coopera com governos estaduais e o Ministrio de Desenvolvimento
Agrrio, MDA. Outro programa da GTZ, o apoio ao combate pobre-
za, em parceria com a empresa privada, contribui para o fortalecimento
e empoderamento dos agentes sociais, notadamente do movimento sin-
dical e da agricultura familiar na produo de mamona para biodiesel.
Tambm o Servio Alemo de Cooperao Tcnica e Social (DED)
contribui para o desenvolvimento e a difuso de tecnologias. Atualmen-
te, atua na produo do biodiesel e, junto com a ASA, na implantao
de bombas de poos profundos, cujas guas complementam as de boa
qualidade das cisternas para usos domsticos e de salvao para caprino
e ovinos assim como para pequenos plantios no semi-rido.
13
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Num esforo em conjunto, trazemos aqui para o pblico interessa-
do no tema uma coletnea de artigos sobre as tecnologias e questes
relevantes, que esto sendo desenvolvidas e implementadas pelos mais
diversos atores de variadas reas para o manejo dos recursos naturais no
semi-rido.
Desta forma a publicao aqui apresentada rene a discusso de
energias renovveis como estratgia para um desenvolvimento susten-
tvel do semi-rido e o combate desertifcao com a apresentao de
tecnologias simples, mas poderosas, para o manejo de gua e solos, me-
lhorando a vida das famlias pobres e a produo agropecuria familiar.
Esperamos contribuir atravs dessa publicao com a difuso dessas
tecnologias e debates para o manejo sustentvel dos recursos no semi-
rido, que no so to escassos, mas muitas vezes mal aproveitadas ou
destrudas por falta de conhecimento.
Dr. Klaus Hermanns
Representante da Fundao Konrad Adenauer no Norte e Nordeste do
Brasil, exritrio de Fortaleza
Dra. Annette Backhaus
Diretora do Programa Desenvolvimento regional no Nordeste do
Brasil voltado para o Combate Pobreza - GTZ
15
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Introduo: Tecnologias para o semi-rido
nordestino
Angela Kster Jaime Ferr Mart
Tecnologias adequadas (TA) para o manejo sustentvel dos recursos
naturais do semi-rido, como apresentadas nesta publicao, desenvol-
vem-se em benefcio da agricultura familiar, que ainda predomina no
Nordeste. No mbito de um desenvolvimento rural sustentvel, estas
propostas de tecnologias inovadoras ou resgatadas do esquecimento his-
trico, se mostram cada vez mais estratgicas.
Com a difuso dessas tecnologias adequadas, adaptadas ou alterna-
tivas no se propem nada menos do que uma mudana profunda de
sistemas de produo agropecuria, desenvolvidos desde a colonizao,
que at hoje no correspondem s necessidades bsicas da maioria da
populao.
Uma retrospectiva histrica necessria para entender por que a po-
breza das regies semi-ridas do Nordeste continua sendo um dos gran-
des desafos para o Brasil. O processo de ocupao europia iniciou pelo
Estado da Bahia, instalando a primeira capital do Pas em Salvador. Foi
onde se iniciou a explorao dos recursos naturais pelo ciclo do pau-bra-
sil, de forma extrativista e desordenada, levando devastao da mata
atlntica - um dos primeiros crimes ecolgicos da histria do Brasil.
Os habitantes originais - as populaes indgenas - foram expulsos,
disseminados ou escravizados e deixaram poucos e pequenos grupos
remanescentes, que hoje ainda insistem na sua cultura original, mas per-
deram muitos dos conhecimentos tradicionais sobre o manejo adequado
dos ecossistemas sensveis como a caatinga.
16
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Os novos habitantes trouxeram tcnicas e espcies de outros conti-
nentes para estas regies, sem considerar ou conhecer melhor a natureza
dos ecossistemas locais. Com o tempo, a explorao e o manejo inade-
quado levaram ao empobrecimento dos solos, e at desertifcao e
perda da biodiversidade.
Os fazendeiros, que se instalaram na regio, cultivavam plantas estra-
nhas aos sistemas ecolgicos. Desmatando as costas, trouxeram coco da
India, milho e feijo do Mxico e cana-de-acar da sia para o Nordeste.
Algumas plantas e hbitos alimentares, porm, ainda tm suas razes na
cultura indgena, como a mandioca e o caju; mas o sistema de produo
agropecurio, desenvolvido nestes sculos, no considerou plantas e ani-
mais nativos, introduzindo grandes fazendas com monoculturas de cana-
de-acar ao longo da costa da Bahia at Pernambuco. No interior criou-
se gado e foram produzidos binmios de grandes culturas como milho,
feijo e arroz para alimentar as fazendas e as cidades crescentes.
A industrializao da agricultura no sculo XX trouxe um novo mo-
delo do Sudeste para o Nordeste, basicamente europeu e adaptado para
o clima mais ameno do Sul. A eroso dos solos aumentou com a cultura
de terrenos limpos, onde se criou um cculo vicioso. A ao do homem
no campo inicialmente a retirada de toda a madeira disponvel para
lenha e carvo. Depois ele queima os restos que no aproveita, e em
seguida coloca um roado de milho e feijo. Aps a colheita entra com
os animais para que consumam os restos culturais. Por essas aes um
solo geralmente com perfl raso, de baixa fertilidade e agora totalmente
descoberto, fca compactado. No absorve mais gua, e a eroso leva
perda da terra por enxurrada, que corre para os leitos e assoreiam os rios
e canais. Esse sistema de cultivo de baixa produo tem uso no mximo
de duas colheitas. A rea abandonada, correndo risco de desertifcao,
e se abrem outro campo e outro ciclo de devastao.
So estes crculos viciosos dos sistemas de produo agropecuria,
que as iniciativas da sociedade civil e alguns programas governamentais
procuram modifcar. Por isso, as tecnologias simples e adaptadas s re-
alidades locais ganharam mais espao nas discusses sobre o desenvol-
vimento rural sustentvel, mostrando formas opcionais de um manejo
mais adequado dos recursos escassos, dando prioridade para a gua.
Sabe-se, hoje, que o problema do Nordeste no a falta de chuva,
17
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
mas de polticas de armazenamento, distribuio e gesto, alm de tec-
nologias adequadas para a captao de chuva. Bombas dgua populares
ou cisternas no trazem os benefcios dos megaprojetos de abasteci-
mento de gua, que benefciam na maioria das vezes a agroindstria,
como criticado no caso da polmica transposio do rio So Francisco.
As tecnologias para a captao de gua de chuva e de poos profundos,
entretanto, podem aumentar o abastecimento de gua a um custo relati-
vamente baixo. Alm disso, passam para as comunidades a responsabili-
dade de gerenciar seu prprio abastecimento de gua e contribuem desta
forma para a sua organizao social e a auto-gesto.
Foi esse o pensamento que levou organizaes sociais e de asses-
soria tcnica a desenvolvem o Programa 1 Milho de Cisternas, hoje
apoiado pelo Ministrio do Meio Ambiente e executado por atualmente
750 entidades, que fazem parte da Articulao do Semi-rido - ASA. O
P1MC mobiliza e capacita famlias na construo das cisternas, e, como
avaliado pela ASA, em dois anos iniciaram mudanas sociais, polticas e
econmicas na regio semi-rida. Aumentou a freqncia escolar, e re-
duzio-se o nmero de pessoas com doenas provocadas pelo consumo
da gua contaminada. Um fator importante foi a articulao das organi-
zaes da sociedade civil no Nordeste neste processo, criando estrutu-
ras de comunicao e intercmbios, culminando na realizao anual do
Encontro Nacional da ASA (Enconasa).
O programa exemplar para mostrar por que a difuso de tecnolo-
gias adequadas tambm uma questo social, trazendo instrumentos
para amenizar a hostilidade do clima, mas contribuindo tambm para a
organizao dos produtores familiares e o fortalecimento de estruturas,
que contribuem para melhorar a qualidade da vida no campo.
Outras solues so desenvolvidas para reverter o processo de de-
sertifcao do serto, onde se propem as produes de biomassa ener-
gtica, mediante o manejo forestal sustentvel da caatinga e do cerrado,
com reforestamento.
Para solucionar a falta de energia, que prejudica a populao nas suas
atividades, existem novas tecnologias de gerao a partir da biomassa,
com sistemas descentralizados e de baixo custo para os empreendimen-
tos e consumidores rurais. Estas tambm contribuem para o acesso aos
servios essncias (sade, educao etc.).
18
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Outras tecnologias ajudam os produtores na irrigao das terras e
aumentarem a produtividade, ao exemplo das hortas circulares, difun-
didas pela Agencia Mandalla, que so reconhecidas e apoiadas como
tecnologia social por vrias instituies.
Isso so alguns exemplos, que so apresentados nesta coletnea, que
est longe de ser completa. O que se pretende mostrar aqui , que as tec-
nologias apropriadas precisam enfrentar a lgica do sistema da produo
de alimentos no Brasil. De um lado tem-se uma agroindstria bem equi-
pada, que produz com pouca mo-de-obra e enormes custos ambien-
tais para mercados externos, com altos subsdios e lucros para poucos
empresrios. Do outro lado insistem milhes de pequenos agricultores
em produzir alimentos para a populao em pssimas condies. Por
causa da insustentabilidade desse sistema, a agricultura familiar est ga-
nhando maior enfoque das polticas pblicas, que devem contribuir para
a difuso dessas tecnologias propostas e contribuir para a segurana e a
soberania alimentar do povo brasileiro.
19
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
I
Energias renovveis
no semi-rido
21
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Deserticao e a questo energtica no semi-
rido brasileiro: desaos e oportunidades para
as energias renovveis
Luiz Augusto Horta Nogueira
Resumo
O interior do Nordeste brasileiro apresenta os indicadores sociais
mais crticos do Brasil, agravados pela falta de adequado suprimento
energtico. Do ponto de vista energtico, esse problema requer uma
abordagem que considere as potencialidades regionais, articule o desen-
volvimento econmico com a sustentabilidade ambiental e permita que
a populao tenha acesso energia tambm para fns produtivos. Nesse
sentido, as bioenergias, como a lenha plantada e as espcies oleaginosas,
oferecem interessante alternativa s energias convencionais e devem ser
promovidas no contexto do serto, sempre reconhecendo as caracters-
ticas locais e propostas de forma harmnica com as sociedades da re-
gio. Este trabalho apresenta o quadro energtico e social do semi-rido,
revisa as tecnologias energticas de interesse e comenta criticamente as
experincias realizadas e em implementao para atender as necessida-
des de energia do serto, visando a reduzir a degradao ambiental e
melhorar as condies sociais.
22
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
1 Introduo
Implementar o desenvolvimento sustentvel no semi-rido nordes-
tino constitui um dos maiores desafos para a sociedade brasileira. Nes-
sa regio subsistem os indicadores mais crticos de qualidade de vida e
degradao ambiental no Pas, quadro cuja superao considerada h
dcadas um problema que impe um tratamento abrangente e capaz de
contemplar suas complexas dimenses sociais, econmicas e ambien-
tais. Compreendendo a energia como a capacidade de transformar, os
temas energticos so essenciais nesse contexto, podendo tanto estar
associados a graves impactos ambientais quanto ser considerados uma
fonte de solues para viabilizar as atividades humanas em bases racio-
nais e de longo prazo.
A problemtica energtica do semi-rido no deve ser restrita ao su-
primento de energia eltrica s propriedades rurais, mas considerada de
forma ampla, incluindo os combustveis e suas demandas, igualmente re-
levantes e freqentemente articuladas s questes eltricas. Assim, a an-
lise da problemtica energtica do semi-rido impe considerar as vrias
formas de energia requeridas localmente, bem como a regio enquanto
consumidora e fornecedora de energia para outras regies. Ao cruzar
as rodovias do interior nordestino, freqente se observar caminhes
transportando lenha de desmatamento para atender aos consumidores
urbanos, com evidentes implicaes ambientais. Cabe conhecer melhor
esse quadro e estabelecer polticas para que a energia seja portadora de
solues e no de problemas.
A percepo da relevncia da questo energtica para a sustentabili-
dade do serto e a clara inter-relao dos sistemas energticos, com os
condicionantes socioambientais e os processos de degradao, como a
desertifcao, levaram a se incluir a temtica energtica no amplo le-
que de atividades do PAN - Programa de Ao Nacional de Combate
Desertifcao e Mitigao dos Efeitos da Seca, que foi lanado pelo
Governo brasileiro em 2004 como seu compromisso formal no mbito
dos propsitos da Conveno das Naes Unidas de Combate De-
sertifcao - CCD, aprovada durante a Conferncia das Naes Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio-92. Vale observar que,
durante os anos noventa, o Ministrio do Meio Ambiente desenvolveu
23
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
a Poltica Nacional de Controle da Desertifcao, formalizada pela Re-
soluo 238/1997 do CONAMA
1
. Em um marco mais amplo, inte-
ressante constatar tambm que o Programa de Ao Regional, estabe-
lecido e aprovado pela CCD na Reunio Regional para Amrica Latina
e Caribe, realizada em Bogot durante junho de 2003, visa em um de
seus programas temticos (TPN-6) exatamente promoo das energias
renovveis sustentveis.
Este artigo procura explorar as perspectivas energticas do semi-
rido brasileiro, analisando suas particularidades e avaliando as opes
disponveis para atender as demandas e utilizar os recursos disposio
localmente. Considerando a disponibilidade atual de dados e o nvel de
desagregao das informaes sobre consumo energtico, adotou-se
para o presente estudo a regio rural nordestina como representativa do
semi-rido brasileiro. Nessas condies, os prximos tpicos apresen-
tam brevemente o contexto ftogeogrfco do semi-rido, a evoluo dos
ndices de consumo energtico no interior do Nordeste e sua correlao
com alguns indicadores sociais e econmicos, quantifcando o quadro
de carncias e evidenciando a necessidade de ampliar a oferta, tema do
tpico seguinte. O suprimento energtico no semi-rido pode ser reali-
zado mediante o aporte de fontes energticas exgenas e convencionais,
bem como por meio de recursos energticos locais, renovveis ou no,
cabendo reforar as condies que favoream a ampliao da sustenta-
bilidade nesses sistemas e permitam o acesso a uma energia com preos
razoveis e com qualidade pela populao atualmente excluda desses
servios. Buscando mostrar a viabilidade de algumas opes de energi-
zao, neste trabalho se apresentam casos reais de sistemas energticos
capazes de atender as necessidades de consumidores do semi-rido e
promover seu efetivo desenvolvimento.
2 O semi-rido e a desertifcao no Brasil
O semi-rido brasileiro pode ser defnido como o amplo espao
geogrfco, em grande parte localizado no interior da regio Nordeste e
1 Malheiros, J.O., 17 Pontos que ajudam a explicar o que Deserticao, a Conveno da ONU
e o Processo de Construo do PAN-LCD Brasileiro, ASA/AMAVIDA, So Luiz, 2004.
24
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
onde os dfcits hdricos impem limites importantes para as atividades
agrcolas convencionais. Esta regio, com aproximadamente um milho
de km
2
, compreende essencialmente oito estados do Nordeste e alguns
municpios do norte de Minas Gerais, onde tm sido identifcadas
reas mais sensveis aos processos de degradao, com 24% e 38%
da rea total, respectivamente, classifcadas como de muito alta e
alta susceptibilidade desertifcao
2
. Pode-se defnir desertifcao
como a degradao ambiental e social que ocorre nas zonas ridas,
semi-ridas e sub-midas secas por ao antrpica. Entende-se como
degradao ambiental e social, a degradao do solo, da fora, da fauna,
dos recursos hdricos e a conseqente diminuio da qualidade de vida
da populao afetada
3
. Em boa parte do semi-rido, j se evidenciam
os processos de degradao, afetando moderadamente 40% da regio
e gravemente ou muito gravemente 18%. As quatro reas do Nordeste
mais comprometidas pela desertifcao so Gilbus (Piau), Irauuba
(Cear), Serid (entre Rio Grande do Norte e Paraba) e Cabrob
(Pernambuco)
4
, correspondendo a cerca de 15.000 Km
2
.
Figura 1 Pluviosidade anual em Valente, BA, para diversos anos entre 1933 a 1999 ,
(SUDENE/DNOCS, 2003 apud APAEB, 2005
5
)
2 SANTANA, S., Deserticao e Mitigao dos Efeitos da Seca: Conceitos e Documentos Fun-
damentais, Fundao Grupo Esquel Brasil, Braslia, 2003.
3 IICA, Informe Nacional - Brasil, (documento preparado para a CCD), Braslia, 2003.
4 SANTANA,S., op.cit.
5 APAEB Associao de Desenvolvimento Sustentvel e Solidrio da Regio Sisaleira, Um
25
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Embora a desertifcao (processo antrpico) e a seca (fenmeno
climtico) no sejam sinnimos, eles esto bastante associados e suas
implicaes so similares. Alm disso, a gravidade da questo hdrica no
semi-rido do Nordeste brasileiro no se associa apenas baixa disponi-
bilidade de chuvas e sua irregularidade ao longo do ano, como tambm
expressiva variao ao longo de um perodo plurianual. Como mostra-
do na Figura 1 para a regio de Valente, no norte do Estado da Bahia,
com pluviosidade tipicamente oscilando entre 500 a 700 mm anuais, as
precipitaes anuais variam de modo expressivo, em alguns anos no
atingindo 100 mm por ano e em outros superando os 1000 mm. Ainda
assim, para os perodos considerados nesta fgura, a pluviosidade mdia
no variou de modo expressivo e em todos os anos foram observadas
estaes secas intensas, durando tipicamente entre 6 a 9 meses. A tem-
peratura se situa entre 24 e 26 graus, variando pouco durante o ano.
Figura 2 Paisagem natural tpica do semi-rido nordestino, na viso de Percy
exemplo de combate pobreza, in Workshop Regional sobre Eletricidade e Desenvolvimento na
Amrica Latina, GNESD/COPPE/CENBIO, abril de 2005, Rio de Janeiro
26
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
au
6
.
Tal singularidade climtica, associada aos solos rasos e quase sempre
pedregosos, compostos de argilas e areias resultantes da decomposio
da rocha - matriz formada essencialmente de granitos e gnaisses, determi-
nou a formao do serto, como se denomina genericamente o semi-rido
nordestino no Brasil, com sua ampla variao ftogeogrfca. Essa regio
apresenta tipicamente formaes forestais tropicais esparsas e com rvores
baixas bastante ramifcadas, com diversas espcies xerflas e caduciflias
convivendo com bromlias e cactos, a caatinga, exemplifcada na Figura 2.
nesse ambiente que se desenvolveu a cultura sertaneja, baseada na
pecuria extensiva do gado bovino e caprino e no cultivo da mandioca,
feijo e milho, com seu rico folclore e artesanato. No semi-rido bra-
sileiro onde vivem cerca de 22 milhes de pessoas, que representam
46% da populao nordestina e 13% da populao brasileira. um dos
ecossistemas mais habitados no meio rural brasileiro e foi povoado j
no incio da colonizao do Pas, principalmente ao longo do rio So
Francisco, que era a nica ligao com o centro e o sul do Brasil
7
.
3 O contexto social e energtico do semi-rido
Os indicadores de qualidade de vida e demanda energtica no meio
rural nordestino se alinham para apontar essa regio como a mais caren-
te no Brasil. Apesar da relativa evoluo dos ltimos anos, o quadro de
assimetrias sociais e profundas carncias reproduz ainda hoje sem muita
alterao a situao dramtica e o fagelo da fome observados durante
os anos 40 por Josu de Castro, quando situava no interior nordestino
a misria mais aguda do Pas, decorrente no apenas das condies am-
bientais, como tambm de uma secular desigualdade social
8
.
A Tabela 1, baseada na ltima Pesquisa por Amostragem de Domi-
6 IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica, Tipos e Aspectos do Brasil, nmero
especial da Revista Brasileira de Geograa, Rio de Janeiro, 1956.
7 EMBRAPA SEMI-RIDO, http://www21.sede.embrapa.br/linhas_de_acao/ecossistemas/semi_
arido.
8 CASTRO, J., A Geograa da Fome, Editora O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1946.
27
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
clios do IBGE, apesar de no desagregar os valores para a zona rural,
mostram como a regio Nordeste exibe os indicadores de qualidade de
vida mais problemticos do que a mdia brasileira. Assim, a mortalidade
infantil quase 60% superior, a taxa de analfabetismo o dobro, o ren-
dimento mdio dos trabalhadores 60% e a frao de residncias com
saneamento 38% menor, em valores para 2003
9
.
Tabela 1 Indicadores sociais para o Nordeste e Brasil, 2003
9
Indicador Brasil Nordeste
Nordeste/
Brasil
Mortalidade Infantil (1/1000) 27 43 1,59
Esperana de vida ao nascer (anos) 71,3 66,7 0,94
Taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos (%) 11,6 23,2 2,00
Rendimento mdio da populao ocupada (R$) 692,1 409,4 0,59
Domiclios com saneamento adequado (%) 64,1 39,6 0,62
Pessoas ocupadas com mais de 60 anos (%) 30,4 36,1 1,19
Como esperado, os indicadores acima so mais preocupantes quan-
do considerados para o Nordeste rural, que corresponde em grande
parte ao semi-rido. Segundo o IBGE, 75% das crianas e adolescentes
do semi-rido vivem em famlias consideradas pobres, quando a mdia
nacional para a mesma faixa etria de 45%. Em 95% dos municpios
da regio, a taxa de mortalidade infantil quase o dobro da mdia nacio-
nal. O nvel de analfabetismo entre os adolescentes e adultos no serto,
38,7%, tambm bem mais alto do que no restante do Nordeste
9
. Estes
nmeros apenas confrmam o grave quadro de desigualdades.
Como um refexo do quadro social deprimido, simultaneamente cau-
sa e efeito dessas carncias, as limitadas condies de suprimento de
energia eltrica na regio do semi-rido podem ser observadas na Tabela
2 e Figura 3, onde se comparam os nveis de cobertura dos servios
de eletricidade para as diversas regies brasileiras
10
. Observe-se que na
regio Norte o porcentual mais elevado, principalmente em razo das
caractersticas de disperso e condies de atendimento dos consumido-
res, contudo a populao excluda do suprimento eltrico no Nordeste
9 IBGE, Sntese de Indicadores Sociais 2004, Srie Estudos e Pesquisas, Rio de Janeiro,
2005.
28
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
rural bastante superior, correspondendo a mais de um milho de do-
miclios e 5 milhes de brasileiros.
Tabela 2 Nmero de domiclios sem cobertura eltrica, 2002
10
Regies
Domiclios permanentes no atendidos com energia eltrica
Urbano % Rural % Total %
Norte 505.023 1,2 447.124 59,7 503.319 16,1
Nordeste 201.642 2,4 1.110.339 34,4 1.311.981 10,7
Sudeste 166.565 0,8 206.214 11,9 372.779 1,7
Sul 49.011 0,8 125.235 10,3 174.246 2,3
Centro-oeste 31.610 1,0 90.336 21,5 121.946 3,5
Brasil 505.023 1,2 1.979.249 27,0 2.484.271 5,2
Figura 3 Populao sem acesso eletricidade no Brasil, valores absolutos e
porcentuais (2002)
10
.
Efetivamente, conforme ser comentado adiante, ampliado o aces-
so energia eltrica no meio rural brasileiro, como mostrado na Figura
3, com expressivo avano dos nveis de cobertura e a virtual universa-
lizao dos servios eltricos no espao urbano. No obstante, as con-
dies dos estados nordestinos ainda so notadamente insatisfatrias e
se destacam dos demais estados brasileiros, conforme apresentado na
10 MME Ministrio de Minas e Energia, Programa Nacional de Universalizao e Uso da Energia
Eltrica, Verso preliminar, Braslia, 2003.
29
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Figura 4. A Tabela 3 confrma esta viso, mostrando que os municpios
onde mais crtica a eletrifcao rural fcam no serto
11
. As eventuais
diferenas observadas entre os valores das tabelas decorrem das diferen-
tes fontes de informao adotadas e no afetam as concluses.
Figura 4 Evoluo da cobertura eltrica no Brasil, 1966 a 200211.
Figura 5 Nmero de domiclios permanentes sem iluminao eltrica
(milhares), 2003
11
.
11 ABRADEE, Associao Brasileira de Distribuidoras de Energia Eltrica, Dados e Informaes
sobre Eletricao Rural, disponvel em http://abradee.org.br/doc_tec_tema03.asp
30
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Tabela 3 Estados e municpios com menor cobertura de servio eltrico
11
Estado
Domiclios sem
acesso eletricidade
no estado (%)
Municpio menos
atendido
Domiclios sem acesso
eletricidade no municpio
menos atendido (%)
Piau 24,1 Novo Santo Antnio 91,9
Tocantins 22,1 Centenrio 72,0
Acre 21,1 Jordo 83,3
Figura 6 Cobertura dos servios eltricos e ndice de Desenvolvimento Humano no
Brasil
12
A relao entre a disponibilidade de energia eltrica e a qualidade
de vida evidenciada na Figura 5, que apresenta para as regies bra-
sileiras como variam o IDH, ndice de Desenvolvimento Humano,
e o acesso eletricidade
12
. Como esperado, as melhores condies
de vida se associam a maior cobertura eltrica. No obstante, o uso
do baixo consumo de energia eltrica como indicador de pobreza
deve ser tomado com cuidado, em funo das demandas mnimas
necessrias. Segundo alguns autores, nas condies latino-america-
nas, poderia ser adotada uma demanda mnima de 50 kWh por ms
12 GOLDEMBERG,J., La ROVERE, E.L., COELHO, S.T., Expanding access to electricity in Brazil,
Energy for Sustainable Development, Volume VIII No. 4, December 2004.
31
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
e por famlia como limite da linha de pobreza
13
.
Alm da eletricidade, os outros energticos de evidente interesse para
as perspectivas de sustentabilidade no semi-rido so a lenha e seus deri-
vados, como o carvo vegetal. Para esses energticos, observa-se grande
carncia de dados sobre as demandas e disponibilidades para a ampla
regio do serto, entretanto as informaes disponveis confrmam a de-
pendncia da biomassa na matriz energtica regional, com graves impli-
caes. Tambm preciso constar a idia de que, alm da demanda ener-
gtica, a expanso desordenada das atividades agropecurias promove o
desmatamento e a perda da cobertura forestal natural da regio.
Segundo o GEO-Brasil, havia em 1995 no Nordeste cerca de 11
milhes de ha de forestas densas e 62 milhes de ha de formaes
forestais abertas. A partir do amplo diagnstico do quadro dendroener-
gtico na Paraba, Rio Grande do Norte, Cear e Pernambuco, promo-
vido pelo Projeto PNUD/FAO/IBAMA/BRA 87/007 durante os anos
90, identifcou-se uma dependncia entre o desenvolvimento regional
e o recurso forestal, como mostrado na Tabela 4, estimando-se ainda
que 60% da energia utilizada pela populao nordestina para coco dos
seus alimentos proveniente de lenha
14
. Alm da demanda residencial,
relativamente pequena, as siderrgicas, a produo de gesso, as cermi-
cas e olarias, as recuperadoras de pneus, as panifcadoras e pizzarias so
os principais responsveis pelo corte da vegetao nativa para produo
de lenha e carvo vegetal necessrios ao seu processo.
Tabela 4 Participao da lenha na demanda energtica estadual e na demanda
industrial
14
.
Estado
Lenha na demanda estadual
(%)
Lenha na demanda industrial
(%)
Pernambuco 23 -
Rio Grande do Norte 24 40
Paraba 41 26
Cear 32 28
A maior parte da lenha consumida no Nordeste tem origem no des-
13 KOZULJ, R., Di SBROIVACCA, N., Assessment of energy sector reforms: case studies from
Latin America, Energy for Sustainable Development, Volume VIII No. 4, December 2004.
14 GEO Brasil, O estado do meio ambiente no Brasil, 2002.
32
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
matamento de formaes nativas. Os dados fornecidos pelo CENBIO
sobre a oferta de biomassa lenhosa no Nordeste, estimados para o fnal
dos anos 1990, indicam que, para uma demanda total da ordem de 50
milhes de toneladas de lenha, apenas entre 1 e 2% eram produzidos
por meio reforestamento
15
. O resultado desse modelo extrativista e pre-
datrio fcou evidente, em especial na depleo dos recursos naturais
renovveis da caatinga, observando-se perdas irrecuperveis da biodi-
versidade, acelerao do processo de eroso e declnio da fertilidade do
solo e da qualidade da gua pela sedimentao. Atualmente se estima que
acima de 80% da vegetao da caatinga so sucessionais, cerca de 40%
so mantidos em estado pioneiro de sucesso secundria e a desertifca-
o j se faz presente em, aproximadamente, 15% da rea. Por exemplo
nos municpios da Chapada do Araripe, onde se localizam indstrias de
gesso, o consumo de lenha atinge valores de 30 mil m
3
/ms, induzin-
do um desmatamento de aproximadamente 25 ha/dia, considerando a
produo de vegetao nativa da regio da ordem de 40 m
3
/ha
16
. No
difcil inferir o pesado dano ambiental acarretado por esta atividade.
A fonte de dados usualmente empregada para descrever a demanda
de lenha o Balano Energtico Nacional, publicado anualmente pelo
Ministrio de Minas e Energia. Este documento apresenta estimativas
do consumo de biomassa em funo dos estudos demogrfcos e eco-
nmicos, bem como utilizando relaes paramtricas com a demanda de
combustveis comerciais, como o gs liquefeito de petrleo, sem contar
com estudos de campo mais recentes que possam validar melhor os pro-
cedimentos empregados para estas projees. Dessa forma razovel
questionar se os nveis citados de demanda de lenha so efetivamente
representativos ou se os valores reais de consumo de lenha so muito
diferentes. Alguns estudos pontuais e avaliaes por outros indicadores
mostram que a demanda de lenha no setor residencial pode ser algo
15 CENBIO Centro Nacional de Referncia em Bioenergias, Banco de dados de biomassa no
Brasil - Perl da lenha na regio Nordeste (2000), disponvel em http://infoener.iee.usp.br/.
16 Drumond, M.A.(coordenador), Avaliao e identicao de aes prioritrias para a conser-
vao, utilizao sustentvel e repartio dos benefcios da biodiversidade do bioma Caatinga,
Documento para discusso no GT Estratgias para o Uso Sustentvel, Seminrio Biodiversidade
na Caatinga, Petrolina, 2000.
33
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
menor do que o indicado no Balano, porm estudos mais aprofunda-
dos ainda devem conduzidos. Por isso, os estudos conduzidos na regio
sobre a demanda e oferta de lenha so da maior importncia, devendo
ser destacados os esforos conduzidos pela equipe do NERG, Ncleo
de Energia da Universidade Federal de Campina Grande, com diversos
estudos de campo sobre o consumo de lenha no semi-rido paraiba-
no, particularmente nas micro-regies do Cariri, Curimata e Serid
17
.
Como um exemplo de demandas signifcativas e pouco conhecidas, em
um trabalho recente foram estudadas as espcies forestais vendidas para
as fogueiras de So Joo em Campina Grande, constatando que a lenha
vendida para esse fm em 62 pontos de comercializao na cidade foi de
1405 m
3
, acarretando o desmatamento de uma rea de 15 ha. Nesse caso
a maior parte da lenha comercializada correspondeu a algarobeira, uma
espcie extica
18
.
4 Perspectivas para o incremento da oferta energtica
Os nmeros anteriores mostram como os servios eltricos ainda
deixam de atender boa parte do semi-rido, concorrendo para manter
os nveis de excluso social, ao mesmo tempo em que a alta dependn-
cia da lenha e a permanncia de procedimentos pouco sustentveis de
explorao dos recursos forestais levam a um quadro preocupante de
escassez e degradao ambiental. Buscando ampliar o atendimento dos
servios eltricos e tornar mais racional o suprimento de lenha, pontos
relevantes para a melhoria das condies de vida e o desenvolvimento
econmico do serto nordestino, neste tpico se exploram as opes
de abastecimento. So considerados separadamente os combustveis e
a energia eltrica e abordadas as rotas convencionais e as tecnologias
alternativas de carter renovvel consideradas de maior relevncia.
17 Leimar de OLIVEIRA, NERG/UFCG, informaes pessoais.
18 MARTINS, P.L. et alir., As essncias orestais utilizadas nas fogueiras de So Joo, na
cidade de Campina Grande PB, Revista de Biologia e Cincias da Terra, 4/1, 2004.
34
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
4.1 Abastecimento de combustveis
Os combustveis so muito importantes para ampliar os servios dis-
ponveis nas comunidades, no apenas nos usos tradicionais de trans-
porte, sistemas de bombeamento e irrigao, maquinaria agrcola e de
processamento agroindustrial, como tambm para eventualmente efe-
tuar a gerao eltrica e atender a extensa gama de demandas urbanas.
Efetivamente este ltimo grupo de consumidores o maior responsvel
pela presso sobre os recursos bioenergticos do serto.
Em 2002, todo o Nordeste consumiu cerca de 5,6 bilhes de litros de
leo diesel, 3,1 bilhes de litros de gasolina e 1,2 milho de kg de gs li-
quefeito de petrleo (GLP), que respectivamente corresponderam a 15%,
14% e 20% da demanda nacional. Naturalmente o semi-rido representa
uma parcela reduzida desses volumes, confrmando sua menor importn-
cia relativa diante do mercado brasileiro. Por outro lado, a produo nor-
destina de lcool de cana-de-acar, cerca de 1,6 bilho de litros, signifca
12% da produo nacional e se desenvolve na zona litornea da regio,
devendo tambm ser considerada exgena ao semi-rido
19
.
Particularmente relevante para o serto, a alternativa potencialmente
sustentvel aos derivados de petrleo representada pelos biocombus-
tveis, que podem ser lenhosos ou lquidos, como o biodiesel, que sero
abordados a seguir. Para qualquer biocombustvel, fundamental notar
que esta rota energtica potencializa suas vantagens econmicas, sociais
e ambientais quando se desenvolve integrada s demais atividades pro-
dutivas, sob os conceitos de sistemas agroforestais ou agroenergticos,
permitindo sinergias produtivas e economias de escala. Tambm muito
importante que, ao considerar a produo energtica por vegetais, se te-
nha em conta a adequao edafoclimtica das espcies e rotas produtivas
adotadas. Nesse sentido, uma ferramenta fundamental o Zoneamento
Agroecolgico do Nordeste, preparado pela EMBRAPA, defnindo 172
unidades geoambientais, agrupadas em 20 unidades de paisagem, com re-
ferncias e informaes sobre recursos naturais (relevo, solos, vegetao,
clima e recursos hdricos) e recursos socioeconmicos
20
.
19 ANP Agncia Nacional do Petrleo, Anurio Estatstico 2003, Rio de Janeiro, 2004.
20 EMBRAPA, Zoneamento Agroecolgico do Nordeste, Braslia, 2000.
35
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A. Biocombustveis lenhosos
Ainda que a lenha, na forma predatria em que atualmente se pro-
cessa sua explorao seja um dos fatores de degradao ambiental na
caatinga, possvel e necessrio alterar esse paradigma, implementando
sistemas dendroenergticos sustentveis. Esse objetivo impe ampliar a
produo racional de lenha, bem como utilizar efcientemente este ener-
gtico. Para aumentar a disponibilidade de lenha, deve-se considerar o
manejo sustentvel dos recursos forestais, a introduo de espcies mais
produtivas e o reforestamento para fns energticos.
A vegetao lenhosa caracterstica do serto nordestino compos-
ta principalmente de espcies de pequeno porte, geralmente dotadas
de espinhos e caduciflias, perdendo suas folhas no incio da estao
seca. As espcies arbreas somam vrias centenas e as famlias mais
freqentes so as cesalpinceas, mimosceas, euforbiceas e fagceas.
Um estudo de manejo sustentvel dessas formaes foi efetuado para
as reas de assentamento de reforma agrria no Rio Grande Norte
21
.
Essas reas ultrapassavam 270 mil ha, com cerca de 9 mil famlias
assentadas, cujas perspectivas dependem do modo de explorao de
seus recursos naturais, principalmente o recurso forestal, a primeira
fonte de renda disponvel. Foram avaliados 27 projetos, totalizando 96
mil ha, onde se considerou vivel a explorao sustentvel da caatinga,
para fns energticos e outros usos. Assumindo uma disponibilidade
entre 183 a 226 m
3
por ha, foi avaliado um estoque de quase 15 mi-
lhes de m
3
, dos quais 80% correspondem a recursos dendroenerg-
ticos. O ciclo de regenerao da caatinga foi estimado em 15 anos e
os autores destacam a importncia da orientao tcnica ao assentado
para explorar sustentavelmente os recursos forestais. Em virtude da
reduzida produtividade forestal da caatinga, a atividade dendroener-
gtica deve ser considerada um complemento de renda dos assentados,
pois outras atividades apresentam maiores retornos econmicos. No
obstante, a produo racional de lenha pode ser fundamental para a
sustentabilidade dos assentamentos estudados e a reduo das pres-
21 FRANCELINO, M.R., FERNANDES Filho, E.I., RESENDE, M., LEITE, H.G., Contribuio da caa-
tinga na sustentabilidade de projetos de assentamentos no serto norte-rio-grandense, Revista
da rvore, 27/1, Viosa, 2003.
36
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
ses ambientais, sendo entretanto ainda pouco praticada. Lamentavel-
mente, na atualidade a produo forestal na regio Nordeste se baseia
principalmente em mtodos predatrios e pouco sustentveis.
Buscando maior produtividade e rapidez de crescimento, entre as es-
pcies exticas de interesse dendroenergtico para o serto, so mencio-
nadas algumas variedades de eucaliptos, como o Eucalyptus camaldulensis e
E. tereticornis, apresentando incrementos mdios anuais de 8 m
3
/ha.ano,
sem irrigao
22
. Para as regies mais secas tambm so citadas as esp-
cies E. exserta, E. alba e E. creba
23
e o nim indiano (Azadirachta indica)
24
.
Considerando, contudo, as possibilidades de integrao com outras ativi-
dades produtivas no serto, algumas leguminosas so mais atraentes, por
mostrar tanto um bom potencial lenheiro quanto forrageiro, como a leu-
cena (Leucaena leucocephala), a algarobeira (Prosopis julifora), a jurema-preta
(Mimosa tenuifora) e o sabi (Mimosa caesalpiniaefolia), capazes de integrar
a produo energtica com a pecuria. Segundo alguns estudiosos, essas
espcies podem apresentar um potencial energtico que supera variedades
de eucalipti
25
. Como uma idia da produtividade dendroenergtica dessas
espcies de uso mltiplo, no Rio Grande do Norte mediu-se para a algaro-
beira um incremento anual de 9,4 t/ha em reas de vrzeas e 0,62 t/ha em
solos de encostas
26
. A adoo de espcies forrageiras se justifca tambm
porque a criao de animais, especialmente caprinos e ovinos, se mos-
tra mais adequada e de menor susceptibilidade climtica que o cultivo de
gros, como o milho e o feijo. A adoo de sistemas agroforestais, com
a rvore sendo considerada por seus mltiplos produtos e efeitos, permite
ampliar a viabilidade das atividades silviculturais, devendo ser considerada
a forma correta de promover a produo dendroenergtica no serto. De
22 DRUMOND,M.A., op.cit.
23 PIRES, I.E., FERREIRA, C.A., Potencialidade do Nordeste do Brasil para Reorestamento,
Circular Tcnica EMBRAPA-URPFCS no. 166, Curitiba, 1982.
24 ARAJO, L.V.C., RODRIGUEZ, L.C.E., PAES, J.B., Caractersticas fsico-qumicas e energticas
da madeira de nim indiano, Scientia Forestalis, no.57, 2000.
25 ARAJO, L.V.C., LEITE, J.A.N., PAES, J.B., Estimativa da produo de biomassa de um povo-
amento de jurema-preta (Mimosa tenuiora) com cinco anos de idade, Biomassa e Energia,1/4,
Viosa, 2004.
26 ZKIA, M.J.B.; PAREYN, F.G.;BURKART, R.N.; ISAIA, E.M.I. Incremento mdio anual de alga-
robais no Serid-RN. IPA News, Recife, n.8, p.1-4, 1989.
37
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
todo modo, cabe observar que a elevada regenerao e a boa adaptao
dessas espcies ao semi-rido as converte em plantas invasoras, cuja ex-
panso pode degradar as formaes nativas da caatinga, justifcando seu
manejo criterioso
27
.
Na direo do uso efciente da lenha, a introduo de mtodos me-
lhorados nas carvoarias pode reduzir de forma expressiva a demanda de
madeira. Enquanto os processos tradicionais de carvoejamento neces-
sitam de aproximadamente sete metros cbicos de lenha para gerar um
metro cbico de carvo, h mtodos mais modernos disponveis que
possibilitam reduzir essa proporo para a metade
28
. Uma detalhada ava-
liao energtica de uma tpica cermica potiguar, a Cermica do Gato,
em Itaj, consumindo anualmente mais de 17 mil m
3
de lenha, mostrou
que o processo produtivo apresenta diversas possibilidades de incremen-
to de efcincia e reduo de perdas. Empregando lenha nativa (catin-
gueira e jurema), os consumos unitrios de lenha observados foram de
3,2 m
3
por milheiro de tijolos e 2,5 m
3
por milheiro de telhas, valores que
podem ser reduzidos de modo expressivo com a adoo de sistemas de
combusto e recuperao trmica mais efcientes, assim como mediante
de procedimentos da gesto energtica e industrial, reduzindo as perdas
de calor e produtos em processo
29
. Como exemplos de aperfeioamen-
tos que reduzem o consumo de lenha, tem-se a recuperao de calor
dos fornos para a secagem das peas a serem queimadas e a reduo dos
tempos de parada nos processos, em que ocorre a perda de calor dos
fornos. Neste estudo, foi observado alto nvel de quebra de produtos,
especialmente de telhas, que resulta em demanda energtica elevada.
B. Biocombustveis lquidos
Sobretudo por conta das condies climticas favorveis e da dispo-
nibilidade de terras adequadas no Brasil, o etanol de cana-de-acar para
27 LIMA, P.C.F., Manejo de reas Invadidas por Algarobeira, PRONABIO/CPTSA, Petrolina,
2004.
28 HORTA NOGUEIRA, L.A., SILVA LORA, E.E., Dendroenergia: fundamentos e aplicaes, Edi-
tora Intercincia, Rio de Janeiro, 2a.edio, 2003.
29 CARVALHO, O.O., LEITE, J.Y.P., Anlise do processo produtivo da Cermica do Gato - Itaj/
RN , disponvel em http://www.ern.org.br/portal.asp.
38
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
fns combustveis desenvolveu-se pioneiramente e se consolidou no Brasil.
Assim, compreende-se o grande interesse despertado com a recente pro-
posio de um programa nacional de biodiesel pelo Governo brasileiro,
que se pretende possa replicar o sucesso do etanol. O biodiesel tem efeti-
vo potencial para o semi-rido nordestino, contudo deve ser considerado
com cautela, j que existem aspectos ainda pouco defnidos e obstculos
por superar, cumprindo equaciona-las antes de efetivamente expandir de
forma consistente a produo deste biocombustvel. Nesse sentido um
aspecto essencial refere-se matria-prima a ser empregada
30
.
Particularmente para o serto nordestino, proposta uma grande
expanso da cultura da mamona (Ricinus communis) visando produo
de leo vegetal para posterior transesterifcao e produo de biodie-
sel. A mamona uma espcie com boa aptido para as regies semi-
ridas, em altitudes entre 300 e 1500 m, temperaturas entre 20 e 30 C
e precipitao anual acima de 500 mm, com chuvas na fase vegetativa
apenas. So estas as condies que orientam o zoneamento da cultura
no Nordeste, considerada uma das poucas opes agrcolas rentveis
para as regies rida e semi-rida do Nordeste. A produtividade em
boas condies estaria entre 500 a 1000 litros de biodiesel por ha. O zo-
neamento concludo recentemente pela EMBRAPA indica que h 458
municpios no Nordeste em condies adequadas para produzir ma-
mona, sendo 189 deles na Bahia
31
. As informaes agronmicas ainda
so, entretanto, relativamente limitadas, a base de variveis melhoradas
reduzida e a economicidade do processo deve ser ainda melhor co-
nhecida, especialmente para as unidades produtoras de pequeno porte.
Alm disso, a produo da mamona no apresenta resduos energticos
de interesse para a gerao de energia para seu processamento, ao con-
trrio do que ocorre com o dend, e portanto seu balano energtico
pode ser um limitante importante para seu uso como fonte de matria-
prima para combustvel. Outra limitao relevante da mamona o fato
de que a torta resultante da extrao de leo de suas sementes txica
e no pode ser usada para alimentao, enquanto para praticamente
30 MACEDO, I.C, HORTA NOGUEIRA, L.A., Biocombustveis, Cadernos NAE 2, SECOM, Presidncia
da Repblica, Braslia, 2005.
31 BELTRO, N. E. M. e outros; Zoneamento e poca de cultiva da mamoneira no Nordeste
Brasileiro, EMBRAPA, 2004.
39
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
todas as demais oleaginosas a torta valorizada exatamente como rao
animal por seu contedo protico.
No obstante, a produo de leo de mamona, independentemente
de sua converso em combustvel, pode representar uma fonte interes-
sante de gerao de renda e justifcar a expanso dessa cultura, apropria-
da para grande parte do semi-rido. Alm disso, mesmo que o biodiesel
de mamona no apresente atratividade econmica, ao comparar os pre-
os de venda do leo vegetal como energtico sucedneo do diesel deri-
vado de petrleo e os preos desse produto vegetal para outros fns no
energticos, deve ser considerada a possibilidade do biodiesel ser ado-
tado como aditivo para melhorar a lubricidade do diesel mineral, pro-
gressivamente afetada pela reduo do teor mximo de enxofre, como
determinado pela legislao brasileira para o produto a ser consumido
nas regies metropolitanas. Nesse ltimo caso, o biodiesel de mamona
poderia ser eventualmente produzido com vantagens econmicas, mas
difcilmente se justifcaria sua utilizao no contexto nordestino.
Um quadro bastante diverso resulta quando se tomam as palmceas
como fonte de matria-prima para produo do biodiesel. Ainda que os
aspectos agronmicos tambm caream de maior aprofundamento, os
dados disponveis para o balano energtico e os nveis observados de
produtividade so bem interessantes, e, associados s maiores possibi-
lidades de utilizao de subprodutos, tornam essa rota potencialmente
mais atrativa, como refetem os preos e custos. Comparando a mamona
e o dend, a Figura 6 apresenta uma avaliao da competitividade dessas
opes para a produo de biodiesel
32
, sendo apresentadas estimativas
para os custos de produo e os custos de oportunidade para o leo
vegetal e o biodiesel, se assumido o leo vegetal ao preo de mercado.
Este ltimo preo denominado valor de indiferena para o produtor
de leo vegetal, j que neste preo o biodiesel oferece ao produtor de
leo vegetal uma opo idntica ao mercado de leo vegetal in natu-
ra. Igualmente so apresentados como referncia os preos mdios do
leo diesel de petrleo, para o consumidor, nos postos revendedores e
nas refnarias, nesse caso sem considerar os tributos. Como concluses
dessa anlise comparativa, tem-se que o leo de mamona apresenta alto
32 MACEDO, I.C, HORTA NOGUEIRA, L.A.,op.cit.
40
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
custo de produo, compensado por um elevado preo de mercado, que
por sua vez implica um biodiesel a preo elevado, valendo mais do que
o dobro do preo do leo diesel convencional para o consumidor. Por
outro lado, o dend apresenta custos mais baixos e preos de mercado
tambm inferiores, que resultam em um biodiesel bem mais barato do
que no caso da mamona.
Figura 7 Custos de produo e de oportunidade para o
biodiesel de mamona e de dend
Considerando a fora e os condicionantes do semi-rido, algumas
palmeiras tpicas desse bioma merecem ser cuidadosamente considera-
das para a produo de biodiesel, como o licuri (Syagrus coronata), que
ocorre na vegetao da caatinga entre Pernambuco e Minas Gerais, su-
portando secas prolongadas e frutifcando por um longo perodo do
ano, sendo valorizado para a obteno de frutos e leo comestvel
33
.
Segundo levantamentos realizados em licurizais do serto baiano, em
condies adequadas, a produtividade anual estaria entre 2 mil a 4 mil
kg de coquinhos por ha, com uma amndoa que corresponde a 54% do
peso do fruto e contm entre 55 a 61% de leo vegetal
34
. Os resduos da
extrao do leo de licuri so bastante empregados como rao animal,
33 LORENZI, H., Palmeiras no Brasil, Editora Plantarum, Nova Odessa, 1996.
34 informaes obtidas do informe do Projeto Licuri, Universidade Estadual de Feira de San-
tana, 2004.
41
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
inclusive para aves domsticas. Atualmente o licuri explorado extrati-
vamente pela populao da caatinga e a destruio dos licurizais nativos
em virtude da expanso da fronteira agrcola coloca em risco de extino
esta espcie, considerada de grande utilidade por seus diversos produtos.
Em 1950, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais realizou
ensaios em motores com o leo dos frutos dessa palmeira
35
.
Outras palmeiras poderiam ser consideradas, por seu potencial in-
teresse para produo energtica e adequao ao semi-rido, como a
macaba
36
(Acrocomia intumescens) e a macaba (Acrocomia aculeata), entre-
tanto o atual nvel de informaes sobre estas palmceas ainda bastan-
te limitado para sugerir sua utilizao para fns energticos e eventual
produo de biodiesel.
4.2 Suprimento de energia eltrica
H uma razovel diversidade de formas de suprimento de energia
eltrica, com evidentes implicaes sobre os investimentos requeridos,
custos operacionais, confabilidade e qualidade dos servios e limitaes
de capacidade. A tecnologia mais tradicional a extenso das linhas de
distribuio, adotada pelas concessionrias de distribuio, ordinaria-
mente as entidades responsveis pela implantao de projetos de eletri-
fcao rural, com o fornecimento de energia sem limitaes expressivas
de capacidade e qualidade de servio. J as opes adotando os sistemas
de gerao descentralizada permitem utilizar os recursos locais e inserir-
se na economia local, podendo ser de capacidades bem mais limitadas
e passveis de desenvolvimento, segundo diferentes esquemas de imple-
mentao e gesto.
O suprimento de energia eltrica empregando sistemas de gerao
descentralizada depende evidentemente da existncia do recurso ener-
gtico primrio, o que exclui para o Nordeste semi-rido a energia hi-
dreltrica e a energia elica, disponveis de forma limitada e localizada.
Compensando essa limitao, a localizao tropical e as caractersticas
35 STI/MIC, Produo de Combustveis Lquidos a partir de leos Vegetais, Braslia, 1985.
36 STI/MIC, Potencialidades do fruto da Acrocomia Intumescens para ns energticos, Simp-
sio Nacional sobre Fontes Novas e Renovveis de Energia, Braslia, 1988.
42
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
do clima semi-rido favorecem naturalmente a energia solar e, em alguns
contextos, as rotas bioenergticas. Particularmente os sistemas fotovol-
taicos so amplamente considerados para ampliar a oferta de energia no
semi-rido, sob diferentes conceitos e capacidades.
Independentemente da forma de suprimento adotada, muito im-
portante que a eletricidade seja utilizada efcientemente, aspecto nem
sempre observado. Em contextos de baixa disponibilidade de energia,
como ocorre em grande parte do semi-rido, a reduo das perdas e
a adoo de sistemas de iluminao, motores e dispositivos de maior
rendimento permitem multiplicar os benefcios e racionalizar o uso, le-
vando a ganhos econmicos e sociais.
Sem esquecer que uma forma renovvel de energia, a hidroeletrici-
dade, responsvel por mais de 80% da produo de energia eltrica
no Brasil e que, portanto, as linhas rurais de distribuio fornecem
essencialmente energia renovvel, trata-se no presente trabalho de ava-
liar o espao das energias renovveis em menor escala. Nesse sentido,
a seguir se apresenta a evoluo do marco institucional para a eletrif-
cao rural no Brasil e em particular no Nordeste, passando a avaliar
as implicaes e perspectivas dos procedimentos de eletrifcao rural
atualmente adotados.
A. Marco institucional
Ainda que programas de eletrifcao rural tenham sido desenvolvi-
dos no Brasil ao longo das ltimas dcadas, foi a partir de 1988 que o
suprimento de energia eltrica passou a ser considerado um servio p-
blico essencial no Brasil, conforme prescrito na Constituio brasileira.
Para atender tal orientao, a Agncia Nacional de Energia Eltrica esta-
beleceu um cronograma para a progressiva universalizao dos servios
de energia eltrica, a ser implementada pelas concessionrias de distri-
buio e atender toda a populao. Diversas etapas foram cumpridas
na elaborao de um marco jurdico para fundamentar este propsito,
como apresentado nos prximos pargrafos.
Em 1993, procurando defnir recursos e orientar sua aplicao para
eletrifcao das reas mais carentes, a Lei 8631 assegurou o fnancia-
mento para os programas de eletrifcao rural a partir da RGR (Re-
43
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
serva Global de Reverso), fundo administrado pela ELETROBRS e
resultante de um adicional de 2,5 a 3% das tarifas da energia faturada.
Posteriormente a Lei 9427, de 1996, estabeleceu que a metade desses
recursos deve ser destinada s regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Tambm deve ser mencionada a Lei 9074 de 1996, ao determinar que as
concessionrias de energia eltrica devem prover os servios de supri-
mento eltrico para os consumidores de baixa renda e em zonas rurais.
Finalmente, nessa breve reviso dos aspectos legais de interesse para a
eletrifcao rural, a Lei 10.438, de 2002, estabeleceu claramente o com-
promisso das concessionrias com a universalizao, com regras claras,
da constituio de um fundo para o desenvolvimento energtico (CDE,
Conta de Desenvolvimento Energtico) e a intervenincia da ANEEL,
especialmente para a defnio e acompanhamento das metas. Apesar da
clara evoluo de um marco legal que proporcione a efetiva ampliao
dos servios de energia eltrica, alguns aspectos relevantes ainda devem
ser mais bem defnidos, como por exemplo o conceito de consumidor
de baixa renda, bem como fundamental assegurar a disponibilidade
dos recursos que permitam executar tais propsitos.
Para as distribuidoras do Nordeste, a Tabela 5 mostra o nvel de
cobertura da eletrifcao em 2002 e o ano pretendido para a universa-
lizao
37
. Como visto anteriormente, grande parte das residncias no
atendidas situam-se na zona rural, mas, de acordo com especialistas do
setor eltrico, considera-se muito difcil que a plena cobertura da eletri-
fcao possa ser atingida em menos de 10 anos.
37 ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica, informaes disponveis em http://www.aneel.
gov.br.
44
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Tabela 5 Cobertura dos servios eltricos em residncias e ano previsto para
universalizao nos estados nordestinos, 2002
Estado Concessionria Residncias
Residncias com
eletrifcao
Cober.
(%)
Meta para
Universalizao
Maranho CEMAR 1.235.523 985.241 79,74 2015
Piau CEPISA 661.110 502.108 75,94 2015
Cear COELCE 1.757.249 1.568.650 89,26 2013
R. G. do Norte COSERN 671.580 633.750 94,36 2013
Paraba SAELPA 731.290 689.710 94,31 2013
Paraba CELB 111.756 110.578 98,94 2008
Pernambuco CELPE 1.974.244 1.895.800 96,02 2010
Alagoas CEAL 649.346 590.324 90,91 2013
Sergipe ENERGIPE 373.293 350.031 93,76 2013
Sergipe SULGIPE 73.429 60.230 82,02 2013
Bahia COELBA 3.159.262 2.609.831 82,6 2013
Como conseqncia dessas determinaes legais, alguns programas fo-
ram implementados no Brasil, visando a expandir o suprimento de energia
eltrica, em particular no meio rural e nas regies mais pobres
38
:
1 Luz no Campo - implementado por intermdio das concessionrias
desde 1999, chegou a atender 560 mil famlias, com a instalao de
mais de 2.235 MVA, basicamente mediante a extenso de linhas de
distribuio e algum emprego de sistemas fotovoltaicos.
2 PRODEEM (Programa para o Desenvolvimento Energtico
dos Estados e Municipios) - operando desde 1996, foi o principal
programa governamental de eletrifcao descentralizada,
majoritariamente baseado em sistemas fotovoltaicos domsticos,
tendo sido instalados aproximadamente 7 mil desses sistemas.
3 Luz para Todos - implementado a partir de 2003,
essencialmente uma nova denominao para os programas
anteriores, com amplo envolvimento institucional e as
concessionrias, pretendendo assegurar o acesso eletricidade para
toda a populao at 2008.
38 GOLDEMBERG, J. at alii, op.cit.
45
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
As diferentes abordagens dos programas governamentais citadas,
em grande medida focados na realidade do semi-rido e em boa exten-
so, adotando sistemas fotovoltaicos, aportaram uma boa experincia,
que somada s iniciativas privadas, principalmente implementadas por
ONGs com apoio de agncias de cooperao internacional, fornecem
uma base de refexo para as perspectivas do emprego das energias re-
novveis na eletrifcao rural no contexto do semi-rido, como discu-
tido a seguir.
B. Avaliao da eletrifcao rural com energias
renovveis no Brasil
Quatro documentos so essenciais para este tema, reproduzem
experincias concretas, relativamente recentes, com discusses aba-
lizadas sobre os logros efetivos, limitaes e obstculos por superar
para consolidar o processo de eletrificao rural mediante o em-
prego de energias renovveis, que no contexto brasileiro significa
basicamente energia solar fotovoltaica. Estes documentos sero co-
mentados a seguir, fundamentando a anlise da problemtica das
energias renovveis no semi-rido e baseando as concluses deste
captulo.
Sob o conceito da Eletrificao Rural Descentralizada, o trabalho
coordenado por GOUVELLO e MAIGNE
39
oferece elementos de
poltica energtica, planejamento e dados tcnico-econmicos real-
mente teis para a promoo das energias renovveis. So evidencia-
das as limitaes na extenso das linhas de distribuio e fornecido
um ferramental para a anlise financeira e a consolidao institucio-
nal desse novo cenrio energtico. No estudo, sobressai a certeza de
que a energia deve estar associada ao desenvolvimento rural, sem o
que os quadros de pobreza no se superam. Sobre a energia foto-
voltaica, os autores sinalizam que esta tecnologia no totalmente
compatvel com as aplicaes que devam gerar valor agregado pode
representar um obstculo ao desenvolvimento econmico. Cha-
ma-se a ateno para importncia da gesto eficiente dos sistemas
energticos inovadores, de modo a assegurar a continuidade e a qua-
39 GOUVELLO, C, MAIGNE, Y., Eletricao Rural Descentralizada, CRESESB/CEPEL, Rio de Ja-
neiro, 2003.
46
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
lidade dos servios, aspecto que geralmente as concessionrias no
so capazes de bem atender na escala dos usurios rurais.
O estudo efetuado pelo CentroClima e CENBIO
40
representa uma
contribuio brasileira aos objetivos do GNESD, Global Network on
Energy for Sustainable Development, que envolve diversos pases e institui-
es. Abordando o acesso energia eltrica, esse trabalho procura de-
terminar o potencial das diversas formas de energias renovveis para o
suprimento eltrico e avaliar os obstculos sua expanso, evidenciando
o profundo nexo entre pobreza e falta de energia eltrica, que no se
supera de forma simplista e requer que os usurios sejam capazes de
transformar-se com a eletricidade. Alm disso, sugere-se a necessidade
de coordenar as defnies de poltica energtica, o arcabouo regulat-
rio e as aes do governo no campo das energias renovveis, bem como
prover os recursos fnanceiros fundamentais para a implementao de
projetos, cujo benefcio se observa ao longo do tempo. Em sntese,
preciso reaver os valores do planejamento e defnir estratgias robustas
para ampliar o uso das energias renovveis.
Uma importante contribuio para compreender as questes relacio-
nadas com a eletrifcao rural mediante sistemas fotovoltaicos e como
tornar efetivos os investimentos realizados pelo Governo nesses siste-
mas foi realizado pelo MME, entre 2003 a 2004, por meio do Progra-
ma de Revitalizao e Capacitao do PRODEEM
41
. Ao constatar que
56% dos sistemas fotovoltaicos instalados estavam inoperantes, foram
visitados os sistemas instalados e diagnosticadas as causas dos proble-
mas detectados, desenvolvendo profunda autocrtica dos procedimentos
e estabelecido um conjunto de atividades para recuperar os sistemas e
proporcionar sua operao de forma sustentvel. A estratgia adotada
contempla trs aspectos bsicos: a maximizao dos benefcios, a assis-
tncia tcnica e a capacitao participativa e construtivista, buscando
fazer da energia um vetor de qualidade de vida. Uma concluso impor-
tante desse esforo foi a descoberta de que a disponibilidade dos siste-
mas fotovoltaicos no signifca necessariamente suprimento energtico,
40 CentroClima/COPPE/UFRJ e CENBIO/IEE/USP, Brazilian Report to Global Network on Sus-
tainable Development, Riso National Laboratory, 2004.
41 MME, Realizaes do PRODEEM (junho de 2004 a agosto de 2005), Braslia, 2004.
47
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
que depende de informao e acompanhamento.
O quarto documento a ser comentado nessa reviso crtica das possibi-
lidades das energias renovveis refere-se ao extenso trabalho de KRAUSE
e colaboradores sobre a tecnologia fotovoltaica para eletrifcao rural no
Brasil
42
. Preocupado principalmente com os modelos de fnanciamento
e gesto, esse trabalho analisa quatro confguraes adotadas para a ins-
talao de sistemas fotovoltaicos e avalia sua sustentabilidade. Concluin-
do que embora no exista um modelo nico da gesto a recomendar, os
modelos de implementao e manuteno devem ser desenhados tendo
em conta as atividades locais, integrados comunidade e minimamente
formalizados, o que implica em geral o envolvimento de concessionrias.
Outra constatao relevante de que mesmo os sistemas fotovoltaicos
bem operados no so sufcientes para reduzir a pobreza ou promover
o desenvolvimento rural, que requer uma articulao mais ampla e even-
tualmente o acesso a outras formas de suprimento energtico. Diversas
recomendaes so apresentadas pelos autores para orientar a utilizao
racional de sistemas fotovoltaicos no meio rural, com nfase para os te-
mas da regulao do setor eltrico, para os modelos de gesto sustentveis
e para as estratgias de desenvolvimento rural.
5 Concluses: energia do serto para o serto
Seria surpreendente se os baixos ndices de qualidade de vida
observados no semi-rido rural no estivessem associados a baixa
disponibilidade de energia eltrica, que cumpre ampliar. No outro
relevante componente do cenrio energtico da regio, entretanto,
as singulares condies do serto fazem com que a alta demanda de
lenha de formaes nativas, para uso local e nas cidades, cause danos
ambientais signifcativos e que tambm cumpre superar. Desse modo,
evidente o papel fundamental que as energias renovveis podem
cumprir para a sustentabilidade da ocupao humana no semi-rido
42 KRAUSE, M., JANSEN, S., JUNG, S., PASCHKE, S., RSCH, M., Sustainable Provision of Re-
newable Energy Technologies for Rural Electrication in Brazil: An assessment of the Photovol-
taic Option, German Development Institute, 2003.
48
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
e para a efetiva reduo do secular processo de degradao ambien-
tal. O atual nvel de sobre-explorao conduziu mais de 180 mil km
2
a intensa degradao e a desertifcao, eventualmente irreversvel,
signifcando perdas anuais de cerca de 100 milhes de dlares
43
.
Para que as energias renovveis possam realmente cumprir duplo de-
safo de melhorar as condies de vida e a qualidade ambiental, em um
marco de sustentabilidade, imperativo que os novos sistemas energticos
se articulem com o desenvolvimento rural, associando-se promoo de
atividades econmicas e gerao de renda, sem o que o processo de
energizao tende a incrementar as relaes de dependncia e a excluso
social. Isso signifca prover uma capacidade mnima aos usurios, em n-
veis que tipicamente os sistemas fotovoltaicos no atingem. Mesmo reco-
nhecendo, entretanto, as limitaes intrnsecas dos sistemas fotovoltaicos
domsticos em implementar a eletrifcao rural, cabe observar que no
contexto de cargas mais expressivas, como centros comunitrios, escolas,
postos de sade e sistemas de bombeamento esta forma de suprimento
energtico pode ser um diferencial importante e que permita um real ga-
nho de qualidade de vida para as comunidades atendidas. Alis, essencial-
mente, esta uma das recomendaes que um dos estudos mencionados
anteriormente apresenta para balizar as aes de fomento neste tema: a
promoo da tecnologia fotovoltaica para a eletrifcao rural no deve
ser uma rea prioritria da cooperao alem para o desenvolvimento.
Todavia, em nichos determinados os sistemas fotovoltaicos podem ser
uma alternativa racional do ponto de vista econmico e ecolgico para
eletrifcar moradores rurais pobres e melhorar consideravelmente as con-
dies bsicas de vida. Porm, para alcanar impactos mais amplos no
desenvolvimento local, esses sistemas ser integrados como um elemento
numa estratgia mais ampla de desenvolvimento rural para a reduo da
pobreza
44
.
Ainda com relao ao processo de eletrifcao rural, a elevada den-
sidade populacional existente no semi-rido um fator importante para
a progressiva reduo dos custos de extenso das linhas de distribuio.
De fato, a regio j razoavelmente atendida por linhas de transmisso e
43 vide http://www.mma.gov.br./ascom/imprensa/junho1999/.
44 KRAUSE, M. et alii, op.cit.
49
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
deve-se prever que durante nos prximos anos esta malha se amplie, in-
dicando que o espao para os sistemas fotovoltaicos dever se restringir.
No obstante, os sistemas existentes devem seguir operando em condi-
es adequadas, o que requer, como sinalizam as avaliaes do PRODE-
EM/MME, um permanente seguimento e o reforo da capacitao local
na sua gesto e manuteno. Seja mediante sistemas fotovoltaicos ou
linhas de distribuio, importante que o Estado lidere e coordene este
processo de eletrifcao rural, por seus custos elevados e possibilidades
de integrao.
Com um nexo muito mais claro com as questes de degradao am-
biental, a questo da lenha no semi-rido mostra urgncia pelos nveis
j observados de degradao e desertifcao. Nessa direo devem ser
buscadas a difuso das prticas de manejo sustentvel da caatinga e a
progressiva adoo de sistemas forestais de uso mltiplo, especialmente
por intermdio de espcies para produo forrageira e dendroenergti-
ca. Neste quadro, tambm importante buscar o binmio energia/de-
senvolvimento, que inclusive pode e deve ser conseguido mediante a
produo sustentvel de lenha para outros consumidores.
Eis algumas etapas relevantes para expandir o uso consistente das
energias renovveis no serto reverter o processo de degradao am-
biental, reordenar os espaos agroeconmicos, mudar o padro tec-
nolgico e inserir no mercado
45
. Ao propor esta nova realidade, est
subjetivo um conceito relevante: buscar uma forma sustentvel de viver
e conviver com a seca, aceitando as especifcidades regionais e empre-
gando os recursos energticos locais para a melhoria da qualidade de
vida e a gerao de renda. Qualquer outro caminho para a energizao
do semi-rido no levar muito longe.
45 GUIMARES FILHO, C., Os caminhos da convivncia com a seca, disponvel em http://www.
agronline.com.br/artigos/.
51
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Plo gesseiro de Pernambuco
Diagnstico e perspectivas de utilizao dos
energticos orestais na regio do Araripe
1
Eliseu Rossato Toniolo, Julio Paupitz,
Francisco Barreto Campello
Antecedentes
A regio do Araripe de grande importncia para a economia regional.
O plo gesseiro, alm de apresentar sinais importantes de crescimento,
palco de investimentos tecnolgicos e de aes voltadas qualifcao de
sua produo. O presente estudo encontra-se nesse contexto. Por meio de
um diagnstico ambiental e socioeconmico, apresenta subsdios para a
formulao de programas, visando sustentabilidade da matriz energtica
e melhoria da efcincia no sistema de produo. O estudo foi elaborado
prioritariamente para a regio de produo do plo gesseiro de Pernam-
buco, que engloba os Municpios de Araripina, Ipubi, Trindade, Bodoc e
Ouricuri, e um total de outros 10 municpios adjacentes dentro do Estado
de Pernambuco (Cedro, Dormentes, Exu, Granito, Moreilndia, Parnami-
rim, Santa Cruz, Santa Filomena, Serrita e Terra Nova).
O presente estudo, por sua vez, potencializa os trabalhos do Projeto
Conservao e Uso Sustentvel da Caatinga MMA/PNUD/GEF/
BRA/02/G31 na regio do Araripe, que pretende, de forma articulada
com os governos estaduais, o IBAMA, os setores da economia local e
1 Este artigo foi elaborado com apoio do Ministrio do Meio Ambiente, do Programa Nacional do Meio
Ambiente II e da Secretaria de Cincia, e Tecnologia e Meio Ambiente do Governo de Pernambuco.
52
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
da sociedade civil, demonstrar opes de prticas de utilizao susten-
tvel da caatinga, voltadas para a promoo do desenvolvimento local
assegurando a incluso social. Desta forma, o Projeto interagiu com a
SECTMA, agregando suporte tcnico aos levantamentos de campo e na
elaborao do relatrio fnal.
Localizao da APA do Araripe
1 Contexto
A produo de gesso particularmente importante para a econo-
mia da regio de insero do plo, constituindo-se no segmento mais
signifcativo da economia regional. A cadeia produtiva do gesso est
conformada por um total de 26 mineradoras, 72 calcinadoras e 234 f-
bricas de pr-moldados. Estima-se que a cadeia produtiva do gesso seja
responsvel pela gerao de 12.000 empregos diretos e 60.000 empregos
indiretos na regio (SINDUSGESSO,2003). Aproximadamente 90% da
53
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
produo de gesso brasileira se concentra na regio denominada de plo
gesseiro do Araripe situada a 700 km do Recife na poro noroeste de
Pernambuco e compreende os Municpios de Araripina, Trindade, Ipu-
bi, Bodoc e Ouricuri.
O gesso um produto mineral resultante da decomposio da gip-
sita cuja frmula expressa uma combinao de xido de clcio, sulfato
e gua. Para sua obteno, o mineral submetido a um processo de
desidratao pela calcinao, que exige a queima de combustveis para a
gerao de temperaturas superiores a 160 C. A produo do gesso se
estrutura em trs fases; a extrao da gipsita que normalmente realiza-
da a cu aberto, o processo de calcinao ou de desidratao e o preparo
de produtos de maior elaborao, como painis pr-moldados, blocos e
agente desidratante. Ademais dos produtos indicados, a gipsita bastan-
te utilizada na indstria do cimento e na agricultura como gesso agrcola
com o objetivo de diminuir os nveis de acidez dos solos (GOVERNO
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2003).
Calcinadora de gesso no Municpio de Trindade/PE.
2 Matriz energtica e o consumo de energticos
forestais
Nos setores industrial e comercial, a utilizao de combustveis lenho-
sos est dirigida aos processos de secagem e queima e, no setor domiciliar,
a utilizao da lenha e carvo vegetal destina-se coco dos alimentos,
54
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
apresentando nveis de consumo diferentes para as reas urbanas e ru-
rais.
As empresas que usam lenha como combustvel correspondem a
65% do total. Em 2002, somente 3% das empresas do Plo utilizavam
o GLP, enquanto o leo BPF era utilizado por 20% das empresas, que
so responsveis por uma parte importante da produo total do gesso.
O coque de petrleo utilizado por 11% e o carvo vegetal por 1%
(GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2003). Isto decorre
de fato de que os preos da lenha e do carvo vegetal so mais competi-
tivos comparativamente com o gs natural e eventualmente toda a gama
de combustveis derivados de petrleo: BPF, diesel, gs GLP, coque, e
outros.
Apesar de vrias tentativas e dos esforos do setor empresarial na
busca de solues para a questo energtica, cada vez mais tnue a
possibilidade de alteraes do perfl tecnolgico; e se faz, portanto, di-
fcil antever um cenrio de deslocamento (substituio) dos energticos
forestais tradicionalmente utilizados.
Em parte isto consequncia da necessidade de investimentos ele-
vados em infra-estrutura, tanto nas unidades de produo para maior
utilizao do gs GLP, bem como de parte do poder pblico para a ins-
talao de um gasoduto (gs natural) ligando Recife a Caruaru e Araripi-
na. Alm do mais, seria necessrio tomar em conta constantes oscilaes
de preos do petrleo e derivados que aparentemente sero ascendentes
com relao aos patamares de 2004.
3 Consumo de energticos forestais no plo gesseiro
As calcinadoras de gesso so as principais consumidoras de ener-
gticos forestais da regio do Araripe (93%). Em seguida, aparecem as
casas de farinha, representando 4,4%. Os demais ramos representam
apenas 3,6% do consumo total estimado para o setor.
55
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Quadro 1 Consumo de lenha e carvo vegetal no plo gesseiro do Araripe em
2004
ATIVIDADES
TOTAL
(st/ano)
%
Caieira de tijolo 6.372 0,5
Calcinadora de gesso 1.215.858 92,0
Casa de farinha 58.848 4,4
Cermica 5.446 0,4
Comrcio e servio 3.541 0,3
Indstria de doce 6.742 0,5
Queijeiras 3.097 0,2
Matadouro 1.164 0,1
Padarias 21.682 1,6
TOTAL 1.322.750 100,0
No consumo domiciliar, o carvo vegetal o combustvel mais uti-
lizado, sendo na regio urbana a maior participao (67,2%). A lenha
empregada em maior proporo na zona rural, com uma participa-
o estimada em 60,3% dos combustveis utilizados. A preferncia pela
utilizao da lenha nas reas rurais se explica em razo de sua relativa
abundncia, custo zero e fcil acesso.
4 Conformao da oferta de energticos forestais
4.1 APA da Chapada do Araripe: Pernambuco, Cear e
Piau
A APA da Chapada do Araripe apresenta quase 63% de sua superf-
cie coberta por vegetao lenhosa com diferentes graus de importncia
56
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
na conformao da oferta de energticos. Alguns dos tipos de cobertura
vegetal so as formaes de mata mida, cerrado e mata secundria
existente na poro da APA do Estado do Cear e ainda pequenos refo-
restamentos com eucaliptos.
A formao forestal de maior expresso, porm, seja em extenso
como em importncia para a produo de energia a Caatinga, corres-
pondendo s tipologias arbustiva, arbustiva-arbrea e arbrea. A mata
mida uma formao de elevada diversidade de espcies arbreas (115
espcies). Em relao produo de energticos, descartam-se as
possibilidades de utilizao da mata mida. As outras formaes
forestais, como o cerrado, cerrado, carrasco e mata seca fazem
parte do mosaico vegetacional de transio entre a mata mida e
as formaes tpicas do semi-rido.
A cobertura forestal da APA foi objeto de redues considerveis
em extenso, principalmente na tipologia da caatinga arbustiva-arbrea,
que perdeu mais de 30.000 ha no perodo entre 1997 e 2004 e entre 1989
e 2004 foi estimada uma perda de 168.793 ha de forestas na regio do
plo gesseiro. A diminuio corresponde a um volume estimado supe-
rior a 33.475.000 st (mdia de 198,33 st/ha).
Nos municpios do plo gesseiro considerados para este estudo, foi
encontrada uma cobertura forestal de 979.040 ha, das quais 54% ou
cerca de 375.020 ha faziam parte da APA do Araripe.
4.2 Projees da produo e demanda de lenha
A estimativa da demanda de energticos forestais para o plo gessei-
ro considera as perspectivas de desenvolvimento da indstria de gesso,
tendo em conta o fato de que esta indstria representa o 92% de todo o
consumo de energticos forestais.
Quadro 2 Demanda de combustveis lenhosos para o plo gesseiro do Araripe
em 2004
SETOR
DEMANDA DE LENHA (atual)
st t TEP
Indstria do gesso (21,11%) 1.215.858 413.392 126.498
57
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Outras indstrias e servios 106.648 36.260 11.096
Setor residencial 579.048 196.876 60.244
TOTAL 1.901.554 646.528 197.838
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
Com base nos estudos realizados e informaes complementares,
delinearam-se cenrios para analisar a conformao da oferta de ener-
gticos lenhosos para as indstrias do plo em face da demanda de
energticos. Os cenrios so elaborados levando em considerao as
reas forestais pertencentes aos municpios do plo e outras reas
que pertencem aos municpios adjacentes ao plo em Pernambuco,
assumindo-se em todos os cenrios uma produo de gesso estvel no
nvel da produo de 2004.
A projeo do abastecimento sustentado da produo de gesso im-
plica a aplicao de planos de manejo com rotaes entre 13 e 15 anos.
A demanda total atual de energticos para o plo gesseiro do Araripe,
1.901.554 st/ano (incluindo os consumos industrial, comercial e domi-
ciliar), implica uma superfcie forestal de corte sob manejo entre 9.508
ha/ano (ciclo de rotao com 13 anos) e 11.885 ha/ano (ciclo de rotao
com 15 anos) considerando respectivamente incrementos conservado-
res mdios entre 200 e 160 st/ha/ano.
Para isto foram desenhados quatro cenrios:
no primeiro constri-se em base na participao do consumo de
lenha e carvo vegetal em 40% dos insumos da matriz energtica.
Para a produo especfca de gesso, esta se manter no patamar
alcanado em 2004, que foi de 1.800.000t, e que para este volume
de produo 40% do combustvel utilizado de origem lenhosa.
Para o mesmo cenrio, considera-se a mesma proporo de
utilizao da lenha, carvo vegetal e gs de cozinha (GLP) para os
outros setores.
Cenrio 1: Demanda de combustveis lenhosos para o plo gesseiro do Araripe
SETOR
DEMANDA DE LENHA
st t TEP
58
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Indstria do gesso (40%) 2.304.000 783.360 239.708
Outras indstrias e servios 106.648 36.260 11.096
Setor residencial 579.048 196.876 60.244
TOTAL 2.989.696 1.016.497 311.048
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
no segundo cenrio so lenha e o carvo responsveis por 60%
da matriz energtica. Para a produo especfca de gesso, esta se
manter no patamar alcanado em 2004, que foi de 1.800.000 t, e
que para este volume de produo 60% do combustvel utilizado
de origem lenhosa. Para o mesmo cenrio, considera-se a mesma
proporo de uso da lenha, carvo vegetal e gs de cozinha (GLP)
para os outros setores.
Cenrio 2: Demanda de combustveis lenhosos para o plo gesseiro do Araripe
SETOR
DEMANDA DE LENHA
st t TEP
Indstria do gesso (60%) 3.456.000 1.175.040 359.562
Outras indstrias e servios 106.648 36.260 11.096
Setor residencial 579.048 196.876 60.244
TOTAL 4.141.696 1.408.177 430.902
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
no terceiro cenrio so a lenha e o carvo responsveis por 80%
da matriz energtica. Para a produo especfca de gesso, esta se
manter no patamar alcanado em 2004, que foi de 1.800.000 t, e
que para este volume de produo 80% do combustvel utilizado
de origem lenhosa. Para o mesmo cenrio, considera-se a mesma
proporo de uso da lenha, carvo vegetal e gs de cozinha (GLP)
para os outros setores.
59
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Queijeira no Municpio de Bodoc/PE.
Cenrio 3: Demanda de combustveis lenhosos para o plo gesseiro do Araripe
SETOR
DEMANDA DE LENHA
st t TEP
Indstria do gesso (80%) 4.608.000 1.566.720 479.416
Outras indstrias e servios 106.648 36.260 11.096
Setor residencial 579.048 196.876 60.244
TOTAL 5.293.696 1.799.857 550.756
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
no quarto a lenha e o carvo so responsveis por 100% da
matriz energtica. Para a produo especfca de gesso, esta se
manter no patamar alcanado em 2004, que foi de 1.800.000 t, e
que para este volume de produo 100% do combustvel utilizado
de origem lenhosa. Para o mesmo cenrio, considera-se a mesma
proporo de uso da lenha, carvo vegetal e gs de cozinha (GLP)
para os outros setores.
Cenrio 4: demanda de combustveis lenhosos para o plo gesseiro do Araripe
SETOR
DEMANDA DE LENHA
st t TEP
Indstria do gesso (100%) 5.760.000 1.958.400 599.270
Outras indstrias e servios 106.648 36.260 11.096
Setor residencial 579.048 196.876 60.244
TOTAL 6.445.696 2.191.537 670.610
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
60
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
61
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
4.3 Consideraes sobre o manejo forestal sustentvel
A utilizao de planos de manejo forestal condio obrigatria
para a produo de energticos forestais em conformidade com a legis-
lao em vigor, entretanto, do total das reas forestais da regio do plo
gesseiro e dos municpios adjacentes, somente 4.774 h de caatinga se
encontram sob regime de uso sustentvel atravs de Plano de Manejo.
Desde 1994, foram cadastrados no IBAMA/PE 17 planos de manejo na
regio, com uma produo lenhosa superior a 63.000 st/ano. Dos pla-
nos cadastrados, 8 esto localizados no Municpio de Exu. Os restantes
se distribuem entre os Municpios de Ouricuri, Afrnio, Ipubi, Araripina
e Parnamirim.
Indstria de doces no municpio de Bodoc/PE.
Vegetao de Caatinga arbustiva-arbrea
62
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Quadro 3 Planos de manejo forestal existentes at 2005 na regio do Araripe
PLANO MUNICPIO
REA
DO
PLANO
ROTAO
DO
PLANO
INCREM.
MDIO
ANUAL
PROD.
MDIA
PRODUO
TOTAL
(ha) (ano) (st/ha/
ano)
(st/ha) (st)
1 Exu 130,77 8 19,09 171,84 22.454,32
2 Exu 80,33 8 22,76 341,65 27.444,72
3 Ipubi 547,82 10 328,75 180.095,83
4 Ipubi 238,26 8 20,40 174,45 41.564,45
5 Araripina 78,80 10 245,57 19.350,92
6 Ouricuri 75,05 10 207,80 14.815,56
7 Parnamirim 1.088,82 10 12,65 133,64 145.246,63
8 Ouricuri 192,89 10 246,70 47.585,96
9 Exu 125,14 8 31,32 254,64 31.865,62
10 Exu 107,60 8 34,70 355,03 38.201,20
11 Exu 77,60 8 32,71 254,64 29.334,56
12 Exu 493,78 13 426,77 210.730,50
13 Exu 65,13 8 20,02 208,16 13.557,46
14 Afrnio 100,00 10 11,90 210,08 21.080,00
15 Exu 250,00 8 26,03 210,08 68.015,00
16 Ouricuri 772,85 13 11,36 181,80 35.513,91
17 Exu 349,58 13 391,90 137.000,40
TOTAL
4.774,42 163 242,94 4.343,50 1.083.857,04
MDIA
280,85 9,59 22,09 255,50 63.756,30
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2003 e 2005.
As modalidades de interveno na execuo dos planos de manejo
utilizadas so:
a) corte raso sem destoca, com alternncia de talhes e a incorpo-
rao da galhada ao solo;
b) corte raso sem destoca em faixas alternadas com incorporao
de galhada ao solo;
c) corte seletivo com base a dimetro mnimo em talhes alterna-
dos. O corte de todas as espcies com DAP (dimetro a altura do peito,
medido a 1,30 m do solo) superior a 10 cm.
63
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Com base nos planos de manejo instalados inicialmente na regio, es-
timou-se a viabilidade da adoo de perodos de rotao de 8 anos. Com
arrimo, porm, na evoluo do manejo (segunda rotao dos talhes
estabelecidos), possvel constatar a necessidade de ampliar os perodos
considerados inicialmente para at 15 anos, em razo, principalmente, da
possibilidade de produtividades decrescentes.
Quadro 4 Projeo das necessidades de reas sob manejo forestal para a
produo industrial no plo gesseiro em 2004
DEMANDA
DO PLO
GESSEIRO
EM 2004
(st)
CENRIO 1 DE MANEJO
ROTAO DE 15 ANOS
INCREMENTO DE 11 st/
ha/ano 160 st/ha
CENRIO 2 DE MANEJO
ROTAO DE 13 ANOS
INCREMENTO DE 16 st/ha/
ano
200 st/ha
REA
TOTAL
(ha)
REA DE
CORTE
ANUAL (ha)
REA
TOTAL
(ha)
REA DE CORTE
ANUAL (ha)
1.901.554 178.275 11.885 123.604 9.508
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
As rotaes de 13 anos seriam indicadas para as reas situadas em
maior altitude, onde existem possibilidades de rendimentos superiores
a 200 st/ha, como, por exemplo, nas reas de transio entre as forma-
es cerrado e carrasco, presentes nas reas superiores da Chapada.
Para a projeo, utilizou-se uma mdia conservadora de 200 st/ano
para rotaes de 13 anos. Para reas com menor produtividade, con-
siderou-se a hiptese de rotaes de 15 anos com um volume fnal de
corte de 160 st/ha.
Juntamente com este volume de madeira originado dos planos de
manejo, dever ainda ser considerado o volume de lenha proveniente de
reas preparadas anualmente para serem incorporadas ao sistema pro-
dutivo, conforme o modelo praticado no sistema de pousio.
64
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
65
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Quadro 5 Projeo das necessidades de reas sob manejo forestal para os
cenrios da produo industrial no plo gesseiro
DEMANDA
ANUAL
PROJETADA
DO PLO
GESSEIRO
(st)
CENRIO 1 DE MANEJO
ROTAO DE 15 ANOS
INCREMENTO DE 11 st/ha/
ano
160 st/ha
CENRIO 2 DE MANEJO
ROTAO DE 13 ANOS
INCREMENTO DE 16 st/ha/
ano
200 st/ha
REA
TOTAL
(ha)
REA DE
CORTE ANUAL
(ha)
REA
TOTAL (ha)
REA DE
CORTE ANUAL
(ha)
2.578.278 (40%) 241.714 16.114 167.588 12.891
4.429.696 (60%) 415.290 27.686 287.924 22.148
5.293.696 (80%) 496.290 33.086 344.084 26.468
6.445.696 (100%) 604.290 40.286 418.964 32.228
Fonte: SECTMA/GEOPHOTO, 2005.
Considerando o mapeamento realizado em 2004, foram identifca-
dos 388.397,79 ha, 310 reas potenciais para manejo, correspondendo a
21,70% da rea estudada.
Os Municpios de Serrita e Parnamirim, seguidos dos municpios de
Santa Cruz, Dormentes, Ouricuri e Exu, so os que apresentam maior
quantidade de reas com potenciais para manejo forestal.
5 Plo gesseiro: sociedade civil, entidades e
representaes
Os levantamentos realizados na rea do plo gesseiro indicam a
existncia na regio de 238 organizaes civis formalmente registradas.
Destas, so majoritrias as associaes comunitrias que completam um
nmero de 102, associaes de agricultores e produtores em nmero de
80 e as associaes de moradores em numero de 57.
Apesar da pouca diversifcao dos organismos da sociedade civil, uma
parte das entidades apresenta certo nvel de organizao e presena na
vida comunitria que poderiam posteriormente contribuir para a difuso
de informaes, na capacitao de lderes e na formulao de parcerias.
Foram identifcadas, em 2003, 4 instituies, organizaes no go-
66
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
vernamentais (ONGs), com as condies mnimas para participarem de
um programa de implementao de projetos de manejo forestal, sem
necessidade de uma capacitao exaustiva: a) Fundao Araripe (Cra-
to/CE), b) CAATINGA (Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalha-
dores e Instituies No Governamentais Alternativas), Ouricuri/PE; c)
CHAPADA (Centro de Habilitao e Apoio ao Pequeno Agricultor do
Araripe), Araripina/PE; d) CEPPA (Centro dos Pesquisadores Associa-
dos da Agrobiologia do Araripe); e duas associaes que desenvolvem
atividades prximas ao setor forestal; e) Associao dos Trabalhado-
res Rurais da Agrovila Nova Esperana, Ouricuri/PE; f) AAPIO
(Associao dos Apicultores de Ouricuri), Ouricuri/PE.
Em relao ao empresariado, existe uma maior conscientizao em
relao ao meio ambiente, havendo discusso de propostas de utilizao
racional dos recursos e possvel adoo de estmulos preservao do
meio ambiente. De modo geral, as empresas do ramo esto classifcadas
com potencial mdio de degradao. No caso especfco do plo, onde
a maior parte das empresas classifcada como de pequeno porte, 60%
destas empresas foram consideradas de pequeno potencial degradador
e 40% com potencial mdio de degradao. Os processos que emitem
poluentes em uma calcinadora so relacionados emisso de poluentes
slidos, transporte de materiais, eroso elica, britagem e classifcao
(GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 2003.).
6 Consideraes sobre planos de manejo forestal
Como exposto, um total de 17 planos de manejo forestal esto em
execuo na regio do plo gesseiro em base a rotaes que variam entre
8 e 13 anos.
A escassa adoo de prticas de manejo forestal entre os produtores
tem origem numa srie de fatores, dentre os quais so identifcveis:
a) desconhecimento das instituies relacionadas com
fomento e crdito rural sobre o manejo forestal e as
possibilidades de sua aplicao no semi-rido;
b) o desconhecimento do pblico em geral; neste parti-
67
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
cular persistem desinformaes sobre o carter e as
funes da APA da Chapada do Araripe e, sobretu-
do, do papel que tm os planos de manejo forestal
nas reas do entorno da APA;
c) tramitao complicada e sistema pouco operativo de
fscalizao, assistncia tcnica escassa e incompat-
vel com as necessidades dos produtores; e
d) desconhecimento do potencial da caatinga como
prestadora de servios ambientais (gua, biodiversi-
dade, solos), das suas possibilidades para a produo
de energia a partir da biomassa e do uso mltiplo
potencial dos recursos.
de se ressaltar, porm, que os planos de manejo orientados para
a caatinga constituem uma maneira de fomentar o desenvolvimento de
uma viso de longo prazo que trate de incentivar formas adequadas de
utilizao do bioma. Restrito, todavia, explorao energtica, o plano
de manejo poder gradualmente ser ampliado no sentido de uma varie-
dade de produtos at agora no considerada.
6.1 Recomendaes
As recomendaes mais importantes salientam a urgncia em desen-
cadear as medidas seguintes: institucionais; crdito e fomento; extenso
e capacitao; estudos.
INSTITUCIONAIS: trs eixos de ao devem receber ateno
das propostas na regio do plo gesseiro:
a) reforo da fscalizao e controle das atividades de explorao das
formaes de caatinga, mediante o desenho e instalao de um sistema
de controle dos fuxos de lenha e carvo vegetal nos Municpios do plo
gesseiro e o treinamento de pessoal para manejar o sistema;
b) criao de grupo de trabalho sobre o manejo forestal que possa
68
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
fazer o desenho e desenvolver os programas de manejo forestal para
atender as necessidades da produo forestal sustentada; e
c) em relao biodiversidade e reas protegidas, tem que se desenvol-
ver um enquadramento para o manejo forestal em funo da APA do
Araripe e das reas naturais de importncia para a biodiversidade e ma-
nanciais do Estado de Pernambuco (situadas no plo e adjacncias).
CRDITO E FOMENTO - os eixos principais das aes de
crdito e fomento esto constitudos pelo sistema bancrio e
agncias de desenvolvimento com os sistemas de divulgao
e capacitao (ofciais e sociedade civil). As aes junto aos
bancos seriam as de desenvolver a estratgia que tenha por
objetivos dar agilidade ao fnanciamento de capital de giro
para os interessados e a simplifcao de procedimentos. As
aes com agncias de desenvolvimento, orientadas no sentido
de enlaar a execuo do programa na regio do plo gesseiro
com as prioridades da ADENE e outras instituies, visando
ao repasse de recursos para a expanso das reas sob manejo
forestal e a replicao do apoio ao manejo da caatinga em
outros estados.
EXTENSO E CAPACITAO - os eixos principais das
aes de extenso e capacitao constituem os sistemas ofciais
e da sociedade civil. As principais aes recomendadas so a
identifcao e formulao de projetos locais orientados
gerao de empregos com base nos diagnsticos realizados
sobre as cadeias produtivas prioritrias na APA do Araripe e a
capacitao e gesto; fomento da inovao produtiva, apoiando a
utilizao, o desenvolvimento e a dinamizao de propostas no
convencionais da disseminao de informao de sistemas de
produo sustentvel para o semi-rido, mediante: a) o reforo
e a utilizao de redes de produtores (agricultor a agricultor)
69
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
para o intercmbio de informao e tecnologia de com nfase
no manejo forestal de uso mltiplo da caatinga; b) agroecologia
e produo orgnica; e c) reintroduo de fauna e fora do semi-
rido (criadouros e manejo).
7 Plo gesseiro: aspectos econmicos e sociais da
produo de energticos forestais
A explorao de energticos forestais tem importncia reconhecida
na formao de renda para o agricultor do semi-rido tanto que a pro-
duo de lenha e carvo parte integral dos sistemas tradicionais de
produo agropecuria extensivos desta regio. Para o produtor rural, a
produo extensiva uma maneira imediata de criao de renda, espe-
cialmente para aqueles mais vulnerveis com relao ao clima e pouca
estabilidade dos sistemas tradicionais de produo agropecuria.
Os rendimentos fnanceiros resultantes da produo de energticos
forestais so signifcativos e particularmente interessantes desde vrias
perspectivas. Primeiramente, e desde o ponto de vista do produtor, os
desembolsos de capital inicial no so elevados, j que no se faz ne-
cessria a consecuo da massa forestal. Alm disso, o manejo forestal
pode ser qualifcado como uma atividade produtiva pouco tecnifcada,
mas, em contrapartida, socialmente no excludente pela gerao de ren-
da e emprego que proporciona.
A explorao de lenha uma componente normal dos sistemas de
pousio responsvel, uma poro do abastecimento energtico nas reas
urbanas e para o consumo residencial rural. O sistema do pousio permite
ao agricultor reciclar nutrientes naturais, j que seu acesso a insumos ex-
ternos (fertilizantes, assistncia tcnica e irrigao) limitado. Mais dire-
tamente, este tipo de explorao ajuda a minimizar os efeitos da estiagem
pela incorporao de produtores s atividades de explorao, transporte e
manipulao da lenha e carvo para fns de utilizao comercial e indus-
trial.
Com base em consultas junto a algumas calcinadoras de gesso du-
rante os levantamentos para estimativa da demanda de lenha, o preo da
lenha em 2003 variava entre 12 e 15 reais, dependendo do fornecedor e
do usurio. Outro dado importante so os fuxos de lenha clandestina,
cuja presena afeta os preos de mercado e ocasiona um interesse menor
com relao a planos de manejo.
A produo de lenha sob o regime de manejo forestal uma alterna-
tiva de agregao de renda ao pequeno e mdio produtor do semi-rido.
Os investimentos iniciais so baixos e o fuxo de benefcios imediato
com a venda do produto normalmente realizada na propriedade rural.
Os custos iniciais resumem-se a trs categorias; a) jurdicos, taxas carto-
riais, b) institucionais (IBAMA) e c) assistncia tcnica para elaborao
do plano de manejo. Nos custos de assistncia tcnica incluem-se hono-
rrios entre 10 e 20 reais por hectare para as reas sob explorao anual
em planos com menos de 500 ha.
importante ressaltar que na produo de 100.000 st so gerados
aproximadamente 200 empregos. As dirias pagas na regio para o cor-
te de lenha em plano de manejo forestal esto em torno a 20 reais,
enquanto a mdia de pagamento efetuada na regio fca em torno a 10
reais/dia.
A produtividade dos cortadores de lenha varivel entre 5 e 8 estres
de lenha/dia. Os custos de transporte por caminhes com capacidade
at 30 estres de 6 Reais/st considerando distncias entre 50 e 75 km.
Na propriedade os preos da lenha empilhada fcam entre 10 e 18 Reais,
variao esta dependente principalmente da estao do ano. Informa-
es recolhidas na regio demonstram ingressos de at 2 salrios por
ms para agricultores com a produo de lenha.
Apesar desta aparente rentabilidade da atividade de explorao da
lenha sob manejo forestal, a incorporao de um nmero maior de pro-
dutores s prticas de manejo forestal no apresenta efetiva. A ilegalida-
de generalizada no mbito da comercializao, a complexidade das tra-
mitaes exigidas pelos rgos para a aprovao de planos de manejo, a
desinformao e, sobretudo, a descapitalizao no setor rural so alguns
dos aspectos que no fazem do manejo forestal uma atividade atrativa.
71
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Biodiesel e o Combate Deserticao
Ingo Melchers
Poucos temas provocam mais entusiasmo e controvrsia nos setores
engajados no desenvolvimento rural sustentvel no Nordeste do que as
perspectivas do biodiesel para alavancar a agricultura familiar no semi-ri-
do. Um dos pontos mais debatidos so os possveis impactos ambientais
e sociais que uma ampliao macia da cultura de mamona trariam ao
semi-rido nordestino.
Neste artigo pretende-se apresentar algumas observaes sobre o
desenho governamental do Plano Nacional do Biodiesel, mais especif-
camente, os seus elementos de incluso social no Nordeste, as expecta-
tivas referentes ao uso sustentvel da terra sob o ngulo do combate
desertifcao e, fnalmente, mostrar o papel da GTZ nos debates e na
implementao de projetos e parcerias concretos.
O presidente Lula no costuma perder oportunidades de propagar o
Programa Nacional de Biodiesel e sua importncia, tanto para o meio
ambiente como para a incluso social, principalmente para a agricultura
familiar no Semi-rido Brasileiro (SAB). O presidente americano Bush
retribui a conversa com Lula com elogios s pretenses brasileiras de se
tornar uma potncia bioenergtica. Bono, integrante do grupo musical
irlands U2, ouve as informaes do presidente Lula sobre o biodiesel
e as plantaes de mamona nas reas secas e expressa publicamente sua
esperana no sucesso deste Programa.
No incio, uma parte da mdia e da academia se mostrara ctica.
Alegaram-se difculdades tcnicas na transformao do leo de ma-
mona em biodiesel. Os mais vriados estudos foram sendo divulgados,
72
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
mostrando resultados favorveis e desfavorveis da mamona como
matria-prima do biodiesel.
Ainda h dvidas na academia sobre a viabilidade econmica da
mamona por causa da cotao elevada do leo de mamona e por falta
de uso de seus resduos. Alguns atores sugerem, ainda com ressalvas,
que o algodo poderia ser o mais barato para biodiesel no Nordeste,
enquanto a EMBRAPA Algodo (Campina Grande) continua apostan-
do na mamona
1
.
Em seminrio realizado conjuntamente entre o BNDES, MDA, fa-
bricantes de equipamentos e investidores em biodiesel (16 de maro de
2006), a Dedini Indstrias, grande empresa que produz equipamentos
para Biodiesel, atestou a qualidade industrial do biodiesel de mamona
produzido em seus equipamentos.
Na verdade, este debate est superado, haja visto, que a Agncia Na-
cional de Petrleo, ANP, aceitou o biodiesel com base na mamona, pois
atende as especifcaes tcnicas de qualidade no Pas.
Uma divergncia o trato fscal do Biodiesel. H quem discorde
das defnies do Governo Federal de desonerar apenas as empresas de
Biodiesel que assumam um compromisso de combate pobreza rural
nas regies mais pobres. Vale ressaltar, porm, que uma desonerao de
tributos federais geral para toda a cadeia produtiva, independentemente
do impacto social, certamente impossibilitaria a competitividade da agri-
cultura familiar no Programa de Biodiesel em regies desfavorecidas.
A soja, por exemplo nas regies dos cerrados no Centro-Oeste,
certamente tem um potencial forte e contribuir para a produo em
larga escala do Biodiesel no Brasil. Dadas as caractersticas da agricul-
tura intensiva em grandes reas e produo altamente mecanizada nes-
sa regio, porm, os impactos sobre o emprego e combate pobreza
rural sero muito pequenos em comparao aos impactos esperados
da mamona no Nordeste.
O biodiesel apresenta boas condies de contribuir para a incluso
social, dada a diversidade das oleaginosas que podem ser produzidas em
regime de agricultura familiar, diferentemente do bioetanol, cuja base, a
cana-de-acar, provm quase exclusivamente de grandes plantaes.
1 http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/mamona/index.html.
73
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Alm do seu potencial para gerao de renda familiar e incluso so-
cial, deve ser perguntado sobre as conseqncias da mamona sobre a
caatinga, lembrando que se trata de um bioma vulnervel e suscetvel a
processos de degradao de terra e perda de fertilidade dos solos. Qual-
quer poltica e todo projeto de escala nos sertes devem passar por uma
avaliao de seus impactos sobre a desertifcao.
Vale lembrar aqui que vrios esforos foram efetuados pelo Governo
Federal, entre outros, pelo MDA, para diversifcar a base das matrias-
primas do biodiesel familiar (pinho-manso/Jatropha para Minas Ge-
rais, e regies, onde a mamona no se adapta, assim como experimentos
com girassol para regies em Alagoas e Maranho.
1 O Combate Desertifcao
A Conveno da ONU de Combate Desertifcao direito inter-
nacional e obriga os Estados-membros a entregar periodicamente um
relatrio para toda Conferncia das Partes (COP), instncia mxima da
Conveno, no qual mostra as suas atividades para adequar o uso das
terras e solos de modo a evitar sua degradao. O Plano de Ao Nacio-
nal de Combate Desertifcao (PAN) um dos instrumentos princi-
pais da Conveno.
A Conveno foi instituda com o grande mpeto da Conferncia Rio
92: a conciliao de Desenvolvimento e Meio Ambiente ou seja, o De-
senvolvimento Sustentvel. Ela, portanto, no uma conveno tradicio-
nal de proteo apenas, que vise exclusivamente preservao da natu-
reza. Pelo contrrio, ela reconhece e reafrma os interesses produtivos e
sociais, principalmente dos agricultores familiares, mas tambm de outros
utilizadores de recursos naturais, alm de insistir numa real e efetiva parti-
cipao da sociedade civil nos processos de informao e deciso.
A idia simples e convincente: barrar o processo de degradao das
terras nas regies ridas, semi-ridas e submidas secas no Planeta s
possvel se houver incentivos sufcientes para alternativas sustentveis
de uso de terra, assim como para a produo e uso de energia que pos-
sam garantir uma vida econmica e social digna das populaes rurais.
No h sustentabilidade e no h combate desertifcao onde h ho-
mens, mulheres e crianas passando fome.
74
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Por outro lado, e evidentemente, necessrio cuidar, controlar e mo-
difcar os diferentes usos de terra que levam degradao dos solos nas
regies secas. Para dar alguns exemplos um tanto aleatrios;
as polticas e os programas dos rgos responsveis por sistemas de
irrigao no apropriados - esbanjando gua ou sem drenagem - que
contribuem para a salinizao dos solos devem ser revisadas.
culturas que no cobrem o solo expondo-o aos efeitos do sol devem
ser evitadas, assim como monoculturas. As polticas de assistncia
tcnica e extenso rural devem incorporar isto.
o uso indevido de lenha para os polos gesseiros e olerias deve
ser regulamentado, procurando maior efcincia na queima dos
combustveis e maior diversifcao das fontes de energia.
Equilbrio na economia familiar, convivncia com o
semi-rido e combate desertifcao
A agricultura familiar, em todo o mundo - enquanto existem pers-
pectivas econmicas e sociais de se manter e progredir com a uni-
dade produtiva familiar - visa sustentabilidade de longo prazo, usa
rotao de culturas, cuida e investe na conservao e melhoria da
fertilidade do solo e diversifca a produo. O produtor familiar
raramente investe em um nico produto. Para uma receita monet-
ria imediata, h culturas de ciclo curto. Culturas permanentes con-
tribuem para um aumento de renda de longo prazo e a cobertura
de solo onde existe perigo de eroso ou degradao. A produo
animal necessria para maior integrao dos componentes na pro-
priedade familiar e sua estabilidade de longo prazo. Muitas vezes
h um carro-chefe, um ramo produtivo, que concentra uma parcela
maior de investimentos e de mo-de-obra familiar - e das receitas
- na propriedade, mas a agricultura familiar evita a vulnerabilidade
da dependncia a um nico produto.
Na medida possvel, e a partir de um certo grau de consolidao
econmica e social da propriedade familiar, recomendvel acres-
centar alguma forma de benefciamento de um produto, seja ele ve-
75
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
getal ou animal, para agregar valor e conquistar uma parcela maior
de mercado.
No semi-rido, a maioria dos agricultores familiares est muito longe
deste nvel de estabilidade da sua unidade produtiva e reprodutiva.
O autoconsumo, somado s receitas monetrias, via de regra, no
permitem que a propriedade familiar possa se consolidar, deixan-
do a famlia exposta a uma alta vulnerabilidade econmica e social
e insegurana alimentar. Muitas vezes falta um produto que pode
ser ofertado com regularidade, qualidade e quantidade. E, se hou-
ver, falta um acesso organizado aos mercados locais, institucionais e
regionais. Falta, capital, terra sufciente, conhecimento, formao e
informao para absorver as ofertas das polticas pblicas.
O agricultor familiar, por exemplo, que tem a criao de cabras
como carro-chefe da sua unidade produtiva, deveria saber com um
mnimo de certeza quantos animais podem ser alimentadas de for-
ma segura pela sua terra durante o ano todo. Isto, por um lado, para
no deixar subutilizados seus meios de produo e, por outro, para
no contribuir com um sobrepastoreio e a degradao da sua terra.
O prximo passo aumentar sustentavelmente o suporte animal.
Para isso ele precisa investir em conhecimentos, benfeitorias, ani-
mais, produo, diversifcao e conservao de forragens, manejo
sanitrio e veterinrio, construes etc. batalhando por crditos es-
pecfcos (PRONAF), usar o Programa de Aquisio de Alimentos
(PAA), procurar outras formas de apoio. Na medida que a unidade
produtiva familiar conseguir aumentar sua segurana alimentar, con-
solidando e diversifcando sua produo agropequria e aumentar
sua renda monetria e nomonetria, no haver mais incentivos
de prticas insustentveis. Ter condies e sente-se incentivada a
cuidar da terra, conservando a fertilidade do solo, emfm, contribuir
para o combate desertifcao.
Neste sentido, contribuir para captao e manejo adequado de guas,
cisternas, barragens subterrneas, o uso sustentvel das terras, co-
bertura morta e viva do solo, diversifcao e rotao de culturas, ca-
prinocultura semi-intensiva, forestamento com usos diferenciados
(forrageiras, curtumes, cosmticos, ftofrmacos etc.), aproveitando
novas oportunidades, agricultura orgnica garantindo e organizando
76
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
o acesso a todos os mercados para os agricultores familiares, geran-
do e aumentando receitas monetrias e nomonetrias que remune-
rem dignamente as famlias, tudo isso, faz parte integral e prtica de
combate desertifcao.
2
. No ano 2004, o Brasil apresentou o seu
PAN. Ele tem quatro eixos temticos: (1.) reduo de desigualdade,
(2.) ampliao sustentvel da capacidade produtiva, (3.) preservao,
conservao e manejo dos recursos naturais e fnalmente (4.) a Ges-
to Democrtica e Fortalecimento Institucional.
A GTZ e o DED
3
trabalham juntos com o Ministrio de Meio Am-
biente e a Articulao no Semi-rido, ASA, para a implementao
do PAN e para que seja levado em conta para a elaborao e imple-
mentao de planos e programas voltados para o semi-rido por
outros ministrios e rgos.
Entende-se que o conceito de convivncia com o semi-rido, ampla-
mente promovido pelas organizaes da sociedade civil e rgos go-
vernamentais, seja o mais adequado, tanto para um desenvolvimento
econmico dos sertes como para o combate desertifcao.
2 O Programa Nacional de Biodiesel
O Programa Nacional de Biodiesel (PNBio) visa ao fomento da produ-
o e do uso do biodiesel em todo o Territrio brasileiro em diferentes con-
dies climticas, com um grande nmero de variadas plantas oleaginosas,
tais como girassol, mamona, dend, soja, pinho-manso e nabo forrageiro.
Para tal, apia a produo de novos conhecimentos cientfcos, edita
planos de apoio especfco de crditos aos produtores de biodiesel, assim
como os produtores da matria-prima agrcola, entre outros. Quanto ao
uso, atribui Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Combust-
veis Renovveis (ANP), a tarefa de identifcar e defnir as respectivas
condies tcnicas, de qualidade e administrativas para a adio de dois
porcento de biodiesel ao diesel convencional (B2) at o ano 2008 e cinco
por cento (B5) at o ano 2013, podendo aumentar depois.
O Ministrio de Desenvolvimento Agrrio, MDA, por sua vez, tem
2 Evidentemente de fundamental importncia, alm disso, aumentar os esforos de preser-
vao onde h ameaas de degradao aguda de terras por usos no adequados. Aqui, porm,
no h espao suciente para abordar estes aspectos.
3 DED = Servio Alemo de Cooperao Tcnica e Social.
77
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
a incumbncia de zelar pela incluso social do PNBio. Desde o incio
o PNBio se destacou no apenas pela instaurao de um produto e um
mercado completamente novo no Brasil, mas tambm pela vinculao
deste com o objetivo maior de combate pobreza rural e reduo das
desigualdades sociais e regionais. Da a nfase na agricultura familiar de
forma geral e na mamona nas zonas mais ridas e pobres do Pas. Este
forte vis no social se materializou, em 2005, na formulao e instituio
do chamado Selo Combustvel Social.
O selo concedido aos produtores de biodiesel que
comprem porcentagem relevante da sua matria-prima da agricultura
familiar
4
;
tenham contratos que garantam a compra aos agricultores a um
preo pr-determinado; e
forneam uma assistncia tcnica a estes agricultores.
Com este selo as empresas tm o direito de reduo dos impostos
(federais) PIS/CONFINS e de participao nos leiles da ANP. Esta
poltica se justifca pelo forte interesse pblico de integrar mais produto-
res familiares, principalmente das regies mais pobres. E evidente que
mais oneroso celebrar 20.000 contratos com agricultores familiares de
um e meio hectare cada do que fazer 300 contratos com empresrios
rurais de cem hectares cada um. As exigncias e custos logsticos so
muito maiores.
4 Esta porcentagem varia conforme a capacidade produtiva e de resposta da agricultura fami-
liar nas diferentes grandes regies do Brasil entre 50% no Nordeste e 10% no Centro-Oeste.
Selo Combustvel Social do MDA: reduo de desigualdades sociais e
regionais mediante renncia fscal
O Biodiesel tem uma alquota de PIS/Cofns na sua comercializao. Essa
alquota de R$ 218 por metro cbico, ou seja, a cada mil litros se paga 218
reais. Se o produtor de biodiesel trabalhar com agricultura familiar em qualquer
parte do Pas ele vai pagar R$ 70 por metro cbico. Se ele trabalhar com agri-
cultura familiar nas regies Norte e Nordeste com os cultivos de mamona e dend
ele no vai pagar imposto nenhum. A gente promove uma reduo de impostos
pela participao da agricultura familiar e mais ainda pela participao da regio
Norte e Nordeste no programa.
Arnoldo Campos, Coordenador do Programa Nacional de Biodiesel no MDA
78
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Ao se fazer 20.000 ou mais contratos, se mergulha nos problemas lo-
gsticos e da gesto, mas principalmente nas potencialidades de combate
pobreza na zona rural. Apenas para dar dois exemplos:
para assinar um contrato necessrio que o produtor fornea
junto s autoridades competentes um cadastro de pessoa fsica, CPF,
que muitos produtores rurais nos sertes ainda no tm;
o produtor precisa de uma declarao de que realmente agri-
cultor familiar (DAP), e tem que solicitar junto ao Sindicato dos Traba-
lhadores (STR) local ou outro rgo competente para tal.
Alm disso, aumenta a receita monetria do agricultor, que vem sen-
do familiarizado com uma srie de outras polticas sociais e econmicas
que desconhecia, antes do Programa.
No incio de 2006, a ANP, em dois leiles pblicos, comprou 240
milhes de litros de biodiesel de empresas com um compromisso social
no seu empreendimento. Em abril de 2006, a ANP, em novo leilo, de-
ver comprar algo em torno de mais 400 milhes de litros para entrega
at fnal do ano 2007. Estima-se que o biodiesel na base de mamona no
Nordeste dever ter uma porcentagem de 20% do total do biodiesel do
Brasil. O enquadramento social dos projetos junto ao MDA condio
indispensvel para participar dos leiles da ANP.
Existe, resumindo, toda uma dinmica (e nus) de apoiar e aprofun-
dar a cidadania dos atores locais, cujos custos a empresa privada est
assumindo. Alm disso, espera-se que o Programa possa contribuir indi-
retamente para os produtores aumentarem sua capacidade de negocia-
o e de organizao social na cadeia produtiva. Tudo isto de interesse
pblico? Evidentemente que sim.
Concluindo, o PNBio um exemplo interessante que integra uma
poltica econmica e energtica extremamente moderna e necessria em
nvel nacional e internacional com fortes ambies sociais. Certamente
trata-se de uma poltica estruturadora que complementa ou at poten-
cializa, desta forma, outras polticas sociais, notadamente as de transfe-
rncia de renda.
79
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
3 Biodiesel e combate desertifcao:
caminhando para um bom casamento?
Um dos grandes eixos do PAN, do Plano de Ao Nacional de Com-
bate Desertifcao, o aumento da capacidade produtiva dos agricul-
tores familiares. Este um dos contextos em que se insere o apoio da
GTZ ao Programa Nacional de Biodiesel no Nordeste. A produo de
mamona parece oferecer para dezenas de milhares de produtores fami-
liares uma oportunidade de diversifcar o leque de seus produtos, alm
de aumentar sua renda monetria. Pode-se alegar que a incorporao da
mamona
5
na cesta dos produtos da propriedade familiar poder substi-
tuir at certo grau a cultura do algodo que servia at o sua decadncia
nos anos 80 de estabilizadora da renda monetria familiar nos sertes.
A Brasil Ecodiesel uma empresa que em 2003 tomou a deciso de
investir na mamona e agricultura familiar no Nordeste. Desde o incio,
vinculou suas orientaes empresariais a um contexto de responsabili-
dade social. A modalidade mais importante hoje de contratos que fo-
ram negociados com as federaes sindicais e a CONTAG e que visam a
produo consorciada de feijo e mamona em uma rea de 1 a 5 hectares,
com mdia de menos de dois hectares. Isto garante uma receita mone-
tria adicional, uma diversifcao produtiva, sem, no entanto, absorver
toda a mo-de-obra familiar e sem ocupar a maior parte do seu terreno.
importante ressaltar que a mamona no deve ser entendida como o
salvador da ptria, em que todas as fchas devem ser apostadas porque
isso feriria a base da agricultura familiar e aumentaria a vulnerabilidade
econmica e social do empreendimento (ver: Equilbrio na Economia
Familiar no box neste texto).
No incio de 2006, o seguinte cenrio est delineado: em um espao
curto de tempo foram assinados mais de 20.000 contratos com agricul-
tores familiares nas regies semi-ridas, principalmente dos Estados da
Bahia, Cear, Pernambuco e Piau, com perspectivas de fortes aumentos
nos prximos dois anos. Cada contrato garante aos produtores familia-
res a compra da mamona a um preo fxo predeterminado, assistncia
tcnica, ferramentas, sementes de mamona e de feijo, sacaria, ajuda na
debulha, entre outros. Desta modalidade de parceria com a agricultura
5 Ou olhando para o futuro, incluir tambm outras culturas oleaginosas e resistentes seca.
80
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
familiar ainda pesa o fraco acesso dos agricultores ao crdito PRONAF,
que poder, em muito, aumentar o desempenho das culturas agrcolas.
O MDA, a CONTAG, junto com federaes estaduais e a empre-
sa Brasil Ecodiesel, frmaram uma parceria de desenvolvimento com a
GTZ e o DED que visa qualifcao e melhoria da assistncia tcnica
e o empoderamento das lideranas locais, a elaborao e implementao
de um sistema de monitoramento para o biodiesel no nordeste e a facili-
tao do dilogo entre os atores envolvidos do Programa do biodiesel.
Evidentemente apenas a partir de 2007 em diante haver um impacto
visvel destes esforos. Vale ressaltar, porm, que ser possvel medir o
grau de sucesso ou insucesso da poltica por meio da implementao de
um sistema objetivo de monitoramento. De forma preliminar, os agen-
tes centrais do projeto acordaram monitorar e mensurar o impacto do
PNBio no semi-rido sobre os seguintes aspectos:
a renda direta e indireta dos agricultores familiares;
o meio ambiente em geral;
o combate desertifcao; e
a organizao social da agricultura familiar.
Em 2006 ser criado e implementado o sistema de monitoramento,
o qual dever servir como instrumento de controle social da PNBio via-
bilizando o acompanhamento e a melhoria das polticas pblicas nesse
setor.
4 Algumas questes fnais
Como se nota as perspectivas do programa biodiesel e seus impactos
na agricultura familiar no Nordeste, do ponto de vista de maro 2006,
ms da redao destas observaes? A seguir pretende-se dar uma pin-
celada em alguns aspectos que podero ser de relevncia para o futuro
do combate desertifcao e o PNBio, sem, no entanto, ter a pretenso
de aprofund-los no mbito deste trabalho.
81
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
1 Para a safra 2006/2007 em diante, prev-se o uso do crdito PRO-
NAF cada vez mais veloz e facilitado, o que signifcar uma medida
de alto impacto para a agenda de incluso social e produo familiar
de mamona. Acredita-se que as eleies no ano 2006 no mudaro
o rumo do PNBio: pelo seu forte e positivo apelo ambiental e social
h a expectativa de continuidade do programa com o perfl exposto,
independentemente dos partidos que governam nas capitais estadu-
ais e no Distrito Federal.
2 O uso de terras marginais implica uma produtividade mais baixa e,
conseqentemente um retorno econmico menor. O uso de terras
degradadas requer fatalmente um investimento na recuperao da
fertilidade do solo, o que representa um benefcio ambiental para a
sociedade como um todo. Este servio desejvel, no entanto, pre-
cisa de uma remunerao, um incentivo monetrio adicional para
torn-lo vivel. Este contexto situa o combate desertifcao, a re-
cuperao de solos degradados e o biodiesel no semi-rido na agen-
da nacional e internacional dos pagamentos por servios ambientais
e remete discusso da multifuncionalidade da agricultura familiar
e necessidade de remunerar algumas das suas funes sociais e am-
bientais de interesse pblico que o mercado no paga. perfeita-
mente imaginvel, por exemplo, vincular o biodiesel da agricultura
familiar a programas sociais do Ministrio de Desenvolvimentos
Social e Combate Pobreza.
3 A implementao do PNBio no semi-rido no Brasil poder
constituir uma experincia promissora tambm para o empode-
ramento dos atores sociais envolvidos, na medida que conseguir
elevar a sua capacidade de negociao juntos aos atores priva-
dos e pblicos, e, assim, contribuir cada vez mais para a supera-
o dos velhos fantasmas do coronelismo, e das relaes de de-
pendncia pessoal, ainda freqentes na regio. Se esta experincia
se mostrar vivel, ser mais fcil a agricultura familiar se estru-
turar e se capacitar para assumir contratos parecidos em outras
cadeias produtivas. Ser, alm disso, outro passo para assumir
uma parte adicional da prpria cadeia do biodiesel, iniciando
com o esmagamento do gro de mamona para leo de mamona.
82
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Em todo caso, esta experincia, tanto no plano nacional como in-
ternacional, ser observada porque pode marcar o incio de uma
tendncia nova, contrria ao vis tradicional de cada vez mais au-
mentar o tamanho da unidade produtiva do agronegcio, provando
que a agricultura familiar tambm no semi-rido tem condies de
competir com outros agentes econmicos.
4 O Programa Nacional de Biodiesel no foi concebido para expor-
tar biodiesel, seno para produz-lo e inclu-lo na matriz energti-
ca nacional, no entanto, h evidncias na prospeco da demanda
internacional: hoje h perspectivas de um prolongado crescimento
com taxas altas no Pas como exterior e existem poucas regies no
Planeta que podem suprir esta nova demanda de matria-prima.
Certamente, o Brasil se sobressai neste contexto. Vale ressaltar que
j existe, em redes internacionais, um debate pblico intenso entre
setores interessados, ambientalistas, de desenvolvimento, da coope-
rao internacional e cientistas sobre os critrios sociais e ambien-
tais de comrcio internacional de biocombustveis. A experincia
do Selo Combustvel Social dever ter um destaque neste debate,
podendo incentivar a incluso de critrios sociais simples, concretos
e mensurveis no comrcio internacional do biodiesel.
Num cenrio otimista, seriam aproximadamente 200 mil famlias en-
volvidas at 2008. Supondo que cada famlia planta algo em torno de 3
ha cada uma em mdia, num universo de 450 municpios com aptido
conforme o zoneamento da EMBRAPA, pode-se contar com uma rea
total de 600.000 hectares em todo o semi-rido. As reas a serem usadas
para a produo de mamona em regime de agricultura familiar so reas
normalmente j desmatadas e em uso pela popriedade familiar. A caatin-
ga, portanto, no sofre nenhum impacto negativo.
A mamona pode ser cultivada em consrcio de feijo e ao lado de
outras culturas e produtos animais da agricultura familiar, como frutas,
caprinos, ovinos, milho, aves, fbras.
Parece que o biodiesel no semi-rido e o combate desertifcao
fazem um feliz e douradouro casamento.
Agradeo pelas sugestes e comentrios de Edna Carmlio, Arnoldo Campos,
83
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Tecnologias para o desenvolvimento
sustentvel do semi-rido
Jrgdieter Anhalt
1 Tecnologias Renovveis para o semi-rido
A situao social e econmica do semi-rido brasileiro sempre foi
considerada um refexo do quadro natural apresentado nessa regio.
Aes contingentes, como construo de audes, poos e barragens,
foram se multiplicando no decorrer da histria, mas sem uma grande
efetividade de resultados. Esse insucesso pode ser considerado, em
parte, pela falta de tecnologia. Atualmente, no entanto, os desenvolvi-
mentos tcnicos na rea de energias renovveis parecem representar
boa soluo para aumentar a efccia das aes a serem desenvolvidas
no presente e no futuro.
Aplicaes de energia solar e/ou elica tm importante papel ao pro-
ver energia eltrica para inmeras aplicaes como sistemas de comuni-
cao, etc. Entretanto, o uso de aplicaes produtivas, especifcamente
na rea rural, um tanto restrito. Mquinas convencionais e motores
eltricos so projetados para conexo rede eltrica com pouca ateno
ao baixo consumo. Efetuar apenas a troca do sistema de alimentao
eltrica por solar ou elica no efciente nem econmico.
Felizmente, alguns equipamentos so desenvolvidos para um est-
gio de utilidade e, portanto, podem ser implementados com sucesso na
rea rural; porm, deve-se notar que a populao do interior da regio
Nordeste do Brasil sofre h vrios anos um quadro de pobreza e pouco
acesso a recursos. Assim, aplicaes prticas que possam pr em risco
seus rendimentos j bastante baixos e a produo agrcola precisa ser
evitadas.
Apenas sistema com estgios de desenvolvimento mais avanados e
que efetivamente tragam resultados positivos devem ser considerados
para a implementao nessa regio. A experincia do IDER e a literatura
cientfca da Engenharia j mostram que alguns equipamentos solares e
elicos, teis para aplicaes produtivas, j alcanaram tal maturidade
84
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
que podem ser aplicados sem limitaes, tais como:
sistemas de bombeamento de gua utilizando energia solar;
sistemas de bombeamento com cata-vento;
cercas eletrifcadas com energia solar;
sistemas de gerao de energia eltrica por converso de energia solar
para pequenos motores (CA corrente alternada);
secadores solares;
biodigestores; e
foges efcientes.
Apesar de vendidos comercialmente e com tecnologia moderna, esses
sistemas ainda precisam ser perfeitamente projetados e adaptados para o
caso de aplicao especfca. Sistemas comuns de energia (conexo rede
eltrica ou gerador diesel) permitem superdimensionamento ou aplicao de
componentes inefcientes sem comprometer o resultado fnal, por exemplo,
fornecimento de gua de um sistema de bombeamento. Os componentes
convencionais so relativamente baratos e o consumo de energia, eletricida-
de ou combustvel diesel, pago pelo usurio fnal. Este descobrir as falhas
do projeto somente depois que o sistema todo instalado e economicamen-
te invivel. Como vimos, uma situao que deve ser evitada.
Todos os componentes de um sistema de gerao de energia eltri-
ca tm que ser precisamente dimensionados e equiparados segundo as
necessidades. Caso contrrio, o investimento desproporcionalmente
alto ou o sistema no funciona adequadamente. Alm do mais, crucial
um profundo conhecimento da maquinaria para evitar falhas. Por esta
razo, somente as aplicaes ora mencionadas foram satisfatoriamente
amadurecidas para serem usadas sem problemas na rea rural.
fundamental ressaltar que toda a tecnologia utilizada para os proje-
tos desenvolvidos pelo IDER foi escolhida e empregada, no buscando
uma modernizao em um sentido restrito, mas como ferramentas ef-
cazes para a superao de problemticas identifcadas mediante estudos
detalhados. Cada iniciativa aqui descrita foi precedida por uma anlise
no apenas dos meios tcnicos, mas tambm dos contextos natural, so-
cial e econmico.
Esses estudos revelam que o desafo encarado no foi pequeno. A atual
situao do semi-rido clama por aes imediatas que revertam a crescen-
85
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
te degradao do ambiente e recuperam a qualidade de vida dos habitantes
da Caatinga. Para isso, os trabalhos desenvolvidos tiveram como principal
meta a criao de solues abrangentes que pudessem contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida nas comunidades em vrios aspectos.
Enquanto algumas tecnologias so demonstradas neste artigo de ma-
neira rpida, outras demandam maiores explicaes justamente por esta-
rem diretamente relacionadas ao contexto em que so inclusas nos projetos
do IDER. Vale lembrar ainda que as iniciativas se entrelaam, podendo-se
encontrar vrias delas em uma mesma comunidade. Todas as solues de
desenvolvimento apresentadas aqui, quando unidas, ganham fora para a
superao das difculdades sociais e ambientais do semi-rido nordestino.
Algumas caractersticas naturais, mais notadamente o clima e a es-
cassez de gua, se apresentam como os problemas bvios, mas existem
outros. A situao social das comunidades atendidas revela srios pro-
blemas de formao educacional, com os moradores tendo difculdades
para capacitaes e aes coletivas. A localizao geogrfca, apesar de
no se tratar de imensas distncias como as encontradas em outras regi-
es do Brasil, tambm foi um fator a ser encarado. Vrias comunidades
ainda hoje esto ligadas s cidades por estradas precrias, especialmente
durante os perodos de chuva.
As aes que sero descritas aqui, portanto, longe de serem apenas
desenvolvimentos tecnolgicos, so solues para problemticas bastante
amplas. O IDER levou seu corpo multidisciplinar (tcnicos, socilogos,
agrnomos etc.) s comunidades do serto nordestino para observar suas
necessidade, e somente depois apresentar propostas. Vale ressaltar que
em cada localidade, mesmo as que tambm se encontram no mbito do
semi-rido, h peculiaridades que podem trazer novas idias e dinmicas.
As iniciativas que sero demonstradas, atravs das energias renovveis,
so apenas alguns dos muitos caminhos que devem ser descobertos e tri-
lhados.
86
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
2 Os projetos
2.1 Biogs
O biogs, um composto de metano (60% a 80%), gs carbnico (20%
a 40%), hidrognio e gs sulfdrico, um combustvel um pouco menos
efciente que aqueles derivados do petrleo. Um metro cbico de biogs,
por exemplo, equivale a 0,61 litros de gasolina, 0,58 litros de querosene
ou 0,55 litros de diesel. A diferena que pode ser conseguido atravs
de uma fonte encontrada facilmente no semi-rido nordestino: esterco.
Este exemplo demonstra bem que a cincia pode trazer o desenvolvi-
mento utilizando exatamente aquilo que j presente.
O processo de transformar massa orgnica em combustvel ocorre
utilizando um equipamento chamado biodigestor. Seu funcionamento
simples: o esterco, misturado com gua, passa at 20 dias dentro de
uma cmara. Depois desse perodo, tm-se como resultado o biogs e
o biofertilizante. Este resduo excelente para a agricultura, pois re-
ne elementos importantes para os vegetais, como nitrognio, fsforo e
potssio. Alm disso, no tem cheiro desagradvel e tambm livre de
microorganismos.
O biodigestor deve receber material orgnico diariamente, atravs de
uma comporta. Do outro lado, no mesmo volume, expelido biofertili-
zante. J o biogs retirado por um duto apropriado, na parte superior
do equipamento. Evidentemente, a produo depende da quantidade de
esterco que for inserida. A estrutura bastante simples, sendo fabricada
at em alvenaria. Somente algumas peas so mais complexas para ga-
rantir o isolamento para a cmara, que deve permanecer sem oxignio.
De maneira resumida, pode-se dizer que um biodigestor uma caixa
dgua invertida e modifcada.
Essa tecnologia, como todas as que demais apresentadas neste ar-
tigo, no nova. O primeiro biodigestor foi construdo em 1859 em
Bombaim, na ndia. O fato de sua utilizao ter comeado no sculo
XIX demonstra a sua simplicidade. No Brasil, desde os anos 1970, a
Marinha e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA)
desenvolvem equipamentos do tipo, mas o Pas no atingiu os mesmos
nmeros da ndia e da China, onde equipamentos do tipo so muitos
87
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
comuns. Nos anos 1980, mais de 7 milhes de biodigestores chineses j
geravam uma energia diria equivalente a quase trs vezes o potencial da
hidroeltrica de Itaipu. Tambm notria a expanso nas zonas rurais
inglesas e francesas.
No semi-rido nordestino, onde h defcincia no fornecimento de
combustvel e energia eltrica, a criao de animais uma atividade eco-
nmica muito comum. A implementao de programas de instalao
de biodigestores tem grande potencial. Um nico equipamento pode
fornecer biogs sufciente para produzir eletricidade, alimentando ge-
radores, para uso em foges e para movimentar bombas de sistemas de
irrigao.
A ausncia de biodigestores em larga escala no semi-rido, dado que
a regio rene todas as carncias e potencialidades, pode ser explicada
pela difculdade do acesso tecnologia e fnanciamento. Em termos tc-
nicos, porm, o biogs plenamente vivel como uma soluo energti-
ca para a regio e a expectativa que se torne mais comum no futuro.
2.2 Cercas eltricas
Outra rea em que o uso de energias renovveis pode ajudar na situ-
ao social e econmica do semi-rido brasileiro na aplicabilidade de
cercas eltricas. A criao de bovinos, ovinos e caprinos, atividade muito
comum nessa regio, geralmente desenvolvida em terras no cercadas.
muito pequeno o nmero de criadores que adotam o confnamento
dos animais.
A grande vantagem das cercas eltricas, em relao s de arame farpa-
do, arame liso, madeira (varas), mistas (arame e madeira), telas e s cercas
vivas, o preo de aquisio. Normalmente, a unidade eletrifcada custa
entre quatro e cinco vezes menos que qualquer uma cerca convencional.
Isso decorrido do fato de haver menor necessidade de fos para uma
mesma altura. Onde seriam necessrios oito fos de arame farpado, por
exemplo, um modelo eletrifcado demanda apenas quatro. Alm disso,
as cercas eltricas tambm podem ser montadas em fos lisos, melhores
que os de arame farpado. Esse tipo prejudica o rendimento econmico,
pois fere os animais, e difculta a venda da pele, alm de criar a possibi-
lidade de infeces e doenas.
88
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
O principal fator para o uso de cercas eltricas para a criao de
animais s no verifcada em uma escala maior devido ao custo de
manuteno da eletrifcao constante. Em algumas localidades, no h
sequer energia para uso residencial, e em outras so as condies econ-
micas que impedem a adoo do sistema. Uma fonte solar, no entanto,
resolve esse problema, com a vantagem ainda de ser ecologicamente
correto e no depender de linhas de transmisso.
Essa aplicabilidade ainda est sendo desenvolvida em diversas fren-
tes, aumentando a vantagem dos sistemas a energia diante de outros
modelos. A expectativa de que essa mais recente utilizao das ener-
gias renovveis tambm se expanda em diversos pontos do semi-rido
nordestino.
2.3 Secador solar
Um dos grandes destaques dos pases desenvolvidos o baixo nvel
de perdas com as colheitas, que chegam ao mximo de 5%. J no Brasil,
o clima mais quente e tcnicas menos aprimoradas de produo fazem
com que at 40% da safra se perca antes de serem vendidos, gerando
imensos prejuzos para os produtores. A soluo tecnolgica mais co-
nhecida, a armazenagem e o transporte em ambiente refrigerado, torna-
se invivel devido aos altos custos e distncias entre as comunidades
produtoras.
O IDER, dentro da sua flosofa de aplicar tecnologia com
simplicidade, buscou desenvolver um sistema que pudesse ajudar nesse
problema de diversos produtores no Cear, desde os que trabalham
cultivando algas no litoral at os agricultores no interior. A soluo
tecnolgica foi baseada em um mtodo natural de conservao de
material orgnico: a desidratao. Com a eliminao da gua de sua
composio, produtos como frutas, legumes, verduras, algas marinhas e
at carnes e peixes mantm-se prprios para o consumo por um perodo
prolongado, mesmo sem o uso de refrigerao.
Como as demais que j vimos, essa idia no nova. A secagem na-
tural, deixando-se os produtos expostos ao sol para que percam gua,
uma tcnica muito antiga. O que o corpo tcnico do IDER planejou foi
a construo de um secador solar que acelerasse esse processo. Para isso,
89
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
faz-se uso de um equipamento bastante simples: um tipo de estufa expos-
to ao sol aumenta o calor sobre os produtos e expulsa a umidade contido
neles. No h qualquer gasto com combustvel, j que utilizada uma
fonte renovvel, abundante e sem qualquer poluio.
Os secadores solares disseminados pelo IDER foram projetados
levando-se em considerao diversos fatores. O ponto de partida foi
um modelo desenvolvido pelo Instituto de Engenharia Agrcola para os
Trpicos, da Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, na Alemanha,
que j teve efcincia comprovada em diversos pases para uma grande
variedade de produtos.
A primeira aplicao foi a secagem de algas marinhas nas comunida-
des Flexeiras e Guajiru, ambas localizadas no Municpio de Trairi (124
km de Fortaleza). Nessas comunidades, h anos as moradoras faziam
cultivo de algas marinhas para vend-las para a indstria cosmtica, uma
atividade econmica secundria. Antes da chegada do secador solar,
todo o material era deixado ao sol para desidratar, um processo que
podia levar at cinco dias. Com o novo equipamento, o tempo foi redu-
zido para cinco horas.
Na prtica, isso signi-
fcou uma valorizao do
produto, pelo aumento sig-
nifcativo da qualidade. Com
o novo sistema, houve au-
mento de 500% do valor re-
cebido pelas produtoras por
quilo de algas. Com tanta
efetividade, os dois secado-
res foram transferidos para
o Centro de Processamen-
to de Algas, a crescente demanda da indstria.
Inspirado nesta experincia bem-sucessida, foram selecionadas as lo-
calidades de Barra de Crrego, em Itapipoca (CE), Canto Verde, em Be-
beribe (CE), e Logradouro, em Viosa do Cear (CE) para instalao de
outros secadores de frutas e legumes. Nas trs comunidades j funcio-
nam as iniciativas de agricultura orgnica, e por isso tiveram prioridade
por j existir uma parceria com os moradores, que fundamental para a
90
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
implementao de qualquer ao desse tipo. Tambm representam mi-
croclimas diferentes, que proporcionam uma anlise mais diversifcada
da efcincia dos modelos de secador, resultando em um projeto fnal
mais completo.
Na comunidade de pescadores, Canto Verde, o equipamento utili-
zado tambm para a secagem de peixes. J em Barra do Crrego, feita
a desidratao de diversos produtos agrcolas, produzidos com o apoio
do projeto de agricultura orgnica. Em Logradouro, o sistema foi insta-
lado com fns experimentais. A idia , em um centro de ftoterapia da
Prefeitura Municipal, demonstrar a efccia da secagem solar de plantas
medicinais, antes desidratadas numa estufa aquecida com energia eltri-
ca, que gerava gastos.
Para reduzir os custos, os projetos originais foram adaptados s con-
dies locais e projetados para serem construdos com material e mo-
de-obra locais. Em princpio, somente os ventiladores e a cobertura de
polipropileno, peas do sistema, foram adquiridos fora da localidade.
Isso representa grande vantagem quando o secador solar apresenta al-
gum defeito, j que no se perde tempo com as demoras da assistncia.
Vale lembrar que no h grandes gastos posteriores, que fcam limi-
tados manuteno. As peas so bastante simples, podendo ser en-
contradas no comrcio geral. At uma tela de galinheiro utilizada na
estrutura, substituindo componentes mais dispendiosos. Os dutos, por
exemplo, so canos de PVC normalmente empregados para a instalao
de rede de esgoto.
O interesse da comunidade atendida em fnanciar a manuteno futu-
ra do secador solar explicado pelos benefcios que o equipamento traz.
Com os produtos desidratados, prontos para a armazenagem, pode-se
reter a oferta de forma a no reduzir tanto o preo. Com uma tecnologia
simples, possvel fazer estoques sem gastar com manuteno de ca-
ros aparelhos de refrigerao. Aps a secagem, os produtos ainda fcam
mais leves, facilitando o transporte. Como mais uma vantagem, ressalta-
se tambm a constante ampliao do mercado frutas e verduras.
Em resumo, a secagem dos produtos traz vrios benefcios: minimiza a
perda ps-colheita, e assim garante maiores rendimentos; aumenta o valor
agregado, proporcionando melhor preo de venda; e garante receitas cons-
tantes, independentemente do perodo do ano, j que h estocagem. Em
91
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
comparao com a secagem tradicional ao sol, a desidratao controlada
no secador solar mais rpida. Alm disso, oferece ainda maior proteo
contra infuncias prejudiciais, tais como poluio, poeira e incidncia de
pragas, contribuindo para o aumento da qualidade dos produtos.
A qualidade do equipamento desenvolvido pelo IDER tambm aju-
da a ampliar essas vantagens. O secador solar tem excelente produtivida-
de e apropriado para a maior parte do Territrio nacional. Em algumas
regies, at durante a estao das chuvas h condies sufcientes para
produtividade satisfatria. A expectativa, agora, de que essa boa inicia-
tiva se replique em vrias outras localidades do Pas. Para isso, o IDER
j est desenvolvendo uma verso menor do equipamento para atender
a agricultura familiar.
2.4 Agricultura orgnica
As iniciativas de agricultura orgnica, em todo o Mundo, esto ga-
nhando cada vez mais impacto social, ambiental e econmico. Nos l-
timos anos, o crescimento da venda desses produtos superou a marca
de 50% no Brasil, que ainda ocupa o 34 lugar na lista de pases expor-
tadores. J so quase 100 mil hectares de terra destinados a esse novo
tipo de produo, s que a grande maioria concentradas nos estados das
regies Sul e Sudeste.
O avano da agricultura orgnica, por outro lado, est apontando para
a expanso dessas fronteiras. A atividade, no Brasil, cresce em ndices su-
periores aos da Europa e dos Estados Unidos. As exportaes brasileiras
j chegam marca de US$ 100 milhes por ano. Apesar de a maioria da
produo orgnica ainda ser destinada ao mercado externo, deve haver
um aumento da demanda interna, impulsionada pelo crescente nmero de
consumidores que procuram produtos ecologicamente limpos.
Se particularizarmos estas informaes para o Nordeste, nossa vi-
vncia permite informar que o mercado de produtos orgnicos no Cear
abastecido por produtores familiares. A Associao de Desenvolvi-
mento de Agricultores Orgnicos (ADAO) h sete anos referncia
na transferncia de tecnologia e produo hortcula. Em Pernambuco,
o Servio de Tecnologia Alternativa (SERTA) referncia social pelo
seu trabalho com jovens e suas respectivas famlias que realizam feiras
92
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
semanais nas cidades de Recife e Olinda.
O projeto de agricultura orgnica, desenvolvido pelo IDER, com o
apoio da Agncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID), tem como objetivo principal promover a incluso de
comunidades do semi-rido nessas atividades agrcolas de grande poten-
cial. Alm disso, o projeto visava a que isso acontecesse em um contexto
de uma economia associativa e solidria, complementando-se com o uso
de fontes de energia renovvel para a irrigao e secagem. Esse tipo de
economia solidria visa a estabelecer novas relaes entre os fatores de
produo comprometidas com a sade, a tica, a cidadania e a conserva-
o do meio ambiente. O projeto busca ainda utilizar preferencialmente
os recursos naturais, os saberes locais e mtodos naturais coerentes com
as tecnologias ecolgicas.
Alm disso, como objetivos secundrios, fguram o reconhecimento
da agricultura orgnica como um setor estratgico para a manuteno
e recuperao de trabalho e renda das famlias rurais, o acesso a uma
alimentao saudvel e digna, primeiramente s famlias carentes, a
realizao de um exerccio prtico de desenvolvimento sustentvel, o
fortalecimento das relaes e organizaes da sociedade civil na rea
rural, a utilizao e divulgao do uso de fontes no poluentes de energia
e de tecnologias adequadas ao meio ambiente e cultura local.
O projeto foi implementado em 4 hectares de terra nas comunidades
de Bom Jesus e Barra do Crrego, localizadas no Assentamento Macei,
Municpio de Itapipoca (132 km de Fortaleza); Prainha do Canto Verde,
Municpio de Beberibe (80 km de Fortaleza); e Lambedouro, Municpio
de Viosa do Cear (334 km de Fortaleza). Em cada uma dessas comu-
nidades, membros de 10 famlias, totalizando 120 pessoas, foram capa-
citados pelo IDER. Os contedos repassados envolveram princpios de
sustentabilidade, recursos naturais, tcnicas e prticas fundamentais da
agroecologia, recuperao do solo, plantio, colheita, gesto, comerciali-
zao e mercado, controle da qualidade e certifcao.
Na parte tcnica, o IDER precisou encontrar solues de acordo
com as caractersticas de cada local. O principal era ter energia para uma
bomba de gua, de modo a garantir o sistema de irrigao. Foram utili-
zadas duas solues para a gerao: a energia solar e a elica. Toda a
estrutura dos sistemas de irrigao e suas respectivas bombas de gua
93
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
foram dimensionadas para o seu funcionamento e garantir uma vida til
prolongada. Entre os elementos analisados para o projeto, esto a rea a
ser irrigada, o tipo de planta a ser cultivada, a fonte de gua e suas espe-
cifcidades e planta da regio, levando em considerao as distncias e
diferenas altimtricas.
Na comunidade praiei-
ra de Canto Verde, a insta-
lao de um cata-vento foi
a melhor forma encontra-
da para gerar energia para
a bomba. A associao
Amigos de Canto Verde
providenciou a escavao
de um poo encamisado
de 5 polegadas de dime-
tro e 3 metros de profun-
didade. Tambm foi construda uma caixa de gua de 20.000 litros numa
base de 2 metros de altura para garantir a altura manomtrica mnima
para o sistema de irrigao tipo Santeno. Este composto de mangueiras
plsticas (polipropileno) de alta resistncia aos raios ultravioletas do Sol
com furos minsculos para a distribuio uniforme e econmica da gua
na lavoura.
O IDER se encarregou de selecionar junto com um fabricante lo-
cal um cata-vento adequado para os parmetros tcnicos deste projeto.
Considerando o vento local e a necessidade de fornecimento de apro-
ximadamente 40.000 litros de gua por dia, foi escolhido um modelo
com uma torre de somente sete metros de altura, bomba montada acima
da superfcie em material de bronze, caixa de engrenagem reforada e
desligamento manual. Em caso de rajadas mais fortes, um mecanismo
gira o rotor fora da direo principal do vento para evitar danos. Toda a
estrutura galvanizada ao fogo com uma pintura adicional de proteo
contra maresia.
O cata-vento foi instalado pelo prprio fabricante, sob a superviso
do IDER. Membros da associao foram treinados para oper-lo e efe-
tuar pequenos reparos. Algumas peas de reposio mais simples e um
jogo de ferramentas foram deixados na comunidade para facilitar a ma-
94
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
nuteno e operao. Em seguida, foi instalado o sistema de irrigao,
porm somente nos lotes de terra j trabalhados para iniciar o cultivo.
Os prprios moradores fcaram responsveis por continuar as instala-
es, depois de terem sido treinados.
J em Logradouro, uma comunidade rural no meio de canaviais, a
Prefeitura Municipal de Viosa do Cear planejava implementar um es-
pao comunitrio para uma escola de Agricultura Orgnica, com a par-
ticipao inicial de 10 agricultores. O objetivo era estimular o plantio de
hortalias e legumes. O IDER participou com o sistema solar e, nesse
caso, a idia era demonstrar a viabilidade do projeto.
Tanto que, mesmo tendo energia eltrica nas proximidades da rea
a ser plantada, foi decidida a instalao de uma bomba de gua movida
energia solar. Ela deve servir de exemplo de viabilidade econmica
deste tipo de fornecimento de energia para a irrigao de agricultu-
ra orgnica. A demonstrao de bombeamento a energia solar visa
estimular outros programas governamentais, como, por exemplo, o
projeto Caminho de Israel. Este j concluiu a perfurao de cerca
60 poos na mesma regio, mas sem coloc-los em funcionamento por
conta da falta de energia eltrica.
A Prefeitura se responsabilizou em fornecer o material necessrio
para o sistema de irrigao e para os suportes do gerador solar, alm da
infra-estrutura, incluindo um reservatrio de gua de 10.000 litros. J o
Governo do Estado do Cear participou adquirindo 18 mdulos solares,
cada um com 60 watts. A embaixada alem forneceu uma bomba sub-
mersa adequada para suprir a demanda de 40.000 litros de gua por dia
e o IDER colaborou na administrao do projeto, no dimensionamento
dos equipamentos e na sua adequada instalao.
Ao contrrio dos dois casos anteriores, nas comunidades do Assen-
tamento Macei, Bom Jesus e Barra do Crrego, a Caatinga nordestina
se manifesta mais claramente. As famlias atendidas vivem em uma re-
gio caracterizada por uma vegetao pouco diversifcada e o acesso
gua mais difcil. No incio do projeto, tambm no havia rede eltrica.
A maior difculdade, alm disso, a de acesso: pequenas estradas de areia
ligam as comunidades, que fcam distantes uma das outras.
Nessas localidades, so usadas as guas de um rio prximo, que tem
boa qualidade. Ali, o sistema de irrigao solar foi projetado e calculado
95
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
adequadamente para produzir o mximo de gua ao mais baixo custo
sob as condies climticas e parmetros da fonte de gua. Junto com
o projeto de bombeamento, foi selecionado o sistema de irrigao, de
acordo com as necessidades da agricultura planejada. Vale salientar que
as condies naturais so bem mais adversas do que nos dois exemplos
anteriores. Uma pequena barragem tambm precisou ser construda em
cada um dos locais, pois, caso contrrio, no haveria gua sufciente du-
rante todo o ano.
As reas irrigadas tem dimenso de um hectare, exigindo diariamente
de uma camada de gua de aproximadamente 4 mm. Isso corresponde
a uma demanda de 40.000 litros. A gua distribuda por um sistema de
irrigao composto de mangueiras plsticas perfuradas a laser, dispostas
a uma distncia de 3m. Tambm da marca Santeno, elas so largamente
usadas para os propsitos de irrigao efciente de baixa presso. Alm
de terem a grande vantagem do baixo preo e facilidade de subistitui-
o.
Os painis solares instalados em Barra do Crrego e Bom Jesus tm
potncia mxima de 1300 W no seu pico de efetividade. Tambm com-
pem os sistemas um controlador SA 1500 (Grundfos) e uma bom-
ba solar tipo SP8A5 (Grundfos). O sistema de irrigao (para 1 ha)
composto de 200m de linha adutora com dimetro de 3 polegadas e
com adaptadores para mangueira a cada 3 m, utilizando 40 mangueiras
plsticas com 100 m de comprimento. Tambm foram instalados dois
reservatrios de 5000 litros no ponto mais alto do terreno para fornecer
presso sufciente para as mangueiras de irrigao (mnima de 2 m de
altura manomtrica).
Cada painel solar composto de mdulos montados em fleiras, dos
quais dois deles so sempre conectados em srie para produzir uma sa-
da de 200 volts. O inversor e as caixas de conexo so montados abaixo
do painel, na sombra. Os mdulos so conectados ao inversor atravs de
caixas de conexo que incluem proteo contra relmpagos (varistores).
Outra facilidade a chave de nvel no reservatrio de gua, que desliga
automaticamente a bomba quando o tanque est cheio. Circuitos espe-
ciais de proteo do inversor tambm protegem a bomba de funcionar a
seco e de ultrapassar a presso caso o fltro seja obstrudo.
Toda essa estrutura est montada sobre uma base de madeira por
96
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
meio de um perfl de alumnio num ngulo de aproximadamente 10 de
frente para o norte. J a bomba de gua submersa foi montada em uma
base de alumnio para ser assentada no leito do rio. Um cabo submerso
trifsico conecta a bomba ao inversor, enquanto a gua fui por um tubo
de 200 m de comprimento e 50 mm de dimetro para o reservatrio.
Este tipo de bomba no precisa de qualquer outro sensor de proteo.
Todos os circuitos de proteo so instalados no inversor e controlam
a carga da bomba.
Os usurios foram instrudos sobre quais medidas tm que ser to-
madas no caso de deteco de alguma falha, o que garante a indepen-
dncia da comunidade ante o IDER, e aumenta o potencial de susten-
tabilidade do projeto. Intervenes tcnicas acontecem somente em
casos de falhas muito srias no equipamento. Como, todavia, todo o
sistema foi projetado de forma a ser o mais simples e durvel possvel;
elas so difceis de acontecer.
importante concluir, nesse caso, que as solues tecnolgicas fo-
ram adotadas a partir das necessidades do projeto de agricultura org-
nica, e no o contrrio. Mais uma vez, preciso ressaltar: equipamentos
devem existir pelas necessidades, e no por sua instalao por si. s
vezes, no se trata sequer de circuitos eletrnicos, peas complexas ou
utilizar maquinaria estranha populao local. As solues podem ser,
simplesmente, pequenas modifcaes no que j real, como podere-
mos ver adiante.
2.5 Foges efcientes
Se o projeto de agricultura orgnica mostrou ampla interveno
tcnica, outra iniciativa do IDER revela que pequenas aes tambm
podem fazer a diferena para ajudar a solucionar os problemas do
semi-rido nordestino. O uso de foges efcientes, lenha, opo in-
troduzida h muito tempo em vrios pases, nunca foi pensado em
larga escala no Brasil.
Somos o nico pas da Amrica Latina que at hoje no se preocu-
pou com o desmatamento causado pela queima de lenha para uso em
foges e nem a sua relao com doenas respiratrias e cegueira da
populao rural, causadas pela fumaa. Nas regies rurais do mundo
97
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
inteiro, foges efcientes podem reduzir drasticamente o uso de madei-
ra ou lenha para fns de cozinhar alimentos. Vrias naes, merecendo
destaque a ndia e a China, introduziram h anos programas ambicio-
sos para reduzir a devastao de grandes reas forestais e diminuir
drasticamente as doenas respiratrias.
Atento ao contexto mundial,
o IDER trouxe para a sua rea de
atuao essa idia, com o objeti-
vo de demonstrar populao e
s instituies governamentais as
vantagens do fogo efciente. Para
isso, foram instalados vinte mode-
los experimentais nas comunidades
de Bom Jesus e Barra do Crrego,
no Municpio de Itapipoca. A ins-
talao foi feita pela prpria comu-
nidade, auxiliada por tcnicos do
IDER. Logo aps, foi realizado um
acompanhamento detalhado do
uso desses foges.
At agora, foram obtidos da-
dos relevantes sobre os impactos na economia (lenha e tempo de sua
coleta), meio ambiente (devastao e fumaa) e sade (doenas respi-
ratrias). Embora no abrangendo um grande nmero de famlias e
conduzido em um curto espao de tempo, a experincia confrmou
resultados de pesquisas mais amplas realizadas em pases com grande
disseminao de foges efcientes em larga escala (China, ndia, na-
es da frica e Bolvia).
Esse projeto com os foges busca efcincia, mas, sobretudo, simpli-
cidade. Encontrar solues que se tornassem muito distantes da realida-
de das comunidades difcultaria, ou mesmo impossibilitaria, a sua efeti-
vao. Para isso foi pensado em alterar o mnimo possvel o costume j
empregado pela populao h geraes. Desde o mtodo de cozinhar
os alimentos at o uso de materiais disponveis no local, todo o projeto
levou em considerao as caractersticas regionais.
98
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Na realidade, o IDER no instalou novos foges, e sim modifcou
os j existentes. Foram aproveitadas, quando possvel, a estrutura bsica
e a chapa de ferro de cada unidade. J as paredes laterais foram aumen-
tadas, com o uso de barro ou tijolo, e colocadas grades para separar a
lenha das cinzas dentro delas. Tambm foi construdo um degrau dentro
das paredes at o fundo, tambm de barro ou tijolo, para que os gases
passem mais prximos chapa de ferro. O fogo foi completado com a
instalao de uma chamin, feita de folha de ao galvanizado, uma porta
na entrada de ar para regular o fuxo e outra no compartimento da lenha
para impedir a entrada de ar.
Os foges no foram produzidos por fbricas porque acarretaria
riscos com o transporte, dado que as comunidades esto distantes de
centros urbanos e dependem de estradas precrias, bem como tornaria
o custo proibitivo. Dessa forma, foi feita a capacitao dos prprios
moradores, dando ateno especial queles que tinham perfl para atuar
como pedreiros e serventes. O uso de materiais facilmente encontrados
no prprio locais, ou disponveis em larga escala no comrcio, barateou
ainda mais o desenvolvimento dos foges. O IDER forneceu apenas
algumas peas, como a chapa de trs bocas, a grade de ferro fundido, a
chamin e as portas de entrada de lenha e de ar.
Antes do incio do projeto, no entanto, foram feitas vrias reunies
nas duas comunidades e selecionadas as 20 famlias que participam do
projeto. Foram discutidas as vantagens do fogo, suas interfaces com a
economia domstica, meio ambiente e a sade familiar, como tambm
as mudanas e melhorias no layout do seu prprio fogo. As pessoas fo-
ram informadas detalhadamente sobre as etapas de implementao, as-
sim como os seus deveres e obrigaes para entrar no programa piloto.
Durante a construo, foi observado que necessrio tomar cuidados
especiais com o cimento para que ele resista ao calor e no rache. Uma
mistura de areia fna com o cimento numa proporo 4:1 recomend-
vel para as reas quentes do fogo (normalmente 7:1 para construes
civis em geral). A gua para fazer a massa deve ser misturada com a-
car, tambm numa proporo 4:1 e a massa deve ser relativamente seca.
comum colocar gua demais, mas isso faz diminuir a resistncia fsica
da construo.
Superadas as difculdades, em um ms e meio 17 foges j estavam
99
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
construdos e funcionando. Para o projeto, o IDER se baseou em mo-
delos comprovadamente efcazes, especialmente os da Dona Justa,
construdos em 1999 como uma adaptao do fogo La Lorena. Vi-
sualmente, a nica diferena em relao ao modelo convencional, a
chamin. Mas as modifcaes internas mudaram em muito a efcincia
do sistema.
Isso fcou comprovado quando os foges fcaram prontos e foi ini-
ciado o acompanhamento, feito com o objetivo de analisar os diversos
impactos. Foram aplicados questionrios junto s famlias, abordando os
hbitos de economia e sade. De imediato, foi constatado que as mulhe-
res apresentam um entusiasmo muito maior que os homens. Inclusive,
notou-se um aumento do uso dos foges.
As anlises demonstraram que, ao contrrio do modelo antigo, o
novo fogo era utilizado somente em algumas horas do dia, o que repre-
sentar, em longo prazo, uma economia expressiva de lenha. A queima
tambm se tornou mais efciente, exigindo menos lenha para cozinhar a
mesma quantidade de alimentos. Alm disso, a lenha de baixa qualidade
que antes no era usada, por produzir muita fumaa, passou a ser utili-
zada tambm.
De acordo com as moradoras, a maior vantagem foi a reduo da
fumaa. Antes, o incmodo era encarado como algo normal, mas, com
a instalao dos foges efcientes, elas sentiram uma grande diferena,
especialmente quando passaram a ser notadas melhorias de sade. As
mudanas causaram a reduo das crises respiratrias, tosses e alergias,
se estendendo at sade bucal. As queimaduras, que tambm eram
comuns, acabaram, j que o manuseio do fogo fcou mais fcil com a
conteno das chamas pelas portas instaladas. O ganho de qualidade de
vida foi visvel.
O acompanhamento do uso dos novos foges tambm contribuiu
para aprimorar ainda mais o projeto inicial. Foi decidida pela instalao
de uma grelha com espaos menores que segurem melhor as brasas, a
utilizao de mais ferro na construo e melhoria da base. O treinamen-
to se mostrou fundamental, uma vez que os principais problemas eram
causados pelo uso inadequado do fogo.
Importante ainda salientar que nenhum morador expressou qual-
quer opinio desfavorvel ao novo modelo. O pouco investimento fei-
100
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
to por eles j se paga somente pela facilidade de uso e eliminao de
fumaa, sem falar ainda em melhorias de sade que sero mais visveis
em alguns anos. A possibilidade de uso de qualquer tipo de lenha deixa
margem para um melhor replantio da Caatinga, evitando a monocultu-
ra de uma espcie de arbusto ou rvore. Em nova etapa do programa,
se enfatizar mais a recuperao da vegetao.
A implementao destes foges efcientes demonstrou com clareza
as vantagens deste tipo de tecnologia, mais apropriada social e ambien-
talmente perante outros tipos de foges mais caros e sofsticados. O ga-
nho de qualidade de vida para as comunidades rurais tambm inegvel,
e fruto de um projeto simples, barato e plenamente sustentvel. Essas
vantagens, aliadas ao fato de a construo ser feita pela prpria comuni-
dade, com materiais disponveis no local e com baixo investimento, abre
o caminho para ampla disseminao para todo o semi-rido brasileiro.
101
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
II
Tecnologias para o manejo
de gua e do solo
103
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Tecnologias de captao e manejo de gua de
chuva em regies semi-ridas
Johann (Joo) Gnadlinger
Resumo
A captao e o manejo de gua de chuva como gua potvel ou para
uso na agricultura no uma idia nova, mas est sendo largamente
ignorada pelos planejadores pblicos e a iniciativa privada por no ser
considerada to atraente como os megaprojetos de abastecimento de
gua. Mesmo assim a captao de gua de chuva, se introduzida em larga
escala, pode aumentar consideravelmente o abastecimento existente de
gua a um custo relativamente baixo, e passar para as comunidades a
responsabilidade de gerenciar seu prprio abastecimento de gua e con-
tribuir para uma agropecuria sustentvel em regies semi-ridas. Neste
trabalho, fazemos primeiro um pequeno relato da utilizao da gua de
chuva no decorrer da histria e mostramos algumas experincias bem
sucedidas em outros pases. Depois apresentamos os diferentes tipos
de cisternas usadas no semi-rido brasileiro para fornecer gua para o
uso humano, como tambm as tecnologias de uso de gua de chuva na
agricultura, que incluem cisternas para irrigao suplementar de cantei-
ros de verduras, cisternas para fornecer gua para galinhas e abelhas,
cacimbas, caxios para irrigao de salvao e para os animais, barragens
subterrneas, captao de gua de estradas e captao de gua de chuva
in situ, sem esquecer das tcnicas de cuidado com a terra que aumen-
tam a umidade do solo.
104
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
1 Introduo
Comeamos defnindo os termos captao e manejo de gua de chu-
va. Ns os entendemos e usamos como um termo geral para a maioria
dos tipos de captao de gua de chuva (com exceo para os de reten-
o de inundaes), seja no uso domstico, para uso na agricultura ou
na dessedentao de animais, em reas rurais e urbanas. gua de chuva
pode ser captada de telhados, ptios, do cho e das ruas.
No seu pronunciamento de abertura na 9 Conferncia Internacional
sobre Sistemas de Captao de gua de Chuva, realizado em Petroli-
na PE, em julho de 1999, Adhityan Appan, o ento presidente da
Associao Internacional de Sistemas de Captao de gua de Chuva
- IRCSA, disse: As tecnologias de sistemas de captao de gua de chuva so to
antigas quanto as montanhas. O senso comum diz como em todos os projetos de
abastecimento de gua armazene a gua (em tanques / reservatrios) durante a
estao chuvosa para que ela possa ser usada quando mais se precisa dela, que du-
rante o vero. Em outras palavras: Guarde-a para o dia da seca! As tecnologias, os
mtodos de construo, uso e manuteno esto todos disponveis. Alm disso, o mais
importante que ainda existem muitos modelos fnanceiros que vm ao encontro das
necessidades de pases desenvolvidos e em desenvolvimento. O que mais precisamos
de uma aceitao geral dessas tecnologias e vontade poltica de pr em prtica estes sis-
temas. Neste trabalho, seguiremos os principais pontos da constatao
de Appan (1999) e apresentamos alguns aspectos da coleta de gua de
chuva em reas rurais, especialmente no Semi-rido Brasileiro - SAB.
2 A captao e o manejo de gua de chuva na histria.
A coleta de gua de chuva uma tcnica popular em muitas partes
do mundo, especialmente em regies ridas e semi-ridas (que abrangem
mais ou menos 30 % da superfcie da terra), onde as chuvas ocorrem
somente em poucos meses do ano e com bastante variabilidade inte-
ranual. O conceito da tecnologia dos sistemas de captao de gua de
chuva to antigo quanto as montanhas, quer dizer, uma tecnologia
primordial. A coleta de gua de chuva foi inventada independentemente
em diversas partes do mundo e em diferentes continentes h milhares
de anos.
105
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
No Sul da frica, o Homo sapiens colhia gua de chuva em ovos de
avestruz, os enterrava e guardava para tomar a gua na estao de seca
200.000 anos atrs. No Planalto de Loess, da China (Provncia Ganzu),
existiam cacimbas e tanques para gua de chuva h dois mil anos. Na n-
dia, um projeto de pesquisa denominado Sabedoria prestes a desapare-
cer (dying wisdom) enumera muitas experincias tradicionais de coleta de
gua de chuva nas quinze diferentes zonas ambientais do Pas (Agarwal
e Narain, 1997). No Ir encontramos os abanbars, tanques de pedra e
massa de cal com torres para resfriamento da gua, o tradicional sistema
de captao de gua de chuva comunitrio. H 2.000 anos existiu um
sistema integrado de manejo de gua de chuva e agricultura de escoa-
mento de gua (runoff) no deserto de Negev, hoje territrio de Israel e
da Jordnia (Evenari. 1982).
Os romanos eram famosos por terem levado gua para as cidades
atravs de aquadutos, mas usavam tambm a captao de gua de chuva
em larga escala. Deles os rabes herdaram as tecnologias, as quais no-
vamente serviram de exemplo para os espanhis e portugueses. Nestas
lnguas existe, alm do nome cisterna de origem latina, o termo algibe
de origem rabe para tanques de gua de chuva. Os portugueses implan-
taram a captao de gua de chuva em vrios lugares do mundo. Cita-
mos como exemplo as Ilhas Madeira e Porto Santo, mas no no Brasil.
O Brasil era tido muito rico em gua. O serto para eles no servia para
agricultura, mas para a criao de animais, onde o gado e as cabras anda-
vam atrs de aguadas a longas distncias nos fundos de pasto.
Nas Amricas, os povos pr-columbianos usavam a captao e o
manejo de gua de chuva em larga escala. O Mxico como um todo
rico em antigas e tradicionais tecnologias de manejo de gua de chu-
va, datadas da poca dos aztecas, mayas e outros povos. Na pennsula
da Yucat, perto da cidade de Oxkutzcab ao p do Monte Puuc, ainda
hoje podemos ver as realizaes dos mayas. No sculo X existia ali uma
agricultura baseada no manejo de gua de chuva. As pessoas viviam nas
encostas e sua gua potvel era fornecida por cisternas com capacidade
de 20.000 a 45.000 litros, chamadas chultuns. Estas cisternas tinham
um dimetro de aproximadamente 5 metros e eram escavadas no sub-
solo calcrio e revestidas com reboco impermevel. Acima delas havia
um rea de captao de 100 a 200 m
2
. Nos vales, usavam-se outros siste-
106
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
mas de captao de gua de chuva, como aguadas (reservatrios de gua
de chuva cavadas artifcialmente com capacidade de 10 a 150 milhes
de litros) e aquaditas (pequenos reservatrios artifciais para 1.000 a
50.000 litros). interessante observar que as aguadas e aquaditas eram
usadas para irrigar rvores frutferas e/ou bosques, alm de fornecer
gua para o plantio de verduras e milho em pequenas reas. Muita gua
era armazenada, garantindo-a at durante perodos de seca inesperados
(Neugebauer, 1986).
Nos tempos modernos, as tecnologias de captao de gua de chuva
comearam a cair fora de uso. Por que?
Na pennsula de Yucat, o desaparecimento do uso de coleta de gua
de chuva aconteceu em parte pelas lutas entre os diversos povos indge-
nas, mas principalmente pela invaso espanhola no sculo XVI. Os co-
lonizadores espanhis usaram ainda algibes nas cidades que fundaram,
mas nas reas rurais introduziram outro sistema de agricultura, vrios
novos animais domsticos, plantas e mtodos de construo europeus.
Estes no eram adaptados realidade cultural e ambiental de Yucat
(Neugebauer, 1986). Na ndia, razes semelhantes causaram o desapare-
cimento da coleta de gua de chuva. O sistema colonial britnico se inte-
ressava mais por tributos, forando portanto as pessoas a abandonarem
o sistema de manejo de gua comunitrio dos vilarejos e causando assim
o colapso de um sistema centenrio (Agarwal e Narain, 1997).
O progresso tcnico do sculo XIX e XX ocorreu principalmente
nos assim chamados pases desenvolvidos, em zonas climticas mode-
radas e mais midas, sem estao de seca expressiva e portanto sem
necessidade de captao de gua de chuva. Como conseqncia da co-
lonizao, praticas de agricultura de zonas climticas moderadas foram
implantadas em zonas climticas mais secas. Alm disso, no sculo XX,
houve uma nfase em megaprojetos tecnolgicos como na construo
de grandes barragens, no desenvolvimento do aproveitamento de guas
subterrneas, e em projetos de irrigao encanada com altos ndices de
uso de energia fssil e eltrica. Estas so algumas razes em parte ain-
da hoje defendidas - porque as tecnologias de coleta de gua de chuva
foram postas de lado ou completamente esquecidas.
107
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
3 A captao e o manejo de gua de chuva hoje - o novo
paradigma de uma viso mais integrada da gua.
Em muitas regies semi-ridas do mundo, o crescimento popula-
cional e mudanas de hbitos de uso de gua e de alimentao exercem
presso sobre o abastecimento de gua para consumo humano, para
os animais e para a agricultura. Projetos de agricultura e gua baseados
em alto consumo de energia e tecnologias sofsticadas se mostram cada
vez menos sustentveis. Ao mesmo tempo, tecnologias redescobertas
ou novas e/ou materiais modernos, permitem uma nova abordagem na
construo de tanques de armazenamento e reas de captao. Tudo
isso levou a uma nova expanso dos sistemas de captao de gua de
chuva, tanto em regies onde j eram usados anteriormente, como em
reas onde at ento eram desconhecidos.
Assim, o diretor do Centro de Tecnologias Ambientais do Programa
do Meio Ambiente das Naes Unidas - UNEP, Steve Hall, declarou
no 3 Frum Mundial da gua em Kioto, em 2003: A captao e o ar-
mazenamento de gua de chuva como gua potvel ou para uso na agricultura no
uma idia nova, mas est sendo largamente ignorada pelos planejadores e a iniciativa
privada. No to atraente como os mega-projetos de abastecimento de gua. Mesmo
assim a captao de gua de chuva, se introduzida em larga escala, pode aumentar
o abastecimento existente de gua a um custo relativamente baixo, e passar para as
comunidades a responsabilidade de gerenciar seu prprio abastecimento de gua
(The Daily Yomiuri, 17-03-2003).
Novamente alguns exemplos para a ilustrao:
No Planalto de Loess, do norte e noroeste da China, a agricultura de-
pende principalmente da chuva como fonte de gua. Nos ltimos anos,
o governo local da provncia de Gansu colocou em prtica o projeto de
captao de gua de chuva denominado 121: o governo auxiliou cada
famlia a construir uma (1) rea de captao de gua, dois (2) tanques
de armazenamento de gua e um (1) lote para plantao de culturas
comercializveis. Atualmente o mtodo usado em 17 provncias da
China para fornecer gua potvel para 15 milhes de pessoas e praticar
irrigao suplementar em 1,2 milho de hectares, atravs de 5,5 milhes
de cisternas construdas nos ltimos sete anos. A gua de chuva capta-
108
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
da nos ptios ou em reas inclinadas guarnecidas com lajes de concreto
e armazenada em tanques subterrneos. Nestas regies montanhosas,
fcil criar por gravidade a presso dgua necessria para irrigao por
mangueiras ou gotejamento. Culturas comercializveis, como verduras,
ervas medicinais, fores e rvores frutferas foram plantadas, como tam-
bm viveiros. Pequenos agricultores da regio montanhosa se mostram
entusiasmados com as verduras plantadas em suas prprias estufas e
irrigadas com a gua de chuva armazenada nos tanques. a primeira vez
na histria que estufas so construdas com apenas 300 mm de precipi-
tao anual, para plantar verduras como pimento, beringela, tomate e
abbora. A captao de gua de chuva se tornou uma medida estratgi-
ca para o desenvolvimento social e econmico desta regio semi-rida.
(Zhu e Li, 2005).
Na ndia acontece um rejuvenescimento das tecnologias tradicionais:
com a captao de gua de chuva, o povo aprende de maneiras inteligen-
tes a viver com a escassez de gua. A soluo praticada em vrias regies da
ndia de maneira diferente - est na captao da chuva - em milhes de sistemas de
armazenamento em cisternas, tanques, cacimbas e at em telhados e depois no uso
da gua para beber, para a irrigao de salvao e para a recarga da gua subterr-
nea, disse Sunita Narain, quando recebeu o Prmio da gua de 2005 em
Estocolmo, Sucia (Worldwaterweek, 2005).
No Mxico, na Regio Mixteca, em Tehuac, a ONG gua para
Siempre trabalha a gua de chuva no meio ambiente, para o uso huma-
no e na agricultura e envolve todo um processo de empoderamento de
gnero e educao. A disponibilidade de gua precisa de uma abordagem
integral que envolva atividades educacionais e promova a participao
dos moradores com um slido manejo dos recursos naturais nas suas
bacias: gua de chuva, aqferos, vegetao, solo e fauna. Para elevar o
nvel de vida dos povos indgenas, o desenvolvimento do manejo dos re-
cursos hdricos est ligado a melhoras nas prticas agrcolas. O enfoque
do manejo integrado de uma bacia comea no ponto mais alto da bacia
e inclui a implementao de tecnologias para captao de gua, extrao,
armazenagem como trincheiras para reforestamento, anis de captao
de escoamento, curvas de nvel com barreiras vivas, barragens gavies,
terraos nivelados para plantao etc. O que est se conseguindo com
gua para Siempre no novo, em parte j foi conhecido pelos povos
109
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
pr-colombianos, mas uma extenso e aprimoramento destas antigas
tecnologias. O uso de modernas tecnologias aprimora a rica tradio de
proteo dos solos e da gua. Longe de alterar o meio ambiente, o sis-
tema proposto ajudar na recuperao do mesmo ao seu nvel anterior
e permitir um uso sustentvel dos recursos naturais (Garciadiego &
Guerra, 2005).
4 Situao de captao e manejo de gua de chuva no
semi-rido brasileiro
No semi-rido brasileiro, a agricultura foi introduzida somente em
um passado recente. A populao local no teve muita oportunidade
de fazer experincias com mtodos de manejo de gua de chuva e me-
nos ainda de aprender a viver e trabalhar em um clima semi-rido. Uma
exceo Padre Ibiapina, que introduziu na segunda metade do sculo
XIX as chamadas casas dgua no serto da Paraba, que forneciam
gua para casas de caridade (que eram um tipo de convento, escola e
hospital) e para comunidades. Estas eram cisternas cavadas no cho de
granito, com reas de captao em terrenos inclinados, e cobertas com
telhado para evitar a evaporao. Hoje em dia, principalmente em razo
do crescimento populacional e da degradao do meio-ambiente, a po-
pulao tem que aprender a viver melhor na regio rural semi-rida, que
se estende sobre 900.000 km
2
. A maior necessidade pela captao da
gua de chuva no semi-rido brasileiro ocorre nas regies com subsolo
cristalino, onde no existe lenol fretico adequado, meramente peque-
nas quantidades de gua, quase sempre salina, em frestas entre as rochas,
e outra quantidade limitada de gua subterrnea na aluvio do leito de
riachos intermitentes. Mais de 60% da rea do semi-rido brasileiro per-
tencem a esta categoria, mas, apesar do problema da distribuio irregu-
lar das chuvas e do subsolo desfavorvel, sempre possvel captar a gua
quando chove, armazen-la e, com isso, ter uma fonte segura durante o
perodo seco, no somente como gua potvel, mas tambm para uso
animal e na agricultura.
O manejo efcaz de recursos de gua requer uma abordagem holstica, ligando o
desenvolvimento social e econmico com a proteo dos ecossistemas naturais. Em segun-
do lugar, o desenvolvimento e o manejo da gua deve ser baseados em uma abordagem
110
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
participativa envolvendo usurios, planejadores e formadores de opinio em todos os
nveis. Em terceiro lugar, tanto mulheres quanto homens tm um papel fundamental no
fornecimento, no manejo e no uso econmico da gua. O manejo integrado de recursos
hdricos baseado na percepo da gua como parte integrante do ecossistema, um re-
curso natural e social e um bem econmico (Banco Mundial, 1993). At agora a
abordagem do manejo de gua foi feita e ainda feita de ponto de vista
de tecnologias normalmente de grande porte (construo de barragens,
transposio do rio So Francisco), mas, por outro lado, este novo pen-
samento de um manejo integrado de guas pluviais, superfciais, de solo
e subterrneas respeitando todo o ciclo da gua est chegando tambm
no semi-rido brasileiro. A seguinte abordagem de manejo, seguida por
entidades populares, a partir das necessidades humanas, que colocam
as tecnologias e as vrias fontes de gua dentro deste contexto. Assim
comea-se a diferenciar e distinguir diferentes linhas de poltica de gua
(Gnadlinger, 2001), a dizer:
1 gua potvel para cada famlia (cisternas, poos rasos etc.);
2 gua comunitria para lavar, tomar banho e para os animais
(audes, caxios, cacimbas de areia, poos rasos e profundos);
3 gua para a agricultura (tecnologias: barragens subterrneas,
irrigao de salvao, captao de estradas para plantio de rvores fru-
tferas, uso de sulcos para o armazenamento de gua de chuva in situ;
manejo do solo evitar queimadas; usar esterco, composto e cobertura
seca; manejo das plantas: plantas apropriadas ao semi-rido brasileiro);
4 gua de emergncia para anos de seca (fornecida por poos pro-
fundos e barragens estrategicamente posicionadas);
5 gua do meio ambiente que fornece toda a gua partir das ba-
cias (manejo de fundos de pasto, proteo de olhos d gua e da mata
ciliar, preveno de poluio de aguadas) e o tratamento do esgoto, o
reso e a reciclagem da gua.
A partir destas linhas, est se comeando a construir planos descen-
tralizados e participativos de abastecimento de gua de comunidades,
distritos e municpios do semi-rido brasileiro. Desta maneira, as pes-
soas aprendem a viver em uma regio semi-rida criando uma cultura
de convvio com o meio-ambiente chamada Convivncia com o Semi-
rido e com isso uma nova cultura da gua, da qual a captao de gua
111
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
de chuva parte integrante.
5 Algumas tecnologias de captao e manejo de gua
de chuva aplicadas As tecnologias, os mtodos de
construo, uso e manuteno esto todos disponveis.
As tecnologias de captao e manejo de gua de chuva para uso hu-
mano e para a agricultura e dessedentao de animais no so tratadas
somente sob o ponto de vista tcnico. Estas tecnologias so ao mesmo
tempo agrcolas, ecolgicas, econmico-solidrias, promovem a segu-
rana alimentar e costumam ser chamadas de tecnologias scias. Por
serem multisetoriais, precisam de amplo leque de articulao entre as
organizaes da sociedade e vrias reas governamentais para garantir a
plena realizao de todas as suas dimenses (LASSANCE et al, 2004).
o prprio povo o experimentador e avaliador das respectivas experin-
cias. Os tcnicos complementam com seus conhecimentos e habilidades
a sustentabilidade destas tecnologias. Assim, quer se garantir, alm da
viabilidade tcnica, sua viabilidade social.
Cisternas para gua de uso humano (GOULD e NISSEN PE-
TERSON, 1999; GNADLINGER, 1999; SCHISTEK, 2005)
Para o uso humano, a captao de gua de chuva necessita de um
reservatrio seguro e fechado, para que no haja vazamentos, nem eva-
porao ou poluio. Supondo que durabilidade e segurana fossem
satisfatrias, normalmente escolheramos um tipo de cisterna, princi-
palmente com base no custo mnimo. Todavia, existem tambm outros
critrios, como segurana do modelo, preferncia do usurio, sustenta-
bilidade e gerao de emprego. Por isso no aconselhvel se fxar em
um modelo s. Para garantir a qualidade de gua de chuva, necessrio
desviar a primeira gua da chuva ou manualmente ou por aparelhos.
A instalao de uma bomba manual para tirar a gua da cisterna evita
tambm a poluio da gua na hora de tir-la do tanque. Ao longo dos
anos, aps tentativas e experincias com diversos materiais como tijolos,
pedras, materiais sintticos, reservatrios cilndricos de argamassa de ci-
mento mostra-se mais apropriados.
112
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A. A cisterna de placas, fabricada com placas de concreto e arame
liso, rebocada por dentro e por fora, at hoje a mais construda. Es-
tas cisternas foram usadas originalmente em comunidades de pequenos
agricultores e atualmente esto sendo construdas sobretudo no Progra-
ma Um Milho de Cisternas P1MC. A cisterna de placas de cimento
fca enterrada no cho at mais ou menos dois teros da sua altura. Ela
consiste em placas de concreto (mistura cimento : areia de 1 : 4), com
tamanho de 50 por 60 cm e com 3 cm de espessura, que esto curvadas
de acordo com o raio projetado da parede da cisterna, dependendo da
capacidade prevista. H variantes onde, por exemplo, as placas de con-
creto so menores e mais grossas, e feitas de um trao de cimento mais
magro. Estas placas so fabricadas no lugar mesmo em simples moldes
de madeira. A parede da cisterna levantada com essas placas fnas, a
partir do cho j cimentado. Para evitar que a parede venha a cair duran-
te a construo, ela sustentada com varas at que a argamassa esteja
seca. Depois disso, um arame de ao galvanizado (N
o.
12 ou 2,77 mm)
enrolado no lado externo da parede e essa rebocada. Em seguida a
parede interna e o cho so rebocados e cobertos com nata de cimento
forte. O telhado da cisterna, cnico e raso, tambm feito de placas
de concreto, que esto apoiados em caibros de concreto. Um reboco
somente externo sufciente para dar frmeza. O espao vazio em volta
da cisterna cuidadosamente aterrado. Assim a terra apia a cisterna. A
pintura branca aplicada por fora da cisterna diminui a temperatura da
gua dentro.
B. Mundialmente mais usada a cisterna de concreto com tela de
arame, que utiliza uma forma durante a primeira fase de construo. Aqui
a tecnologia de ferro-cimento se destaca por sua grande resistncia e em-
prego reduzido de materiais. Este tipo est sendo adotado no semi-rido
brasileiro por causa de sua segurana de vazamentos. Pode ser usado tanto
em pequenos como grandes programas de construo de cisternas, como
no P1MC em Caitit, BA e pela CAR na Bahia. Este tipo de cisterna, no
precisa ser enterrado e construdo na superfcie. Ela tem uma altura de
dois metros. Antes de concretar o fundo, s preciso retirar a terra fofa. O
cho nivelado a uma profundidade de cerca de 20 cm e uma camada de
cascalho e areia grossa colocada debaixo da camada de concreto. Para a
construo dessa cisterna preciso uma forma de chapa de ao. Essa con-
113
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
siste de chapas de ao plano (1 m x 2 m), fnas (0,9 mm) que so seguradas
por cantoneiras e parafusadas uma nas outras, formando um cilindro. A
forma levantada primeiramente envolta com tela de arame e em seguida
com arame de ao galvanizado com uma espessura de 2 ou 4 mm - para
cisternas com capacidade de 10 ou 20 m
3
respectivamente. A tela de arame
deve passar por debaixo da forma e cobrir uma largura de aproximada-
mente 50 cm no fundo da cisterna. Depois de colocadas duas camadas
de argamassa na parte exterior, a forma de ao retirada (e reusada para
construir outras cisternas). O interior rebocado duas vezes e depois co-
berto com nata de cimento. O teto da cisterna pode ser fabricado tambm
com a ajuda de uma forma de ao, porm mais fcil e rpido utilizar a
tecnologia usada na cisterna de placas. No intervalo das diversas etapas de
trabalho e durante a noite, a cisterna tem que ser coberta com uma lona
para evitar o ressecamento prematuro da parede de concreto fna, o que
provocaria pequenas rachaduras.
C. A cisterna com tela de alambrado um aperfeioamento da cis-
terna de concreto com tela de arame. O desafo para a nova tecnologia
era a eliminao da forma, sem abdicar da simplicidade e da segurana
que o ferro-cimento oferece e da parede inteiria, sem emendas ou com-
posio por elementos singulares. Um produto da indstria siderrgica,
muito usado para separar espaos em ar livre, como residncias, esta-
cionamentos etc, se oferecia como ideal: o alambrado, uma tela de dois
metros de altura, de malha 15 cm x 5 cm, de arame galvanizado de 3 mm
de dimetro. A tela fornecida em rolos de 25 metros de comprimento.
Como estrutura bsica, uma tela de alambrado armado em p sem
uso de forma conforme o tamanho da cisterna prevista. Para permitir a
aplicao de argomassa, a tela envolta com sacaria do tipo usado para
ensacar cebolas. A aplicao da argamassa acontece em quatro camadas,
imitando o princpio de materiais compostos, como chapas de madeira
compensada ou vidro blindado, e confere a resistncia necessria pa-
rede. O teto consiste em segmentos fabricados de forma semelhante,
armados tambm de tela de alambrado.
Tecnologias de captao de gua de chuva para dessedentar
114
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
animais e para a agricultura (PACEY & CULLIS, 1986; PORTO et
alii, 1999; SCHISTEK, 1999; GNADLINGER, 2005):
As tecnologias de captao e manejo de gua de chuva para a agricul-
tura utilizam a parte da gua, que de outra maneira retornaria atmos-
fera por meio da evaporao direta ou a transpirao de plantas no-ali-
mentares, infltraria no lenol fretico, ou escoaria para os rios.
Assim, a captao e o manejo de gua de chuva combina diferentes
tcnicas de manejo de gua:
- melhora a efcincia do uso da gua pelas plantas: convertendo per-
das no-produtivas de gua em fuxo produtivo para as plantas por meio
de cobertura seca, uso de composto/esterco, plantio direto, aumento de
infltrao de gua de chuva atravs de plantio em curva de nvel, capta-
o de gua de chuva in situ, etc. Todas estas tcnicas de cuidado com
a terra aumentam e prolongam a umidade do solo e fazem-na acessvel
s plantas em vez de perd-la. O agricultor deve-se juntar natureza
que aproveita de maneira excelente a gua disponvel, no desmatando e
queimando, aproveitando as plantas da caatinga de maneira sustentvel
e plantando culturas que aproveitam bem a gua como sorgo, guandu,
palma, etc.
- fornece gua (nem tanto na estao seca, mas) na estao chuvosa
para superar perodos secos numa irrigao de salvao e protetora por
meio de gua de chuva captada localmente e armazenado em tanques
pequenos, manejados pelos prprios lavradores. Em comparao com
a irrigao tradicional, que normalmente usa um fuxo estvel durante o
tempo, a irrigao complementar ou de salvao usa somente o neces-
srio da gua armazenada para vencer pocas sem chuva e (junto com o
cuidado com a terra) signifca uma economia enorme de gua e possibi-
lita a produo em regies semi-ridas (Falkenmark et alii, 2002).
A. A cisterna adaptada para a agricultura formada por uma
rea de captao (para captar gua das chuvas que escoa de desnveis de
terrenos ou de reas pavimentadas), um reservatrio de gua (que deve
ser bem maior do que a cisterna para o uso humano) e um sistema de
irrigao (que pode ser feito mo ou por gotejamento). uma tecnolo-
gia, cuja viabilidade merece ser pesquisada melhor. Com a gua de uma
cisterna de 16 mil litros (a exemplo de uma cisterna no P1MC), no
possvel irrigar grandes reas, mas sim um quintal produtivo de 10
115
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
m
2
de verduras (com uso de cobertura seca/mulch e composto/ester-
co), regar mudas ou ter gua para galinhas e abelhas.
B. A cacimba um poo raso, muitas vezes feito na pedra, com
uma abertura de at 2 metros, coberto com uma tampa de madeira ou
cimento e com um carretel ou uma bomba manual para retirar a gua.
Um poo raso pode ser construdo tambm com anis pr-moldados ou
blocos de cimento, 30 metros distante e acima de qualquer foco de po-
luio (fossas, sumidouros, currais, esterqueiras etc). Os trs primeiros
metros da base do poo devem ser revestidos com alvenaria, para evitar
contaminaes. Uma laje sobre o poo garante sua segurana e higiene.
Pode fornecer gua para uso humano, animal e agrcola. Em outros pa-
ses semi-ridos, como na ndia, a cacimba fornece gua na poca seca
e na poca da chuva recarregada: a gua levada de um barramento
de uma enxurrada, p. ex., de uma estrada atravs de um canalete para a
cacimba, onde depois de uma fltragem de areia e pedras recarga a ca-
cimba. Um tipo semelhante so as cacimbas de areia dentro do leito de
riachos ou rios, onde se abre um buraco de 2 x 2 m at chagar pedra.
A profundidade varia, deve-se cavar at encontrar um veio dgua. Para
evitar que a areia do leito do riacho caia na escavao, se levanta em
torno uma parede de tijolos, - ou anis de concreto, at pouco abaixo
do nvel superior do leito do riacho. Esta murada ento coberta com
uma laje de concreto, deixando s uma abertura de 50 X 50 cm como
acesso e para a retirada da gua. Esta abertura coberta com uma tampa
ou somente com galhos e gravetos e uma camada de areia, para que j
durante as primeiras trovoadas no incio do perodo chuvoso a gua da
chuva possa comear a encher por cima esta cisterna-cacimba. Depois
dos quatro meses de estao chuvosa, as reservas dos veios subterrneos
esto reabastecidas e o sistema passa a funcionar como poo.
C. A barragem subterrnea pode ser feita sobre subsolo cristalino e
aproveita as guas das enxurradas e de pequenos riachos intermitentes dis-
ponveis na regio. cavada uma valeta transversal nos estreitamentos do
caminho das enxurradas, ao fuxo horizontal da gua num terreno de alu-
vio, at chegar base cristalina. Depois de aberta a valeta, coloca-se uma
lmina de plstico na vertical e o espao livre da valeta preenchido com
o material retirado da escavao. Tambm se pode fazer a parede da valeta
com argila bem compactada. Durante o inverno, acumula-se gua no solo
116
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
(e no nas superfcies, como nas barragens tradicionais). Toda barragem
deve ter um sangradouro de concreto, para escoar o excesso de gua e evi-
tar que a fora da gua quebre a barragem. A rea montante da barragem
pode ser plantada com todo tipo de fruteiras, verduras e culturas anuais,
e/ou pode-se aproveitar a gua armazenada numa cisterna subterrnea /
poo amazonas (construdo dentro da barragem subterrnea) para us-la
para consumo humano ou animal ou para irrigao. Ainda nos primeiros
meses da estao seca, possvel plantar a segunda vez e at mesmo nos
anos de maior seca estas barragens no fcam sem gua.
D. Caxios so reservatrios em subsolo cristalino com um ou mais
compartimentos e de mais de trs metros de profundidade, com fundo
e parede de pedra (piarra), que no deixa a gua se infltrar e se perder.
Valetas so construdas para direcionar a gua de enxurradas para es-
ses compartimentos, tendo-se de preocupao de evitar a passagem de
sedimentos. As medidas originais de um caxio so 4,40 m dos lados e
tambm de profundidade. Muitas das construes, porm, possuem for-
matos irregulares, pelos graus diversos de dureza da camada decompos-
ta, difcultando assim a escavao manual. Costuma-se tambm escolher
um formato mais alongado, de seis a oito metros de comprimento, dei-
xando uma parede de pedra no meio, formando assim duas partes que
podem ser escavadas separadamente. A construo de um caxio uma
tarefa de vrios anos e, possuindo duas partes separadas, pode-se usar
primeira a gua da parte mais rasa e continuar o aprofundamento duran-
te toda a poca da estiagem anual, com seus meses mais frios. Quanto o
caxio tiver sua profundidade defnitiva, quer dizer a escavao ter chega-
do camada cristalina dura, pode-se baixar um dos lados, em forma de
rampa, para assim servir de bebedouro para os animais.
E. Pequenos audes ou barreiros de salvao ou irrigao su-
plementar captam gua de escoamento de uma grande rea natural de
captao superfcial. cavado com trator ou a mo. Para diminuir a
evaporao, recomenda-se arborizar as margens. Pelo mesmo motivo
importante uma boa profundidade. Deve ter um sangradouro grande e
bem construdo para no quebrar em anos de chuva excessiva. Pode-se
plantar na vrzea e/ou embaixo do aude com irrigao de salvao.
Abaixo da represa, as pessoas plantam culturas anuais como feijo, mi-
lho ou sorgo. Se h um perodo seco durante a estao chuvosa, podem
117
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
regar as plantaes por gravidade com a gua da represa. Se no precisa-
rem da gua, podero plantar novamente durante a estao seca e us-la
para irrigar a segunda plantao.
F. O caldeiro ou tanque de pedra uma caverna natural, escavada
em lajedos (s vezes aumentada nos perodos de seca), que representa
excelente reservatrio para armazenar gua das chuvas para uso huma-
no, animal e agrcola. Nas regies do Nordeste com subsolo cristalino
freqente que a rocha afore superfcie. O formato das rochas arre-
dondado, em forma de lentes e apresenta muitas cavernas, onde a gua
da chuva se acumula naturalmente. A parte mais profunda sempre
cheia de terra e cascalho. Em geral o bastante desobstruir estas cavi-
dades naturais para obter depsitos de gua efcientes. Possuem profun-
didades de at vrios metros e muitos possuem uma abertura estreita, o
que proporciona uma evaporao reduzida. Alm disso, o aforamento
da rocha forma uma boa rea para captao de gua de chuva.
G. A experincia do barramento de gua de estradas consiste em
captar e canalizar a gua de chuva que escorre pela lateral de estradas, atra-
vs de manilhas, e armazen-la, depois de processos de decantao, numa
cisterna subterrnea, da qual ser retirada para irrigao de salvao.
H. Tambm importante observar o uso de curvas de nvel no plantio,
como forma de segurar a umidade do solo e evitar a eroso. Os sulcos acu-
mulam a gua de escoamento e a levam at as razes das plantas. Os agricul-
tores que observam estas regras ao plantar em reas menores vo perceber
que obtm coletas comparveis com aquelas obtidas antes em reas maiores,
com a vantagem de terem o sucesso da coleta praticamente garantido.
I. A captao de gua in situ entre fleiras aplica-se por exemplo
no sulcamento da roa antes ou depois da semeadura, na arao parcial
ou nos sulcos com barramento de gua. A captao de gua de chuvain
situ apropriada para sistemas de plantao existentes e pode ser exe-
cutada com a ajuda de mquinas ou animais. O sistema de captao de
gua de chuva in situ consiste na modifcao da superfcie do solo,
de maneira que o terreno entre as fleiras de cultivo sirva de rea de cap-
tao. Esta rea apresenta uma inclinao que intensifcar a produo
de escoamento, ao mesmo tempo em que o conduzir para a poro de
solo explorada pelas razes da planta.
6 Por uma poltica de captao de gua de chuva
118
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
- O que mais precisamos da vontade poltica de pr em prtica estas tecnologias
(GNADLINGER, 2006).
Ainda no fnal dos anos 1970, a EMBRAPA Semi-rido comeou a
fazer pesquisas em sistemas de captao de gua de chuva. Desde 1990 o
Instituto Regional da Pequena Agropecuria Apropriada IRPAA, uma
organizao no governamental, est fazendo pesquisa e divulgao de
tecnologias de gua de chuva como parte integrante da Convivncia com
o Semi-rido. Depois se tornou necessrio criar a base institucional para
fazer das muitas experincias isoladas que surgiram no semi-rido brasi-
leiro um programa poltico. Por isso foi fundado em julho de 1999 a As-
sociao Brasileira de captao e manejo de gua de chuva - ABCMAC,
que rene pesquisadores e usurios de tecnologias de gua de chuva e se
destaca sobretudo pela organizao dos Simpsios bianuais de Captao
e Manejo de gua de Chuva. Em 1999 se reuniram tambm organizaes
no governamentais que trabalham no semi-rido brasileiro e fundaram
a Articulao no Semi-rido Brasileiro - ASA, que atualmente rene
mais de 1000 organizaes populares, entre elas ONGs, sindicatos, co-
operativas, associaes, igrejas. A ASA lanou primeiro uma campanha
com o lema Nenhuma famlia sem gua de beber segura e elaborou
a Programa Um Milho de Cisternas P1MC, para ser executado no
semi-rido brasileiro pela sociedade civil de maneira descentralizada (ao
nvel das comunidades, municpios, microregies, estaduais e regional).
O programa recebe fnanciamento por organizaes governamentais e
pelo setor privado. A meta fornecer gua de beber limpa e segura para
um milho de famlias (cinco milhes de pessoas). At o ms de maro
de 2006 foram construdas mais de 110.000 cisternas pelo Programa e
em vrios municpios do semi-rido brasileiro todas as famlias na rea
rurais possuem uma cisterna com gua de beber.
O P1MC foi o ponto da partida para o desenvolvimento sustentvel
do SAB, mas outros aspectos como produo de alimentos, sade, edu-
cao, questo de gnero, infra-estrutura, organizao poltica e proteo
do meio ambiente devem ser considerados da mesma maneira. Por isso,
no setor de agricultura, o P1MC est sendo completado pelo programa
Uma Terra e Duas guas P1+2, o que signifca que cada famlia na
rea rural deve ter uma terra (1), bastante grande, para produzir alimento
e garantir uma vida sustentvel e dois tipos de gua (2), um para beber e
119
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
outro para produzir. Depois de garantir gua para as famlias, precisa-se
segurar terra e gua para criar e dessedentar animais e produzir alimen-
tos por meio do manejo da terra e tecnologias da gua de chuva.
P1MC e P1+2 so programas de formao e mobilizao social para
a Convivncia com o Semi-rido, implementados pela ASA e incluem
um grande esforo de formao comunitria, programas de educao
de crianas nas escolas, eqidade de gnero, advocacy diante dos to-
madores de decises etc. Desta maneira as comunidades fazem da gua
o seu negcio e no mais o negcio dos polticos ou grandes proprie-
trios e infuenciam os diferentes programas governamentais chegarem
mais perto do povo, envolvendo diretamente a populao do semi-rido
brasileiro, usando fundos governamentais para o bem-estar do povo e
no contra os interesses da populao. Estes programas poderiam se
juntar ao Programa de Combate Desertifcao, do Ministrio do
Meio Ambiente, orientar a elaborao de um Plano de Reforma Agr-
ria Apropriada para o SAB do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio
e dar sustentabilidade ao Programa Fome e Sede Zero do Ministrio
do Desenvolvimento Social.
7 Perspectivas
A chuva a fonte de quase toda a gua que os seres humanos usam,
mas at pouco tempo, a chuva foi vista mais como esgoto e no como
fonte. Hoje se comea a ver as tecnologias de captao e manejo de gua
de chuva no mais como alternativas, mas como parte integral do ma-
nejo do ciclo hidrolgico, que abrange as guas superfcial, subterrnea,
do solo e da chuva. Assim o incentivo de tecnologias de gua de chuva
entrou no Plano Nacional dos Recursos Hdricos, publicado em 2006 e
deve orientar a poltica da gua no Brasil nos prximos 20 anos (Minis-
trio do Meio Ambiente, 2006). A Organizao Mundial de Sade est
elaborando a quarta edio das Diretrizes sobre a Qualidade de gua
Potvel e vai incluir e assim reconhecer internacionalmente a gua da
chuva como fonte de gua potvel. Est se reconhecendo que sem uso
da gua de chuva no ser possvel cumprir uma das metas do milnio
da ONU, de reduzir pela metade as 1,1 bilho de pessoas sem gua de
beber at 2015. No semi-rido brasileiro quer se avanar mais: graas
gua de cisternas, pretende-se fornecer gua de boa qualidade para os 2
120
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
milhes de famlias na rea rural talvez j antes desta data. As atividades
da ABCMAC e de seus scios visam a incentivar o aprofundamento do
conhecimento sobre a existncia e a importncia dessas tcnicas em v-
rios nveis de rgos de ensino e de pesquisa, de tomada de deciso e de
participao pblica. No contexto mundial, a Associao Internacional
de Sistemas de Captao de gua de Chuva IRCSA promove o uso de
gua de chuva desde 1982, especialmente por meio de 12 conferncias
bianuais das quais a 9 Conferncia aconteceu em Petrolina PE, em
1999. Em 2005, o Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente
UNEP, fundou a Parceria de gua de Chuva Rainwater Partnership,
que rene entidades internacionais que promovem a captao e o mane-
jo de gua de chuva. Foram feitos grandes avanos em comparao com
20 anos atrs, mas o uso das tecnologias de captao e manejo de gua
de chuva ainda no mainstream, nem no Brasil nem em outras regies
do mundo.
121
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Bibliografa
AGARWAL, Anil and Sunita NARAIN (eds): Dying wisdom. The rise,
fall and potential of Indias traditional water harvesting systems, New
Delhi, 1997.
APPAN, Adhityan: Abertura da 9
a
Conferncia Internacional de Siste-
mas de Captao de gua de Chuva, Petrolina, PE, 1999.
Banco Mundial: Water Resources Management. A World Bank Policy
Paper, Washington, 1993.
EVENARI, M, SHANAN, L, & TADMOR, N: The Negev: the Callan-
ge of a Desert, Harvard University Press, Cambridge, Inglaterra, 1982
2
.
FALKENMARK, M, ROCKSTRM, J ,& SAVENIJE, H. G.: Feeding
Eight Billion People, Time to Get Out of Past Misconceptions, SIWI,
Estocolmo, Sucia, 2002.
GARCIADIEGO, Ral Hernndez & Guerra, Gisela Herreras: Progra-
ma gua para Sempre Resumo Executivo, 5 Simpsio de Captao e
Manejo de gua de Chuva, Teresina, PI, 2005.
GNADLINGER, Johann: Apresentao Tcnica de Vrios Tipos de
Cisternas para Comunidade Rurais no Semi-rido Brasileiro, 9
a
Confe-
rncia Internacional de Sistemas de Captao de gua de Chuva, Petro-
lina, PE, 1999.
GNADLINGER, Johann: A Busca da gua no Serto, Juazeiro, BA,
2001
4
.
GNADLINGER, Johann: Programa Uma Terra -Duas guas (P 1+2):
gua de chuva para os animais e para agricultura no Semi-rido Brasi-
leiro, Apresentao e Refexes, 5 Simpsio de Captao e Manejo de
gua de Chuva, Teresina, PI, 2005.
GNADLINGER, Johann: Community Water Action in Semi-Arid Bra-
zil: an Outline of the Factors for Success, in: 4
th
World Water Forum,
Offcial Delegate Publication, Mexico, 2006.
GOULD, John & Nissen-Peterson, Erik: Rainwater Catchment Systems
for Domestic Supply. Design, Construction and Implementation, Lon-
dres 1999.
122
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
LASSANCE Jr., Antnio E. & Pedreira, Juara Santiago: Tecnologias
Sociais e Polticas Pblicas, em: Tecnologia Social, uma estratgia para o
desenvolvimento, Fundao Banco do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 2004.
Ministrio do Meio Ambiente, Secretaria dos Recursos Hdricos: Plano
Nacional dos Recursos Hdricos, Vol. I e IV, Braslia DF, 2006.
NEUGEBAUER, Bernd: Der Wandel kleinbuerlicher Landnutzung in
Oxkutzcab - Yucatn, Freiburg, Alemanha, 1986.
PACEY, Arnold & CULLIS, Adrian: Rainwater Harvesting. The collec-
tion of Rainfall and Runoff in Rural Areas, Londres, 1986.
PORTO, Everaldo Rocha; SILVA, Aderaldo de Souza; Anjos, Jos Bar-
bosa dos; BRITO, Luiza TEIXEIRA de LIMA; LOPES, Paulo Roberto
Coelho: Captao e Aproveitamento de gua de Chuva na Produo
Agrcola dos Pequenos Produtores do Semi-rido Brasileiro, 9
a
Confe-
rncia Internacional de Sistemas de Captao de gua de Chuva, Petro-
lina, PE, 1999.
SCHISTEK, Harald: Caldeiro, Caxio e Cacimba: Trs Sistemas Tra-
dicionais de Captao de gua de Chuva no Nordeste Brasileiro, 9
a.
Conferncia Internacional de Sistemas de Captao de gua de Chuva,
Petrolina, Brasil, PE, 1999.
SCHISTEK, Harald: Uma nova tecnologia de construo de cisternas
usando como estrutura bsica tela galvanizada de alambrado, 5 Simpsio
de Captao e Manejo de gua de Chuva, Teresina, PI, 2005.
The Daily Yomiuri: World Water Forum, Rainwater answer to some wa-
ter needs, Tokio, Japo, 17-03-2003.
Worldwaterweek, Press Release, Estocolmo, Sucia, 26-08-2005, www.
worldwaterweek.org/press/050826.asp
ZHU, Qiang and YUANHONG, Li: Rainwater Harvesting in the Loess
Plateau of Gansu, China and its Signifcance, 12
a
Conferncia Interna-
cional de Sistemas de Captao de gua de Chuva, Nova Delhi, 2005.
123
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
P1MC: A sociedade civil executando uma
poltica pblica
Texto e fotos Elzira Saraiva
O branco das cisternas est se tornando cada vez mais presente na
paisagem do semi-rido brasileiro, e demonstra que est se formando
uma rede de abastecimento de gua com base na captao de gua da
chuva em pequenos reservatrios de custo baixo, se comparados s
grandes obras hdricas. Como todas as redes, essa tem vrios executo-
res mas um destaca-se por sua inovao e atende pela sigla P1MC.
Afnal, o que torna o P1MC to especial? Construir reservatrios nas
residncias rurais uma proposta antiga e alguns governos j incluiram
esse tipo tecnologia em seus programas de assistncia a comunidades ca-
rentes.
Para saber um pouco mais sobre por que o P1MC est fazendo a
diferena, vamos acompanhar a histria de D. Maria Barbosa da Silva
como benefciria do P1MC.
124
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A escolha de Dona Maria como benefciria
Escolher uma famlia um processo que se desdobra em vrias eta-
pas, com muitos critrios. Em primeiro lugar, para ser benefciada, a
famlia tem que estar em um municpio onde exista uma Comisso Mu-
nicipal de Convivncia com o Semi-rido, constituda de organizaes
da sociedade civil e integradas em um Frum Regional de Convivncia
com o Semi-rido. No caso de D. Maria, o pessoal da Comisso de
Canind, que faz parte do Frum de Convivncia com o Semi-rido Re-
gio Fortaleza, escolheu a comunidade Benfca por ser esta constituda
de famlias que possuem pequenas glebas de terra mas no tm fontes
de gua em suas propriedades (poos, audes etc). A comunidade tem
muitas crianas e as famlias so muito carentes. D. Maria foi escolhida
por ser viva e estar na terceira idade. Ela mora sozinha e tinha muita
difculdade para conseguir abastecer-se de gua. As outras famlias da
comunidade tambm preencheram outros critrios, como, por exemplo,
ter crianas ou pessoas portadoras de necessidades especiais. A Comis-
so Municipal faz sua escolha baseada no conhecimento que seus mem-
bros tm das comunidades rurais do municpio e ento visita as famlias
para explicar o que o P1MC, como funciona e qual a contrapartidada
da famlia para ser benefciada e quais os critrios que as famlias tm
que preencher para serem benefciadas. Alm dos critrios sociais, que
priorizam aqueles/as em situao de maior vulnerabilidade, h tambm
os critrios mais tcnicos como, o tamanho da rea de captao de
gua (telhado), a casa no estar dentro de um grande imvel rural. A
Comisso Municipal de Canind preencheu uma fcha de cadastro de
cada famlia, entre elas a fcha de D. Maria e enviou para a Unidade Ges-
tora Microregional (UGM). A equipe da UGM analisou as informaes,
conferiu se as famlias estavam no padro e ento cadastrou todas no
SIGA, o sistema criado para gerenciar o P1MC.
125
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A capacitao de D. Maria para usar bem a gua da
cisterna
Depois que D. Maria foi contactada e aceitou fornecer a contrapar-
tida ao P1MC (cavar o buraco, fornecer os ajudantes do pedreiro e a
comida para este durante os trs dias e meio que dura a construo), ela
foi convidada a participar de uma capacitao em Gerenciamento de
Recursos Hdricos. Durante dois dias D. Maria participou com outras
29 famlias, de um curso ministrado por monitores/as do P1MC. L, D.
Maria discutiu sobre a situao da comunidade, recebeu mais informa-
es sobre o P1MC sobre como tratar a gua, que cuidados deveria ter
com a cisterna e o sistema de captao da gua do telhado, os cuidados
com os corpos dgua da comunidade e o ambiente.
A construo da cisterna de D. Maria
Depois de capacitada, D. Maria comeou a esperar o material para a construo e a
equipe de pedreiros. Mandou cavar o buraco, pelou o milho e catou o
feijo para fazer o mungunz quando os pedreiros chegassem. A, entra
em cena mais um dos elos da trama que vem se tecendo para mudar a
face do semi-rido brasileiro - a Comisso Comunitria - escolhida entre
126
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
as pessoas a serem benefciadas na co-
munidade. Essa Comisso, juntamente
com um membro da Comisso Munici-
pal, recebe o material, confere tudo, or-
ganiza a vinda das equipes de pedreiros
durante o perodo da construo, entra
em contato com a Comisso Municipal
caso haja algum problema, e tambm
com a UGM. E durante o processo vai
se engajando na Comisso Municipal e
se apropriando do P1MC.
O recebimento da cisterna de
D. Maria
Depois que a equipe de pedreiros terminou o trabalho na casa de
D. Maria, a Comisso Municipal entrou em contato com a equipe da
UGM, a qual j tinha mandado confeccionar a placa de identifcao da
cisterna de D. Maria, a cisterna de nmero 52099. A equipe ento se des-
locou at a Comunidade de Benfca, onde mora D. Maria, e, juntamente
com o representante da Comisso Comunitria, pregou todas as placas
nas cisternas feitas na comunidade, fotografou as famlias na frente da
cisterna e fez o georreferenciamento destas. Com isso a equipe j tinha
em mos todas as informaes necessrias para a emisso do Termo de
Recebimento da Cisterna, um documento que, assinado por D. Maria,
mais um comprovante para os fnanciadores da realizao das metas
contratuais que a UGM assume ao assinar o contrato para gerenciar o
P1MC.
127
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Comisses municipais e comisses comunitrias
As comisses municipais so unidades decisrias importantes no
P1MC, pois elas que decidem em que comunidade as cisternas destina-
das ao municpio vo ser alocadas. Os mtodos variam de microrregio
para microrregio. Na microrregio de Fortaleza, cada municpio recebe
a mesma quantidade de cisternas e a comisso faz a alocao, observan-
do alguns critrios, entre eles o de concentrar a distribuio em uma co-
munidade, de modo a possibilitar a mobilizao e capacitao de todas
as famlias a serem atendidas, facilitar a entrega do material e causar um
impacto positivo na comunidade.
Uma vez escolhida a comunidade, a Comisso Municipal forma com
as famlias benefcirias a Comisso Comunitria que a apia em todo
o processo at que as comunidades tenham todas as famlias que esto
dentro dos critrios do P1MC atendidas.
As duas comisses realizam um trabalho que praticamente volun-
trio e muito pesado. H muito o que fazer: prenchimento de fchas
de cadastro para todas as famlias, o que signifca muitas idas e vindas
pelas veredas do serto, j que as casas na maioria das vezes so afas-
tadas umas das outras; receber e conferir todo o material para a cons-
truo, carretas carregadas de cimento, carradas de areia, brita, canos,
128
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
calhas, tampas etc; organizar o curso de GRH, que signifca encontrar
na comunidade um lugar onde o curso possa ser ministrado, comprar
os alimentos, contratar pessoas para preparar a comida. Essas tarefas
exigem muita responsabilidade tambm, pois os recursos so altos, para
os padres das pessoas que participam das comisses, e as quantidades
so grandes. Para quem acostumado/a a lidar com carncias em gran-
des quantidades, difcil manejar a aparente abundncia que o P1MC
representa, mas a turma enfrenta o desafo, pois afnal de desafos que
se constitui a vida dos povos do semi-rido.
Fruns microrregionais
As comisses municipais se articulam, formando coletivos microrre-
gionais. Existem no Cear nove fruns microrregionais: Frum Arari-
pense de Combate Desertifcao, Frum Microrregional de Crates
para a Convivncia com o Semi-rido, Frum Microrregional de For-
taleza para a Convivncia com o Semi-rido, Frum Microrregional de
Iguatu para a Convivncia com o Semi-rido, Frum Microrregional de
Itapipoca para a Convivncia com o Semi-rido, Frum Microrregional
de Limoeiro para a Convivncia com o Semi-rido, Frum Microrre-
gional do Serto Central para a Convivncia com o Semi-rido, Frum
Microrregional de Sobral para a Convivncia com o Semi-rido, F-
rum Microrregional de Tiangu para a Convivncia com o Semi-rido.
Cada frum um espao para troca de experincias, seja no mbito
da execuo do P1MC, seja de outras experincias para a convivncia
com o semi-rido. Uma vez por ano, h um encontro na microrregio
reunindo pessoas das comisses municipais, comisses comunitrias,
benefcirios/as do P1MC, pedreiros/as, jovens envolvidos na confec-
o de bombas manuais para puxar gua das cisternas, sempre com a
determinao de garantir a participao das mulheres. So dois dias de
intenso convvio social, com troca de experincias e debates sobre temas
importantes para o amadurecimento da proposta de convivncia com o
semi-rido.
Os fruns microrregionais so tambm um espao de defnies pol-
ticas no mbito regional. nesses fruns que se defne quais municpios
vo receber cisterna em cada etapa do P1MC e quantas cisternas vo re-
129
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
ceber.
Municpios onde o P1MC est
Frum Microrregional de Crates Ararend, Catunda, Crates, In-
dependncia, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Novo Oriente,
Monsenhor Tabosa, Parambu, Poranga, Quiterianpolis, Santa Quitria,
Tamboril,Tau.
Frum Araripense Altarneira, Antonina do Norte, Araripe, Assar,
Aurora, Barro, Campos Sales, Caririau, Caris, Farias Brito, Granjeiro,
Jardim, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Misso Velha, Nova
Olinda, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Vrzea Alegre.
Frum Microrregional de Fortaleza Acarape, Aquiraz, Aracoiaba,
Aratuba, Barreira, Baturit, Beberibe, Canind, Caridade, Cascavel, Cho-
rozinho, Ocara, Paramoti, Redeno.
Frum Microrregional de Iguatu Acopiara, Arneiroz, Caris, Catarina,
Cedro, Dep. Irapu Pinheiro, Ic, Jucs, Milh, Mombaa, Pedra Branca,
Piquet Carneiro, Quixel, Saboeiro, Senador Pompeu, Solonpole.
Frum Microrregional de Itapipoca Amontada, Apuairs, General
Sampaio, Irauuba, Itapaj, Itapipoca, Mirama, Paraipaba, Pentecoste,
So Gonalo do Amarante, So Luis do Curu, Tejuuoca, Trairi, Tururu,
Umirim, Uruburetama.
Frum Microrregional de Limoeiro Alto Santo, Aracati, Erer, For-
tim, Ibicuitinga, Icapu, Iracema, Itaiaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Ja-
guaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro,
Potiretama, Quixer, Russas, So Joo do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte.
Frum Serto Central Banabui, Boa Viagem, Capistrano, Chor,
Ibaretama, Itatira, Madalena, Quixad, Quixeramobim.
Frum Sobral Bela Cruz, Corea, Forquilha, Groaras, Marco,
Massap, Mucambo, Pacuj, Santana do Acara, Senador S, Sobral,
Uruoca, Varjota.
Frum Tiangu Carnaubal, Croat, Graa, Granja, Guaraciaba do
Norte, Ibiapina, So Benedito,Tiangu, Ubajara, Viosa do Cear.
130
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Frum cearense pela vida no semi-rido
O Frum Cearense pela Vida no Semi-rido foi fundado em maio
de 1998 e desde ento funciona regularmente como um espao de for-
talecimento no s do prprio frum no cumprimento de sua misso,
como tambm das organizaes individuais que dele fazem parte. O
Frum Cearense, como o chamamos na intimidade, busca e concretiza
parcerias para trabalhar a construo de um novo paradigma, o da Con-
vivncia com o Semi-rido. Assim foi feita uma parceria com o Projeto
Dom Hlder Cmara para trabalhar em assentamentos e entornos no
territrio do Serto Central, com a Fundao Konrad Adenauer, para
realizar uma srie de seminrios regionais sobre recursos hdricos, diag-
nstico e propostas e, claro, o P1MC. Por no ter o Frum Cearense
personalidade jurdica que lhe permita realizar contratos, as parcerias
so concretizadas em contratos individuais com organizaes integran-
tes do Frum Cearense. As parcerias so defnidas coletivamente e a
escolhas das organizaes executoras tambm.
Alm de parcerias, o Frum Cearense realiza encontros anuais. O
ltimo deles aconteceu na cidade de Limoeiro do Norte, em outubro
de 2004, e contou com a participao de cerca de 200 delegados/as que
debateram sobre Reforma Agrria e Transposio do rio So Francisco.
Alm disso, compartilharam saberes e sabores em uma feira. Danas e
apresentaes teatrais com grupos de jovens da regio tambm fzeram
parte e no faltou o mamulengo para animar o pessoal e mostrar como
se trabalha no P1MC.
131
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Reunio da Coordenao Ampliada do FCVSA em abril de 2006
IV Encontro do FCVSA outubro de 2004
132
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
ASA
Criada em julho de 1999, a Articulao no Semi-rido Brasileiro
ASA uma rede de mais de 700 organizaes da sociedade civil de
diversos segmentos, como das igrejas catlica e evanglicas, ONGs,
associaes de trabalhadores rurais e urbanos, movimentos sindicais,
organismos de cooperao internacional que atuam no semi-rido bra-
sileiro
1
. A ASA busca a superao do tradicional modelo de combate
seca, to explorado pelas classes sociais dominantes no semi-rido bra-
sileiro, colocando em seu lugar outra perspectiva de desenvolvimento
como base na cidadania e no respeito pluraridade de seus povos, na
convivncia com as condies climticas locais e respeito ao ecossistema
local. A ASA articula diferentes projetos, entre eles o P1MC
2
.
AP1MC - A unidade gestora central do P1MC
A AP1MC outro elo na rede da ASA e legalmente uma OSCIP
criada para captar e gerenciar recursos que permitem a realizao do
P1MC. Tem sede no Recife e gerencia recursos de diferentes fontes
obtidos para execuo do P1MC. So integrantes da AP1MC as orga-
nizaes que fazem parte da Coordenao Executiva da ASA e que
representam os 11 estados integrados na rede. Tanto a ASA como o
FCVSA so redes informais sem personalidade jurdica. Para executar o
P1MC, uma poltica pblica, necessrio se fez criar um ente jurdico no
caso uma OSCIP, regida por uma legislao que permite a parceria com
o poder pblico.
Unidade Gestora Microrregional
Os recursos captados para o P1MC via AP1MC so repassados para
as UGMs. Atualmente, so 59 UGMs distribudas em 11 estados
3
e
1 As organizaes afliadas da ASA esto em 11 estados: Maranho, Piau, Cear, Rio Grande do
Norte, Paraba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Esprito Santo.
2 Para mais informaes, visite o stio da ASA na Internet www.asabrasil.org.br.
3 Hoje esto contratadas 59 UGMs, sendo: 02 em Alagoas, 13 na Bahia, 09 no Cear, 01 no Mara-
nho, 03 em Minas Gerais, 08 na Paraba, 08 em Pernambuco, 06 no Piau, 07 no Rio Grande do
133
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
como o nome indica as UGMs so organizaes que assumem a gesto
dos recursos fnanceiros e o acompanhamento tcnico destinados s mi-
crorregies. Cada UGM possui uma equipe de trabalho e infra-estrutura
para gerenciar os recursos que recebe, seja da AP1MC, seja de outras
fontes, como parcerias com o poder pblico local, agncias internacio-
nais etc. As UMGs so organizaes afliadas ASA e, aqui no Cear,
so escolhidas pelo Frum Regional a que presta seu servio.
Controle social
Esse um aspecto ainda pouco trabalhado, tanto na ASA como no
FCVSA. Existem momentos de avaliao mas so ainda internos aos es-
paos das prprias redes. H uma prestao de contas contbil no stio
da ASA na internet, mas, levando-se em conta o fato de que boa parte
da populao a ser atendida pelo programa no tem acesso internet,
esse um meio limitado de controle social. Temos avaliados pela CGU
em cada municpio sorteado pela Controladoria para avaliar o uso dos
recursos pblicos e em 2005 o P1MC foi escolhido, juntamente com
outros 10 projetos de parceria do Governo Federal para avaliao. Ain-
da no temos o resultado dessa ltima etapa. Quanto aos relatrios da
CGU, sempre que h algum problema, este discutido com a entidade.
O MDS contratou a EMBRAPA para fazer uma avaliao dos impac-
tos do P1MC. Com exceo do TCU, os processos avaliativos externos
foram feitos sem que as organizaes da ASA pudessem participar ou
fossem ouvidas nas entrevistas. Portanto, o controle social do P1MC
bastante dicotmico, as redes se avaliam internamente e as organizaes
que nos apoiam nos avaliam externamente. Avaliao conjunta ainda
uma possibilidade mas no uma realidade.
Norte e 02 em Sergipe.
134
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Visita da equipe do TCU benefcria do P1MC D. Maria Barbosa da Silva outubro de 2005
Resultados Alcanados no Semi-rido
Dados em tempo real - verso de: 26/04/2006
Financiador: todos
145.417 famlias mobilizadas
134.105 famlias capacitadas em gerenciamento de recursos
hdricos
3.662 pedreiros executores capacitados
3.337 pedreiros recapacitados
2.619 pessoas capacitadas em confeco de bombas manuais
1.171 comisses municipais capacitadas
289 encontro de avaliao e planejamento realizados
255 multiplicadores de GRH capacitados
144 gerentes administrativos capacitados
135 pedreiros instrutores capacitados
59 animadores capacitados
34 planejamento integrado de UGMs
7 pessoas de UEM capacitadas
134.641 cisternas construdas
974 municpios atendidos
135
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
644 cisternas em construo
341 reunies microrregionais e 12.659 participantes
34 reunies estaduais e 2.281 participantes
3 ENCONASA e 726 participantes
Resultados alcanados no Cear
Dados em tempo real - verso de: 26/04/2006
Financiador: todos
18.068 famlias mobilizadas
17.545 famlias capacitadas em gerenciamento de recursos
hdricos
558 pedreiros recapacitados
477 pedreiros executores capacitados
336 pessoas capacitadas em confeco de bombas
manuais
111 comisses municipais capacitadas
17.481 cisternas construdas
142 municpios atendidos
75 cisternas em construo
28 reunies microrregionais e 1.147 participantes
1 reunies estaduais e 208 participantes
Depoimentos
Luizinha Benefciria da localidade de Ca-
choeira Grande Poranga-CE (cisterna de n-
mero 23.287): Essa cisterna que recebi veio como uma
bno do cu. Chegou no momento certo. Porque tenho
problemas em um brao e no posso fazer tudo como an-
tes. A cisterna no meu quintal facilitou muito a minha
vida.
136
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Gensio Alves Pereira localidade de Lagoi-
nha, Paramoti-CE (cisterna de nmero 22.783):
Eu sonhava em ter uma cisterna porque via a gua
caindo pelas biqueiras e no podia ser guardada.
Bosco (Joo Be- zerra da Silva) Co-
misso Municipal de Chorozinho: Muita
gente me pergunta se eu recebo muito dinheiro
para fazer todo o trabalho que fao. Respondo que
o pagamento que recebo a gratido e alegria de
quem recebe uma cisterna e sabe que no vai mais
passar necessidade de gua. Esse um traba-
lho muito importante e de muita responsabilida-
de.
Nenenzinha (Francisca Pereira da Silva)
Comisso Comunitria do Stio Tapera-
Chorozinho (cisterna de nmero 98.816):
foi a primeira vez que minha comunidade se reu-
niu para alguma coisa. Muita gente me chamava
de doida, pois no acreditava que a gente ia mesmo
receber cisterna. Mas aconteceu tudo como estava
previsto. Estou muito satisfeita e pretendo visitar
todas as famlias a cada dois meses para ver se o
pessoal est cuidando da gua direitinho.
137
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Raimundo Carlota (Antnio Marreiro
Cruz) Comisso Comunitria de Canind
(cisterna de nmero 52.107): Esse programa
muito importante, trouxe para o grupo de jovens
da comunidade uma oportunidade de trabalho. O
grupo est fazendo as bombas para puxar gua da
cisterna. So todos jovens que nunca haviam recebido
tanto dinheiro. Um j comprou uma bicicleta, outro
comprou roupas para ele e para a me e todos esto
muito contentes e se sentindo importantes.
Francisca Dulcina Ernesto (Comis-
so Municipal de Ara- coiaba): esse pro-
grama um desafo de vida. Cada novo contado
com as pessoas um novo aprendizado.
Geomar Dias Oliveira (monitor de GRH):
O P1MC um professor que d a oportunidade de
aproximao com algo sagrado: a vida de cada fam-
lia.
139
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A Bomba dgua Popular e a construo do
Programa BAP
Kurt Damm, Neide Farias
1 O semi-rido brasileiro
No jornal Gazzeta do So Francisco, do dia 15 de Novembro 2006,
h seguinte notcia: Noventa e um municpios baianos encontram-se com situa-
o de emergncia da seca que vem castigando as diversas regies do estado... Dois
meses depois, o secretario de Desenvolvimento Rural de Petrolina res-
pondeu ao mesmo jornal pergunta para a situao no campo Estamos
pedindo a Deus que chova.
O semi-rido brasileiro conhecido como uma das regies mais po-
bres do mundo. A regio representa 11% do territrio brasileiro e
formada por nove estados, concentra 12% da populao nacional, o que
corresponde a 21 milhes de pessoas.
O bioma caatinga o principal ecossistema existente no semi-ri-
do brasileiro. Essa regio tem uma superfcie de aproximadamente
969.589,4 km. Neste ecossistema, a ocorrncia de chuva acontece de
forma irregular, variando entre 300 a 800 mm por ano, o que caracteriza
o semi-rido brasileiro como o mais chuvoso semi-rido do Planeta. As
chuvas das frentes frias que vm do sul em forma de trovoadas ocorrem
nos Estados da Bahia, sul do Maranho e sul do Piau e acontecem en-
tre os meses de dezembro e fevereiro. As chuvas que vm do norte, da
convergncia intertropical, acontecem nos meses de maro e abril (ocor-
rendo em partes dos Estados do Maranho, Piau, Cear, Rio Grande do
Norte, Paraba, Pernambuco e o norte da Bahia). As chuvas dos ventos
alsios que se estendem do litoral at 200 km no interior caem no ms de
140
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
maio at o ms de agosto nos Estados de Rio Grande do Norte, Paraba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
A regio semi-rida predominantemente agrcola e 50% da sua
populao encontram-se na rea rural. A complexa ecologia desta vasta
regio marcada pelos perodos anuais de estiagem. De cinco a oito meses
h grande irregularidade de chuva no tempo e no espao, e perodos
maiores de falta de precipitao, chamados de seca. A histria do semi-
rido brasileiro marcada pelo xodo rural, causado principalmente pela
falta de polticas pblicas apropriadas e de compreenso equivocada
das potencialidades locais. O fato de no ter desenvolvido uma prtica
de estocagem de alimentos para os perodos de seca, a concentrao
fundiria, a grilagem de terras, os grandes projetos agroindustriais e falta
de estrutura para viver no campo so algumas das causas para a atual
situao de pobreza na Regio.
Nordeste: 1.561.177,8 km (18,3% da superfcie brasileira).
Semi-rido brasileiro: 969.589,4 km (11,34 % da superfcie brasileira).
Populao SAB: 20.858.264 hab.
Populao Brasil: 186.184.138 hab.
A diversidade biolgica, principalmente em plantas, as diversas ma-
nifestaes culturais e, at mesmo, os diferentes tipos de climas, fazem
do semi-rido brasileiro uma regio com grande potencial para o desen-
volvimento. As atividades econmicas predominantes so as culturas de
subsistncia com pequenos roados, o criatrio de animais, o artesanato
e o extrativismo, com produes voltadas para o consumo familiar e
comercializao nas feiras regionais. Tradicionalmente, as populaes
desenvolvem suas atividades geralmente em reas de uso comum, cha-
madas de manga solta ou fundo de pasto.
141
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
1.1 Armazenamento de gua pluvial
Ao longo do perodo de es-
tiagem, o quadro de extrema di-
fculdade social sensivelmente
perceptvel. A sede e a fome so
os exemplos mais emblemticos,
haja vista que reduzem signif-
cativamente as possibilidades de
convivncia com o semi-rido
e ampliam o sofrimento de um
povo que j vive em condies
precrias.
No semi-rido, as chuvas so
abundantes, a evaporao potencial
superior s precipitaes. Por
isso a gua da chuva deve ser
captada e armazenada para o
perodo de maior escassez, garantindo assim a melhoria da qualidade de
vida da populao.
O semi-rido brasileiro deixa de armazenar grande quantidade de
gua pluvial por ano. Esta regio decorre da ausncia de polticas p-
blicas, comprometimento de boa parte dos gestores pblicos, alm do
desconhecimento da populao rural das tecnologias para a captao e
armazenamento das guas pluviais.
A melhor forma para cada famlia resolver o problema da gua para
beber a construo de cisternas. A cisterna um tipo de reservatrio
dgua cilndrico coberto, que permite a captao e o armazenamento de
guas das chuvas aproveitadas a partir do seu escoamento nos telhados
das casas atravs de calhas. Essa gua protegida da evaporao e das
contaminaes por animais garante gua potvel para a famlia beber e
cozinhar. A sociedade civil, organizada na Articulao no Semi-rido-
ASA, estabeleceu a meta de construir um milho de cisternas rurais e
capacitar famlias e parceiros no Programa de Formao e Mobilizao
Social para a Convivncia com o Semi-rido: P1MC Um Milho de
Cisternas Rurais.
142
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
143
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Mesmo com a capacidade da cisterna de armazenar 16.000 m litros
e tendo como referncia os dados da OMS, que registram o mnimo
necessrio para a sobrevivncia de uma pessoa de 40 litros/dia, seria
um erro planejar o abastecimento hdrico de maneira unilateral consi-
derando como singulares possibilidades de armazenamento de gua a
cisterna ou o poo.
Para uma oferta equilibrada que funcione em todas as eventualidades
do clima irregular do semi-rido, precisamos ter cisternas para captar a
gua da chuva, poos para elevar a gua do subsolo e aguadas profundas
para os animais e outros usos da populao humana.
1.2 A Luta para as Quatro Linhas de gua
Para viabilizar a segurana alimentar no semi-rido, necessrio que
haja estratgias especfcas que garantam gua em quantidade e qualida-
de para os diversos tipos de uso. de fundamental importncia inten-
sifcar na regio semi-rida as iniciativas das quatro linhas de segurana
hdrica, as quais representam um conjunto de medidas que garantam a
disponibilidade de gua durante o ano todo e todos os anos, destinadas
a diversas fnalidades.
gua para a famlia
O abastecimento de gua potvel para o consumo humano deve ser
assegurado em base individual. Cada casa deve dispor de uma cisterna
para captura da gua da chuva, evitando assim longos caminhos, prin-
cipalmente das mulheres e garantindo gua de boa qualidade.
Dependendo da qualidade da gua do subsolo, a gua da Bomba
dgua Popular (BAP) pode contribuir nesta questo da gua para a
famlia.
gua da comunidade
a gua para dessedentar os animais, irrigar pequenas unidades pro-
dutivas e para o uso geral das famlias. Trata-se tradicionalmente de bai-
xadas naturais ou grandes cacimbas. Estes recursos acumulam volumes
insufcientes d gua e precisam ser mais bem organizados. Como alterna-
tiva efciente e higinica, apresentam-se poos equipados com uma BAP.
144
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A gua da comunidade possui forte elemento econmico, pois for-
nece gua para dessedentar os animais, alm de dispensar o uso de car-
ros-pipa.
gua para a produo agrcola
Trata-se aqui basicamente de captar a gua da chuva junto s plantas
e preservar a umidade do solo por um tempo mais prolongado, median-
te diversas tecnologias e medidas agronmicas, mas tambm de medidas
construtivas, como a barragem subterrnea ou a irrigao por salvao.
Uma BAP pode fornecer gua para hortas domsticas ou hortas comu-
nitrias.
gua de emergncia
Para garantir a gua sempre, tambm em estiagens maiores, precisa-
mos de fontes de gua seguras, de fcil acesso para as comunidades, em
lugares estratgicos. Podem ser barragens maiores j existentes ou poos
tubulares equipados pela BAP, que dispensam gastos com manuteno e
combustveis para motores.
1.3 A Geologia do semi-rido
A maior parte do semi-rido - 80 % do subsolo - cristalina, sem len-
ol fretico, mas perpassado por fendas de muitos quilmetros de exten-
so, nas quais encontramos gua em quantidades reduzidas, e, apesar de
certos contedos de diversos ons de qualidade sufciente para abastecer
os animais, fornece gua de uso domstico e na maioria das vezes gua
potvel para as populaes humanas.
No caso do Estado da Bahia, para dispor de gua durante todo o
ano e tambm em perodos de maiores estiagens, o Plano Estadual
de Recursos Hdricos: Salvador 2004, do Governo Estadual, prope
o incremento de oferta hdrica, a partir de gua subterrnea como for-
ma de complemento disponibilidade de gua de superfcie nas regies
com dfcit. Para tal, considerou-se que os incrementos das demandas
hdricas rurais difusas (abastecimento domstico rural de pequenas co-
munidades e dessedentamento do rebanho) entre 2000 e 2020 sero
atendidos predominantemente por poos tubulares.
145
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Hoje em dia a Companhia de Engenharia Rural da Bahia (CERB)
possui cadastros de 14 mil poos no Estado. Os dados disponveis evi-
denciam que a oferta de gua subterrnea para consumo humano, ani-
mal e pequena irrigao em pequenas comunidades do interior da Bahia,
cresce de forma continuada, especialmente nas reas mais carentes de
guas superfciais.
Nos demais Estados do semi-rido brasileiro a situao no e muito
diferente, como mostra o MicroSir Sistema de Informaes em Re-
cursos Naturais do Servio Geolgico do Brasil (CPRM). O CPRM e o
Ministrio de Minas e Energia executaram o Projeto Cadastro da Infra-
estrutura Hdrica do Nordeste com nfase para as fontes de abasteci-
mento por gua subterrnea no semi-rido. Em 2003, foi publicado um
Relatrio Preliminar da Primeira Etapa de 225.000 KMF. Este trabalho
mostra os resultados para quase um quarto da regio dos 10 estados
pesquisados, e somente a metade cerca de 55% dos mais de 20.000 po-
os est fornecendo gua, os outros 45% dos poos so caracterizados
como: paralisados; no instalados ou abandonados. A pesquisa mostra
tambm o resultado da qualidade de gua para uma grande parte dos po-
os. A Resoluo N 20, de 18 de junho de 1986, da Assemblia Federal,
defne a quantidade de sal na gua para a defnio de trs categorias:
gua doce menos de 500 mg/L STD = 25% dos
poos
gua salobra entre 501 a 1.500 mg/L STD = 33% dos
poos
gua salgada mais de 1.500 mg/L STD = 44% dos
poos.
Depois que o CPRM concluiu o cadastro, publicou em CD ROM
dados por Estado com mapas e relatrios para cada municpio do semi-
rido. Alm disso, existe na Internet um banco de dados que pode ser
acessado pelo sistema MicroSir do CPRM.
Um poo perfurado por uma entidade publica com vazo abaixo de
1.000 litros por hora classifcado como poo seco, portanto, no justi-
fca a utilizao de bomba motorizada.
146
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Na regio semi-rida brasileira, h milhares de poos tubulares com
uma profundidade de 40 a 80 metros perfurados por entidades governa-
mentais, especialmente em anos de seca. Em geral, estes poos de nada
servem s populaes por no disporem de bomba, ou seus cataventos
esto quebrados ou mesmo a comunidade no tem recursos para manter
o funcionamento e manuteno das bombas motorizadas.
Isto signifca que existem muitos poos com gua de boa qualidade
e com vazo signifcativa para a populao do semi-rido. Sem equipa-
mentos adequados, as populaes, muitas vezes, no tm acesso a esta
potencialidade hdrica, principalmente no perodo de estiagem prolon-
gada. Atualmente estas populaes s conseguem ter acesso a este re-
curso atravs da lata, o que exige muito sacrifcio.
Por outro lado, uma bomba manual pode ser, em muitos casos, a soluo
ideal. Mesmo que a quantidade de gua seja pouca no subsolo cristalino,
algo em torno de 800 a 1.000 litros por hora, seria uma grandiosa contribui-
o para a convivncia no semi-rido, porm o elevado teor de sais, muitas
vezes contidos na gua, representam um problema adicional, pois corroem
em poucos anos os componentes das bombas at agora instaladas.
1.4 A Bomba dgua Popular
No semi-rido brasileiro encontramos de um lado as mais modernas
bombas para poos tubulares e do outro lado muitos equipamentos tec-
nologicamente antiquados, fabricados com matrias-primas inferiores e
de vida til curta. Faltava uma bomba manual resistente, de fcil manejo,
de preo acessvel e que podesse aproveitar a gua relativamente rasa e
com vazo pequena do embasamento cristalino que predomina em 80
% do semi-rido brasileiro.
Existem os cataventos do tipo leque, nas suas altas torres de ferro,
que lembram as cenas do faroeste americano, ou as pesadas bombas de
brao, feitas em ferro fundido, com tecnologias da poca da imigrao
alem. Ou ento as mais modernas bombas eltricas centrfugas sub-
mersas que necessitam de um conjunto gerador para fornecer a energia
eltrica trifsica onde no existe rede eltrica. A mais avanada tecno-
logia so bombas submersas, impulsionadas por painis fotovoltaicos,
controlados por microcomputador.
147
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A Bomba dgua Popular oferece amplas vantagens para os usurios
no semi-rido brasileiro, entre elas:
a capacidade da Bomba Popular corresponde vazo de gua da
maioria dos poos na regio do cristalino;
a bomba fca montada lateralmente ao poo perfurado, o que mos-
trou ser muito importante na montagem e em tarefas de manuten-
o;
o pisto da bomba isento de qualquer componente de couro ou
borracha. Pesquisas mostraram que a vedao de borracha, existen-
te na maioria das bombas, se torna a parte mais sujeita a defeitos e
precisa ser trocada constantemente;
o volante grande, que mede 1,60 m de dimetro, facilita o bombea-
mento sem causar dores nas costas;
possvel bombear gua de uma profundidade de at 80 metros;
148
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
todos os componentes so fabricados ou de ligas metlicas no cor-
rosivas ou de materiais sintticos de longa durabilidade;
todos os componentes possuem grande resistncia mecnica;
a Bomba dgua Popular possui um horizonte de vida de 50 anos;
a manuteno anual simples e pode ser realizada pelas pessoas da
comunidade.
2 Histrico sobre a chegada da bomba volanta no Brasil
e construo do programa Bomba dgua Popular
BAP:
Em 1996, tcnicos da Obra Episcopal Misereor - Alemanha conse-
guiram identifcar entre os inmeros modelos existentes na frica e sia
o tipo de bomba manual que oferece todas as qualidades necessrias
para o semi-rido brasileiro - SAB, seja no projeto tcnico, seja na apli-
cabilidade na situao social e geolgica do SAB: a Bomba Volanta,
originado destarte, a Bomba dgua Popular, a qual se baseia no con-
ceito e projeto desta Bomba Volanta, desenvolvida por um voluntrio
holands por volta de 1980, sendo hoje produzida na Nigria, Moam-
bique, Burkina Faso e na Holanda.
Em 2001, com a ajuda fnanceira de grupos de solidariedade da Ale-
manha e uma ao conjunta no Brasil entre IRPAA, CRITAS e SASOP,
foram importados da Holanda trs exemplares da Bomba Volanta e insta-
ladas nas comunidades de Pedra Branca, Municpio de Campo Alegre de
Lourdes e na comunidade de Santa Brbara, Municpio de Cura, ambos
na Bahia, e na comunidade de Paracati no Municpio de Nazar, Piau.
Em dezembro de 2003, foi realizado, em Juazeiro, no Estado da Bahia,
um seminrio com participao de diversas entidades da sociedade civil
e da rea governamental que atuam no SAB. Houve uma avaliao do
desempenho das trs bombas testadas, confrmando a alta resistncia e a
confabilidade do equipamento, a aceitao e o interesse proveniente das
famlias benefciadas, como tambm das famlias que residem nas re-
as localizadas no entorno das comunidades onde a BAP est instalada.
149
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
As entidades proponentes, j mencionadas e acrescentadas pela Obra
Kolping do Brasil, interessadas em expandir a experincia a um maior
nmero de agricultores e agricultoras familiares, decidem apresentar a
proposta Articulao do Semi-rido - ASA, tendo em vista a incluso
da proposta como Mais Uma Ao da ASA.
Em abril de 2004, a Comisso Executiva da ASA aprovou por unani-
midade a iniciativa de implantao do Programa BAP, o qual, com os
apoios fnanceiros de Misereor, utilizando a metodologia e a infra-estru-
tura do Projeto Um Milho de Cisterna - P1MC, instalou 180 bombas,
distribudas nos Estados da Bahia, Cear, Pernambuco, Paraba e Piau,
representando a fase inicial de implantao do Programa BAP no Nor-
deste brasileiro, cuja meta instalar 1.000 BAPs at 2006. indispen-
svel ressaltar que as 180 bombas, j instaladas esto disponibilizando s
famlias, em media, 180.000 litros de gua por hora, considerando que
cada BAP disponibiliza 1.000 litros de gua por hora.
A bomba consegue elevar gua em quantidade e qualidade, mesmo no
perodo de estiagem, de poos perfurados em fendas rochosas, em razo
das especifcidades da gua subterrnea do subsolo de cristalino, se rea-
bastecer anualmente com as chuvas. A gua oriunda de poos instalados
por meio da Bomba dgua Popular est sendo utilizada para beber, para
uso domstico, dessedentar animais, irrigao de hortas comunitrias e
familiares e ainda para irrigao de emergncia de pequenos pomares.
150
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A fm de construir um processo de articulao permanente nas
regies benefciadas, o mtodo de instalao das bombas ocorreu por
meio de capacitaes, que asseguraram a troca de experincia em vrias
dimenses, alcanando desde os aspectos tecnolgicos, favorecendo
condies necessrias para que os prprios agricultores e agricultoras
passem a manusear e gerenciar o equipamento, como tambm o
fortalecimento das iniciativas voltadas para tcnicas de convivncia com
o semi-rido em suas diferentes temticas.
O Programa se prope a enfrentar e contribuir efetivamente para
motivar as discusses que visam a resolver o problema do desabasteci-
mento peridico de gua dos povoados dispersos no semi-rido brasilei-
ro, disponibilizando a Bomba dgua Popular, um equipamento de uso
manual altamente resistente e adaptado realidade do SAB, para forne-
cer gua necessria s comunidades. Desta forma, as famlias que vivem
da agricultura familiar e da criao de animais tero uma chance de viver
e trabalhar nas regies mais secas do Brasil de forma contnua e com
maior dignidade, sem depender de favores por parte dos chefes locais
que costumam exercer controle poltico mediante distribuio de gua
com carros-pipa ou do custeio da manuteno de bombas motorizadas.
Nessa fase-piloto, foi realizado um estudo de impacto socioambien-
tal, a partir de uma amostra que contemplou 15 comunidades, distribu-
das em todos os cincos estados. Este estudo teve como principal fna-
lidade analisar impactos ambientais potenciais positivos e negativos que
possam ocorrer a partir da instalao do Programa BAP no SAB, as-
sim como as medidas mitigadoras e minimizadoras da entropia proces-
sual. Este levantou os elementos bsicos para uma futura estruturao
de um programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos
positivos e negativos.
A realizao deste estudo foi fundamental para a implantao de um
Programa que tem com objetivo principal aprimorar as prticas j exis-
tentes nas comunidades benefciadas, valorizando as iniciativas socio-
culturais locais. Achamos por bem disponibilizar o resumo resultante do
Diagnstico socioambiental das Comunidades, realizado pela SE Con-
sultoria Ambiental, a saber:
Na regio do semi-rido brasileiro observa-se que determinadas caractersticas
socioambientais atuam como fatores limitantes ao processo de convivncia com o meio.
151
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
No caso do Projeto Bombas dgua Populares BAPs, trs fatores em particular,
chamam a ateno: escassez de recursos hdricos; caractersticas edafoclimticas singu-
lares e relaes de poder nas comunidades. sabido que a falta de estrutura logstica,
baixa escolaridade, programas assistencialistas, assistncia tcnica defciente, dentre
outros fatores, so verdadeiros entraves ao processo de desenvolvimento da regio. No
entanto cr-se que os trs fatores inicialmente particularizados so os que mais dire-
tamente se relacionam com os possveis impactos das BAPs.
No que tange aos recursos hdricos, a ausncia de uma lgica geren-
cial contextualizada, ou seja, consoante s reais necessidades do local,
gera, em muitos casos, quadros graves de indigncia hdrica, levando
morte de rebanhos, quebra de safras e a estados de extremo sofrimento
do homem sertanejo. Na regio, alm da existncia de corpos dgua
superfcial e subterrnea, h aporte pluvial com distribuio irregular ao
longo do ano. A ausncia da implantao de tcnicas que elevem o apro-
veitamento deste recurso pelo homem do campo aumenta a sua vulne-
rabilidade quanto aos perodos de escassez. A falta de uma macro-lgica
contextualizada da gesto destes recursos, com o estabelecimento de
polticas pblicas e projetos especfcos, de cunho governamental, para
tal fm, levam no-internalizao deste aporte hdrico nos sistemas
naturais ou produtivos, gerando uma sada deste insumo do sistema,
(seja por escoamento superfcial run off e/ou por evapotranspirao),
diminuindo a possibilidade deste ser usado como mais um insumo na
produo e fxao do homem no campo.
Sobre a questo da gua no semi-rido nordestino, imperativo
esclarecer um ponto bastante singular: embora a qualidade das guas
oriundas dos lenis freticos analisados neste estudo apresente par-
metros no considerados adequados para o consumo humano (como,
por exemplo a alta concentrao de partculas de cloreto de sdio),
esto muitas vezes dentro de parmetros aceitos para a dessedentao
de animais, em especial caprinos. Isto uma constatao corrente nos
poos artesianos no cristalino do semi-rido com profundidade em
torno de 35m. Esta salinidade, que varia ao longo das estaes chuvosa
e seca, pode vir a comprometer a sade das pessoas que a consomem
normalmente, podendo provocar doenas crnicas, como a hiperten-
so. Esta doena, por sinal, foi observada em vrios casos, no discurso
de entrevistados. Destarte, embora as anlises laboratoriais demons-
152
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
trem que a qualidade da gua est aqum do indicado para os seres
humanos, ainda assim, a gua pode ser empregada em usos menos
nobres, como na dessendentao dos rebanhos.
No que tange aquisio dgua para suprir a carncia do abasteci-
mento humano, o Projeto 1 Milho de Cisternas P1MC (consta de uma
cisterna atrelada a um sistema de captao de guas pluviais nos telhados
das casas), presente na maioria das residncias visitadas, serve como um
alento a este povo, auxiliando na manuteno da atividade no campo. Tal
gua, exclusivamente utilizada como gua de beber, tratada e passa por
processo de manuteno da sua qualidade para que no se deteriore ao
longo do ano. Os sertanejos engajados neste projeto recebem treinamento
especfco para que possam assumir plenamente a gesto da cisterna.
De forma complementar ao abastecimento hdrico destas popula-
es, a instalao das BAPs desempenhara papel de suma importncia,
pois, a depender da qualidade das guas encontradas nos poos e dos
processos de melhoria que estas recebam, podem ser usadas para ou-
tros usos domsticos, como banho, lavagem de roupas, cozimento de
alimentos e at, em certos casos, para beber. Para a dessedentao dos
animais, mostra-se mais apropriada, em razo das reduzidas exigncias
destes quanto aos diversos parmetros da gua, especialmente salinidade
e grau de pureza bacteriolgica.
Por ltimo, resta destacar uma questo de ordem tcnica. As amos-
tras de guas coletadas nos diversos poos que recebero as BAPs,
presentes neste estudo, foram colhidas durante o perodo de estiagem,
fazendo que estas guas apresentem teor de salinidade mais elevado do
que em perodos de chuvas.
Ademais, cumpre destacas que certos poos, desativados h anos,
esto com as guas ao longo da coluna do poo com qualidade com-
prometida, visto o estado de estagnao em que se encontravam. Com a
reativao dos poos, acredita-se que a qualidade das guas tende a me-
lhorar. Espera-se atravs da presso exercida pela diminuio do nvel
hidrosttico da gua na coluna ao longo do cano do poo, bem como,
com um novo aporte hdrico pluvial, que reativaria o fltro natural das
camadas de cristalino, estas guas sejam renovadas.
Outrossim, espera-se que o tempo de uso eleve a qualidade e dimi-
nua o teor de salinidade. Seria prudente, portanto, um acompanhamento
153
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
desta situao ao longo da estao chuvosa e da prxima estao seca,
para ratifcar ou no este cenrio.
A vazo mdia dos poos artesianos rasos perfurados em cristalino
no semi-rido nordestino de 2.500l/seg, o que foi ratifcado pelo pre-
sente estudo. Para suprir as demandas hdricas de uma comunidade de
30 famlias, esta vazo poder ser responsvel apenas pela elevao do
aporte dirio, assegurando o abastecimento destes ao longo de todo o
perodo. Isto de fundamental importncia, pois, durante o perodo das
chuvas, corpos dgua temporrios se formam, elevando a disponibili-
dade deste recurso para as populaes humanas e de animais. Tambm
os cultivos so benefciados, entretanto, no perodo da estiagem, todos
estes passam por limitaes no consumo de gua, situao que poder
ser menos desfavorvel com o uso das BAPs pela populao.
Em virtude de baixa vazo dos poos, e qualidade fsico-qumica de
suas guas, entende-se que no so apropriadas para a irrigao. Quanto
ao rebanho que as usar, esta no representa perigo quanto elevao
descontrolada do rebanho, pois no se confgura num aporte hdrico
para tal fm e que suporte uma grande elevao da demanda. O projeto
de instalao das BAPs responde muito mais a uma demanda existente
de gua para as necessidades bsicas humanas, assim como para o reba-
nho. Ressalta-se que outro fator para que o rebanho no se eleve drasti-
camente a prpria condio fnanceira dos partcipes da comunidade,
que, desprovidos de renda monetria, possuem base fnanceiro-econ-
mica na agricultura de subsistncia e num rebanho incipiente, apenas
para consumo prprio ou servindo de uma poupana, o qual vendido
quando de uma necessidade premente.
Tambm as condies ambientais no so favorveis para um aden-
samento do rebanho, num sistema extensivo. Caso intensivo, teria que
se pensar em formas de produo de alimentos para responder a esta
demanda, fato que no tem espao nas condies atuais, pois a pro-
dutividade mdia do plantio baixa, alm da quase completa ausncia
de assistncia tcnico-agrcola. No h assim expectativa de um boom
no rebanho de caprinos, ovinos, bovinos, sunos ou aves, nem a curto
ou mdio prazo. A depender de tantas outras variveis, como uma to-
tal reestruturao da lgica de produo do semi-rido, pode-se pensar
em um manejo sustentvel e numa administrao sistmica tendo lugar
154
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
neste espao, gerando assim, um modelo ecologicamente responsvel
e socialmente contextualizado de desenvolvimento econmico para o
semi-rido. Este projeto mais uma iniciativa nesta direo.
Com relao s caractersticas edafoclimticas, que geram limites
claros produo, pensar no sentido de maior conhecimento da for-
ma de vida do homem do campo, compreendendo as suas demandas e
a forma de produo, assim como uma elevao do interesse de estu-
do em campos relativos geoclimatologia e reas correlatas, visando
compreenso deste espao, so emergenciais. O desenho de modelos da
gesto, dos recursos naturais pelas pequenas unidades produtivas fami-
liares das comunidades rurais, buscando compreender o suporte tcnico
necessrio produo e o acionamento dos rgos competentes para
este fm, so pontos focais para uma ao pela produo sustentvel no
semi-rido. Neste ponto, as aes e projetos desenvolvidos pelas organi-
zaes no governamentais que esto fazendo parte da Articulao pelo
Semi-rido ASA, projetam novos horizontes. Pelo profundo conheci-
mento destas em relao s comunidades que do suporte, podem auxi-
liar cada vez mais com o estabelecimento de projetos que respondam as
demandas locais, assim como sejam compatveis com as caractersticas
ambientais dos ecossistemas locais e do bioma caatinga.
O processo de desertifcao que abrange todos os estados estuda-
dos (Bahia, Cear, Paraba, Pernambuco e Piau), alm de outros forma-
dores da Regio Nordeste, so objetos de estudo por diversas entidades.
O fato que este processo est se expandindo, decorrente de aes
antrpicas e fatores climticos. O manejo do solo nas prticas agropas-
toris um dos fatores de propagao deste processo de esgotamento do
ecossistema, conseqncias socioambientais marcantes. Entretanto no
se constatou nenhuma relao presente ou potencial futuro de acelera-
o deste processo com a instalao de uma bomba popular numa das
comunidades, foco deste estudo. Com prticas sustentveis de produo
agrcola, como observado em uma das comunidades (Comunidade de
Frei Damio), com a criao de microclimas e elevao de produo da
terra, com correo desta, pode-se auxiliar na recuperao da camada
superfcial do solo. Experincias de micro-irrigao tambm tiveram lu-
gar na construo de cenrios positivos para a manuteno do homem
do campo.
155
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Em relao estrutura social existente, a lgica gerencial da comu-
nidade e a composio de foras que tm lugar em cada uma das asso-
ciaes, percebe-se que a instalao da BAP pode vir a ser um fator de
novos confitos nas relaes sociais de poder. O cuidado de instalar a
BAP em terreno que seja doado pela Associao uma questo estrat-
gica e extremamente pertinente, pois este espao e o equipamento, con-
seqentemente, no podero ser privatizados. Desta forma, assegura-se
a inteno de uso comum do equipamento pelos residentes na comu-
nidade. Fica em aberto a questo da forma da gesto do equipamento,
sua manuteno e monitoramento do processo de uso e da dinmica
social em torno desta. Neste particular, tanto a viso da entidade gestora
local do projeto, como perspectivas externas para servirem de baremas
s aes, podem ser iniciativas auxiliares para o sucesso do projeto ao
longo do tempo.
Um diferencial positivo da tecnologia da BAP que esta foi desen-
volvida agregando preocupaes quanto adaptao do equipamento
ao ambiente da caatinga. Observou-se que outras tcnicas desenvolvidas
para meio urbano ou para regies diversas, como cata-ventos e bom-
bas mecnicas, ao longo do tempo, convertem-se de uma soluo para
um problema. Os limites fnanceiros e tcnicos das comunidades mui-
tas vezes comprometem a adequada manuteno destes. Equipamentos
quebrados, abandonados ou roubados foram constataes freqentes
ao longo das visitas de campo. J no caso da BAP, por sua simplicida-
de de manuseio e manuteno, enquadra-se nas demandas locais, assim
como nas possibilidades reais de despesas com manuteno de equipa-
mento por parte da comunidade. A facilidade de manuseio, que pode
ser realizado por crianas, mulheres e idosos, denota esta adequao s
condies de esforo individual disponveis. Assim, considerando que
as estruturas para a captao dgua no semi-rido brasileiro no so as
mais adequadas (do ponto de vista da constituio do material), acredita-
se que a BAP confgurar como opo excelente para o provimento deste
bem aos sertanejos.
Espera-se que, a longo prazo, as comunidades possam ter o suporte
de outras unidades de BAP, elevando assim a quantidade de gua dispo-
nvel para a produo, fortalecendo desta maneira a rede de produo
agropastoril da caatinga. Prevalece, entretanto, o sentimento de que o
monitoramento do processo de instalao das BAPs, assim como uma
nova avaliao socioeconmica e ambiental poderiam ter lugar num fu-
turo prximo, abrangendo o perodo de estiagem e o de chuvas, visando
a confgurar as alteraes advindas deste processo. Tambm acredita-se
que maior articulao entre as entidades locais da gesto da bomba com
a comunidade, buscando responder os desafos tcnico-gerenciais no
s das questes diretamente atreladas s bombas, mas tambm a todo
processo produtivo local, seria imperativo para a melhoria da relao
homem-meio ambiente.
Por fm, uma elevao da capilarizao das informaes aqui levan-
tadas, dando visibilidade social s diversas aes que tm lugar nas co-
munidades rurais atendidas pelo projeto Bombas dgua Populares, po-
deria ser salutar para que a sociedade como um todo tenha mais contato
com a realidade sertaneja e desta sinta-se partcipe e co-responsvel.
Em particular, entidades pblicas de desenvolvimento e propagao do
conhecimento podem ser parceiros importantes no processo de busca
de formas de convivncia com o semi-rido brasileiro.
Sinteticamente, uma projeo de cenrio para o semi-rido com as
BAPs aponta para uma melhoria das condies de vida das comunidades
locais, ao passo que a no- implantao destes equipamentos tenderia a
agravar o quadro de pobreza no qual estas comunidades se encontram.
Assim, ponderando-se sobre a relevncia das BAPs para as comunida-
des do semi-rido, bem como sobre seus impactos para o meio ambien-
te, conclui-se que a instalao das bombas fortemente recomendada,
pois constitui uma tecnologia vivel, ecologicamente no-degradante,
no poluidora, no consumidora de recursos naturais e trata-se de uma
alternativa socialmente responsvel para tratar da convivncia com a
seca, consoante os princpios elementares da Agenda 21.
157
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
As barragens de conteno de sedimentos para
conservao de solo e gua no semi-rido
Jos Carlos de Arajo
1 A estrutura de abastecimento hdrico no semi-rido
Em razo da alta vulnerabilidade natural da regio semi-rida, as po-
lticas pblicas para estas regies tm se pautado, secularmente, por duas
vertentes. Na perspectiva de curto prazo, ocorrem intervenes destina-
das a reduzir os impactos das secas, enquanto que em longo prazo so
projetadas obras de infra-estrutura hdrica (Arajo 1990) na tentativa de
fortalecer a economia local. A efccia de muitas dessas medidas ques-
tionvel, no entanto, considerando-se tanto o modelo econmico em
questo quanto a falta de participao e de transparncia nas decises,
conforme demonstram Sales (1999) e Sales e Arajo (2000).
As principais obras hdricas realizadas pelo Governo Federal na ao
de combate s secas (hoje no se aceita mais a idia de combater s secas,
mas sim de conviver com elas) foram, indubitavelmente, as barragens.
Desprovido de seu principal reservatrio natural, o solo, o semi-rido
dispe quase que unicamente de rios intermitentes, o que reduz signi-
fcativamente a garantia de oferta hdrica nos perodos de estio inter- e
intra-anuais. Assim, as barragens criam reservatrios artifciais capazes
de reter o excedente de gua produzido pelas bacias nos meses midos
para disponibiliz-la nos meses (e anos) secos. O impacto dessas obras
foi de to grande monta que a construo de barragens passou a ser
parte integrante da cultura de convivncia com as secas, desde o mais
simples campons ao mais graduado gestor de gua. Exemplo disso o
158
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
elevadssimo nmero de pequenos audes existentes hoje no semi-ri-
do nordestino (Menescal et al., 2001). De fato, Malveira (apud Arajo,
2005) estudou detalhadamente a bacia do Alto Jaguaribe, Cear, com
base em imagens de satlite de 2002. Segundo a investigao, na bacia
(25.000 km
2
) foram identifcados 3677 audes, dos quais apenas 17 tm
volume de acumulao superior a 10 milhes de m
3
.
A infra-estrutura destinada distribuio da oferta da gua acumula-
da nos reservatrios estratgicos , no entanto, ainda defciente, prejudi-
cando principalmente a populao rural (Arajo et al., 2005a). Para essas
comunidades, a principal fonte de gua ainda so as pequenas barragens
ou os carros-pipas. Estes distribuem gua de qualidade questionvel a
preos elevados. As pequenas barragens, por sua vez, apresentam re-
duzida efcincia hidrolgica em razo das altas perdas por evaporao
e qualidade da gua incompatvel com as exigncias de potabilidade,
pois tambm servem geralmente para dessedentao de animais, lava-
gem de roupas e/ou lanamento de esgotos. Organizaes de carter
social propem, entre outros, a construo de cisternas de placas para o
incremento da seguridade hdrica no campo (Gnadlinger, 2003). Arajo
et al. (2005a) entendem que se, por um lado, a construo de cisternas
no responde a grandes demandas nem ao incremento de garantia de
oferta dos grandes usos, como irrigao, aglomerados urbanos ou plos
industriais, por outro lado representa um importante recurso para de-
mandas dispersas. Na avaliao dos autores, o custo da gua acumulada
por cisternas de 5,88 R$/hab/ano, bastante acessvel considerando-se
que sua gua pressupe potabilidade e proximidade do usurio fnal, ao
contrrio de outras fontes hdricas, como as barragens. Observe-se que
apenas o custo de operao e manuteno para dessalinizar a gua sub-
terrnea de 5,89 R$/hab/ano, e que o custo de fornecimento de gua
por carro-pipa de 70,68 R$/hab/ano.
Comparando-se dados macroregionais de oferta hdrica no semi-ri-
do atravs de barragens e de poos (tanto no substrato cristalino quanto
no sedimento, Barbosa, 2000), possvel pensar que cerca de 90%
atendida pelas barragens estratgicas, isto , aquelas capazes de suportar
pelo menos dois anos de seca. Esses nmeros mostram a importncia
da acumulao de gua nos audes (e seu uso responsvel) como ins-
trumentos de vida e desenvolvimento na regio semi-rida. Por isso, a
159
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
sociedade deve realizar todo o esforo necessrio para disciplinar o uso
do solo, uma vez que da surgem as principais fontes de reduo da dis-
ponibilidade hdrica nos audes: os sedimentos e os poluentes.
nesse contexto que surgem as barragens de reteno de sedi-
mentos, cujo objetivo central reter o excedente de sedimentos e de
gua, disponibilizando-os para as populaes localizadas a montante
dos audes estratgicos.
2 A produo de sedimentos e seu impacto na
disponibilidade hdrica
A produo de sedimentos um processo natural e inevitvel, no
entanto, aes antrpicas sobre a superfcie terrestre aceleram inten-
samente as duas etapas fundamentais de produo de sedimentos:
eroso e transporte.
Suponha-se uma bacia
hidrogrfca densamente
vegetada. Folhas e troncos
amortecem signifcativamen-
te a ao erosiva das chuvas,
retm parcela considervel
da gua precipitada (16% em
mdia na caatinga, segundo
Medeiros, 2005) e facilitam a
infltrao. Caso essa mesma
bacia sofra desmatamento,
a eroso ser mais intensa
(baixa proteo do solo) e a vazo escoada superfcialmente ser mui-
to superior (reduo de interceptao e de infltrao), o que facilitar
o transporte do material inicialmente erodido, criando ravinas e voo-
rocas. Por exemplo, a Bacia Experimental de Aiuaba, Cear, localizada
na Estao Ecolgica de Aiuaba (IBAMA), coberta por foresta seca
(caatinga) e encontra-se em elevadssimo estado de preservao. Estu-
dos experimentais (ver Righetto, 2004, Cap. 5) permitem estimar que,
se a rea fosse completamente desmatada, para cada kg de sedimento
atualmente produzido seriam produzidos cerca de cinco toneladas: de
160
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
tal monta pode ser o impacto das aes antrpicas sobre a produo de
sedimentos em uma bacia.
A excessiva produo de sedimentos tem impacto direto sobre di-
versos setores da vida social e da economia: reduo na produtividade
agrcola e pastoril em virtude do empobrecimento dos solos; aumento
da turbidez e da concentrao de nutrientes e poluentes na gua; e as-
soreamento de rios (o que intensifca os problemas de inundaes) e de
reservatrios, entre outros. Assoreamento o processo de deposio de
sedimentos que vinham sendo transportados por meio hdrico. Nesse
texto, devemos nos concentrar principalmente no impacto do aporte de
sedimentos sobre a disponibilidade de gua.
Arajo, Gntner e Bronstert (2006, ver tambm Arajo et al., 2005b)
avaliaram a impacto do assoreamento sobre a disponibilidade hdrica de
sete barragens no Cear. Os sedimentos chegam, atravs de rios, con-
duzidos por guas com velocidades relativamente elevadas, associadas
a alta turbulncia. Ao adentrar o reservatrio, ocorre reduo brusca
das foras que mantm suspensos os sedimentos maiores. Assim, geral-
mente, ocorre a rpida deposio dessas partculas, formando o que se
convencionou chamar de delta dos reservatrios. Quanto s partculas
mais fnas, estas tendem a se depositar mais uniformemente na bacia
hidrulica. Os autores h pouco citados observaram que o assoreamento
ocasiona suavizao da morfologia do lago, ou seja, maior rea de ex-
posio da gua para o mesmo volume acumulado. Conseqentemente,
ocorrem maiores perdas por evaporao. Alm disso, a capacidade de
acumulao do aude reduzida, de modo que o volume vertido (ou
sangrado) aumenta. Como a gua que chega ao reservatrio tem trs
destinos preferenciais (uso, evaporao ou vertimento: Campos, 1996),
o incremento da evaporao e do vertimento implica necessariamente a
reduo da gua disponvel para uso. Para Arajo, Gntner e Bronstert
(2006) que, a cada ano, a disponibilidade hdrica do Cear (com 90% de
garantia) reduzida em mais de 300 L/s somente por causa do assorea-
mento dos reservatrios.
O impacto da produo de sedimentos sobre a qualidade da gua (e,
portanto, sobre sua disponibilidade) relevante. O aumento da turbidez
da gua reduz a zona ftica (isto , a penetrao de luz na gua). Com
isso reduz-se a possibilidade de produo primria de oxignio. Alm
161
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
disso, pesquisadores do tema chamaram a ateno para o enriqueci-
mento dos sedimentos, ou seja, o sedimento erodido e transportado
tem geralmente maior concentrao de matria orgnica e outros com-
ponentes (poluentes, nutrientes) que o no erodido. Assim, h grandes
riscos de que o sedimento afete o balano trfco (isto , de alimentos)
no lago, gerando desequilbrios ecolgicos capazes de comprometer a
qualidade da gua, tornando-a indisponvel para a sociedade. Oliveira
(2001) estudou o aude Santo Anastcio, inserido na rea urbana de For-
taleza, CE. O excesso de aporte de nutrientes eutrofzou o lago (ou seja,
aumentou demasiadamente sua biomassa), rompendo seu equilbrio e
tornando a gua inadequada para diversos usos, inclusive abastecimento
humano. Para que a gua de um lago eutrofzado possa ser usada no
abastecimento, seu tratamento torna-se muito mais complexo e dispen-
dioso, como avaliou Sales (2005).
Pelo exposto, possvel verifcar que, embora a produo de sedi-
mentos seja um processo natural, aes antrpicas podem aument-la
demasiadamente. Alm disso, foi demonstrado como a excessiva produ-
o de sedimentos pode reduzir a disponibilidade de gua.
3 As barragens de conteno de sedimentos
As barragens de sedi-
mentos so formadas por
pedras arranjadas sobre o
leito de pequenos riachos
ou em encostas, de tal for-
ma que, nas enxurradas,
a velocidade da gua seja
reduzida. Com isso, par-
te considervel dos sedi-
mentos que vinham sendo
transportados sedimenta.
Com o passar do tempo,
no espao localizado imediatamente a montante do barramento, gera-se
um terrao de solo que, por sua vez, tambm retm gua mediante
umidade intersticial. Em outras palavras, o solo que seria depositado nos
162
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
rios e reservatrios (causando problemas com isso) retido nas reas
altas, podendo ser aproveitados para a produo agrcola.
Tais obras que, a rigor, remontam do Imprio Romano, podem ser
um importante instrumento para a gesto atual dos recursos naturais,
principalmente na regio semi-rida. Como demonstrado no item an-
terior, o aporte excessivo de sedimentos nos reservatrios reduz sua
disponibilidade hdrica (em quantidade e em qualidade), porm, com a
reteno do solo nas terras altas, no somente se reduzem o aporte de
sedimentos e seus impactos, mas tambm se aumenta a rea agricultvel
e a reteno de gua no leito dos pequenos riachos.
Nesse sentido, o Estado do Cear desenvolve atualmente o Progra-
ma de Desenvolvimento Hidroambiental PRODHAM (SRH, 2006),
que visa a recuperar e conservar pequenas bacias hidrogrfcas localiza-
das em reas degradadas, atuando nas esferas fsica, social, econmica
e ambiental. Entre as prticas utilizadas no PRODHAM, destaca-se a
construo de barragens de conteno de sedimentos (cordes de pe-
dra em contorno e barragens de pedras sucessivas), alm de barragens
subterrneas, cisternas e poos, entre outros. Os autores acima citados
destacam, entre os benefcios resultantes do Programa, o equilbrio eco-
lgico com o ressurgimento de formas de vida vegetal e animal, o aumento na oferta
de pasto para o vero, a recuperao da mata ciliar, o aumento da produtividade das
culturas de sequeiro, a oferta de gua de cisterna para a populao e a ao em outras
atividades produtivas geradoras de renda.
A recuperao hidroambiental das bacias (SRH, 2006) ocorre por
meio dos seguintes passos: (a) identifcao de pequenas bacias degra-
dadas; (b) construo das barragens de conteno de sedimentos (em
forma de cunha objetivando dar maior sustentabilidade estrutura);
(c) reteno de solo, gua e matria orgnica (humus) a montante das
barragens, cujo efeito j se faz sentir aps as primeiras chuvas; e (d)
aumento da acumulao de gua no leito do riacho aps as chuvas,
facilitando sua reteno mediante infltrao e escoamento superfcial
aps o pico das cheias.
163
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
4 Impacto das barragens de conteno sobre balano de
solos, gua e matria orgnica
Este item tem como objetivo explicitar possveis impactos positivos
e negativos sobre os diversos sistemas fsicos e qumicos, com nfase
em solo, gua e matria orgnica. O impacto social direto das barragens
de conteno pode ser avaliado pelos efeitos do PRODHAM, acima
mencionados.
Do ponto de vista de balano de solos na bacia, o principal impacto
positivo sua reteno na fase de produo (altas declividades) com a
conseqente reduo do assoreamento nos trechos de baixa declivida-
de de rios e reservatrios (audes). H, no entanto, riscos associados
construo de barragens de reteno. possvel que ocorra mudana no
regime sedimentolgico dos rios em virtude da reduo da produo de
sedimentos, podendo ocorrer eroso principalmente em suas sinuosida-
des. Isso poderia no estar ocorrendo por causa do excesso de carga s-
lida (h um limite mximo de capacidade de transporte do rio), porm,
com a reduo do aporte de matria slida suspensa, o rio pode criar
condies de erodir as margens fuviais.
Sob a ptica da gua, as barragens contribuem com o aumento da
capacidade de infltrao e com a reteno da gua superfcial. A su-
perposio desses dois processos resulta no somente no incremento
da oferta hdrica nas altas bacias (o que extremamente relevante para
seus habitantes), mas tambm no aumento do tempo de escoamento
superfcial. Isso signifca reduo do pico de cheias e aumento do tem-
po de gua nos rios aps as chuvas. Os riscos, para o balano hdrico,
incluem o aumento da lmina de evaporao e do aporte de poluentes
aps a estabilizao dos terraos. O aumento da evaporao se explica
por causa da maior disponibilidade espacial da gua. O aumento da po-
luio pode ocorrer principalmente aps a estabilizao dos terraos,
quando as barragens perdem sua capacidade de reter sedimentos e suas
superfcies so usadas para a produo. Caso os agricultores usem com-
plementos agrcolas, principalmente pesticidas, esses constituintes po-
dero se transportar e se acumular nos mananciais, causando problemas
de sade populao. A prtica de uso excessivo de pesticidas comum
no Brasil, comprometendo inclusive a qualidade de gua de aqferos
164
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
importantes, conforme verifcaram Barreto et al. (2005) no Municpio
de Tiangu, CE.
O balano de matria orgnica tambm afetado pelas barragens de
reteno. Conforme observado nas reas monitoradas pelo PRODHAM
(SRH, 2006), os terraos ocasionam condies favorveis ao crescimen-
to vegetal e captura de matria orgnica junto ao sedimento e
gua. Arajo et al. (in: Righetto, 2004, Cap. 5) mediram a concentrao
de matria orgnica na entrada e na sada de um pequeno reservatrio
no semi-rido cearense em oito eventos. O resultado demonstrou que
a concentrao na sada de apenas 25% da concentrao na entrada,
o que demonstra a elevada capacidade de reteno de matria orgnica
tambm na gua dos reservatrios. H, tambm, riscos na aplicao de
fertilizantes nos terraos aps a estabilizao, de modo anlogo ao que
pode ocorrer com pesticidas.
5 Concluses
As principais obras hdricas realizadas no semi-rido para a convi-
vncia com as secas so as barragens, que provem mais de 90% de sua
demanda, podendo ser afetadas negativamente com o aporte excessivo
de sedimentos. Embora a produo de sedimentos seja um processo
natural, aes antrpicas podem acelerar consideravelmente a produo
de sedimentos nas bacias hidrogrfcas, o que provoca impacto direto
sobre produtividade agrcola e pastoril, assim como sobre a quantidade
e qualidade de gua disponvel. A sociedade deve, portanto, ter o direito
de disciplinar o uso do solo, uma vez que seu uso indevido implica na
reduo da disponibilidade de gua, o que pode ter conseqncias seve-
ras, mormente nas regies semi-ridas.
Assim, as barragens de reteno de sedimentos podem ser instru-
mentos de gesto dos recursos naturais, retendo sedimentos a montante
dos reservatrios estratgicos e gerando manchas de solos agricultur-
veis. Tais obras promovem o equilbrio ecolgico, assim como o au-
mento da produtividade agrcola de sequeiro e da oferta de gua, com
notvel impacto social.
165
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Referncias bibliogrfcas
ARAJO, JAA. (1990) Barragens do Nordeste do Brasil. Ed. DNOCS,
Fortaleza.
ARAJO, JC. de, GNTNER, A., BRONSTERT, A. (2006) Loss of
reservoir volume by sediment deposition and its impact on water avail-
ability in semiarid Brazil. Hydrological Sciences Journal 50(1), fevereiro.
ARAJO, JC. de, MOLINAs, PA., JOCA, ELL., BARBOSA, CP., BE-
MFEITO, CJS., e BELO, PSC. (2005a) Custo de disponibilizao e dis-
tribuio da gua por diversas fontes no Cear. Revista Econmica do
Nordeste, 36(2): 281-307, BNB, Fortaleza.
ARAJO, J. C., BRONSTERT, A. & GNTNER, A. (2005b) Infuence
of reservoir sedimentation on water yield in the semiarid region of Bra-
zil. In: Sediment Budgets (ed. by D. Walling & A. Horowitz), 301307.
IAHS Publ. 292, IAHS Press, Wallingford, Oxfordshire, UK.
ARAJO, JC. de (2005) Activities developed by the Brazilian Group. In:
III SESAM Workshop. Instituto Florestal da Catalnia, Solsona, Espa-
nha, setembro.
BARBOSA, CP. (2000) Avaliao dos Custos de gua Subterrnea e
de Reso de Efuentes no Estado do Cear. Dissertao de mestrado
- Engenharia Civil (Recursos Hdricos), Universidade Federal do Cear,
Fortaleza.
BARRETO, FMS., ARAJO, JC. de, NASCIMENTO, RF. (2004) Ca-
racterizao Preliminar da Carga de Agrotxico Presente na gua Sub-
terrnea em Tiangu-Cear In: XIII Congresso Brasileiro de guas Sub-
terrneas, Cuiab, Anais, v.1. p.1 - 20
CAMPOS JNB. (1996) Dimensionamento de reservatrios. Ed. UFC,
Fortaleza.
GNADLINGER, J. (2003) A busca da gua no serto: convivendo com
o semi-rido. IRPAA, Juazeiro, Bahia.
MEDEIROS, PHA. (2005) Medida e modelagem da interceptao em
uma bacia experimental do semi-rido. Dissertao de mestrado - En-
genharia Civil (Recursos Hdricos), Universidade Federal do Cear, For-
taleza.
MENESCAL, RA., VIEIRA, VPPB., FONTENELE, AS., e OLIVEI-
166
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
RA, SKF. (2001) Incertezas, ameaas e medidas preventivas nas fases
de vida de uma barragem. In: XXIV Seminrio Nacional de Grandes
Barragens, CBDB, Fortaleza.
OLIVEIRA, MA. (2001) Eutrofzao antrpica: aspectos ecolgicos
e uma nova abordagem para modelagem da cadeia trfca pelgica em
reservatrios tropicais de pequena profundidade. Tese de doutorado -
Engenharia Civil, Universidade Federal do Cear, Fortaleza.
RIGHETTO, AM. (org.) (2004) Implantao de bacias experimentais
no semi-rido. Relatrio Tcnico, FINEP, Natal.
SALES, CAT. (1999) Contribuio para um Modelo de Alocao de
gua no Cear. Dissertao de mestrado - Engenharia Civil (Recursos
Hdricos), Universidade Federal do Cear, Fortaleza.
SALES, CAT. e ARAJO, JC. de (2000) Anlise dos modelos de aloca-
o de gua: o caso do Cear In: V Simpsio de Recursos Hdricos do
Nordeste, ABRH, Natal. v.2. p.553 563.
SALES, MV. (2005) Tratamento de gua eutrofzada atravs de dupla fl-
trrao e oxidao. Tese de doutorado - Engenharia Civil, Universidade
Federal do Cear, Fortaleza.
SRH (2006) http://www.srh.ce.gov.br/linhasdeacoes_prodham.asp, Se-
cretaria de Recursos Hdricos. Governo do Estado do Cear, consultado
em 02/01/2006.
167
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
III
Tecnologias para a produo
agrcola sustentvel no
semi-rido
169
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Manejo sustentvel da Caatinga
Gerda Nickel Maia
Manejo sustentvel o que isso? Expresso que entrou na moda h
poucos anos, hoje muito usada, muitas vezes sem que se tenha entendi-
do o signifcado do conceito.
O manejo sustentvel
uma forma de manejo que visa constante preservao e renova-
o da base de produo, com o objetivo de perpetuar eternamente a
produo.
(Adequado para lidar com produo agrcola, pecuria, forestal
etc.)
Com outras palavras: o manejo sustentvel se preocupa com a pre-
servao dos recursos naturais que so a base da produo dos produtos
desejados de uma foresta ou uma propriedade agrcola. S com o ma-
nejo adequado possvel perpetuar a produo, evitando que a base da
produo se esgote ou degrade.
O conceito do manejo sustentvel em si compreende que tanto como
ns, tambm as futuras geraes vo querer colher diversos produtos da
natureza e que cabe a ns criar e manter as condies, pelo manejo
sustentvel, que isso possa continuar para sempre.
Assim fca evidente, que o manejo sustentvel tambm tem que se
mostrar economicamente vivel, mas isso no o foco principal. Ge-
ralmente, a expresso economicamente vivel usada para expressar
que algo tenha um retorno econmico em curto prazo, para o dono,
sem levar em conta a sustentabilidade, ou seja, no se preocupa com a
170
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
pergunta se o mesmo manejo pode ser aplicado eternamente, sem de-
gradar a base da produo. Por isso, podemos observar hoje tantas reas
degradadas e agricultores em falncia, porque foi aplicado o manejo que
iria criar o maior lucro em curto prazo e no o manejo sustentvel, que
garante a produo contnua, sem perder produtividade.
s vezes, observamos o uso da expresso manejo sustentado.
Sustentado algo que precisa de um sustento, um apoio de fora. Isso
exatamente o que no se quer com o manejo sustentvel ele, se for
corretamente aplicado, no precisa de nenhum apoio externo, pois por
si mesmo j se sustenta.
Para entender melhor o conceito do manejo sustentvel, veremos o
oposto: o conceito at agora aplicado a explorao
Explorao
Tirar tudo sem repor, sem se preocupar com a renovao da base de
produo. (Por exemplo: jazidas de pedras preciosas ou outro objeto de
capacidade esgotvel).
O conceito da explorao que normalmente apenas deveria ser apli-
cado em objetos sem vida, sem renovao, infelizmente foi aplicado
tambm em seres e sistemas vivos que, ao contrrio dos objetos mortos,
tm a maravilhosa capacidade da procriao, da constante renovao e
produo, desde que seja aplicado o manejo que respeita as leis
bsicas da vida o manejo sustentvel.
O homem moderno, por haver explorado terras, forestas, ecos-
sistemas e o prprio ser humano, hoje encontra-se ante a situao da
degradao e conseqentemente, da queda de produo na agricultura,
pecuria e silvicultura. Foram desenvolvidas tcnicas para aumentar a
produo agrcola, mediante insumos mortos, como, por exemplo, ferti-
lizantes qumicos, herbicidas e inseticidas, o que levou a um aumento de
produo de volume em pouco tempo, mas degradou o solo, a qualidade
do alimento e a sade humana levando a uma elevao assustadora dos
custos gerais para manter a sade, para viver bem. Por outro lado, o
constante aumento da populao mundial exige que no degrademos
mais, e sim, mantenhamos as foras vitais da natureza para ter sempre
uma sufciente produo de alimentos, gua e outros materiais de que o
171
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
homem necessita.
Tendo esclarecido o conceito do manejo sustentvel, a prxima per-
gunta : Por que aplicar um manejo sustentvel na caatinga a caatinga
no um lugar seco, onde nada cresce e os jumentos comem pedras?
Se l no tem nada, o que ser manejado e qual ser o objetivo desse
manejo?
Observamos hoje no Pas inteiro um alto grau de desinformao
sobre o que caatinga. Nas mdias sempre repetida e fortalecida a
imagem da caatinga seca, como lugar de fome e misria. E at nos livros
didticos se encontram as mesmas mentiras. Assim, as pessoas criam a
imagem de um deserto na sua imaginao, pensando que isso seria ca-
atinga. O outro lado a caatinga verde, rica em plantas e animais, com
condies e vocaes extraordinrias, fca oculta, desconhecida.
Muitos ligam esse fenmeno existncia de uma chamada indstria
da seca, ou seja, empreendimentos e projetos que se aproveitam do
fenmeno natural da seca para promover seus negcios que se baseiam
na imagem da constante misria, seca e fome da populao nordestina,
evitando que essa populao possa criar uma auto-estima o que ajuda
a manter o padro de trabalho e o custo de mo-de-obra no nvel mais
baixo possvel.
Vale lembrar que semi-rido signifca seco pela metade
(semi=metade; rido = seco); ou seja, uma parte do ano est sem chuva,
mas a outra metade no seca!
Na regio semi-rida no Nordeste brasileiro, encontramos condies
climticas, dos solos e da fauna e fora especiais, diferentes das outras
regies do Pas. A caatinga, o bioma que naturalmente ocupa esta rea,
nico no mundo no existe igual em nenhum canto da Terra. Por
isso, no se pode aplicar cegamente padres de pensamento usados em
outras regies.
A palavra caatinga signifca na lngua indgena foresta branca,
uma expresso muito bem escolhida, j que em boa parte do ano, justa-
mente na estao seca, o aspecto da paisagem se mostra esbranquiado
ou prateado, porque a maioria das plantas perde as folhas naturalmente
e, assim, os troncos claros das plantas formam a cor da paisagem. Vale
lembrar que esse aspecto se muda completamente aps as primeiras
chuvas, quando a vegetao explode com novas folhas e fores.
172
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
E vale lembrar um fato que est se perdendo na memria dos ha-
bitantes da Regio e do Pas: a caatinga uma foresta. Hoje em dia,
temos que dizer para a maior parte do Nordeste a caatinga era foresta
porque foi to degradada que s resta uma mata baixa, arbustiva, aberta.
Quando estamos falando que a caatinga era foresta, no estamos nos
referindo a remotas pocas geolgicas ou climticas e sim ao passado
recente (50 anos, 100 anos, 200 anos atrs). E podemos observar como
era a caatinga em locais conservados, onde a vegetao original nun-
ca foi destruda por desmatamento, nem por extrao de madeira ou
por pastagem de rebanhos. Em tais lugares, encontramos uma foresta
perfeita, com estrato arbreo, arbustivo e herbceo, com uma enorme
biodiversidade que at inclui orqudeas.
O fenmeno de que no semi-rido todos os seres vivos possuem um
porte mais baixo do que em regies com mais chuvas um mecanismo
natural de adaptao, permitindo que, apesar da escassez de gua e, s
vezes, alimentos, os seres podem viver e se reproduzir normalmente.
Por isso, at uma caatinga intocada apresenta um porte menos alto do
que por exemplo, a Mata Atlntica mas, mesmo assim, ela uma fo-
resta, ou seja, um ecossistema naturalmente dominado por rvores.
A caatinga tem imensa importncia e potencialidade para o Nordes-
te. Como bioma adaptado s condies climticas, geogrfcas e geol-
gicas especiais do semi-rido do Nordeste brasileiro, ela conseguiu criar
e aperfeioar um espao para a vida, diminuindo extremos de tempera-
tura, estocando gua (um fator periodicamente escasso) e oferecendo
habitat para uma imensa diversidade de seres vivos que so teis para o
ser humano. Alguns exemplos da importncia da caatinga para a vida do
ser humano no Nordeste:
proteo e conservao dos solos. Naturalmente, existem
muitos tipos de solos diferentes na regio da caatinga, mas
podemos observar que predominam em grandes reas solos
com pouca profundidade e muitas vezes pedregosos. Trata
se de uma fna camada de solo, muito suscetvel destruio
atravs da eroso pelo vento e pelas chuvas torrenciais que
so caractersticas da estao chuvosa. Uma vez destruda
esta camada de solo, acabou-se a base para a vida das plantas
173
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
e assim, para a produo de alimentos e outros produtos de
interesse para o ser humano. A caatinga, sendo uma vegetao
muito densa, atravs das razes, segura o solo, e pelos galhos e
folhas das plantas, quebra a fora erosiva do vento e das chuvas.
Alm disso, recupera e aumenta constantemente a fertilidade
e profundidade do solo, pela decomposio das folhas, fores,
frutas, galhos e troncos secos, e pela atuao dos animais que ali
vivem. O homem percebeu a boa qualidade do solo na caatinga,
e passou a derrub-la para plantar suas culturas, porm, com
isso cortou o ciclo da regenerao da fertilidade natural, o que
se observa aps dois ou trs anos, quando o solo no rende
mais.
proteo e conservao da gua. gua um recurso limitado
na regio do semi-rido. Na caatinga, o solo penetrado pelos
razes e os organismos que nele vivem absorve a gua como
uma esponja e conduz o excedente para o subsolo, onde
abastece fontes, poos e nascentes. Quando o solo se encontra
desprotegido e sem vegetao, os organismos nele morrem e
o solo fca compactado e duro, impossibilitando a penetrao
da gua da chuva. Conseqentemente, a gua escorrega
superfcialmente, causando eroso e enchentes de curta durao.
Logo depois, os cursos de gua secam, enquanto, numa regio
protegida por vegetao nativa, eles apresentam uma vazo
mais constante e durante mais tempo. O sombreamento pela
vegetao e, na estao seca, pelas folhas murchas no cho,
diminui a evaporao da gua, que fca disponvel para plantas
e animais por mais tempo. A vegetao acompanhando rios,
riachos, lagos e audes, a chamada mata ciliar, serve para
purifcar a gua, diminuir o assoreamento de lagos e audes,
proteger as margens dos cursos dgua e os peixes e animais
que l procriam.
estabilizao do clima. A vegetao nativa tem infuncia
tanto no clima local como, tambm, no clima regional e global.
Ela ameniza as temperaturas extremas e evita que os ventos
fortes que ocorrem, principalmente na estao seca, aceleram e
se transformam em tempestades de poeira. Quanto maior uma
174
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
rea sem vegetao, mais altas as temperaturas diurnas e mais
baixas as noturnas. Imaginando uma rea enorme como a da
caatinga no Nordeste, claro que infuencia todo o clima no
Nordeste, das regies vizinhas e, tambm, o clima global.
manuteno de inmeras plantas e animais, muitos com
utilidade direta para o homem. Entre as plantas, encontramos
as que servem diretamente como alimento para o homem, as que
fornecem forragem para animais domsticos e de caa, plantas
medicinais, plantas ornamentais, plantas fornecedoras de matrias-
primas como madeira, lenha, fbras, leos, ceras e substncias
usadas em diferentes indstrias. Entre os animais, podem ser
destacados os animais de caa, peixes e as abelhas nativas que
produzem mel e outros produtos de altssima qualidade.
Hoje, tudo isso j se encontra em alto grau de devastao. A
causa disso no so as secas, pois o bioma caatinga est bem adapta-
do s oscilaes grandes de disponibilidade de gua de chuva. A causa
pode ser encontrada na histria, quando 500 anos atrs chegaram os
europeus com a inteno de explorar o Novo Mundo. Junto vieram
a escravido e a destruio da natureza. A mesma atitude continua at
hoje, quando a natureza enxergada apenas como um objeto a ser ex-
plorado, levando a sua destruio. Essa atitude de explorao conduziu
destruio do ecossistema e, assim, misria dos que ali vivem. Hoje
encontramos, como herana da atitude de egosmo e ganncia:
muitos agricultores endividados e outros que deixaram sua
terra e vivem na misria nas favelas das cidades.
vegetao e fauna devastados, com poder de produo
muito reduzido em relao ao potencial do ecossistema
intacto.
menos fontes de gua, desequilbrio hdrico (enchentes em
curtos perodos e menos gua nos riachos e rios durante o
resto do ano).
solos esgotados, com muitas reas ameaadas de
desertifcao.
clima mais desequilibrado, quente.
175
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A fome e misria das pessoas no so conseqncia da seca e sim da
atitude de explorao que levou devastao da base de produo de
alimentos no serto. Essa base de produo a caatinga.
Conseqentemente, a fome e misria no sero eliminadas por cons-
truo de audes ou transposio de rios, e sim, por uma mudana nas
atitudes. Desenvolvendo uma cultura de respeito, zelo e colaborao
com o prximo e a natureza, visando ao bem-estar de todos e no ape-
nas ao lucro momentneo individual, podemos restaurar a caatinga
com todas suas potencialidades, e perpetuar sua utilidade atravs do ma-
nejo sustentvel.
um processo de mudana que j iniciou. Vemos hoje cada vez mais
pessoas envolvidos em projetos que visam a proteger a natureza, tais
como
sistemas agroforestais e (agro)silvipastoris;
agricultura orgnica e biodinmica;
permacultura, policultura;
ambientalistas;
e muitos outros;
e todos os que esto modifcando o ensino para valorizar o ambiente
local e elevar a auto-estima da populao rural.
Dessa forma, com as mesmas condies naturais, o mandacaru, hoje
sempre utilizado como smbolo da seca, fome e misria, pode passar a
ser um smbolo de vida e fatura.
A Natureza, durante milhes de anos, criou espaos para a vida e
estes aumentaram cada vez mais, ensinando-nos como poder manter a
vida apesar de fatores desfavorveis. Por isso, podemos aprender com a
Natureza como possvel viver bem sem destruir e, ao contrrio, criar
mais espao para a vida.
176
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
177
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Vejamos:
Atitudes na sociedade atual
Valorizar poucos, menosprezar
a maioria (monocultura)
Explorao destruio da base
de produo
Uniformizao, industrializao
Concorrncia
Excesso no consumo falta
para muitos
A Natureza ensina
Valorizar todos (biodiversidade)
Utilizao sustentvel
Diversifcao
Colaborao
Sobriedade no consumo abun-
dncia para todos
Como resultado disso, encontramos
Na Sociedade atual
inefcincia econmica (produ-
o de lixo)
pouca estabilidade
sobrevivncia
Na Natureza
efcincia econmica (tudo re-
ciclado)
alta estabilidade
vida plena
Crculos de prosperidade Projeto Mandalla
DHSA
Fredericky Labad e Nina Rodrigues
Desenvolvimento Holstico, Sistmico, Geogrfco Ambiental Concntrico.
Houve um tempo em que no imaginrio nacional o serto era o es-
pao mstico, encantado; aqui se encontrava de tudo, do mais verdadeiro
ao mais forte segundo Euclides da Cunha. Para Guimares Rosa, este
encontro vestia-se de um encanto sem precedentes, onde, o todo tinha
muito a ver com o sertanejo: um homem que pensa o infnito!.
Hoje, da vasta seara sertanista, nasce o Processo Mandalla-DHSA.
O resgate da dignidade humana pelo trabalho somente o tema e se
confgura como uma flosofa que fortalece o aproveitamento dos des-
perdcios, tornando possvel transformar lixo em riqueza, a informao
para a organizao do potencial produtivo j existente, fortalecendo,
qualifcando e enaltecendo uma poltica de atividades multiparticipati-
vas, ao mesmo tempo em que possibilita a interao de extremos como
forma responsvel de empoderamento das comunidades de risco. Ali-
cerando plataformas multiparticipativas, busca enaltecer a pessoa hu-
mana como o maior e melhor capital requerido por processos desejados
de melhorias: da qualidade de vida, da produtividade econmica e do
equilbrio ambiental consciente, sustentadas por uma slida e exeq-
vel reestruturao socioeconomica-ambiental das comunidades em seus
municpios. Uma estruturao sutil permite, aos poucos, a formao de
uma conscincia crescente e concntrica do todo pelas partes; a que-
bra de paradigmas seculares e respaldadas no exerccio da cidadania,
178
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
na produo auto-sustentada de alimentos, na formao de processos
produtivos associados em rede e em teia, a quebra de paradigmas pelo
uso racional da terra e da gua, educando as cidades para consumir e
capacitando o campo para produzir. Faa-se a Luz!.
A maior virtude desta tecnologia social uma possvel alternativa, uma
ferramenta de importncia plena no combate desertifcao, pobreza,
fome e misria. Tudo isso, resultado de 30 anos de dedicao, trabalho,
pesquisa e desenvolvimento. Todo um projeto de vida alinhado ao apren-
der fazendo, est sendo apresentado ao Brasil de tantos Brasis.
A facilitao de processos de incluso e minimizao de injustias so-
ciais toma forma, cresce e multiplica o ver, o querer, o fazer e o compar-
tilhar. Uma orquestrao sistmica de universos, holismo universal, abre
os olhos luz, atravs do jogo do conhecimento, que se forma mediante
a gnese de um grande universo formado por milhares de universos,
sem fronteiras, como unio nica de motivao e alma constituda no
exerccio do conhecimento. O acontece fazendo o acontecer, quando, as
pessoas como os rios crescem medida que se ajustam e ajuntam.
O Brasil abre os olhos da vergonha, cria coragem e v a sua face
quase esquecida, um pas to rico em potencial porm to pobre em
conhecimentos. Cento e oitenta milhes de habitantes, sessenta milhes
de pobres e miserveis, dos quais cerca de trinta milhes, de alguma for-
ma se encontram mergulhados na mesma misria. A quase-totalidade
dos mais de cinco mil municpios de toda uma economia nacional, se
respalda a cada ms, na aposentadoria e penses de idosos, fonte maior
de seus mercados. A cada dia famlias inteiras passam da situao de
pobreza de misria absoluta. Quando um desses idosos vem a falecer,
leva consigo a nica fonte de sua existncia e de sua famlia.
Do mbito de uma arquitetura emergente, respaldada pela tecnologia
da informao, pela implementao de uma tecnologia social exeqvel e
simplifcada de baixo custo operacional, onde o domnio da criatividade
torna o impossvel cada vez mais possvel, um desafo sem fronteiras
vem a se perder de vista. Esse o projeto Mandalla-DHSA, que se faz
presente, cada vez mais e mais.
A virtude desta tecnologia social trazer em sua essncia a inviolvel
simplicidade do homem do campo. Inspirado nos saberes populares,
o Processo Mandalla apresenta-se como soluo simples, barata, facil-
179
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
mente replicvel e promotora de grande impacto social. Trata-se de um
mtodo participativo de planejamento e organizao da produo agr-
cola que evolui de uma forma circular e concntrica para um sistema as-
sociativo de agroindustrializao, fortalecendo as unidades de produo
familiar rural e urbana e promovendo a reestruturao econmica, social
e ambiental de comunidades em seus municpios e interagindo regies.
Dessa forma o Processo Mandalla contribui para a erradicao da mis-
ria e da fome, da desertifcao, da pobreza e da inchao perifrica dos
grandes centros urbanos e outras conseqncias.
perfeitamente possvel a uma famlia rural viver em uma rea de
pouco mais de 02 ha (20.000 metros quadrado), tirando da sua alimenta-
o bsica natural, obtendo ainda algo ao redor de R$ 5.000,00, ao ms,
pela venda dos excedentes, de forma associativa produtiva, seguindo os
princpios da permacultura. E tudo isto a partir de uma rea somente de
50mx50m (2.500 m
2
).
No centro de tudo est a Mandalla, uma estrutura circular de pro-
duo de semente de forma consorciada, onde plantas e animais con-
vivem juntos, garantindo de forma criativa e simplifcada a subsistncia
180
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
familiar, favorecendo a produo de excedentes e a insero da famlia
em empreendimentos sociais multiparticipativos de trabalho e renda.
No serto da Paraba, j tem agricultor lucrando mais de R$ 1.700,00
ao ms, com a sua primeira Mandalla. Em vrias localidades, estes pe-
quenos osis abundantes em alimento esto mudando a paisagem da
caatinga e a vida de muitos sertanejos, utilizando, para tanto, apenas
o capital humano local, provido de informao para a organizao do
conhecimento, na melhor forma de uso racional da gua, na produo
de alimentos.
Os crculos e o Processo Mandalla de desenvolvimento humano so
fruto de um vislumbre, de uma intuio mstica. O pesquisador Willy
Pessoa enxergou um tratado de planejamento estratgico no livro do
Gnesis, no Antigo Testamento, e construiu seu primeiro Jardim do
den, em pleno semi-rido da Paraba, garantindo a melhoria da quali-
dade de vida, da produtividade econmica e das condies ambientais
em assentamentos e unidades rurais de produo familiar. Socorro Gou-
veia, coordenadora do Assentamento Acau, localizado no Municpio
de Aparecida (PB), a 453 quilmetros de Joo Pessoa, onde foram ins-
taladas cerca de 70 mandallas, conta que a alimentao rica em frutas,
verduras e hortalias reduziu praticamente a zero o nmero de crianas
com desnutrio. O agricultor Jos Cardoso dos Santos, do Assenta-
mento Santa Helena, alegra-se em dizer que, desde a implantao do
Projeto Mandalla, o nmero de doenas caiu em 99%.
181
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A gnese do Processo
Faa-se luz! o mandado Criador no Gnesis, que revelou para
Willy o ponto de onde deveria partir a reunio de informaes e conhe-
cimentos para iluminar as idias e buscar as solues e criar conscincia.
Quando o processo Mandalla chega a um municpio, a primeira coisa
que faz levantar dados com a aplicao de questionrios para uma
leitura direta do potencial produtivo j existente. O objetivo identi-
fcar os possveis potenciais de produo, possibilitando a formatao
de planos, programas, projetos, aes e metas de aproveitamento total
dos recursos. O resultado um mapeamento de cada uma das unidades
produtivas rurais, que induz viso do todo pelas partes, possibilitando
a estruturao de um ferramental estratgico de aes qualifcadas.
Sendo assim, possvel orientar a reestruturao e a revitalizao da
economia local com o menor investimento possvel, no propsito de criar
um processo diversifcado de agroindustrializao ecolgica, motivada pelo
despertar do aprender-fazendo, envolvendo pelo exemplo do que pode dar
certo, cada comunidade, na produo de leite, carne, hortalias, plantas me-
dicinais, plantas ornamentais, frutas, mel, reforestamento, mudas e deriva-
dos, com o aproveitamento do que j existe, unicamente mediante a tec-
nologia da informao adequada s tradies, costumes e realidades locais.
182
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A etapa seguinte a da organizao, quando todas as peas do siste-
ma produtivo so arranjadas de modo a eliminar desperdcios, otimizar
energia, obter efcincia dos processos produtivos e efccia operacional.
Tudo isso feito com a participao da comunidade. No Gnesis, equiva-
le ao segundo mandado, quando o Ser Supremo da arquitetura universal
determina a separao do elemento terra do ajuntamento das guas, or-
ganizando oportunidades e interagindo aes.
No momento correspondente ao terceiro dia da Criao, a terra
produz plantas, ervas e rvores frutferas para a alimentao humana
e animal, na Mandalla tudo se repete. O Processo prev a produo
diversifcada e verticalizada de alimentos e regras justas de mercado para
diminuir os custos e os preos fnais dos produtos orgnicos, naturais,
por meio de mecanismos de atendimento direto do produtor ao con-
sumidor no municpio e na regio, educando a cidade para consumir e
capacitando o campo para produzir.
Segundo o idealizador do Processo Mandalla, o ser humano surge
no sexto dia da Criao para gerenciar e monitorar a qualidade ambien-
tal da paisagem natural, atuando na multiplicao racional de processos
produtivos. A fgura da mulher, me e companheira, surge de forma
educativa, agindo de forma decisiva na consolidao de uma agricultura
do lar, a partir da produo e do aproveitamento de espaos adjacentes
sua residncia, alicerando assim a evoluo sustentada e futura das
etapas conseqentes.
O stimo dia, seqncia o exemplo bblico dos princpios lgicos da
sustentabilidade pretendida, pelo descanso necessrio, revitalizao e ga-
rantia das energias, evitando, assim, a explorao continua dos recursos
que garantem o uso sustentvel de todo o processo pelas geraes futu-
ras.
A aplicao do Processo Mandalla realizada pela Agncia Mandalla
DHSA, uma organizao da sociedade civil de interesse pblico (OS-
CIP) criada por Willy Pessoa e por um grupo de jovens universitrios em
Joo Pessoa na Paraba, em 2002, para assegurar o desenvolvimento har-
monioso das comunidades e seus habitantes, baseado numa agricultura
sustentvel e familiar, comeando no campo, em pequenas proprieda-
des, e alcanando as cidades, os estados e o Pas inteiro, assim como uma
pedra que, atirada ao lago, forma crculos concntricos, num movimento
183
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
crescente e equilibrado.
Para alcanar os nveis de sustentabilidade propostos, a Agncia
Mandalla DHSA fundamenta-se nos princpios da permacultura, uma
cincia ambiental criada nos anos 1970 como um sistema de planeja-
mento para a criao de ambientes humanos sustentveis, envolvendo
aspectos ticos, socioeconmicos e ambientais. No centro da ativida-
de do permacultor est o planejamento consciente, que torna possvel,
entre outras coisas, a utilizao da terra e da gua sem desperdcio ou
poluio, a restaurao de paisagens degradadas e o consumo mnimo
de energia. Este processo deve ser contnuo e orientado para a aplicao
de padres naturais de crescimento e regenerao, em sistemas perenes,
abundantes e auto-reguladores.
A permacultura nasceu amparada por uma tica fundadora de aes
comuns para o bem do sistema Terra. O primeiro princpio o do cui-
dado com a Me-Terra para garantir a manuteno e a multiplicao dos
sistemas vivos. Depois, o cuidado com as pessoas para a promoo da
autoconfana e da responsabilidade comunitria. E, por fm, aprender
a governar nossas prprias necessidades, impor limites ao consumo e
repartir o excedente para facilitar o acesso de todos aos recursos neces-
srios sobrevivncia, preservando-os para as geraes futuras.
A Agncia Mandalla DHSA, ao compartilhar a tica da permacultura,
assumiu para si a misso de criar projetos sociais que prezem a justia, a
igualdade e a fraternidade, a comear pelos marginalizados e excludos
do campo, com relaes mais benevolentes com a natureza e de maior
colaborao entre as pessoas, independentemente das diferenas cultu-
rais, tnicas e religiosas. Todo o processo emerge da inspirao fractal
de universos, onde o primeiro universo cresce e se desenvolve de forma
biolgica social, imagem e semelhana de um universo nico, onipo-
tente e onipresente: um universo de universos, juntos e harmnicos.
184
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
O Processo Mandalla acontece por meio do Bio Planejamento Mul-
ti-Fractal Mandalla, cuja meta primria a sustentabilidade alimentar da
unidade de produo familiar rural, A agricultura do lar e a meta fnal,
para um perodo de seis anos, a gerao de oito milhes de postos de
trabalho no Brasil, mediante a formao de centros de capacitao mul-
tiplicativa de difuso, cada um deles composto por 216 municpios in-
terestaduais, mobilizando de 192 a 1000 unidades de produo familiar
rurais, por municpio, fornecendo alimentao por meio de mercados
justos constitudos, de 2.000.000 a 20.000.000 de pessoas por centro
constitudo.
Willy Pessoa prope estruturas organizativas informais de vrios
nveis, a comear pela agricultura do lar, nas pequenas propriedades
rurais. Aconselha, em primeiro lugar, a reunio de grupos de seis, no
mnimo, para a produo e a troca de alimentos. No momento em que o
grupo abranger 96 unidades de produo, possvel formar uma Clula
Nuclear Produtiva, Associativa, onde duas clulas idnticas formam uma clula
municipal de agroindustrializao, a ser planejada para operar com um fun-
do comum de desenvolvimento perfazendo um total de 192 UPFRS e
operando, assim, clulas que como essa vo formar o tecido de susten-
185
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
tao de outra unidade de planejamento - o Ncleo Microrregional - que
pressupe um pacto de desenvolvimento integrado entre municpios,
contando com a participao de organismos governamentais, no go-
vernamentais e da comunidade.
Sendo a unidade de produo familiar rural a base do Processo, es-
tima-se tirar o melhor proveito de apenas dois hectares de rea, por
famlia, onde, podero ser gerados, no mnimo, seis postos diretos de
trabalho. Nestes primeiros anos de implantao, a melhor traduo do
processo a implantao das estruturas circulares, tambm chamadas
de reas sementes, que tm, no mximo, 2.500 m
2
e so formadas por
crculos concntricos de culturas irrigadas, por onde circulam animais
executores de vrias funes, o que fortalece o crescimento racional do
sistema. O produtor pode explorar, na rea de uma Mandalla, at 54
culturas vegetais e dez tipos de criaes de animal.
No Municpio de Aparecida, interior da Paraba, o assentamento
Acau, de 114 famlias, o exemplo mais antigo do Processo. H dois
anos, setenta Mandallas foram instaladas em fundos de quintais e pro-
moveram a auto-sufcincia das famlias em peixes, ovos, codornas, fru-
tas e hortalias e a gerao de renda com a venda de excedentes. Foi o
primeiro den cultivado por Willy, que, segundo ele prprio, vai levar
mais um ano para evoluir para um sistema de agroindustrializao.
186
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
As sementes processuais Mandallas j chegaram a dezesseis estados
brasileiros, libertando as famlias de agricultores dos sacrifcios da seca.
J foram benefciadas diretamente, at o presente, mais de duas mil fa-
mlias com a garantia da segurana e da sua soberania alimentar e pela
gerao de excedentes para a comercializao.
Entre as famlias benefciadas, a renda mdia de R$ 400,00 ao ms,
sendo que h exemplos de agricultores auferindo renda mensal de R$
2.000,00, em uma rea de at 2 ha. o caso dos assentados Sr. Sales e
Sr. Cardoso, no estado da Paraba, Brasil, e da Sra. ngela, no Municpio
de Montes Claros - Minas Gerais - Brasil.
187
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Fora do Nordeste, o Municpio de Itamarandiba (MG), a 364 quil-
metros de Belo Horizonte, virou unidade de demonstrao da Mandalla,
facilitando a expanso do projeto para os vales do Jequitinhonha, Mu-
curi e norte de Minas. No Mato Grosso, as Mandallas foram instaladas
em aldeias xavantes, garantindo alimentao saudvel para as famlias
indgenas. E Mato Grosso do Sul, no Municpio de Rio Brilhante, atra-
vs de uma escola agrcola.
Os custos para implantao da Mandalla so inferiores a R$ 4.500,00,
perfeitamente reembolsveis a partir do sexto ms de implantao, com
possibilidade de amortizao da dvida em 20 meses. Na ponta do lpis,
a conta a seguinte: uma famlia de seis pessoas vai gastar R$ 1.200,00
com instalaes fsicas e R$ 1.800,00 com sementes e animais. Os R$
1.500,00 restantes so destinados a uma bolsa de capacitao no valor
de R$ 250,00 mensais, necessrios ao sustento da famlia durante os seis
primeiros meses para que possa haver dedicao integral Mandalla.
medida em que a famlia for resgatando sua dvida, ser possvel
implantar outras Mandallas com a venda de 50 a 100 frangos caipiras,
no mnimo por ms, durante os 24 meses do ano. Aps um ano de fun-
188
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
cionamento da Mandalla, a previso de uma receita bruta em torno de
R$ 1.700,00 ao ms. Com o projeto em pleno funcionamento, a renda
mensal do produtor deve passar a R$ 5.000,00. Signifca dizer que um
ha de terra, 10.000 m
2
de agricultura familiar, ter at quatro Mandallas
ocupando um hectare de terra e a rea restante, tambm de um hectare,
estar sendo usada para reforestamento.
A regra cardinal maximizar as conexes funcionais, de acordo com
o paradigma holstico contemporneo, que tudo articula e relaciona,
para a construo de projetos abertos. A meta combinar os elementos
da natureza com demais qualidades de elementos da criao humana
na construo de grupos associados produtivos de unidades familiares
sistmicas integradas, no armazenamento de energia geogrfca e con-
cntrica.
Em cada mandalla, cabras, galinhas, codornas e uma diversidade
de plantas convivem em 2.500 m, formando um sistema interativo de
complementao alternativa, onde as necessidades de um elemento so
supridas pela produo do outro. Por exemplo, a galinha, que bastante
utilizada em sistemas permaculturais, oferece esterco e arao planta-
o ao se alimentar de ervas daninhas.
189
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
A Mandalla inspirada no sistema solar. Formada por nove crculos
concntricos, ela representa as rbitas dos planetas, tendo como cen-
tro de energia um pequeno espelho dgua, de onde parte o sistema
de irrigao. Os crculos possuem funes produtivas bem defnidas e
auxiliam-se mutuamente.
Nos trs crculos internos Mercrio, Vnus e Terra, denominados
Crculos de Melhoria da Qualidade de Vida Ambiental, so cultivadas
hortalias e plantas medicinais em consrcio com bananeiras, batatas,
190
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
caf, mamo, plantas medicinais e macaxeira. Minhocas vermelhas da
Califrnia produzem hmus. Esses trs primeiros crculos atendem per-
feitamente subsistncia da famlia.
J os Crculos da Produtividade Econmica, formados por Marte,
Jpiter, Saturno, Urano e Netuno, destinam-se ao cultivo de culturas
complementares diversas, tais como milho e feijo verde, abbora e
mais de 400 frutferas. Denominadas de crculos complementares de
produtividade econmica, seu cultivo visa produo em escalas para o
sistema associativo de agroindustrializao e mercado justo, objetivando
facilitar os processos pretendidos de reestruturao socioeconmico-
ambiental destes municpios.
O ltimo crculo da Mandalla denominado de Crculo do Equilbrio
Ambiental; representado por Pluto e defne a proteo do sistema. Ali
so implantados cercas vivas e quebra-ventos como forma de melhorar
a produtividade, e prover parte da alimentao animal pela oferta dos
nutrientes necessrios recuperao do solo. As culturas adequadas
realizao desse trabalho so a palma forrageira, o sisal, a mamona, o
gergelim e a leucena, dentre outras.
O reservatrio de gua que est no centro da Mandalla tem forma
orgnica, com uma planta circular de 6m a 12m de dimetro, um perfl
cncavo e profundidade central de ate 1,85m. Sua capacidade de arma-
zenamento de 30 mil litros de gua, organicamente enriquecida pela
criao de patos, marrecos e peixes.
191
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
O sistema de irrigao composto por uma estrutura piramidal, de
onde partem seis linhas mestras de distribuio alternada de gua. A pi-
rmide formada por seis caibros de 4m de comprimento e est suspen-
sa sobre o lago para suportar uma pequena bomba de gua submersa, ou
centrifuga, com capacidade de bombeamento de 2000 litros por hora. A
gua segue por uma mangueira de 1 polegada e, atravs de uma aranha
de de polegada distribuda atravs de 6 linhas radicais de 60 graus
cada uma com seis sadas de 16mm, presas no vrtice dos caibros, na
forma de linhas mestras. Destas linhas seguem seis mangueiras plsticas
de 16mm de dimetro e 22m de comprimento. Registros de gaveta de
16mm controlam a distribuio alternada da gua.
Pendurada em uma das seis pernas da pirmide, uma lmpada atrai
insetos noite para afast-los das plantas, faz-los cair na gua e alimen-
tando os peixes e patos.
Ao longo das linhas mestras, esto distribudos 60 gotejadores de
garrafas pet, cada qual alimentando um mamoeiro e seis coqueiros loca-
lizados nas extremidades. O resto da rea irrigado por seis crculos de
mangueiras de 16 mm que controlam 600 microaspersores de cotonetes
de ouvido com pequenos registros de 16 mm. O gasto de gua de oito
mil litros por semana, 20% a menos do que o de um sistema convencio-
nal de irrigao.
Microaspersores de cotonetes
A distribuio racional da gua pelos nove crculos da Mandalla
suprida pelos cotonetes encaixados nas mangueiras. Para faz-los, ne-
cessrio cotonete de ouvido, vela e fsforo, faca, canivete e alicate. As
hastes de algodo so retiradas e o cotonete cortado ao meio. A vela
192
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
acesa esquenta uma das pontas do cotonete, derretendo o plstico. Com
ajuda de um alicate, pressiona-se a ponta do cotonete, achatando-a, at
ved-la. Faz-se ento, um pequeno corte, reto, prximo ponta recm-
vedada, abrindo a sada da gua. Por fm, a ponta oposta encaixada em
um pequeno furo na mangueira perfurada em instantes, por um arame
ou prego pontiagudo, na grossura dos cotonetes utilizados.
Um sistema de gotejadores utilizando cotonetes de ouvido ou paline-
tes, dependendo da regio, feito um corte no meio do cotonete e uma
de suas pontas, queimada, pressionada com um alicate; coloca-se um
arame 18 em seu interior e logo em seguida faze-se um corte num ngu-
lo de 180 por onde vai ser aspergida a gua que ir irrigar a Mandalla.
Irrigam plantaes de forma controlada e localizada. Os materiais
utilizados para fazer os gotejadores so garrafas pet de 2 litros, cotonetes
de ouvido; arame nmero 16 ou 18; dependendo da bitola do cotonete,
pedaos de graveto ou qualquer outro material que d sustentao, com
mais ou menos 60 centmetros de comprimento, pedra lavada e barban-
te. Os cotonetes de ouvidos ou palinetes so utilizados, dependendo
da regio. Primeiro fura-se o centro da tampa com um prego, tomando
cuidado para que o buraco no fque muito largo; depois, um cotonete
cortado ao meio, sem as hastes de algodo, deve ser fxado na tampa da
garrafa. Em seguida, o alicate ajudar a fazer um crculo em uma das
extremidades do arame, onde ser formada a gota. O arame ser intro-
193
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
duzido no cotonete e a outra extremidade deve ser curvada e cortada
para no soltar da tampa da garrafa. A gua vai passar pelo espao que
deve existir entre o arame e a parede interna do cotonete.
A garrafa deve ser tampada, seu fundo retirado para que seja possvel
ench-la de gua e depois fxada ao cho de cabea para baixo, tendo
como base um trip de gravetos ou cana de capim-elefante maduro. A
estrutura deve ser amarrada com um barbante.
Utilizam-se, ainda, pedras lavadas na garrafa, at uma altura de 10
centmetros para evitar a presena de insetos e a formao de lodo,
que causa entupimento. Cada garrafa deve realizar o gotejamento num
perodo de duas a quatro horas.
importante limpar as garrafas periodicamente para evitar entupi-
mento, como tambm manter uma camada de mulche ao p do goteja-
dor, impedindo a evaporao e a perda de umidade.
A evoluo do Processo Mandalla possvel porque a participao
da comunidade amplamente ativa, respeitadas as suas peculiaridades
de tradies e costumes locais, acrescidos de informaes para o pro-
gresso, onde novos conhecimentos e novas tecnologias apropriadas so
a evidncia maior.
Um exemplo bastante curioso o galinheiro tailands, uma estrutura
mvel e leve, construda em formato de pirmide sem cho, colocada
nos canteiros da mandalla, em sistema de rotao, para que o agricultor
utilize o trabalho realizado por galos e galinhas. Com o prprio esterco,
as aves fazem a adubao do solo, suprimindo a necessidade de ferti-
lizantes sintticos. Ciscando, lavram a terra e a descompactam. Cada
galinheiro comporta oito galinhas e um galo, os quais so alimentados
194
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
por ervas daninhas, desviando o agricultor do uso de herbicidas, e pelos
restos da plantao daquele pedao de terra, o que diminui e em muito
os gastos com rao.
A reunio de elementos diferentes, concretos ou abstratos da reali-
dade local por meio da participao social e de uma viso holstica, tem
por objetivo promover a reintegrao consciente das pessoas ao meio
ambiente em que vivem. Tanto mais porque elas so incentivadas a tor-
narem-se sujeitos da sua prpria histria, avaliando os mtodos arcaicos
e os novos, descobrindo potencialidades, criando o design permacultu-
ral. O trabalho que realizam dever emancip-las. Para Willy, quando a
transformao acontece na pessoa, o resto vem por acrscimo.
195
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Uma estratgia alternativa para a viabilizao
da caprino e da ovinocultura de base familiar
do semi-rido
Clovis Guimares Filho
1 Introduo
As cadeias produtivas de caprinos e ovinos da regio semi-rida so
ainda bastante incipientes, apresentando acentuadas debilidades, tanto
no segmento de criao como nos segmentos transformador e distri-
buidor. Apesar de extremamente efcientes em suas estratgias de rela-
cionamento com os aspectos desfavorveis do ambiente natural (Caron
et al., 1992), falta ao caprino-ovinocultor de base familiar uma viso
mais objetiva do contexto econmico em que vive e das estratgias de
valorizao dos seus produtos, capazes de lhes propiciar uma base mais
segura para consolidar o caminho para maior insero no mercado. Mes-
mo assim, as cadeias da caprinocultura e da ovinocultura tendem a se
consolidar, em funo de maior articulao entre os diversos segmentos
e da incorporao de novos atores no processo (Guimares Filho &
Correia, 2001).
H um efetivo potencial de mercado para os produtos caprinos e
ovinos, representado por uma demanda no satisfeita e crescente, mes-
mo com as conhecidas limitaes de qualidade e de oferta irregular des-
ses produtos. As carnes caprina e ovina apresentam, sem o apoio de
campanhas promocionais, incrementos anuais de consumo superiores
a 10%, apesar de um consumo nacional per capita anual ainda bastante
incipiente para os dois produtos (400g e 270g para ovinos e caprinos,
196
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
respectivamente, segundo estudo de Couto, em 2003). Com base em
projees do trabalho de Moreira et al. (1996), possvel estimar que,
somente para atender os cerca de 300 mil habitantes urbanos do eixo
Juazeiro-Petrolina, so abatidas diariamente cerca de 700 cabeas, o que
corresponde a um consumo superior a 7,0 kg/habitante/ano. Recente
prospeco de mercado realizada pelo Grupo Onyc-Rissington (Fortes,
2004) indicou um dfcit anual de 25 mil toneladas de carne ovina ape-
nas para So Paulo.
Embora no se possa falar ainda de um mercado para o leite capri-
no, em funo da sua forte dependncia de compradores institucionais
pblicos, so animadoras as experincias com o produto nas regies do
Cabugi (RN) e do Cariri Ocidental (PB). As perspectivas apontam para
um nicho de mercado bem mais favorvel para os queijos de leite de
cabra nos grandes centros urbanos, resguardado o seu padro de quali-
dade para um consumidor bem mais exigente. Um novo cenrio de zona
vitivincola que est surgindo no vale do So Francisco, por exemplo,
favorece essas perspectivas em funo da possibilidade de associao
desses queijos com um grande programa de enoturismo que comea a
ser implantado naquela regio.
A esses mercados potenciais se ajuntam outros fatores favorveis
dinamizao dessas atividades, destacando-se:
a prpria vocao natural e histrica do bioma caatinga para
essas atividades;
os expressivos efetivos de rebanhos caprino e ovino da regio,
estimados, conjuntamente, em mais de 15 milhes de cabeas;
a disponibilidade de tecnologias de baixo custo capazes de
elevar substancialmente os nveis de produtividade dos sistemas
de criao;
a capacidade de interao com os permetros de irrigao,
em nmero crescente e hoje disseminados em praticamente
todos os estados, o que multiplica a possibilidade de elevar os
nveis de efcincia biolgica e econmica de desempenho dos
rebanhos;
a infra-estrutura agroindustrial em expanso, no caso de
abatedouros e laticnios, e j consolidada e altamente efciente,
197
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
no caso dos curtumes; e
as polticas pblicas de apoio, especialmente de crdito, em
contnua expanso e de adequao s circunstncias do caprino-
ovinocultor de base familiar.
Por outro lado, as atividades de criao de caprinos e ovinos tambm
recebem forte infuncia de fatores que limitam e, algumas vezes, impe-
dem, a plena expresso das potencialidades mencionadas. Entre essas
limitantes, devem ser citadas:
a debilidade organizativa do caprino-ovinocultor familiar ;
seu nvel insatisfatrio de capacitao tecnolgica e gerencial;
quase total ausncia de um sistema de assistncia tcnica e ex-
tenso rural efetivamente qualifcado; e
condies ainda defcientes de crdito que lhe so oferecidas,
apesar das recentes melhoras.
Alm desses, outros obstculos precisam ser equacionados e removi-
dos, se o objetivo for maior insero desses produtores nesse promissor
mercado. So obstculos mais facilmente superados com o fortaleci-
mento da organizao do produtor e a melhoria da sua capacidade de
articulao com os demais agentes envolvidos no processo. Alinham-se
entre eles o abate informal clandestino e generalizado, a extrema de-
sarticulao entre os segmentos da cadeia produtiva, o que torna quase
inacessveis os canais de distribuio, e as limitaes de ordem social,
destacando-se o preconceito contra o bode, visto como produto de po-
bre e o crescente problema de roubo de animais que tende a inviabilizar
a atividade em algumas regies.
2 O pseudo-antagonismo agricultura familiar x
agronegcio
A busca da gerao de emprego e renda mediante a dinamizao da
economia das reas de predomnio da caprino-ovinocultura deve pro-
curar conciliar os tradicionais enfoques de agronegcio e agricultura fa-
miliar, associando a produo dessas espcies, como atividades-base, a
198
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
outras opes produtoras de bens e servios agrcolas e no agrcolas e
explorando as inmeras vantagens de suas complementaridades.
A rigor, o fortalecimento do agronegcio de qualquer produto im-
plica a necessidade de especializao. Por outro lado, o fortalecimento
dos sistemas produtivos de base familiar implica o oposto, a diversif-
cao. Segundo Veiga (2001), as duas estratgias no so antagnicas e
a prpria realidade da regio semi-rida mostra isto perfeitamente. As
atividades j so diversifcadas, dentro da propriedade, existindo natural-
mente, entre elas, uma ou duas que se destacam pela sua maior insero
no mercado. O que a proposta de desenvolvimento deve privilegiar
a busca de formas de maximizao da efcincia desses sistemas que
impliquem, simultaneamente, maior interao dos subsistemas dentro
da unidade e desta com as demais atividades agrcolas e no agrcolas
fora da unidade produtiva. perfeitamente possvel o desenvolvimento
de sistemas diversifcados de base familiar, oferecendo ao mercado, pelo
menos, um dos produtos com as qualifcaes mercadolgicas de ordem
sanitria, sensorial e de uso exigidas pelo consumidor. As difculdades
de acesso aos mercados pelos produtos da agricultura familiar decorrem
muito mais da sua incapacidade em atender os requisitos de qualidade e
regularidade de oferta do que propriamente da natureza de organizao
da produo que lhe peculiar. Melhorar o nvel de organizao e enfa-
tizar a capacitao em gesto da unidade produtiva so os instrumentos
de ao que devem ser empregados para reduzir ou eliminar essas def-
cincias.
Segundo Cerdan & Sautier (2001), a agricultura familiar do Nordeste
se caracteriza por forte capacidade de adaptao s demandas de merca-
do e uma fexibilidade e uma dinmica de inovao no que concerne a
produtos e procedimentos, que podem ser expressas tanto a uma escala
territorial como a uma escala de unidade produtiva. O requisito bsico
seria o estabelecimento de polticas pblicas que realmente permitissem
valorizar a diversidade do potencial existente, mediante da mobilizao
dos agentes econmicos e da valorizao dos produtos locais.
O objetivo principal da busca por maior insero no mercado dever
ainda estar vinculado ao aumento da oferta de empregos agrcolas e no
agrcolas por meio do fortalecimento da natureza pluriativa da produo
de base familiar e da explorao do potencial de sinergias entre os dis-
199
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
tintos setores da economia. As suas relaes com o mercado precisam
ser estabelecidas em novas bases. O PAMSA, Programa de Acesso a
Mercado no Semi-rido Brasileiro (CRS-DED-MLAL-OXFAM, 2003),
iniciativa de quatro agncias de cooperao internacional, considera que
no se trata simplesmente de garantir maior acesso aos mercados, mas,
tambm, de qualifc-lo, de modo que essa insero se proceda em ba-
ses mais justas e transparentes, assegurando a identidade de uma regio
com produtos e culturas prprias como principal fora de insero nos
mercados. A base de apoio a esse enfoque se fortalece com os crescentes
movimentos de consumo consciente, comrcio justo e solidrio, que se
observa mundiamente.
3 As certifcaes (indicao geogrfca e orgnica)
A valorizao dos produtos locais , no contexto da globalizao,
o grande instrumento estratgico para alcanar os objetivos principais
de preservar os recursos da caatinga e assegurar, ao mesmo tempo, o
bem-estar das populaes que nela vivem e dela dependem. Produtos
diferenciados, a partir da incorporao de uma identidade territorial e
cultural, constituem alternativa de grande potencial no semi-rido.
simplesmente uma questo de um pouco mais de esforo em conhe-
cer melhor o que temos e do que dispomos, de conhecer e reconhecer
os conhecimentos locais, associando-os, a partir da, ao conhecimento
cientfco necessrio plena expresso do potencial do bioma (Guima-
res Filho, 2004).
A estratgia mais indicada de implementao do processo deve se
basear na diferenciao dos produtos a ser fundamentada em normas
que defnam e orientem o processo de sua certifcao. A certifcao
apresenta as seguintes vantagens:
estimula a melhoria da qualidade do produto;
estabelece a diferenciao do produto;
ajunta valor e facilita a insero no mercado;
protege o produto;
fortalece as organizaes dos produtores e;
valoriza a regio pela promoo e preservao da cultu-
200
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
ra e da identidade locais.
201
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
Dois tipos de certifcao constituem alternativas para os produtos
caprinos e ovinos criados no semi-rido. Um, na linha de indicaes
geogrfcas (obtida mediante registro no Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial INPI (resoluo n
o
75/Lei da Propriedade Industrial
n
o
9.279, de 14 de maio de 1996) e outra, mais conhecida, na linha de
produtos orgnicos.
4 A certifcao de indicao geogrfca
A certifcao de indicao geogrfca, tambm conhecida como cer-
tifcao de origem, pode ser obtida sob duas formas: a Denominao
de Origem (DO) e a Indicao de Procedncia (IP), correspondentes,
respectivamente, a Denominao de Origem Controlada (DOC) e a In-
dicao Geogrfca Protegida (IGP), certifcaes j existentes em vrios
pases, sobretudo na Europa. So certifcados de origem, por exemplo,
todos os produtos cujas qualidades ou caractersticas decorrem exclusi-
va ou essencialmente do meio geogrfco, includos a fatores naturais
(solo, clima) e/ou humanos (tradio, cultura). Em outras palavras, deve
haver clara ligao estabelecida entre o produto, o territrio e o talento
do homem (o saber-fazer).
A concepo desses produtos a certifcar deve resultar de um pro-
cesso natural de construo social, refetida na sua identifcao com o
territrio de origem em suas dimenses geogrfca, histrica e cultural.
O produto apresentaria forte apelo mercadolgico, especialmente em
funo da sua relao harmnica com o meio ambiente; entretanto, ca-
ractersticas como essas precisam ainda de uma construo pelo ma-
rketing (CNEARC-CIRAD-INRA, 1998), posicionando-o no mercado
mediante o trabalho de comunicao mais amplo sobre sua imagem.
isso que praticado por sem-nmero de pases com vrios produtos das
regies mais desfavorecidas, onde predominam pequenos agricultores
familiares. Quase todas as partes norte e leste de Portugal esto zonea-
das para produo de caprinos e ovinos com denominaes de origem
e indicaes geogrfcas protegidas (Teixeira, 2003). So sete marcas
de ovinos (borrego Serra da Estrela, borrego da Beira, cordeiro
Braganano etc.), e cinco de caprinos (cabrito Transmontano, ca-
brito da Beira etc.). A Espanha exibe o seu famoso cordeiro ternasco
202
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
de Aragn e o lechal de Churra. Na Frana podem ser citados os
queijos roquefort (de leite de ovelha) e chabichou du Poitou (de
leite de cabra). Dezesseis porcento da produo queijeira da Frana tem
certifcao de origem. A Argentina conta com o cordero patagonio.
Embora no possa ser caracterizada exatamente como um produto com
indicao geogrfca, no Brasil, existe uma iniciativa similar, na regio
de Herval, RS, com a comercializao do cordeiro Herval Premium.
Esta experincia pode evoluir para um DO ou IP efetivos, estabelecidos
os requisitos fundamentais de defnir melhor as especifcidades do pro-
duto e de certifcao independente, ainda ausentes, no caso. No Pas s
existem dois produtos com selo de Indicao de Procedncia: o vinho
do Vale dos Vinhedos, RS e o caf do Cerrado mineiro, este com base
na regio de Araguari. Outras iniciativas em busca dessa certifcao en-
contram-se em andamento, entre elas o mel de abelhas da regio de So
Raimundo Nonato-PI e o queijo do Serro e o da Serra da Canastra-MG
e, mais recentemente, a manga e a uva do vale do So Francisco.
Para obter o reconhecimento e utilizar o selo de indicao geogr-
fca, o produto deve atender um conjunto de exigncias contidas no
caderno de normas e especifcaes. Nele devem estar registrados o
nome do produto, sua descrio, delimitao da rea geogrfca, provas
de origem, descrio dos mtodos de obteno do produto (alimenta-
o, gentipos, manejo reprodutivo, controle sanitrio, etc.), sistema de
controle e as exigncias a serem cumpridas para obteno do certifcado
e uso do selo. O cumprimento dessas normas e especifcaes normal-
mente fscalizado por empresas independentes, credenciadas pelo rgo
ofciais, contudo, h necessidade de a organizao de produtores criar e
operar o seu conselho regulador, ao qual caber o monitoramento de
todo o processo. Quem duvidaria, atendidas as exigncias, do sucesso
de um cabrito de Uau, de um queijo de leite de cabra do Cabugi, de
um mel do Araripe ou de um suco de umbu do So Francisco certi-
fcados com o DO? Seria um agronegcio diferente dos convencionais,
na medida em que elegeria como premissas bsicas a preservao do
ecossistema e a eqidade social na distribuio dos benefcios gerados.
Concentrando a discusso no segmento da caprino-ovinocultura,
seria tambm necessria uma anlise bem criteriosa para defnir as
alternativas de produo que melhor se ajustariam aos critrios implcitos
203
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
na viso de desenvolvimento exposta anteriormente. Evidentemente,
para cada espao geogrfco diferenciado, em termos agro-ecolgicos
e socioeconmicos, haveria uma ou duas opes mais adequadas.
Considerando as zonas mais secas, onde as possibilidades de interao
com outras atividades so mais escassas, as alternativas disponveis so
mais limitadas. Uma delas seria a produo semi-extensiva de cabritos
e borregos de corte e outra a caprinocultura de leite, na perspectiva da
produo de queijos e outros derivados para nichos de mercado bem
defnidos.
Como seria, por exemplo, um cabrito com DO que a agricultura fa-
miliar do semi-rido pudesse ofertar ao mercado? Antes de tudo, o pro-
duto precisaria ter uma marca, tipo cabrito ecolgico da caatinga,
mais abrangente, ou tipo cabrito de Uau, circunscrita a um espao
menor. O importante para o produto seria defnir suas especifcidades
e lig-las a uma ou mais caractersticas prprias daquele espao. O meio
geogrfco marca e personaliza o produto pelo que a delimitao da
zona de produo se torna pr-requisito indispensvel. O sabor da caa-
tinga implcito na carne do cabrito viria da associao com a vegetao
de caatinga de que se alimenta, pelo menos em parte de sua vida (pode-
ria ser um cabrito do Cariri), ou, com uma determinada raa ou eco-
tipo nativo e/ou (cabrito do Moxot, no vale do mesmo nome), ou
ainda, a uma maneira tradicional e peculiar de abater e processar o ani-
mal, como a manta seca retalhada. Este tipo de saber-fazer poderia
ser valorizado como uma especifcidade, contribuindo na defnio, por
exemplo, do cabrito de Uau, ou de qualquer outro espao geogrfco
onde essa prtica se destacasse. O zoneamento do semi-rido, portanto,
torna-se um procedimento essencial para fundamentar um processo de
identifcao e espacializao das potenciais marcas de cabritos e bor-
regos, com base em suas especifcidades ligadas a fatores naturais e/ou
culturais de cada espao.
Inicialmente, o produtor de base familiar deveria trabalhar mais com
o caprino, do que com o ovino, em funo de maiores difculdades de
associao deste ltimo produto com o ambiente da caatinga e de li-
mitaes de competitividade, em face de forte concorrncia de outros
estados (alm do Sul, a ovinocultura se expande rapidamente no Centro-
Oeste e no Sudeste) e dos pases do Mercosul. Embora o mercado hoje
204
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
seja mais favorvel aos ovinos, a mdio e longo prazos, as perspectivas
para o caprino, como produto de maior potencial de diferenciao para
o mercado, seriam mais favorveis.
A criao de uma ou mais marcas de cabrito da caatinga ou bor-
rego da caatinga, a exemplo do vitelo do Pantanal, que comea a ser
produzido no Centro-Oeste, enfatizaria as relaes do animal com o
bioma, utilizaria um mnimo de insumos externos e valorizaria e preser-
varia as raas nativas, mesmo que esses fatores limitassem a capacidade
de um abate mais precoce, em funo de um desenvolvimento ponderal
um pouco mais lento. Isto no constituiria problema, j que essa aparen-
te desvantagem poderia ser neutralizada pela produo de carcaas mais
leves ou largamente compensada tanto pelo nvel menor de investimen-
to necessrio quanto pelo valor agregado ao produto pelas suas especi-
fcidades mercadolgicas. As demais qualidades potenciais do produto
no caracterizam propriamente especifcidades (Quadro 1).
Quadro 1. Potenciais qualidades mercadolgicas de um cabrito da caatinga
com selo de indicao geogrfca
Qualidades
Mercadolgicas
Especifcidades
205
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
SANITRIA
SAUDABILIDADE
NUTRITIVA
SENSORIAL (ORGA-
NOLPTICAS)
DE USO
AMBIENTAL
Uso mnimo de agroqumicos e rigoroso controle
higinico-sanitrio na produo, processamento e
distribuio
(1)
.
Baixos teores de gordura, colesterol e calorias, em
relao aos demais tipos de carne.
Sabor caracterstico associado ao pasto natural (sa-
bor da caatinga), maciez e suculncia.
Apresentao em cortes especiais (incluindo manta
retalhada, cabrito-mamo, etc.), resfriados ou conge-
lados.
Forte identidade com os fatores naturais (solo, clima,
vegetao, raas autctones) e humanos (tradio,
cultura) do meio geogrfco sertes do sub-mdio
So Francisco, onde produzida em harmonia com
o bioma caatinga.
(1)
Assistncia veterinria permanente ao nvel de propriedade e inspeo SIF ou SIE e
APPCC ao nvel de abatedouro/unidades de processamento.
Um produto com essas caractersticas atenderia os fundamentos das
crescentes demandas de mercado e presses sociais, representados pelo
uso sustentvel dos recursos naturais, nos aspectos de segurana alimen-
tar, gerao de emprego e renda, conservao ambiental e envolvimento
e participao popular (Mansvelt et al., 1993). Um produto efetivamente
diferenciado e impossvel de ser imitado como esse (onde no h caatin-
ga no se pode produzir o sabor da caatinga) constituiria, sem dvidas,
importante alternativa de resgate social e econmico do caprinocultor e
do ovinocultor da regio semi-rida e de reverso do acentuado proces-
so de degradao dos recursos naturais que atinge esta regio. Contatos
preliminares mantidos com redes de supermercados confrmaram o in-
teresse dessas organizaes em trabalhar com um produto caprino ou
ovino dessa natureza, com certifcao de origem.
A carne e o leite no devem ser encarados como produtos nicos
para a atividade capri-ovincola praticada pelas organizaes de agricul-
tores familiares. H muito boas perspectivas ainda para as peles, enfati-
zando o artesanato (artigos de montaria, indumentria para vaquejadas,
206
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
sandlias, casacos, bolsas, mveis etc.) e associando-o a um tipo de ca-
pri-turismo ou circuito do bode, em que estariam tambm inseridas
unidades de criao e de benefciamento com interesse tcnico, ecol-
gico, gastronmico, cultural ou de lazer, transformveis em pequenas
unidades hoteleiras.
Em suma, a implantao de um sistema de denominao de origem
para os produtos do semi-rido, como o caprino e o ovino, pode ser
considerada como inserida no processo de desenvolvimento local
proposto por Turner & Brigo (1999), j que busca a valorizao de uma
especifcidade local, transformando-a em um produto do territrio
capaz de servir como instrumento tanto de insero econmico-social
como de reafrmao da identidade local. Seria uma forma alternativa
de insero do produtor de base familiar na lgica adversa do mercado
convencional (Schrder et al., 2002).
207
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
5 A certifcao orgnica
Outra opo representada pela produo orgnica, com potencial
para as carnes e derivados do leite. Este caminho, contudo, alm da
maior complexidade do processo de certifcao, mormente para pro-
dutores de baixo nvel de organizao, apresenta a desvantagem de no
ser uma soluo massiva. Por outro lado, a extensividade na caatinga e
o baixo nvel de uso de insumos que caracterizam seus sistemas de pro-
duo podem se transformar em fatores decisivamente favorveis sua
implementao.
A produo de um cabrito orgnico da caatinga representaria uma
forma de produto estreitamente vinculado ao ambiente natural da re-
gio. A atual caprinocultura extensiva praticada no nosso semi-rido, ao
contrrio do que muitos pensam, pela sua ao espoliativa sobre a caa-
tinga e pelo uso generalizado de vermfugos, piolhicidas, mata-bicheiras
e outros alopticos, no atende as exigncias mnimas para certifcao
orgnica. O atendimento a essas exigncias poderia ser feito, mais facil-
mente, a partir da criao de gentipos nativos selecionados, em sistema
semi-extensivo, associando o uso da caatinga a pastos tolerantes a seca
e a forragens conservadas sob diversas formas. Os animais seriam abati-
dos com idade varivel entre 210 e 300 dias de idade, em funo do nvel
de intensifcao tecnolgica utilizado. No importaria muito competir
com as criaes mais artifcializadas com relao idade de abate, pois
o produto gerado diferente, com maior valor agregado e, muito pro-
vavelmente, menores custos de produo. A carne orgnica assim pro-
duzida incorporaria, como principais qualidades mercadolgicas, o uso
nulo de agroqumicos e a harmonia com o bioma caatinga. A comerciali-
zao se daria em cortes especiais (incluindo cabrito-mamo) resfriados
ou congelados, podendo-se ainda incorporar na marca do produto o
nome da microrregio, territrio ou espao geogrfco delimitado pelas
aes da associao (ex: cabrito orgnico do Cariri).
Para as associaes, a estratgia mais recomendvel seria iniciar o
processo mediante um projeto-piloto de produo e comercializao do
cabrito orgnico, envolvendo um nmero limitado de associados. A cer-
tifcao como produto orgnico deveria ser do tipo grupal, que certifca
a organizao e a credencia como co-responsvel pelo monitoramento
208
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
regular da qualidade do produto e pelo atendimento s exigncias de cer-
tifcao. Para isso, a associao tem que estar formalmente constituda
e possuir um sistema de controle interno. O projeto-piloto deve incluir
a formao de uma rede de articulao produtor-processador-distribui-
dor, incorporando, em um modelo de integrao de pequena escala, as
aes de fnanciamento, assistncia tcnica, promoo e comercializao
do produto. As etapas de implantao do projeto compreenderiam es-
pecifcamente:
sensibilizao/mobilizao dos associados e seleo das unida-
des-piloto iniciais;
defnio da entidade certifcadora e incio de articulaes para
certifcao do produto articulao com outros parceiros co-
merciais (processadores, distribuidores e clientes diretos) e de
apoio tcnico e fnanceiro;
criao (e capacitao) de um Comit Regulador, de controle
interno do processo, atendendo exigncia das certifcadoras
para o modelo grupal;
elaborao do manual de procedimentos tcnicos (normas a
serem atendidas na criao, processamento e comercializao,
qualifcao do produto);
capacitao tcnica e gerencial dos produtores selecionados em
produo orgnica;
implantao dos sistemas de produo nas unidades-piloto atra-
vs de fnanciamento pelas fontes ofciais de crdito (Pronaf
principalmente) e/ou de acordos de cooperao com outros
parceiros engajados direta (abatedores, distribuidores ou consu-
midores) ou indiretamente (MDA, MDS, Projeto Dom Helder
Cmara etc.);
monitoramento e avaliao tcnica (pelo Comit Regulador),
econmica e ambiental dos sistemas de produo implantados
nas unidades-piloto, visando, de forma participativa, a proceder
aos necessrios ajustes e correes;
abate e processamento experimentais da produo de cabritos
oriundos das unidades selecionadas (abate, frigorifcao, cortes
especiais, formas de acondicionamento);
209
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
promoo e comercializao experimental do produto proces-
sado e certifcado (pleno ou em converso) com clientes previa-
mente articulados (redes de supermercado, programas governa-
mentais, restaurantes e casas especializadas) e/ou em pontos de
venda direta da Associao.
Todo esse processo deve ter o acompanhamento da entidade certi-
fcadora. O Comit Regulador deve monitorar e avaliar periodicamente
diversos parmetros, entre eles: o desempenho produtivo dos rebanhos,
a capacidade de atendimento s normas de certifcao orgnica, as qua-
lidades mercadolgicas dos produtos, a economicidade do empreendi-
mento e a aceitao do produto pelo consumidor. Atendidos satisfa-
toriamente esses aspectos, o empreendimento estaria apto, ento, para
a fase seguinte, de mudana de escala, na qual seriam incorporados e
capacitados novos caprinocultores associados e buscada a expanso do
seu mercado.
O modelo proposto para a produo orgnica procura, portanto,
contemplar as principais prticas de convivncia com a seca e de preser-
vao ambiental recomendadas pela EMBRAPA e por outras institui-
es, para zonas semi-ridas, sistematizadas no uso preferencial de raas
autctones, de pastos cultivados tolerantes a seca, de mtodos racionais
de uso da vegetao nativa (pastejo em rotao, lotao adequada), de
arborizao dos pastos cultivados, de suplementao alimentar nos per-
odos secos com bancos de protena/energia, de estabelecimento de re-
servas estratgicas alimentares para perodos de estiagem prolongada, de
captao de gua da chuva in situ nas reas de cultivos forrageiros, de
preservao de reas de reservas legal e permanente, de uso maximizado
de matria orgnica e de adubos no sintticos, de sistemas produtivos
diversifcados (interao com agricultura, extrativismo e outros subsiste-
mas da propriedade etc.) e de uso mnimo de insumos externos.
6 Consideraes fnais
As linhas iniciais de ao para o sucesso de um programa regional
com esse enfoque abrangeriam, alm, naturalmente, do estabelecimento
de normas e servios que regulamentem e operacionalizem o processo,
210
TECNOLOGIAS APROPRIADAS PARA TERRAS SECAS
o fortalecimento das associaes de produtores (no h certifcao para
pessoa fsica), a estruturao de redes locais de apoio tcnico, uma linha
de crdito especfca, adequada capacidade remuneratria de capital
dessas atividades, e a estruturao de um programa de P&D que inclua,
como ao inicial, um zoneamento de toda rea ocupada pelo bioma
caatinga, identifcando, para cada produto, as zonas diferenciadas ou ter-
ritrios potenciais para obteno de DOC e IGP.
As aes dessa natureza devero ter como referncia balizadora a
conservao da biodiversidade, procurando conciliar a intensidade de
cada uma das atividades com as restries ambientais necessrias a neu-
tralizar a eroso dessa diversidade biolgica. O desenvolvimento da ca-
prinocultura e da ovinocultura de base familiar deve, por conseguinte, se
basear em sistemas diversifcados que atendam esse requerimento, que
enfatizem suas interaes com os demais setores da economia e que o
integrem, simultaneamente, s demais polticas j existentes para o cam-
po, segundo recomendam Del Grossi & Graziano da Silva (2002).
O conjunto de aes deve ser implantado em espaos supramuni-
cipais ocupados pela agricultura familiar, onde existam elementos po-
tenciais de identidade coletiva e outros ativos e fatores diferenciais que
permitam desenvolver novos negcios relacionados com agregao de
valor, com aproveitamento de tipicidades locais/regionais e dos patri-
mnios culturais e sociais especfcos (Flores, 2003). Se assim concebido
e operado, o programa de fortalecimento da caprino e da ovinocultura
nesse espao rural contribuir, sem dvidas, para a obteno de resulta-
dos efetivamente impactantes na melhoria nos processos de utilizao
dos recursos naturais de solo, gua, planta e animal do bioma caatinga e
de gesto do espao rural como um todo, na maior valorizao da cul-
tura e do saber-fazer locais, impondo-se como instrumento efetivo de
reafrmao da identidade local e no melhor ordenamento e equilbrio
no processo de integrao econmica e social entre as distintas condi-
es agroecolgicas existentes nessa zona.
Referncias Bibliogrfcas
CARON, P.; PREVOST, F.; GUIMARES FILHO, C.; TONNEAU,
J.P.; Prendre en compte les strategies des eleveurs dans lrientation dun
projet de developpement: le cas dune petite region du Sertao brsilien.
In: Simposium International sobre EL ESTUDIO DE LOS SISTE-
MAS GANADEROS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVES-
TIGACIN Y DEL DESARROLLO, 2., Zaragoza, Espanha, 1992.
Proceedings ... Zaragoza, 1992. p.51-60.
CERDAN, C.; SAUTIER, D. Systmes dintermdiation et valorization
conomique des produits. In: PAYSANS DU SERTO: MUTATIONS
DES AGRICULTURES FAMILIALES DANS LE NORDESTE DU
BRSIL. Montpellier, Frana: CIRAD/EMBRAPA, 2001. p.135-152.
CNEARC-CIRAD/TERA-INRA/SAD. Territoire, home, technique:
quelles relations? Etude dans le Lot: agneaux, fromages et vins. Mont-
pellier: CNEARC/CIRAD/INRA, 1998. 84p.
COUTO, F.A. de A. Dimensionamento do mercado de carnes ovina e
caprina no Brasil. In: SIMPSIO INTERNACIONAL SOBRE CA-
PRINOS E OVINOS DE CORTE, 2., Joo Pessoa-PB, 2003. Anais ...
Joo Pessoa, 2003. p.71-82.
CRS-DED-MLAL-OXFAM. Programa de Acesso a Mercado no Semi-
rido Brasileiro PAMSA. Proposta de programa. 2003. 8p (documen-
to de trabalho no publicado)
DEL GROSSI, M.E.; GRAZIANO DA SILVA, J. O Novo Rural: uma
abordagem ilustrada. Londrina: Instituto Agronmico do Paran, 2002.
V.II. 49p.
FLORES, M.X. Projeto de fortalecimento das capacidades competitivas
dos pequenos produtores rurais: desenvolvimento territorial e estrat-
gias inovadoras. Braslia: EMBRAPA-CONTAG-Fundao Lyndolpho
Silva-SEBRAE-BID, 2003. 46 p (documento de trabalho no publica-
do)
FORTES, G. Ovino composto vem a. Revista DBO, maro 2004. p.80
GUIMARES FILHO, C.; CORREIA, R.C. Subsdios para o fortale-
cimento do agronegcio da caprino-ovinocultura no Semi-rido brasi-
leiro. Revista Econmica do Nordeste, Fortaleza, v.32, n.3, p.430-435,
2001.
GUIMARES FILHO, C. A caprino-ovinocultura como instrumento
de fortalecimento do agricultor de base familiar do Semi-rido. In: SE-
MINRIO DA CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA BRA-
SILEIRAS, 4. Sobral, CE: EMBRAPA/SEBRAE/CNPq, 2004. CD-
ROM.
MANSVELT van, J.D. European features for sustainable development:
a contribution to the dialogue. In: CONFERNCIA BRASILEIRA
DE AGRICULTURA BIODINMICA, 3, Piracicaba, So Paulo, 1998.
Anais... Piracicaba, 1999. p. 284.
MOREIRA, J.N.; CORREIA, R.C.; ARAJO, J.R.; SILVA, R.R.; OLI-
VEIRA, C.A.V. de. Estudo do circuito de comercializao de carne de ca-
prinos e ovinos no eixo Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Petrolina: EMBRA-
PA-CPATSA, 1998. 37p. (EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 87).
SCHRDER, M.; NASCIMENTO, H.M.do; TEIXEIRA, V.L. Alterna-
tivas de insero no mercado para a agricultura familiar: uma discusso
a partir de experincias selecionadas. In: SIMPSIO LATINOAMERI-
CANO SOBRE INVESTIGAO E EXTENSO EM SISTEMAS
AGROPECURIOS, 5. Florianpolis, SC, 2002. Anais ... Florianpolis,
2002. p.131.
TEIXEIRA, A. Produo de cabritos e cordeiros com certifcao de
origem protegida uma experincia de Portugal. In: SIMPSIO IN-
TERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 2.
Joo Pessoa, PB, 2003. Anais ... Joo Pessoa, 2003. p.59-69.
TURNES, V.A.; BRIGO, F.L. Desenvolvimento local: uma nova for-
ma de ver o espao rural. In: Planejamento Municipal. Organizado por
Eric Sabourin. Braslia: Embrapa Comunicao para Transferncia de
Tecnologia, 1999. 124p. (Agricultura Familiar, 4).
VEIGA, J.E.; FAVARETO, A.; AZEVEDO, C.M.A.; BITTENCOURT,
G.; VECCHIATI, K.; MAGALHES, R.; ROGRIO, J. O Brasil preci-
sa de uma estratgia de desenvolvimento. Braslia: Convnio FIPE-IICA
(MDA/CNDRS/NEAD), 2001.108p.
Você também pode gostar
- Ebook Gratuito 30 Dicas para Ser Um Ótimo TSTDocumento13 páginasEbook Gratuito 30 Dicas para Ser Um Ótimo TSTErik DenisAinda não há avaliações
- Hildo Honório - EcolinguisticaDocumento29 páginasHildo Honório - Ecolinguisticajessikbarbara100% (1)
- Revisão de Matemática 11.07.2019Documento5 páginasRevisão de Matemática 11.07.2019Luiz FernandoAinda não há avaliações
- Scripting (Batch) Portuguese Brazil. TutorialDocumento13 páginasScripting (Batch) Portuguese Brazil. TutorialFelipe SilvaAinda não há avaliações
- Durante, Hipergonadotrófico, Domingues - 2020 - EFEITO DO CONSUMO DE FITO-HORMÔNIOS NA MICROBIOTA INTESTINAL DURANTE O HIPOGONADISMO HIPDocumento19 páginasDurante, Hipergonadotrófico, Domingues - 2020 - EFEITO DO CONSUMO DE FITO-HORMÔNIOS NA MICROBIOTA INTESTINAL DURANTE O HIPOGONADISMO HIPLeonardo BettegaAinda não há avaliações
- Sistema Respiratório ??Documento13 páginasSistema Respiratório ??Amanda Sanches CarvalhoAinda não há avaliações
- Recolha de DadosDocumento14 páginasRecolha de DadosPalmerim cesar NapoleaoAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas Do Orientador EducacionalDocumento82 páginasPráticas Pedagógicas Do Orientador EducacionalLeandro Morais67% (3)
- Aula 4 - Perdas de CargaDocumento19 páginasAula 4 - Perdas de CargarztxlAinda não há avaliações
- Tui NaDocumento2 páginasTui NajamisbarbosaAinda não há avaliações
- Bioengenharia - Aline eDocumento12 páginasBioengenharia - Aline emoranguinholiAinda não há avaliações
- Rota Sabores IngDocumento29 páginasRota Sabores IngRicardo RibeiroAinda não há avaliações
- Como Se Escreve Uma CartaDocumento32 páginasComo Se Escreve Uma CartaManuel RibeiroAinda não há avaliações
- 9 Maneiras para Acelerar A Fase de Cutting e Perder Mais Gordura PDFDocumento9 páginas9 Maneiras para Acelerar A Fase de Cutting e Perder Mais Gordura PDFGabriel SantosAinda não há avaliações
- Ética, Cidadania e SustentabilidadeDocumento2 páginasÉtica, Cidadania e SustentabilidadeDebora Dopico0% (1)
- Manual Marcenaria Amadora PDFDocumento16 páginasManual Marcenaria Amadora PDFJoctã Fernandes83% (6)
- 2º Ciclo - Ativdds DengueDocumento4 páginas2º Ciclo - Ativdds DengueEliene Pereira Lima da SilvaAinda não há avaliações
- Giovana Gomes PirotaDocumento1 páginaGiovana Gomes Pirotafilipe.med.vettAinda não há avaliações
- Bling - Proposta ComercialDocumento2 páginasBling - Proposta ComercialPedro SouzaAinda não há avaliações
- Aula - Litíase BiliarDocumento29 páginasAula - Litíase BiliardanielmyeggsAinda não há avaliações
- Projeto Eletiva 2 Semestre para Cada Cabeça 1 ChapéuDocumento8 páginasProjeto Eletiva 2 Semestre para Cada Cabeça 1 ChapéuStefany KellyAinda não há avaliações
- Lenda Da GuardaDocumento6 páginasLenda Da GuardaAnabela SilvaAinda não há avaliações
- Aula 11 Retificação SEM-0343 2016Documento118 páginasAula 11 Retificação SEM-0343 2016tarcisioAinda não há avaliações
- Capítulo Ecologia Do Discurso - Análise Do Discurso Digital - PaveauDocumento418 páginasCapítulo Ecologia Do Discurso - Análise Do Discurso Digital - PaveauKaren HanyAinda não há avaliações
- National Geographic Portugal - Julho 2020 PDFDocumento132 páginasNational Geographic Portugal - Julho 2020 PDFAntónio OliveiraAinda não há avaliações
- Marlon Nardi Walendorff - Como Fazer Um Aquecedor Indutivo de Maneira Fácil Com o Funcionamento ExplicadoDocumento4 páginasMarlon Nardi Walendorff - Como Fazer Um Aquecedor Indutivo de Maneira Fácil Com o Funcionamento ExplicadoAnonymous t9tLb3WgAinda não há avaliações
- Bula ToxoDocumento3 páginasBula ToxoJulliendy Paiva de AlmeidaAinda não há avaliações
- Exercícios - Gerência e Planejamento de Marketing - Gerenciamento de Varejo, Atacado e LogísticaDocumento5 páginasExercícios - Gerência e Planejamento de Marketing - Gerenciamento de Varejo, Atacado e LogísticaPamela MezadiAinda não há avaliações
- CARBOÍDRATOSDocumento9 páginasCARBOÍDRATOSbruno_bpaAinda não há avaliações
- Versos Estelares Poesias Sob o Manto NoturnoDocumento43 páginasVersos Estelares Poesias Sob o Manto NoturnocolosovsckgAinda não há avaliações