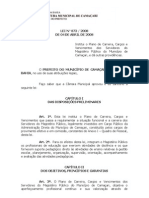Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2013 BenitoEduardoAraujoMaeso VCorr
2013 BenitoEduardoAraujoMaeso VCorr
Enviado por
Caio Sarack0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
28 visualizações181 páginasTítulo original
2013_BenitoEduardoAraujoMaeso_VCorr
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
28 visualizações181 páginas2013 BenitoEduardoAraujoMaeso VCorr
2013 BenitoEduardoAraujoMaeso VCorr
Enviado por
Caio SarackDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 181
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA
BENITO EDUARDO ARAUJO MAESO
Kafka: esttica e poltica do estranhamento
Verso corrigida
So Paulo
2013
2
BENITO EDUARDO ARAUJO MAESO
Kafka: esttica e poltica do estranhamento
Verso corrigida
Dissertao apresentada Coordenao de Ps-
Graduao da Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas (FFLCH) da Universidade de
So Paulo (USP) para a obteno do grau de
Mestre em Filosofia.
reas de Concentrao: Esttica e Filosofia
Poltica.
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Nascimento Fabbrini.
So Paulo
2013
3
Folha de Aprovao
Benito Eduardo Araujo Maeso
Kafka: esttica e poltica do estranhamento
Dissertao apresentada
Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da
Universidade de So Paulo para
a obteno do ttulo de Mestre.
rea de concentrao: Filosofia
(Esttica e Poltica)
Aprovado em:
Banca examinadora:
Prof. Dr.____________________________________________________
Instituio: __________________ Assinatura:______________________
Prof. Dr.____________________________________________________
Instituio: __________________ Assinatura:______________________
Prof. Dr.____________________________________________________
Instituio: __________________ Assinatura:______________________
4
Para Patricia e Gabriel (Shoo e Cathu)
5
Agradecimentos
Ao Prof. Ricardo Fabbrini, pela orientao segura e exigente, pelo voto de
confiana em minha capacidade e no potencial do projeto, assim como
pela extrema pacincia nas correes de rota pelo caminho.
Ao Prof. Paulo Vieira Neto, pela amizade, incentivo, ideias, cafs, risadas e
por acreditar que seria possvel desde antes da ideia existir, mesmo
quando eu achava o contrrio.
Aos Profs. Celso Favaretto e Ricardo Musse, pelo estmulo e conselhos
preciosos nas aulas e na qualificao.
Aos Profs. Marco Aurlio Werle, Vladimir Safatle, Christian Dunker e
Nelson Silva Jr., pelas aulas, conversas, respostas e dicas durante o
perodo letivo.
Prof. Otlia Arantes, pelo apoio e recomendaes desde o incio.
Ao Prof. Franklin Leopoldo e Silva, pelos insights para o fechamento do
texto.
s servidoras do Departamento de Filosofia da FFLCH, em especial Maria
Helena, salvadora dos orientandos.
Aos amigos e colegas de magistrio no Integral e na UTFPR, em especial
Tadeu, Sissi, Cludio (grato pela reviso, meu nobre!), Jan, Jlio, Mariza,
Fbio, Gasto e Marcelo Stein (e aos estagirios tambm).
Aos meus alunos de ensino fundamental, mdio e graduao, em especial
turma T51-2009 da UTFPR, a armada que cria conceitos.
Aos amigos e colegas da UFPR e da USP, em especial Gustavo (Mozinha),
Marcelo, Daniclei, Selma, lisson, Glauber, Sarah, Vivi, Tina e Ajax (que
salvou a turma inteira gravando as aulas).
Aos queridos Su Kardosh, Catarina, Maria Lcia, Raul Neto e Daniel.
adorada Camila Zupo, por muita coisa mesmo - e por grandes
conversas num incrvel sof gigante.
E, principalmente, aos meus preciosos Patricia e Gabriel, por mais do que
qualquer palavra possa expressar em um papel.
6
A partir de certo ponto no h mais retorno.
este o ponto que tem que ser alcanado.
ridculo como voc coloca arreios em si mesmo para este mundo.
(Kafka, aforismos 5 e 44)
Se eu pudesse acordar em outro lugar,
numa outra poca, seria outra pessoa?
(Palahniuk, Chuck)
7
RESUMO
MAESO, Benito Eduardo Araujo. Kafka: esttica e poltica do
Estranhamento. 2013, 181 p. Dissertao (Mestrado) - Faculdade de
Filosofia, Letras e Cincias Humanas. Departamento de Filosofia,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2013.
Esta dissertao tem como objetivo investigar de que forma a estrutura e
a temtica do texto de Franz Kafka, ao criarem um espao de
estranhamento na relao entre o leitor e o texto uma sensao
constante de que algo est fora de lugar, constroem um campo de
resistncia poltica. Parte-se da anlise dos elementos constitutivos da
obra kafkiana, buscando localizar quais elementos efetuariam tal
processo, assim como da anlise dos trabalhos de pensadores como
Adorno, Benjamin, Deleuze & Guattari e outros sobre o escritor checo.
Para tanto, ser feito recurso livre produo do autor, com destaque
para a trade O Processo, O Castelo e A Metamorfose, sem prejuzo de
outros contos, novelas, cartas e anotaes de seus dirios. Tambm ser
buscada uma articulao dos temas inerentes obra de Kafka com os
conceitos principais dos filsofos citados. Como procedimento
metodolgico, estruturamos este percurso em quatro eixos principais: a
escrita, o conceito de mmesis, o conceito de estranhamento (unheimlich)
e as relaes entre arte, poltica e sociedade, com especial foco no
conceito de resistncia, presente nas definies de Adorno e Deleuze
sobre a arte. Assim, busca-se averiguar o carter poltico dos textos de
Kafka como alegorias da condio humana.
Palavras-chave: alegoria, estranhamento, Kafka, poltica, esttica,
Adorno, Deleuze.
8
ABSTRACT
MAESO, Benito Eduardo Araujo. Kafka: Aesthetics and Politics of the
Uncanny. 2013. 181 p. Thesis (Master Degree) - Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas. Departamento de Filosofia, Universidade de
So Paulo, So Paulo, 2013.
This work aims to investigate the way Kafkas thematics and narrative
structure builds the sensation of uncanny, misplacing and oddity between
the reader and the story. Simultaneously, these characteristics of Kafkas
work can build a political field of resistance. To achieve this goal and
locate those elements in Kafkas literary corpus, an in-depth analysis of
his works letters, aphorisms, romances and short stories - is necessary,
with special attention to The Process, The Castle and The Metamorphosis.
Also, this work intends to establish a dialogue between Kafkas thematics
and the concepts of Adorno, Benjamin, Deleuze and Guattari, among
others. Four lines of force are the core of this thesis: Kafkas writing
techniques; the concept of mimesis; the uncanny (unheimlich); and the
linkage between art, poltics and society, with emphasis in the concept of
resistance which is present in Kafkas work and in Adornos (and also
in Deleuzes) definition of art. At last, what is the political status of
Kafkas work as an allegory of human condition?
Keywords: allegory, uncanny, Kafka, politics, aesthetics, Adorno, Deleuze.
9
LISTA DE ABREVIATURAS
Textos de Adorno e/ou Horkheimer
AsK Anotaes sobre Kafka
DE Dialtica do Esclarecimento
TE Teoria Esttica
DN Dialtica Negativa
ER Eclipse da Razo
MM Minima Moralia
TF Terminologia Filosfica Tomo 1
Textos de Deleuze e/ou Guattari
K Kafka: por uma literatura menor
MP Mil Plats
A-E O Anti-dipo
Conv. Conversaes
Cin. Cinema: a imagem-tempo
LS Lgica do Sentido
ID A Ilha Deserta
OQF O que a Filosofia?
MK Mquina Kafka
Obras, coletneas ou textos de Kafka
M A Metamorfose
P O Processo
C O Castelo
NCP Na Colnia Penal
D/A O Desaparecido/ Amrica
UMR Um Mdico Rural
CP Carta ao Pai
C/F Contemplao/O Foguista
AF/C Um Artista da Fome/A Construo
EFK Essencial Franz Kafka
S Sonhos
PF Parbolas e Fragmentos
D Dirios
10
SUMRIO
1 INTRODUO 11
2 A NARRATIVA 17
2.1 Fantstica e realista? 17
2.2 Cinemtica 21
2.3 O narrador 26
2.4 Smbolo, alegoria e parbola 33
3 O MIMTICO 49
3.1 Gesto 49
3.2 Mmesis 54
3.3 Mutao/Sonho 59
3.4 Humor 64
3.5 Horror 71
4 DAS UNHEIMLICHE 76
4.1 Do Sublime ao inquietante 76
4.2 Desumano e inumano 88
4.3 Duplos e sries 97
4.4 O estranhamento de si 103
4.5 As sobras da razo 114
5 A ESTTICA POLTICA 121
5.1 Literatura a contrapelo 123
5.2 Burocracia 134
5.3 O caso K.: estranhamento e arte poltica 144
EXCURSO: FORMA E ESTILO 159
REFERNCIAS 168
11
1 INTRODUO
Toda a arte de Kafka consiste em obrigar o leitor a reler
1
A obra de Kafka nos conduz a um universo singular, no qual o
espanto e a indiferena existem simultaneamente e a multiplicidade brota
da padronizao opressiva e da relao mecnica dos homens entre si e
com o mundo.
Tentar desvelar este enigma uma tarefa j tentada por muitos
2
,
nem sempre com sucesso. Por isso, este trabalho no tem a pretenso de
encontrar respostas definitivas sobre a narrativa kafkiana, mas a ambio
talvez ainda assim desmedida - de buscar jogar certa luz sobre sua
natureza inquietante.
Para tal objetivo, elegeu-se esta inquietao, este estranhamento
3
causado por Kafka como primeiro objeto de estudo, entendendo-o como
parte de um processo histrico presente que abordado pelo escritor e
que encontra seu pice nos dias de hoje: o estranhamento de si e sua
relao com as alteraes no tecido social que o originam ou decorrem
dele.
1
CAMUS, 2004, p. 89
2
Esta riqueza crtica acumulada acaba por funcionar como uma faca de dois gumes: se
fornece amplo material de pesquisa sobre as formas de entendimento da obra, por outro
lado as discrepncias entre os diversos enfoques acabam por dificultar sobremaneira a
tentativa de aproximao em relao ao autor, visto por muitos como difcil e hermtico.
No seria de estranhar, ento, que muito do hermetismo atribudo obra de Kafka tenha
origem exatamente nesta profuso de interpretaes sobre seus textos. Escolh-lo como
foco de estudo, portanto, lidar com um problema extra: a escolha correta de uma
bibliografia, dentro do excesso de interpretaes da obra kafkiana. A seleo de autores
ser ento limitada para melhor delimitar o objeto da pesquisa.
3
Em muitos momentos os termos inquietante, inquietao, estranhamento e seus correlatos
sero usados para se referir ao mesmo processo abordado neste trabalho. Tal flutuao
semntica ocorre como efeito das diferentes tradues j dadas ao termo Unheimliche nas
edies das obras freudianas em lngua portuguesa (estranho, estranhamento, inquietante,
inquietante estranheza e at mesmo sinistro), referindo-se ao texto Das Unheimliche (1919),
crucial para o entendimento da categoria do estranhamento. Todos os termos se referem
sensao de desconforto que surge, na viso freudiana, como efeito do choque entre
familiar e inesperado.
12
Tal relao remeter-nos-ia ao conceito hegeliano de que a arte
uma das narrativas que do sustentao a uma viso de mundo
especfica
4
e localizada no tempo, permitindo o entendimento tanto do
perodo histrico no qual foi produzida como do pensamento que norteia
esse perodo. Assim, entender a esttica do estranhamento na obra de
Kafka significa averiguar a possibilidade de que, ao provocar esta
inquietao, sua narrativa retire o leitor de sua zona de conforto e o leve
observao do mundo que o cerca sob um outro prisma.
Poderamos dizer que o procedimento kafkiano de retratar o que h
de grotesco, absurdo e at tragicmico na existncia cotidiana
provoca intencionalmente no leitor um questionamento sobre o que o
cerca, operando como forma de resistncia poltica? E esta ruptura
esttica antecipa o conceito de arte como resistncia ao mundo,
abordado por autores como Theodor Adorno e Gilles Deleuze (que no
toa produziram obras lapidares sobre o autor checo
5
)? Qual a tarefa do
4
Hegel considera a Arte uma das metanarrativas, junto com a religio e a filosofia, que
expressam as necessidades e exigncias mais elevadas do Esprito e que permitem a
compreenso tanto da poca histrica onde ocorrem como do indivduo em sua poca, ou
do Esprito objetivo de uma poca. Pela arte o homem expressa sua conscincia de si e do
mundo, especialmente a lrica (prosa e poesia). Se a leitura comum sobre a proposta
hegeliana aponta para as narrativas citadas como camisas de fora sobre a compreenso
da realidade, dando a entender que tais discursos moldam nossa viso de mundo, a
inverso do conceito permite pensarmos que o mundo - a histria enquanto
presente/momento - o que direciona e produz as narrativas, e estas depois acabam por
perpetuar esta moldagem. A totalizao no se daria na ao destas narrativas, mas estas
seriam os objetos totalizados - gerados ou transformados em cdigos para o funcionamento
do humano no mundo, no momento histrico especfico de sua existncia e como forma de
ultrapassamento das condies da vida prosaica, que j em si componente da prpria
Arte: Pois o conjunto do nimo humano, com tudo o que o move no mais ntimo e o que
nele uma potncia, cada sentimento e paixo, cada interesse profundo do corao [Burst]
esta vida concreta configura a matria viva da arte e o ideal sua exposio e expresso
(HEGEL, p.186). J Adorno ver, ainda dentro de uma anlise hegeliana, a Arte como um
negativo do mundo, como espao de contestao e crtica. Se a arte est relacionada ao
esprito objetivo de uma poca, o estranhamento, enquanto caracterstica da obra kafkiana,
est relacionado ao mundo que o cerca. O prprio escritor checo observa que a literatura
tem menos a ver com histria literria do que com a coletividade a qual esta literatura se
relaciona.
5
Anotaes sobre Kafka, de Adorno, e Kafka - por uma literatura menor, de Gilles Deleuze e
Flix Guattari, a serem referidas neste trabalho, respectivamente, pelas siglas AsK e K.
Alm destas obras, sero utilizados textos de Walter Benjamin, Gunter Anders, Georg
Lukcs e outros pensadores sobre o escritor checo. Tais conceitos e ideias serviro como
referncia (citados diretamente ou no no texto) para o desenvolvimento das hipteses
deste trabalho. Alm desses autores, os textos de Modesto Carone e Susana Kampff-Lages,
13
estranhamento na obra de Kafka? Arte como emancipao do homem, um
diagnstico da desesperana ou uma fuga do real?
O primeiro passo analisar as circunstncias que deram ensejo
criao da obra kafkiana e de que forma este estranhamento opera em
seu interior.
Recorrendo a um conceito de Adorno, toda obra artstica surge em
relao prxima com a realidade histrico-social na qual foi engendrada.
Porm, a arte opera no como replicao ou afirmao desta realidade e
sim como sua negao: uma mensagem contrria que coloca sob
suspeita o idntico
6
. Nas palavras de Adorno, a priori, antes de suas
obras, a arte uma crtica da feroz seriedade que a realidade impe sobre
os seres humanos
7
.
Da mesma forma, no h para Adorno a dicotomia entre arte e
sociedade, como se estas fossem categorias independentes que exigiriam
uma mediao para sua integrao e entendimento
8
. O movimento
dialtico buscado no tem como polos opostos arte e sociedade sendo
aquela a expresso do confronto das assincronias intrnsecas a esta: no
h mediao entre arte e sociedade, h mediao da sociedade na obra
artstica
9
. A obra produzida pelo pensamento de seu tempo, mas
tambm o produz, em uma imbricao forma-contedo.
De certa forma, Adorno inverte o pensamento hegeliano: em vez de
a arte ser um discurso-sntese de um mundo, cabe a ela ser o negativo
deste mundo; ser o ponto de resistncia integrao, possuir em si um
tradutores da obra de Kafka em lngua portuguesa, tero papel importante no entendimento
sobre as peculiaridades da escrita kafkiana. A diviso do trabalho por temas tem como
objetivo facilitar a deteco ou no de uma relao entre as vises dos autores a partir
da anlise dos textos de Kafka.
6
DN, p. 148. Para Adorno, a arte tem em si elementos da prpria realidade que a gerou, da
mesma forma que abre espao para a crtica desta mesma realidade. Numa sociedade onde
a padronizao dos bens culturais produtora e produto de uma padronizao do indivduo,
a arte teria para si o papel de resgate da alteridade, da diferena, de uma nova configurao
na relao eu-outro.
7
TE, p.13
8
Mediao que pode ser entendida, neste caso, como a existncia de um terceiro elemento
entre os dois polos. Tal elemento, supostamente neutro, estabeleceria uma relao entre os
polos originais, operao realizada, por exemplo, pela Indstria Cultural como difusora e
reprodutora de formas artsticas aceitas para as massas, com certo intuito pedaggico.
9
COHN, 1986, p.20
14
enigma cuja tentativa de interpretao provoca um deslocamento da viso
habitual das coisas viso qual estamos acostumados por nossa
imerso na realidade que a produz.
Tal anlise nos levaria a questionar, em um primeiro momento, at
que ponto a inquietao presente na obra kafkiana est relacionada
inquietao existente no mundo que a cerca. Seria esta caracterstica
resultante da inter-relao entre indivduo, corpo social e realidade? Ou a
expresso, por meio da literatura, da voz de um indivduo ou grupo dentro
de um conjunto maior a sociedade?
Nas palavras do prprio Kafka, "a literatura tem menos a ver com a
histria literria do que com o povo
10
". Se um povo se expressa por meio
da literatura que cria, no de todo descabido imaginar que os elementos
presentes nesta produo literria tambm podem ser localizados na
comunidade que esta retrata
11
.
Originrio de uma famlia judia de classe mdia de Praga, Kafka teve
contato como se sabe - desde a infncia com as culturas checa (seu
local de nascimento), alem (a cultura dominante poca na Europa
Oriental) e judaica (apreendida pelas tradies familiares). Este caldeiro
cultural, assim como sua relao conflituosa e tensa com o pai
12
, seu
carter reservado e uma certa dificuldade no relacionamento com as
pessoas certamente tiveram papel na formao tanto de sua
personalidade como de seu universo textual.
Mas no possvel reduzir sua obra apenas a estes fatores. O mundo
que gera Kafka e que por ele figurado de forma sui generis mostra
dimenses mais complexas do que um simples decalque de elementos
10
Nos Dirios de Kafka, 25 de dezembro de 1911. p. 181. In K., p. 27
11
O conceito deleuzoguattariano de literatura menor pode ser utilizado na compreenso de
algumas caractersticas da produo kafkiana. O texto onde se encontra tal conceito o j
citado Kafka - por uma literatura menor, de 1975. Foram utilizadas as edies/tradues
inglesa, espanhola e brasileira do texto. Por uma questo de economia e estilstica, as
referncias colaborao entre Deleuze e Guattari sero indicadas como
deleuzoguattariano(a), pelos nomes dos autores ou simplesmente pelo nome de Deleuze,
sem demrito ao carter conjunto do trabalho dos autores.
12
Uma descrio - talvez exagerada ou dramatizada - desta relao o tema de sua
famosa Carta ao Pai, a ser abordada posteriormente.
15
externos
13
. Isto posto, deve-se proceder a partir deste ponto em direo a
um aprofundamento da compreenso sobre como tais efeitos ocorrem,
investigando aspectos estruturais da narrativa.
Neste percurso, em alguns momentos ser necessrio um foco maior
nos escritos dos analistas que compem a vastssima fortuna crtica sobre
Kafka do que em seus prprios textos. Mas exatamente desta forma, em
uma tradio dialtica
14
, que talvez seja possvel avanar na compreenso
das questes que o escritor checo suscita.
13
A fortuna crtica sobre Kafka aponta para uma mirade de interpretaes possveis de sua
obra, mas uma caracterstica em comum a estas a mensurao do efeito da realidade
europeia dos anos 10 e 20 do sculo XX sobre a escrita kafkiana. Ao considerar, por
exemplo, A Construo como o testamento literrio de Kafka, CARONE (2011, pp.111-
114) aponta de maneira direta a relao entre o medo que ronda a toca e a ascenso do
totalitarismo na Europa do perodo. O prprio texto em questo chegou a ser confiscado
pelos nazistas em uma das inmeras batidas policialescas na casa da ltima mulher de
Kafka, Dora Diamant.
14
Em todas as acepes do termo dialtica, at mesmo se pensarmos que o mtodo
deleuziano de aproximao e ressonncia com outros filsofos (o pensar com cf.
MACHADO, 2009, passim) e sua articulao de conceitos e elementos de fora da tradio
acadmica podem ser, com alguma liberdade, pensados como microdialticas elevadas ao
infinito, pois tais articulaes no caminham para uma sntese que esgote o assunto, e sim
para abrirem novos pontos de apoio (de forma positiva, mas mesmo assim com uma
mecnica interna dialgica). Em msica, a ressonncia ocorre quando um emissor de ondas
(a corda) vibra em uma frequncia fantasticamente prxima (ou igual) frequncia natural
de um instrumento. O corpo de um instrumento musical, um violo, por exemplo, uma
caixa de ressonncia. As vibraes da corda entram em ressonncia com a estrutura da
caixa de madeira que "amplifica" o som e acrescenta vrios harmnicos, dando o timbre
caracterstico do instrumento. Ou seja: parte-se de duas ou mais fontes sonoras que
interagem de forma sistmica com o objeto, gerando no apenas a amplificao da nota,
como produzindo harmnicos (frequncias mltiplas da nota principal, derivadas desta, que
de certa forma a contm. Os harmnicos compem a nota principal assim como so
realados, abafados ou criados por ela.). Na afinao de um instrumento musical, a tcnica
de batimento dos harmnicos acaba por gerar uma terceira onda resultante das duas ondas
iniciais, de modo que o par de cordas est afinado entre si quando as ondas coincidem (se
sintetizam), liberando toda a complexidade do campo harmnico o timbre do instrumento.
Analogamente, o conceito de dialtica pode ser pensado de forma no totalizante ou diversa
da sntese de opostos: para Engels, a dialtica no delimita de modo isolado os objetos,
nem os toma como algo fixo e acabado, investiga os processos, a origem e o
desenvolvimento das coisas e as insere em uma trama infinita de concatenaes e de
mtuas i nfl unci as, em que nada permanece o que era nem como e onde
exi sti a (MUSSE, 1997, p.43, gri fo nosso). J Horkheimer lembra que a dialtica
rejeita tanto o monismo como o dualismo filosficos e, nessa dupla rejeio, resiste sua
prpria imobilizao, j que a hipostasia de um dos polos ou dos momentos do processo
abdicar da prpria dialtica. Assim, o chamado multiplicidade e diferena caractersticos
de Deleuze o rizoma podem ser vistos, de forma semelhante, como uma dialtica da
Diferena.
16
Assim, o objeto principal deste estudo averiguar se a obra de
Kafka, por criar um espao de estranhamento, possui uma dimenso de
resistncia poltica, assim como localizar quais elementos da obra
efetuariam tal processo. Para tal investigao, estruturamos este percurso
em quatro eixos principais a serem mapeados pela anlise da produo do
autor checo: a anlise da narrativa kafkiana, o conceito de mmesis, o
conceito de estranhamento (unheimlich
15
) e a relao entre esttica e
politica. Ser feito recurso livre produo kafkiana, com destaque para a
trade O Processo, O Castelo e A Metamorfose, sem prejuzo de outros
contos, novelas, cartas e anotaes dos dirios do escritor.
15
Cf. nota 3 desta introduo.
17
2 A NARRATIVA
O estranhamento provocado pela obra de Kafka tem como primeiro
motor a prpria forma da escrita do autor: perodos longos, entremeados
por vrgulas constantes e compostos por um lxico limitado, que
construdo ao se tomar ao p da letra metforas fossilizadas da
linguagem corrente
16
. A seleo dos detalhes
17
por Kafka coloca em
primeiro plano aquilo que essencial, gerando um espao entre o que
descrito e o como algo descrito. Lukcs ver o mundo de Kafka como a
alegoria de um nada transcendente
18
: a pergunta fundamental saber a
que este nada se refere e se h, na estrutura narrativa kafkiana, algum
indcio para localizar esta resposta.
2.1 Fantstica e realista?
A poca que d suporte obra de Kafka um tempo no qual
esperanas e angstias conhecem novos limites: de Marx a Nietzsche, da
Comuna de Paris aos germes do fascismo, o mundo que antecede o
escritor de Praga o tempo das revolues, da ascenso burguesa, do
surgimento da esquerda e da vida nas metrpoles.
Tais mudanas nas conformaes sociais trazem uma nova
sociabilidade, baseada nas distncias cada vez maiores entre os
componentes desta sociedade apesar de sua maior proximidade fsica: o
trabalho e o capital se tornam elementos definidores da prpria
subjetividade, numa espcie de pragmatismo das relaes sociais.
Tambm uma poca de experimentaes artsticas e busca de
novas linguagens, como o dadasmo, o surrealismo, o surgimento do
16
CARONE, 2011. In EFK., p.222
17
LUCAKS, 1969, p. 84
18
ibid., p. 86
18
cinema e, no campo da literatura, o que se convencionou chamar de
literatura especulativa
19
ou fantstica (que tem entre seus expoentes
nomes como Poe e Hoffmann), que soma elementos do arcaico antigos
medos e sonhos ao que o novo tem de mais promissor e assustador
20
.
Narrativas cujo centro abriga a tentativa de criar realidades alternativas
que vm relativizar a nossa prpria ao especular sobre a realidade,
fornecendo paradigmas que relativizam as compreenses estabelecidas
21
.
Se admitirmos com srias ressalvas
22
- a possibilidade de perfilar
Kafka no terreno da literatura fantstica, que elementos de sua obra nos
possibilitariam tal aproximao? Uma das caractersticas da literatura
fantstica est no fato de que o que ela descreve, quando confrontado
com nossa realidade, no pode ser explicado pelas leis aparentemente
constantes que regem o real. Um evento fantstico aquele no qual h
dvidas se sua explicao se d de forma lgica ou no. Para TODOROV,
H um fenmeno estranho que se pode explicar de duas
maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural.
A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito
fantstico
23
.
Todorov observa, porm, que a histria fantstica no deve soar
como metfora ou alegoria. Deve haver uma predisposio do leitor para
negar a simples analogia e hesitar sobre a realidade do fato. Na obra
19
CAUSO, 2003, p.32.
20
No caso de Hoffmann, por exemplo, cujo livro O Homem de Areia analisado por Freud
no j citado Das Unheimliche (O inquietante), a antiga histria da personagem que
assustava as crianas que no queriam dormir amalgamada com o fascnio pela
tecnologia, na possibilidade da criao de um andride.
21
CAUSO, 2003, loc.cit.
22
A problemtica do fantstico na obra de Kafka no nova e, de certa forma, se encontra
superada. Todavia, o manejo de elementos do fantstico em suas obras pode ser
interpretado como um procedimento do autor para mostrar o real. A discusso fantstico
versus realismo j guardaria, em si, indcios da anlise do estranhamento como dimenso
esttica e poltica da obra de Kafka.
23
TODOROV, 2008, p. 31
19
kafkiana, a naturalidade com a qual o absurdo narrado colocaria o
leitor neste ponto de hesitao.
Se partimos de pessoas que viram insetos ou animais falantes, em
uma histria como O Veredicto este hbrido entre o absurdo e o dito
natural est presente em uma situao quase cotidiana, na qual uma
simples comunicao o estopim para um conflito brutal entre Georg e
seu pai.
Neste conto, o amigo de So Petersburgo, cuja existncia colocada
inicialmente em dvida pelo pai, acaba por ser retratado como um tipo de
observador onisciente de tudo que acontece na vida do jovem Georg, pois
o pai o informa sobre todas as atividades condenveis realizadas pelo
filho, como casar-se sem autorizao, negligenciar o amigo e desrespeitar
a autoridade do pai, alm de tomar-lhe a frente nos negcios. Nas
palavras do pai de Georg,
Como voc hoje me divertiu quando veio perguntar se devia
escrever ao seu amigo sobre o noivado! Ele sabe de tudo,
jovem estpido, ele sabe de tudo! Eu escrevi a ele porque
voc se esqueceu de me tirar o material para escrever! por
isso que h anos ele no vem, ele sabe de tudo cem vezes
mais do que voc mesmo, amassa sem abrir as suas cartas
na mo esquerda enquanto com a direita segura as minhas
diante dos olhos para ler.
24
O desenlace, no qual o pai condena o filho a morrer afogado
sentena cumprida obedientemente por este - leva o leitor ao
questionamento sobre as razes da sentena: o drama familiar, elemento
presente na literatura, evolui para algo que no esperado e mesmo
que pensemos que Georg tem seu destino selado a partir do momento em
que recebe a condenao, sobra a dvida sobre qual a motivao real
tanto do pai como do filho no caso.
No se trata de simplesmente aplicarmos uma analogia edpica,
visto que a me j est morta, mas de talvez levar ao extremo a
24
V. p. 25
20
possibilidade do conflito: o desenlace esperado ocorre, mas de uma forma
inesperada. O fantstico na narrativa chama a ateno, segundo Carone,
pela crescente deformao da realidade desde o momento em que Georg
sai do seu quarto e entra no quarto escuro do pai. O estranhamento
consiste aqui na integrao do que no plausvel num acontecimento
cotidiano descrito com aparente naturalidade
25
.
Paradoxalmente, tal recurso imagtica do fantstico o que daria
obra de Kafka seu carter mais realista. Devemos entender realismo,
aqui, no como mmesis o que ser abordado posteriormente mas
como o que se mostra a partir da no-identificao, da fratura do
aparente que tomado como real. Evidentemente no se trata do
realismo dos grandes mestres do sculo XIX
26
, relembra Carone. Para
ele, o termo entendido como o mostrar no prprio corpo de obras-
primas como esta, as coisas como elas so e as coisas como elas so
percebidas pelo olhar alienado.
27
.
A observao de Benjamin sobre a obra de Picasso que registraria
no as nossas formas, mas nossas deformidades
28
aplicvel tambm
ao texto kafkiano. Por meio da imagtica do fantstico surge uma
realidade qual, em circunstncias normais, nos recusamos a enxergar.
como se muita coisa tivesse sido negligenciada na defesa
de nossa ptria. At ento no havamos nos importado com
isso, entregues como estvamos ao nosso trabalho; mas os
acontecimentos dos ltimos tempos nos causam
preocupaes
29
.
Outra caracterstica do fantstico o carter amedrontador no
seria, em um primeiro momento, plenamente aplicvel ao estranho
inquietante: o estranhamento no produz pnico, mas um sentimento de
25
CARONE, 2009, p.49
26
ibid., p. 45
27
Em sua anlise sobre o conto Na Galeria, que ser abordado na sequncia. Ibid., loc.cit.
28
Ibid., p.37
29
UMR, p. 24
21
difcil definio (no capturvel em sua totalidade pelos sentidos).
Todavia, o conceito freudiano sobre o estranhamento opera uma clivagem
entre o medo de algo no-familiar e o estranhamento propriamente dito:
O estranho aquela categoria do assustador que remete ao que
conhecido, de velho, e h muito familiar
30
. O temor causado pelo
ressurgimento de algo familiar que foi reprimido o que provoca a
estranheza. Ou seja, o estranhamento surge de algo que remete
diretamente realidade ou que remete impresso emocional de
alguma ocorrncia real e familiar
31
.
2.2 Cinemtica
O desvelar desta dimenso oculta do real pode ser investigado
tambm pela mudana na relao estabelecida entre a obra e o seu
receptor (ou pblico). Se em um teatro assistimos confortavelmente a
tragdia que se descortina diante de nossos olhos - contemplando em
segurana a loucura de Hamlet ou Lear - e em um livro nossa
imaginao nos permite a identificao ou projeo no narrador - seja
este o protagonista da histria ou no - face aos textos do escritor checo
podemos dizer que sua narrativa tem um qu de flmica
32
. Suas
descries pormenorizadas assemelham-se a cenas pois permitem uma
visualizao completa do que ocorre no local e dos personagens que o
compem, mas interditam o movimento de identificao do espectador
por meio do recurso ao inesperado. O inverossmil descrito de forma
absolutamente verossmil, com riqueza de detalhes.
30
FREUD, 1985, p. 87
31
Podemos dizer que h uma espcie de parentesco entre elementos do fantstico
contemporneo, conforme definido por SARTRE (2006, passim), e as caractersticas do
estranhamento freudiano, notadamente no mecanismo de deslocamento, que retira o fato
da normalidade ao deform-lo, ao transform-lo, sem, no entanto, tirar-lhe a caracterstica
primordial (S, 2003. p. 69)
32
O que coerente com a atmosfera cultural de sua poca, como referenciado
anteriormente. O cinema dava passos importantes em seu desenvolvimento e consolidao
como linguagem artstica poca de Kafka.
22
Percorri o ptio mais uma vez; no via nenhuma
possibilidade; distrado, atormentado, bati com o p na frgil
porta da pocilga que j no era usada fazia anos. Ela se
abriu, foi e voltou, estalando nos gonzos. Veio de dentro um
bafo quente e um cheiro como que de cavalos. Uma fosca
lanterna de curral oscilava pendente de uma corda. Um
homem acocorado no cmodo baixo mostrou o rosto aberto
e de olhos azuis.
- Devo atrelar? perguntou, rastejando de quatro para
fora.
Eu no soube o que dizer e me inclinei s para ver o que
ainda havia na pocilga. A criada estava ao meu lado.
- A gente no sabe as coisas que tem armazenadas na
prpria casa disse ela e ns dois rimos.
- Ol irmo, ol irm! bradou o cavalario e dois
cavalos, possantes animais de flancos fortes, as pernas
coladas ao corpo, baixando as cabeas bem formadas como
se fossem camelos, saram um atrs do outro, impelidos s
pela fora dos movimentos do tronco, atravs da abertura
da porta que eles ocupavam por completo.
Mas logo ficaram em p, altos sobre as pernas, o corpo
soltando um vapor denso.
33
A ao se passa frente do leitor, que como um coadjuvante na
histria: est ao lado das personagens, mas no tem poder de ao sobre
o desenrolar da narrativa, ocasionando um choque disruptivo em relao
identificao que normalmente ocorre entre leitor e protagonista.
Em A Metamorfose, ao sabermos que na sala ao lado Grete e os pais
de Gregor conversam, h um desejo de querer saber o que se passa,
exatamente como Samsa expressa, mas permanece uma distncia entre o
que ocorre com ele e conosco.
Mas ao passo que no podia tomar conhecimento imediato de
qualquer novidade, Gregor escutava muita coisa vinda dos
quartos vizinhos, e onde quer que ouvisse vozes corria logo
respectiva porta e se espremia nela com o corpo todo.
Especialmente nos primeiros tempos no havia conversa que
de algum modo no tratasse dele, mesmo em segredo
34
.
33
UMR, pp. 13-14. A descrio do que ocorre profundamente pormenorizada, mesmo que
o fato descrito seja em si inverossmil.
34
M, pp. 39-40
23
Podemos at, de certa forma, dizer que ao abrir a porta e rever
exatamente a mesma situao de castigo dos guardas Franz e Willem em
O Processo, Josef K. nos brinda com um flashback, no para que nosso
entendimento sobre o que ocorre se aprofunde, mas para mostrar que h
algo profundamente perturbador nesta repetio o que no nos deixa
sair completamente ilesos da situao.
Isso no significa que Kafka tenha adaptado sua prosa narrativa
da cinematografia nascente. Nas correspondncias entre Kafka e Max
Brod, assim como entre o autor e sua noiva Felice, os comentrios sobre o
cinema mostram a posio ambgua de Kafka em relao nova arte e as
transformaes que ocorriam nos espaos urbanos e sociais
35
.
A correspondncia deixa clara a convico de Kafka sobre a
necessidade de visitas mais demoradas e numerosas s salas de projeo
para assimilar o que acontecia. Mas a discordncia de vises entre Brod e
Kafka (o primeiro considera o cinema uma extenso da literatura e o
segundo criticava o carter fugidio da imagem, pois os filmes ofereciam
agitao em contraste com a calma contemplativa que admirava)
35
Tal ambiguidade em Kafka apenas reforaria, na viso deleuziana, o carter poltico de
sua literatura, enquanto imediatamente inserida no locus social que a suporta. O cinema,
arte nascente poca e ainda em processo de definio de seu pblico, visto pelo filsofo
francs como portador de uma dupla mensagem, notadamente em sua intencionalidade
poltica: se no cinema poltico tradicional o pblico j estava l (DELEUZE, 1989. p. 216),
ou seja, o espectador (sozinho ou coletivo) se reconhecia na obra, que tinha como objetivo
a representao/captura de algo que j estava latente ou escancarado nas massas ou no
povo - o cinema poltico moderno se dirige a um pblico ainda por vir, que ainda deve
construir suas identidades, que busca forjar uma coletividade no por laos com o passado,
mas abraando o futuro. Analogamente, a literatura de Kafka se dirigiria a um povo ainda
no detectado, imerso na coletividade. Seria um processo de inveno deste novo devir-
comunidade (o que nos remete a Blanchot e a Agambem) que irrompe pelas brechas do
grupo maior ou consagrado. No um campo de representao de um povo ou indivduo,
mas de sua criao, assumindo que tanto o projeto coletivista como o individualista esto
destinados ao fracasso e incompletude.
24
tambm no significa que a stima arte no causou algum impacto sobre
o escritor
36
.
A similitude entre a narrativa kafkiana e os planos cinematogrficos
em alguns momentos mostra que a efervescncia cultural da poca em
Praga teve seu papel como elemento de composio na prosa do autor;
mas importante lembrar que no foram os escritores do sculo XIX e
incio do XX que adaptaram sua linguagem do cinema, e sim o inverso:
os diretores do cinema que usam tcnicas da literatura de fico
37
.
Em Kafka, no ocorre uma simples equivalncia da alternncia
literria entre primeira e terceira pessoas (intercalando os dilogos do
protagonista com o pensamento do narrador) e a alternncia entre a
cmera subjetiva (a que emula o olhar da personagem) e a cmera
objetiva (a que nos d o plano geral): uma inverso como a operada no
conto Na Galeria
38
, em que um nico acontecimento narrado de duas
36
Segundo ZISCHLER (2005, passim), o romance incompleto Ricardo e Samuel, escrito a
quatro mos por Kafka e Brod, possui referncias diretas, do prprio punho de Kafka, a
cenas de filmes assistidos por ele, como A escrava branca, de 1911.
37
ECO, 1994, p. 77
38
Segue-se na ntegra o conto Na Galeria: Se alguma amazona frgil e tsica fosse
impelida meses sem interrupo ao redor do picadeiro sobre o cavalo oscilante diante de um
pblico infatigvel pelo diretor de circo impiedoso e de chicote na mo, sibilando em cima do
cavalo, atirando beijos, equilibrando-se na cintura, e se esse espetculo prosseguisse pelo
futuro que se vai abrindo frente sempre cinzento sob o bramido incessante da orquestra e
dos ventiladores, acompanhado pelo aplauso que se esvai e outra vez se avoluma das
mos que na verdade so martelos a vapor talvez ento um jovem espectador da galeria
descesse s pressas a longa escada atravs de todas as filas se arrojasse no picadeiro e
bradasse o basta! em meio s fanfarras da orquestra sempre pronta a se adaptar s
situaes.
Mas uma vez que no assim, uma bela dama em branco e vermelho entra voando por
entre as cortinas que os orgulhosos criados de libr abrem diante dela; o diretor, que busca
abnegadamente seus olhos, respira voltado para ela numa postura de animal fiel; ergue-a
cauteloso sobre o alazo como se ela fosse a neta amada acima de tudo que parte para
uma viagem perigosa; no consegue se decidir a dar o sinal com o chicote; afinal
dominando-se ele o d com um estalo; corre de boca aberta ao lado do cavalo; segue com o
olhar agudo os saltos de amazona; mal pode entender sua destreza; procura adverti-la com
exclamaes em ingls; furioso exorta os palafreneiros que seguram os arcos ateno
mais minuciosa; as mos levantadas, implora orquestra para que faa silncio antes do
grande salto mortal; finalmente ala a pequena do cavalo trmulo, beija-a nas duas faces e
no considera suficiente nenhuma homenagem do pblico; enquanto ela prpria, sustentada
por ele, na ponta dos ps, de braos estendidos, a cabecinha inclinada para trs, quer
partilhar sua felicidade com o circo inteiro uma vez que assim o espectador da galeria
apoia o rosto sobre o parapeito e, afundando na marcha final como num sonho pesado,
chora sem o saber. UMR, pp.22-23
25
formas distintas uma como desejo/esperana e outra como realidade
objetiva remete a um recurso de quebra de narrativa, ou
desnarrao
39
.
Se fosse possvel relacionar a narrativa kafkiana ao foco de uma
cmera cinematogrfica, mais fcil conceber tal relao como se a
cmera nosso olhar - estivesse logo atrs do protagonista e
39
Conforme SILVA (2008, passim), a desnarrao um termo que designa uma operao
de contestao voluntria da narrativa. Com ela se tem em vista acabar com as diversas
iluses do espectador: iluso realista e referencial da narrativa como reflexo do mundo real;
iluso da continuidade lgica pautada pela causalidade; iluso de transparncia, da
neutralidade da narrativa. Ao analisar o filme Cidade dos Sonhos (Mullholland Drive), de
2001, dirigido por David Lynch, Silva considera que uma narrativa fechada, com comeo,
meio e fim, na perspectiva de Lynch, apenas ilude que capta a realidade, pois a realidade
em estado bruto no captada. Com isso, a opo pela desnarrao. Com ela, cabe
imaginao dar sentido ao lacunar, ao impreciso. Lynch refora que narrar de algum modo
apelar para a imaginao. A desnarrao quebra o hbito de explicaes fechadas pelas
imagens. Para ele, como na vida, a narrativa fechada ilude que se possa explicar o que est
por trs dos fatos brutos. (SILVA, pp. 1-2) A diferena entre a viso idealizada, ou onrica,
do fato e a descrio da realidade objetiva, caracterizadas respectivamente pelo carter
condicional do primeiro trecho e indicativo no segundo trecho, so para CARONE (2009,
passim) a indicao do realismo da prosa de Kafka, entendendo este termo como o mostrar,
no prprio corpo de obras-primas como esta, as coisas como elas so e as coisas como
elas so percebidas pelo olhar alienado, conforme j dito. Para ele, se o leitor capaz de
ver no mundo do circo um smile do prprio mundo em que vive, ento a realidade
propriamente dita do primeiro pargrafo, em comparao com a realidade aparente do
segundo, expe sibilinamente a ferida da alienao contempornea (Ibid., p. 44). Porm as
causas desta ferida ou no so percebidas pelo pblico (os outros espectadores alheios ao
que se passa, mas que so o real ponto de observao da histria) ou so empurradas para
um ponto em que parecem irreais (o modo subjuntivo), a despeito de sua existncia real. A
quebra narrativa entre as imagens descritas abre o espao para que a nossa prpria
imaginao promova o desencantamento da iluso que o primeiro trecho evoca, mostrando-
o como o real. Se todos na plateia enxergam a bela dama no cavalo, o jovem espectador
da galeria o nico que v o drama da proletria. A narrativa dita realista e fechada - o
que cria a iluso aos olhos do pblico, ainda conforme Carone. O que aproxima Lynch de
Kafka, ento, a capacidade de desvelar o que est escondido a partir de um universo de
imagens corriqueiras ou gastas: no conto, enquanto todos veem a bailarina e enxergam o
clich positivo da situao, o espectador anseia por interromper o drama que aparentemente
s ele enxerga. Em Lynch, o mundo aparentemente perfeito que cerca a protagonista
revelado como falso e todo o investimento emocional/libidinal dela se mostra vo. A partir
das imagens mais comuns, do cotidiano ou do idealizado, irrompe a constatao de que
aquilo no exatamente como sua aparncia nos diz, nos causando o estranhamento.
Assim, a arte autntica conhece a expressividade do inexpressivo e sabe que s haver
experincia do real quando perdermos o medo de entrarmos em um teatro de iluses
(SAFATLE, 2002, p.2). A prpria linguagem utilizada possibilita este desvelamento: se Lynch
se utiliza de clichs de narrativa em toda a primeira parte do filme para desmont-los
radicalmente a partir do ponto de inverso na cena do Club Silencio, o alemo protocolar
esgrimido por Kafka uma linguagem burocrtica, comum, um tipo de clich da dita lngua
maior acaba por revelar significados mais profundos a partir do momento em que o leitor
exposto obra.
26
espissemos por cima do ombro deste
40
, numa viso nem objetiva nem
subjetiva. E nosso nico poder nesta situao, por no sermos
protagonistas nem simples espectadores, o de estranharmos as imagens
que surgem em nossa mente a partir disto
41
.
2.3 O narrador
O sentimento de abandono do indivduo perante a burocracia e as
instituies, vistas como confusas e opacas, tido por muitos como uma
caracterstica quase pessoal do autor checo visvel em suas relaes
pessoais e de trabalho, por exemplo. Porm, pode ser interpretado
tambm como um efeito resultante de uma profunda modificao que
Kafka promove na forma de se contar uma histria: a reconfigurao da
posio do narrador que, agora despido do poder de conduo da histria,
no olha para os eventos com a segurana da distncia existente no
romance tradicional. Para Carone,
O narrador inventado por Kafka tem muito pouco a ver com
o narrador do romance ou novela tradicional, que como
40
Conforme ser aprofundado no tpico O estranhamento de si. CARONE (2011) observa a
mesma similitude de planos de viso em relao ao narrador de A Metamorfose, que se
comporta como uma cmera cinematogrfica na cabea do protagonista (EFK., p 214)
41
A observao feita por Deleuze em relao verso cinematogrfica de O Processo
dirigida por Orson Welles remete-nos tambm questo dos pontos de observao de
uma narrativa. A relao dita arquitetural na construo narrativa de Kafka (visvel nas
proximidades e distncias de A Muralha da China ou O Castelo e nas contiguidades e
amplitudes de O Processo) comparada por Deleuze composio das cenas por Welles,
construda pelo uso de plonges e contre-plonges (de cima para baixo e de baixo para
cima, respectivamente) e grandes planos abertos, com ampla profundidade de campo e
tomadas feitas com o uso de lente grande angular. A cena do corredor que leva ao quarto
de Titorelli, dos longnquos e contiguidades repentinas (K., p.112) proporciona a percepo
deste deslocamento constante no ponto de observao tanto na cena do filme como no livro.
Mas a anlise deleuziana da construo arquitetural existente dos textos de Kafka tambm
nos remete, de forma inusitada, a um paralelo com o conceito de runa em Benjamin e
Adorno. Quando Deleuze aponta que Kafka teria sido um dos primeiros a tomar conscincia
do problema histrico da penetrao mtua das burocracias do passado e do futuro, dos
arcasmos com funo atual e as neoformaes (K., p.110), possvel vermos isso como a
busca por analisar de que forma os elementos do passado ainda se mostram operantes no
presente, seja como denncia ou crtica; ou ainda como eco ou rememorao.
27
sabemos se caracteriza sobretudo pela oniscincia. Isso quer
dizer que o narrador tradicional, pr-kafkiano, no s tem
acesso imediato intimidade mais profunda dos seus
personagens como tambm dispe de uma viso panormica
do conjunto da histria que est narrando - embora se
comporte como se estivesse contando esta histria sem ter
conhecimento prvio de seus desdobramentos ou do seu
desfecho
42
Um efeito singular que isto provoca o de nos empurrar a uma
posio no mundo descrito, sem que ao mesmo tempo faamos parte
dele: um deslocamento de ponto de vista em relao narrativa-padro
da literatura, notadamente a do romance. O quadro que as palavras
formam, em seu conjunto, se encaminha em direo a um ponto que
parece estar fora da relao entre o que est enunciado (ou escrito), o
sujeito de enunciao (aquele que diz o que ocorre) e o sujeito do
enunciado (aquele de quem se diz algo). Esta experincia de
deslocamento coloca o observador e o narrador dentro da cena, no como
o centro dela, mas sim desconhecendo causas e descobrindo
consequncias enquanto o processo se desenrola: existem na obra e
atravs dela, em uma posio incerta, to jogados dentro das situaes
quanto as personagens.
Isto gera a necessidade de aceitarmos o que dito na narrativa
como verdadeiro - no por que tenhamos certeza disso, mas sim por no
termos nenhum referencial anterior que ateste a validade ou no do que
dito. No possvel termos certeza de que algum certamente havia
caluniado Josef K, pois uma manh ele foi detido sem ter feito mal
algum
43
. Porm isto nos dado a priori e no h outra soluo a no ser
aceitar esta premissa como verossmil, normal at, assim como a de que
um homem possa acordar, um belo dia, transformado em inseto:
Em Kafka, o inquietante no so os objetos nem as
ocorrncias, mas o fato de que as criaturas reagem a elas
42
CARONE, 2011, p.16.
43
Frase de abertura de O Processo
28
descontraidamente, como se estivessem diante de objetos e
acontecimentos normais. No a circunstncia de Gregor
Samsa acordar de manh transformado em barata, mas o
fato de no ver nisso nada de surpreendente - a trivialidade
do grotesco - que torna a leitura aterrorizante. Esse
princpio, que se poderia chamar de princpio da exploso
negativa, consiste em no fazer soar sequer um pianssimo
onde caberia um fortssimo: o mundo simplesmente
conserva inalterada a intensidade do som. De fato, nada
mais espantoso do que a fleuma e a inocncia com que
Kafka entra nas estrias mais incrveis.
44
De certa maneira, isso nos coloca em posio de risco perante o
real: assumindo-se que o estranhamento surge daquilo que nos mais
cotidiano ou familiar
45
, podemos desloc-lo para alm da obra, em direo
ao que nos cerca com a diferena de que no possvel usar o recurso
suspenso da descrena
46
como sada conciliatria.
A ambiguidade que experimentamos ao ver ambientes familiares e
ao mesmo tempo aterrorizantes nas obras acabaria por nos levar a
perceber relaes similares nos ambientes que nos cercam no mundo?
No estranho que isso ocorra. Se em vez de seguirmos o que dito
pelo sujeito de enunciao (tradicionalmente o narrador que produz o
sentido do texto) voltarmos nosso foco para o que enunciado, no
identificaramos o narrador como nossa contraparte na obra, mas aquilo
que descrito seria identificado com o que nos cerca.
Poderamos arriscar um paradoxo e dizer que a obra de
Kafka, o maior narrador moderno, segundo Benjamin,
representa uma experincia nica: a da perda da
experincia, da desagregao da tradio e do
desaparecimento do sentido primordial. Kafka conta-nos com
uma mincia extrema, at mesmo com certo humor, ou seja,
com uma dose de jovialidade (Heiterkeit), que no temos
44
ANDERS, 2007, pp 19-20
45
Conforme ser visto no captulo 4.1
46
Entende-se, aqui, suspenso da descrena como a aceitao das premissas de uma
obra de fico como verdadeiras, mesmo que sejam por demais fantsticas ou
contraditrias. Por exemplo, para que possamos entrar no universo dos contos infantis e
frui-lo necessrio aceitarmos a existncia de animais falantes, casas com pernas de
avestruz, unicrnios e drages.
29
nenhuma mensagem definitiva para transmitir, que no existe
mais uma totalidade de sentidos, mas somente trechos de
histrias e de sonhos. Fragmentos esparsos que falam do fim
da identidade do sujeito e da univocidade da palavra,
indubitavelmente uma ameaa de destruio, mas tambm
e ao mesmo tempo esperana e possibilidade de novas
significaes
47
Aquilo que inquietante pode ser entendido como o que provoca a
revelao de uma diferena, uma fratura no tecido aparentemente coeso
no qual estamos, permitindo que enxerguemos para alm dele. Este
processo pressupe ter que lidar com um outro, uma alteridade.
possvel ento estabelecer paralelos entre a narrativa kafkiana e este
processo, pois ambos no consistem em isolamento ou aceitao e sim
em um confronto do qual surge uma viso deste real
48
.
47
GAGNEBIN, in BENJAMIN, 1985, p. 18. A questo da dissoluo da identidade do sujeito
na obra de Kafka ser abordada no transcorrer do trabalho, notadamente no tpico
Desumano e Inumano.
48
A pergunta aqui pode ser resumida em definirmos qual ou quem esse outro presente na
literatura de Kafka. Uma abordagem possvel e que proporciona um interessante debate
est contida no conceito de literatura menor, aplicado por Deleuze e Guattari obra de
Kafka. Se, conforme os autores franceses, maior, ou majoritrio, se refere a processos
relacionados criao de padres fixos e gerais, que funcionam como regras para o todo, o
menor ou minoritrio define aquilo que se desvia do padro e que se volta contra a
configurao destes padres abstratos que caracterizam o maior. Para Deleuze, o maior,
exatamente por esta caracterizao, se refere a um nada ou ningum, pois induz o mundo
a se ajustar a um modelo que no pode existir de forma concreta. Em contrapartida, o
menor encontrado - ou se expressa - nos momentos concretos em que nos desviamos
deste padro, sendo um tipo de enunciao coletiva surgida da constatao inicial de que,
no modelo maior, esta homogeneidade no existe na realidade: Pois a maioria, na medida
em que analiticamente compreendida no padro abstrato, no nunca algum, sempre
Ningum Ulisses , ao passo que a minoria o devir de todo o mundo, seu devir
potencial por desviar do modelo. H um "fato" majoritrio, mas o fato analtico de Ningum
que se ope ao devir-minoritrio de todo o mundo. por isso que devemos distinguir: o
majoritrio como sistema homogneo e constante, as minorias como subsistemas, e o
minoritrio como devir potencial e criado, criativo. (MP, v2. p.105). Logo, o outro em
questo poderia ser tanto a constatao de que tais modelos maiores ou molares so vazios
o que nos colocaria frente dificuldade do reconhecimento de si dentro do modelo-padro
do Eu na sociedade como tambm que o menor/minoritrio pode ser entendido como um
campo de experimentao, expresso e criatividade para aqueles que, espremidos por
todos os lados por modelos maiores, no encontrariam forma de delimitar um espao onde
poderiam ser parte de algo maior j dado (o povo). A obra de Kafka, assim, contm tanto
aquilo que a fortuna crtica chama de abandono de si como a fora de vocalizar um eu
feito a partir de uma coletividade que ainda no encontrou espao para se pronunciar.
Como, na viso deleuziana, o real nunca est terminado, sendo uma srie perptua e
mutvel de interpretaes e foras que se entrecruzam e se produzem simultaneamente, a
30
O efeito de estranhamento torna possvel tratar o ato de viver e a
relao com o semelhante como um problema filosfico: o ver-se ou
colocar-se em uma posio que no a sua exige uma reflexo sobre a
natureza deste outro. Esta dialtica viver/pensar se processa em um
movimento entre o sujeito e o mundo que o cerca: aquilo que lhe causa o
estranhamento incita perguntas sobre o que antes parecia banal.
Muitos sistemas filosficos e de pensamento colocam as respostas a
serem obtidas como o mais importante, mas a prosa de Kafka mostra no
a irrelevncia da pergunta, mas sim a impreciso ou ausncia de
respostas. O que ele descreve , ao mesmo tempo, prximo e distante,
familiar e impossvel
49
. Uma narrativa que expe, a cada dilogo, a
incomunicabilidade entre o Eu e o Outro, no porque os personagens
sejam impedidos de se expressar - mesmo que seja por guinchos ou sons
intraduzveis, como Gregor Samsa - mas sim pela incapacidade de se
fazerem entender. Assim, evidencia-se a incompreensibilidade entre os
polos dessa dialtica.
Mas esta dificuldade de comunicao no se d em relao a uma
categoria transcendental, porm ao que contingente ou quotidiano.
obra kafkiana acaba por operar diretamente neste processo/mecanismo por ter a
capacidade de inveno deste Outro. Kafka no escreve em seu nome, e sim em nome dos
judeus checos de Praga do incio do sculo XX. No limite, a obra dele a obra deles. O
autor da literatura menor no , estritamente, um sujeito, mas um evento ou singularidade,
um foco de criao composto. (THOBURN, 2003, p.51). A letra K no , ento, a inicial do
nome do escritor, mas a deste sujeito de enunciao que ganha voz por meio dele - um
sujeito composto e mutvel nas reconfiguraes que este grupo experimenta em sua
relao com os demais grupos e com os fatores molares. O autor no um gnio inatingvel
nem sua obra um produto autnomo em relao ao ambiente e comunidade. O narrador
est to imerso nas situaes quanto o protagonista, visto que no h separao entre
forma da obra, significado e sujeitos de enunciado e enunciao, o que sugere uma
aproximao com a indissociabilidade entre forma, contedo e sociedade na obra de arte,
voltando ao terreno adorniano.
49
De acordo com GAGNEBIN (2007, p.68), a dialtica prximo-distante contm em si a
relao entre distncia e inatingibilidade/independncia, associada diretamente ao Eros e ao
transcendente. O prximo est ligado percepo do sensvel. Se as mudanas nesta
relao dialtica ocorridas na sociedade alteram a dinmica entre os polos deste sistema, a
mudana na configurao do narrador promovida por Kafka leva a um ponto alm da
simples aproximao entre a obra de arte e sua imagem aurtica, dessacralizando-a. O
autor checo cria novas relaes aurticas a partir de uma aproximao excessiva com o
sensvel, com o real, o que vai ao encontro da ideia de aproximao entre o sublime e o
prosaico.
31
nas pequenas observaes e frases de cada personagem que surgem as
imagens mais irreais e simultaneamente mais possveis. Pela proximidade
inquietante, o pasmo e o assombro se transmutam em incmodos.
Kafka no se conforma ao mundo, no aceita como inevitvel o que
descreve. Neste sentido, sua prosa no est carregada de fatalismo, mas
de perplexidade diante de situaes nas quais o protagonista de suas
histrias colocado sua revelia e, enquanto est mergulhado nelas,
tanto ele como o leitor compartilham a sensao de no pertencerem
quele universo, como se tudo transcorresse em uma dimenso
inverossmil. Um exemplo a segurana e at o pouco caso de Josef K.
em relao ao processo: ele no cr, em muitos momentos, que aquilo
tenha a ver com ele, tanto que a partir de um determinado instante sua
preocupao passa a ser no mais saber do que acusado e sim quem o
acusa. Porm, o processo continua a transcorrer at seu fim anunciado,
com K. sendo executado como um co.
Analogamente, o homem contempla o mundo que o cerca - e este
mundo, para ele, similar a um sonho, no qual no h relao de causa e
consequncia entre os atos. O indivduo dominado por aquilo que ele
mesmo cria. Mas a vida continua, independentemente dele tomar
conscincia disso ou no. O fato de Samsa ou o agrimensor K., os
protagonistas, morrerem no significa o fim das obras A Metamorfose ou
O Castelo; haja vista que a histria continua, inclusive para o leitor: uma
bela metfora para o fato de que o mundo continua a existir sem ns.
As distncias existentes ou construdas por Kafka em relao ao
mundo que o cerca - e a reconfigurao da relao entre autor-obra-leitor
que decorre disso - fascinam ao mesmo tempo que provocam um
profundo incmodo, em um ponto externo ao texto e ao leitor, mas que se
d no mundo
50
. A sobriedade e a literalidade de Kafka ao descrever tais
50
Conforme SCHOLLHAMMER (2002, pp. 59-70), nas leituras de Kafka feitas pelo escritor
e terico francs Maurice Blanchot, nas quais Deleuze e Guattari se inspiraram diretamente,
esta renncia se d em primeiro lugar como uma passagem do eu ao ele. Acontece pela
primeira vez de maneira notvel no conto O Veredito, e no s expressa o esvaziamento do
ntimo eu numa terceira pessoa ele, mas tambm a emergncia de um neutro que se
32
cenrios provocam o estranhamento no leitor em decorrncia da
dificuldade em apreender o sentido do que narrado, assim como da
sensao de deslocamento em relao ao que se passa na narrativa. Ao
mesmo tempo, o estranhamento - em sua acepo filosfica - surge a
partir da leitura, pois nos descobrimos em uma posio na qual
imperativo realizar o questionamento, anloga ao Verfremdungseffekt
buscado por Brecht, pois assim como nas peas deste, o espectador (o
leitor) impelido a assumir uma posio crtica e de certo distanciamento
em relao ao que presencia
51
.
Mas se Brecht d ao espectador o poder de julgar a ao que
representada, Kafka mantm a si e ao leitor em uma posio de suspeio
em relao ao que acontece, como se a crtica resultasse da constatao
da existncia deste mundo opaco e impenetrvel. S possvel um
julgamento ou entendimento sobre o narrado se o leitor sair de sua
passividade e alienao.
No possvel sair inclume aps uma leitura de Kafka. Ao
estranharmos a ciso apresentada pelo autor entre o protagonista e seu
mundo, somos confrontados com nossa prpria ciso entre existncia e
estrutura social. O leitor contempla de fora e ao mesmo tempo est
imerso no mundo, como Gregor Samsa eternamente preso no quarto
enquanto tudo se passa nos ambientes contguos, mas nem por isso
instala no intervalo indeterminado entre sujeito de enunciao e sujeito do enunciado. O
neutro vem de uma zona indiscernvel entre o eu e o ele, da qual transparece aquilo
que Blanchot denomina o Fora da literatura. Na leitura de Deleuze e Guattari, o Fora o
lugar da multido, isto , de uma vitalidade annima e de intensidades sem sujeito,
constitudo de puras hecceidades, blocos de perceptos e afetos, como um avesso a partir do
qual e em direo ao qual a lngua e as prticas culturais e sociais se articulam. (ibid., p.
65). A posio do narrador de Kafka pode ser entendida tanto como um ponto externo ao
sujeito do enunciado e o sujeito de enunciao como a coincidncia entre eles. Para
Deleuze, Kafka opera nas cartas uma inverso entre o sujeito de enunciao (forma da
expresso) e sujeito do enunciado (forma do contedo da carta), de modo que este ltimo
passa a ser o motor do fluxo epistolar. O assunto ganha importncia frente aos
interlocutores e o intercmbio ou inverso da dualidade dos sujeitos (...) produz um
desdobramento, um duplo que posteriormente surgir com mais fora em outras obras,
como O Desaparecido e O Veredicto. (K., p. 31 ed. EUA)
51
Porm, necessrio dizer que o estranhamento em Kafka no possui o carter de
pedagogia de massas que o distanciamento cumpre na obra brechtiana. Esta diferena de
mecanismo , possivelmente, a causa maior da insatisfao de Brecht e de Lukcs com
Kafka.
33
deixando de estar presente em todo o processo
52
. Tanto na realidade do
escritor checo como na nossa, o fato de a vida transcorrer apesar de
todos os impeditivos em si o mais estranho:
O absurdo em F. Kafka rejeita todas as formas de
alienao, seja a famlia, profisso, dinheiro, sistemas
filosficos, religio e o patriotismo. Elas nada podem contra
o escndalo que consiste no simples existir
53
.
2.4 Smbolo, alegoria e parbola
Em seu ensaio sobre Kafka
54
, Adorno revela qual , em sua viso, a
chave para o entendimento do autor checo: insistir nos aspectos que
dificultam o enquadramento e que, por isso mesmo, requerem
interpretao
55
. A recusa em ser absorvido facilmente. Aquilo que nos
obriga a interrogar o mundo e desnudar seus paradoxos, escondidos por
baixo de um manto de aparente coerncia. O no-enquadramento ao qual
o filsofo se refere remete necessidade de ruptura do sempre-igual para
o resgate da autonomia do pensamento. da que vem a fora de
maelstrom
56
da obra do escritor checo, segundo Adorno.
Colocar a obra kafkiana em rtulos ou escolas, o conforto no
desconfortvel que o rebaixa a escritrio de informaes sobre a condio
52
No conceito de literatura menor, conforme DELEUZE, o campo poltico contaminou todo
enunciado. Mas sobretudo, ainda mais, porque a conscincia coletiva ou nacional est
sempre inativa na vida exterior e sempre em vias de desagregao, a literatura que se
encontra encarregada positivamente desse papel e dessa funo de enunciao coletiva, e
mesmo revolucionria: a literatura que produz uma solidariedade ativa, apesar do
ceticismo; e se o escritor est margem ou afastado de sua frgil comunidade, essa
situao o coloca ainda mais em condio de exprimir uma outra comunidade potencial, de
forjar os meios de uma outra conscincia e de uma outra sensibilidade (K, p.27). O escritor
acaba por amplificar esta nova conscincia.
53
TRAGTENBERG, 1962.
54
Anotaes sobre Kafka, in Prismas - Crtica da Cultura e da Sociedade. J referido como
AsK.
55
AsK, p. 239
56
ibid., loc.cit
34
eterna ou atual do homem
57
, para ele, uma tentativa de bloquear este
potencial de ruptura. Por isso, todo o incio de seu ensaio sobre Kafka traz
a tentativa de libertar a obra do escritor checo das interpretaes de
cunho existencialista
58
, psicologizado e teolgico, como se estas, ao
assinalarem a presena de elementos tais na obra, acabassem por
oferecer uma falsa soluo ao seu enigma, restringindo seu
entendimento apenas a estes elementos (existentes, por certo, mas que
no so suficientes para nos fornecerem, sozinhos, a chave para elucidar
o autor).
A distino entre smbolo e alegoria
59
, salientada pelo filsofo,
crucial para a compreenso de seu pensamento. Kafka no escreve A
querendo dizer B. Ele quer nos levar ao ponto B a partir do efeito que A
nos provoca. No uma obra de conciliao, e sim de ruptura.
Cada frase literal, e cada frase significa. Esses dois
aspectos no se misturam, como exigiria o smbolo, mas se
distanciam um do outro, e o ofuscante raio da fascinao
surge do abismo que se abre entre ambos. Apesar do
protesto de seu amigo, a prosa de Kafka se alinha com os
57
ibid., loc.cit
58
Notadamente a de Max Brod, as leituras mstico-teolgicas de Scholem e o materialismo
histrico de Brecht.
59
Segundo GADAMER (2009, p.69), smbolo a coincidncia do sensvel e do no-
sensvel; alegoria uma referncia significativa do sensvel ao no-sensvel. A distino
fundamental entre a alegoria e o smbolo foi estabelecida durante o Romantismo, em
Coleridge no Statesmans Manual (1816) e em especial com Goethe e Schlegel. Para
Goethe, a simblica [die Symbolik] transforma o fenmeno em ideia, a ideia em imagem, e
de tal modo que na imagem a ideia permanece sempre infinitamente eficaz e inatingvel e,
ainda que pronunciada em todas lnguas, continuaria a ser indizvel. A alegoria transforma o
fenmeno num conceito, o conceito em imagem, mas de tal modo que na imagem o
conceito permanece limitado e suscetvel de ser completamente apreendido e usado, e
pronto para ser expresso por essa mesma imagem (GOETHE, 1992, pp. 188-189). Para o
escritor de Werther, o smbolo dotado de maior amplitude de significao em relao
alegoria, esta uma mera traduo de ideias abstratas, ao passo que o smbolo parte sempre
de imagens poticas para construir a sua significao final. J Hegel se contrape ao
princpio de Schlegel, que defendia que toda a obra de arte devia ser uma alegoria. Para
Hegel, tal s seria possvel se significar que toda obra de arte deve representar uma ideia
geral e implicar uma significao verdadeira, visto que a alegoria um modo de
representao secundria tanto no contedo como na forma e s de um modo imperfeito
corresponde ao conceito de arte (HEGEL, 2001, p. 224).
35
proscritos tambm por buscar antes a alegoria do que o
smbolo
60
.
A alegoria, como figura de linguagem, pode ser definida como uma
metfora contnua, na qual um enunciado passvel de leitura imediata
transmite um ou mais significados diferentes do que a leitura literal
possibilita. Tal processo faz o receptor da mensagem criar ou inferir um
segundo enunciado, apropriado ao contexto apresentado na narrativa, que
mantenha uma relao de similaridade com o primeiro
61
. Toda alegoria,
para fazer sentido, precisa estar inserida em um contexto. Toda alegoria
alega algo, enuncia um discurso, um conceito e se refere a um fato.
60
AsK, p. 240-241. Adorno parte da viso do smbolo e da alegoria de BENJAMIN (1984,
pp. 187-188): a medida temporal da experincia simblica o instante mstico, na qual o
smbolo recebe o sentido em seu interior oculto e por assim dizer, verdejante. Por outro
lado, a alegoria no est livre de uma dialtica correspondente, e a calma contemplativa,
com que ela mergulha no abismo que separa o Ser Visual e a Significao, nada tem da
autossuficincia desinteressada que caracteriza inteno significativa, e com a qual ela tem
afinidades aparentes. Ou seja, a alegoria reveste-se de smbolo, mas no smbolo.
Benjamin enumera dois tipos de alegoria: a crist, que se atesta no drama barroco e que
nos d a viso da finitude do homem na absurdidade do mundo, e a moderna, atestada na
obra de Baudelaire, colocada ao servio da representao da degenerescncia e da
alienao humanas. Desta forma, a alegoria assume o papel de revelao de uma verdade
oculta, pois no representa as coisas tal como elas so, mas pretende antes dar-nos uma
verso de como foram ou podem ser. A alegoria temporal e aparece como um fragmento
arrancado totalidade do contexto social; o smbolo essencialmente orgnico. Para
Benjamin, a alegoria se encontra entre as ideias como as runas esto entre as coisas
(ibid., p.198). Por isso ele fala da alegoria como expresso da melancolia: o objeto deixa
escapar a vida, fixado para a eternidade. Todo o sentido do objeto deriva exatamente de sua
alegorizao.
61
Os ditados populares so exemplos tradicionais de alegorias. Como exemplo, uma
expresso como gua mole em pedra dura, tanto bate at que fura possui trs nveis de
enunciao: o primeiro (alegrico) o prprio ditado. O segundo (enunciado substitudo pela
alegoria) tem como mensagem principal 'no desista!'. O terceiro, um enunciado genrico
que permite a aplicao da alegoria em diferentes casos, pode ser lido como 'a
perseverana quebra lentamente as resistncias'. Considerando que Kafka mostra especial
predileo por usar ditados ao p da letra, pode-se dizer que o que ocorre uma inverso
do processo alegrico, no qual os enunciados coincidem entre si. Uma alegoria com
semntica aberta. Cabe a quem l a obra efetuar a substituio do enunciado alegrico,
determinar a que ele se refere. Ao seguirmos tal raciocnio, a questo que se coloca
perturbadora: e se as alegorias no esto realmente na obra de Kafka, mas so colocadas
ali por nossas leituras? E se Kafka escreveu fico literal (isto , a ser interpretada ao p da
letra) e quem enxerga sua obra como alegrica so os leitores? O reverso no menos
perturbador: a escrita alegrica kafkiana sendo interpretada de forma literal. A hiptese da
literalidade alegrica caminha com seu contrrio, a alegoria realista. Mais sobre tal
possibilidade ser abordado no tpico Humor.
36
Porm, na alegoria kafkiana no h uma determinao exata do
contexto no qual ela se aplica. uma alegoria de que, afinal? A
delimitao do objeto ao qual esta alegoria se refere (ou deixa de se
referir) um dos maiores pontos de discordncia entre os analistas do
autor checo. A questo pode ser e talvez a estratgia de Kafka em seus
textos tenha sido exatamente essa - a de que nunca saibamos se o que
est escrito alegrico ou no. Esta impossibilidade de determinar o
sentido alegrico de um texto, ou o questionamento da necessidade de se
expressar por alegorias, abordada pelo prprio autor em um pequeno
conto:
Muitos se queixam de que as palavras dos sbios sejam
sempre alegorias, porm inaplicveis na vida diria, e isto
o nico que possumos. Quando o sbio diz: "Anda para ali",
no quer dizer que algum deva passar para o outro lado, o
que sempre seria possvel se a meta do caminho assim o
justificasse, porm que se refere a um local legendrio, algo
que nos desconhecido, que tampouco pode ser precisado
por ele com maior exatido e que, portanto, de nada pode
servir-nos aqui.
Em realidade, todas essas alegorias apenas querem
significar que o inexequvel inexequvel, o que j
sabamos. Mas aquilo em que cotidianamente gastamos as
nossas energias, so outras coisas.
A este propsito disse algum: "Por que vos defendeis? Se
obedecsseis s alegorias, vs mesmos vos tereis
convertido em tais, com o que vos tereis libertado da fadiga
diria."
Outro disse: "Aposto que isso tambm uma alegoria."
Disse o primeiro: "Ganhaste".
Disse o segundo: "Mas por infelicidade, apenas naquilo sobre
alegoria".
O primeiro disse: "Em verdade, no; no que disseste da
alegoria perdeste.
62
62
Das Alegorias, in: O abutre e outras histrias, 2009, p. 15. Sobre qual parte do que foi dito
sobre alegoria a segunda pessoa perdeu? Se formos tomar a primeira parte do conto como
uma alegoria, assim como o interlocutor, a crtica direciona-se exatamente a que? Em uma
primeira leitura, Kafka poderia se referir s alegorias religiosas, por exemplo: segui-las
fielmente transformar-nos-ia em alegorias em si, em caricaturas. Porm, isso seria
extensvel a toda alegoria qual devssemos obedecer (ideologias, poltica, costumes
sociais, etc.) e nos libertaria da fadiga do questionamento. Se, ao contrrio, a primeira
parte do conto deva ser lida literalmente, o que criticado a prpria funo ou
necessidade de alegorizao do real.
37
A problemtica smbolo-alegoria oculta, tambm, uma dimenso
ideolgica
63
. A obra de Kafka vista por muitos de seus analistas como
uma alegoria da desesperana e da alienao do ser humano, ao ponto de
consider-las inerentes (ou imanentes) condio humana. Mas Kafka
fecharia a sada para a superao da alienao ao coloc-la neste
patamar? Dialeticamente falando, se a alienao e a desesperana (ou
angstia) so imanentes ao ser, no esto em contradio com sua
natureza, logo no poderiam ser sobrepujadas. Para Lukcs, a arte
moderna (alegrica) reduz o ser impotncia e esvazia qualquer
possibilidade de ao, e o autor checo seria a eptome desta paralisia:
Essa impresso de impotncia elevada ao nvel de concepo
do mundo, que em Kafka se transformou na angstia
imanente do prprio devir do mundo, o total abandono do
homem em face dum temor inexplicvel, impenetrvel,
inelutvel, faz da sua obra como que o smbolo de toda a
arte moderna. Todas as tendncias que, noutros artistas,
assumiam uma forma literria ou filosfica, renem-se aqui
no temor pnico, elementar, platnico, perante a realidade
efetiva, eternamente estranha e hostil ao homem, e isto
num grau de espanto, de confuso, de estupor, que no tem
paralelo em toda a histria da literatura. A experincia
63
Este um dos centros da anlise de LUKCS (1969, passim). Para ele, as inovaes
esttico-formais da obra de Kafka, ainda que admirveis, no so suficientes como tentativa
de superao das contradies da realidade e do capitalismo. Lukcs v o romance realista
como uma forma mais adequada de apreenso da individualidade e das condies gerais da
sociedade, por sua caracterstica de composio de tipos (personagens que vivem em um
determinado pano de fundo e atravessam situaes tpicas). Tais situaes permitiriam, sua
viso, uma perspectiva mais aguda tanto do caso particular (definidor do romance como
forma literria) como do quadro geral da sociedade onde tal caso ocorre, permitindo
entender de forma mais aprofundada a mentalidade da poca na qual tal romance foi
escrito. Da mesma forma, visto que o romance a forma literria burguesa por excelncia, o
romance burgus realista permite o deslindar das contradies e ideologias que do suporte
a este tipo de sociedade. Para que isto ocorra, necessria a coincidncia entre o sensvel
e o no-sensvel, ou seja, o simblico. As mincias descritivas de Kafka, apesar de o
aproximarem de tal realismo necessrio, no seriam suficientes, para Lukcs, pois as aes
deveriam estar em primeiro plano, e no os detalhes. Assim como Brecht apontar a
respeito da falta de lies explcitas nas parbolas kafkianas, Lukcs no considera que a
aproximao alegrica com o real seja suficiente para provocar a reflexo crtica do leitor,
talvez por no permitir, aparentemente, uma soluo dialtica para a questo homem-
mundo.
38
fundamental da angstia, tal como a viveu Kafka, resume
bem a decadncia moderna da arte
64
.
A alegoria em Kafka seria vazia de significado poltico? O
rompimento da coerncia do mundo experimentado na obra kafkiana
ocorre a fim de nele fazer reinar uma vida que ignora qualquer
consolao, que torna insensveis todos os projetos humanos
65
? Seria
Kafka um conformista? A questo poltica na obra kafkiana ser tratada
posteriormente, mas no se pode descartar to rapidamente a alegoria
sem a pensarmos como uma representao (ou figurao mimtica) da
essncia de uma realidade social e humana historicamente
determinada
66
. Uma alegao do real. Os sentimentos-chave de perda e
isolamento presentes na obra de Kafka tambm so aqueles que servem
de base para a criao de governos e religies, entre outras estruturas
presentes no real.
Ler os textos como se fossem apenas alegorias, no sentido raso do
termo, faz com que busquemos preench-las, atribuindo sentidos
prvios a elas e esvaziando a prpria alegoria de sentido. O
estranhamento causado ao lermos as alegorias de Kafka de forma literal,
ou seja, como se o que est descrito correspondesse plenamente
realidade, o que daria ao leitor a possibilidade de compreender o
enigma, ou seja, delimitar o objeto que est sendo alegorizado: o
fantstico est a servio do realismo
67
.
64
LUKCS, 1969, p. 61
65
ibid., p. 72
66
COUTINHO, 2005, p.1. O pensador brasileiro opera uma interessante inverso sobre o
pensamento lukacsiano. Se para Lukcs a vanguarda na qual Kafka se inscreveria padece
de uma crnica falta de correspondncia com o real, reduzindo o mundo a uma simples
particularidade, Coutinho observa que o pressuposto obra kafkiana (o contedo scio-
histrico) reposto por meio da estrutura dos textos, denominando este processo de
potica do realismo. Tal pensamento se aproxima do conceito adorniano de imbricao
entre arte e sociedade e traz discusso a possibilidade de uma representao alegrica do
real ainda assim ser realista. Para Coutinho, toda a arte contempornea pode ser pensada
dentro deste prisma representativo/mimtico, no que acompanhando, com certas
ressalvas, por Lowy.
67
LOWY, in COUTINHO, 2005, p. 6
39
desta oposio de elementos, aparentemente contraditria, que a
fora da obra de Kafka surge, tendendo no para uma conciliao, mas
para o desvelamento de possibilidades no aqui e agora, invertendo a
dialtica nos moldes hegelianos. Ao criar tal espao de estranhamento, as
alegorias de Kafka ultrapassam a simples relao leitor-obra e passam a
operar no real, como resistncia.
Desta forma, o objeto da obra kafkiana , para Adorno, maior do
que o homem imvel perante um mundo de difcil compreenso. No h
conformismo ou desesperana em Kafka; h uma necessidade imensa no
em ser compreendido, mas em levar o leitor a este desafio, a despertar e
constatar a existncia de um ponto de fuga - ou construir um. Em vez do
pessimismo, a obra de Kafka guarda uma aposta na vida: nada disso
atravessando as palavras h restos de luz
68
.
Isso daria um novo sentido afirmao adorniana de que no
devemos confundir a tese abstrata da obra kafkiana, a obscuridade da
existncia, com o contedo de sua obra
69
. De certa forma, a existncia
desta sada desmente as interpretaes tradicionais sobre Kafka
70
,
carregadas de fatalismo perante um mundo monoltico e no qual restaria
ao homem cumprir humildemente e sem muita esperana seus deveres
imediatos, integrando-se a uma comunidade que espera exatamente
isso
71
. Podemos tomar o trecho abaixo de Adorno, em Tempo Livre, como
exemplo desta nova possibilidade de leitura:
Os interesses reais do indivduo ainda so suficientemente
fortes para, dentro de certos limites, resistir apreenso total.
Isso coincidiria com o prognstico social segundo o qual uma
sociedade cujas contradies fundamentais permanecem
inalteradas tambm no poderia ser totalmente integrada pela
conscincia
72
68
KAFKA, in BARRENTO (2006, p.104).
69
AsK, p.240
70
E tambm sobre Adorno, visto tambm injustamente como pessimista e apocalptico
(Cf.BOLLE, in TIBURI, 1995, p.136)
71
AsK, loc.cit.
72
ADORNO, 2004, p. 116
40
Comparativamente, em Kafka temos a insubmisso de Amlia
73
como um manifesto desta resistncia ou sobrevivncia da capacidade de
resistir injustia do sistema. Lembremos, tambm, que no fundo, O
Processo versa sobre um inocente que acusado por uma mquina
burocrtica hipcrita e confusa - e tambm sobre a diferena entre
legalidade e justia. Tal denncia em si resistncia por sua capacidade
de resistir a uma situao extrema, transformando-a em linguagem
74
e
pela habilidade de produzir arte a partir do que recusado pela
realidade
75
, constituindo-se como ruptura em relao ao tecido social,
desafiando o leitor.
Todavia, tambm possvel buscar estes novos significados por
meio de um ajuste extremo e quase caricato a este tecido social, uma
superconformidade
76
que estica os limites formais at o ponto de
esgaramento. Adorno aponta tal possibilidade no texto kafkiano: Na
obra de Kafka, tudo o mais duro, definido e delimitado possvel
77
. A
burocracia retratada por Kafka, assim como seu uso de um idioma alemo
visto como protocolar, a linguagem dos escritrios, podem ser
73
Em O Castelo. Ao se negar a satisfazer as vontades de um dos funcionrios do castelo,
Amlia atrai as maiores desgraas sua famlia, mas resiste sem ceder em nenhum
instante (Cf. LOWY, 2005, p. 185). O mesmo comentador observa o papel da alegoria como
desvelamento da realidade no texto kafkiano: Trata-se da criao de um universo
imaginrio, regrado unicamente pela lgica do maravilhoso que, de modo algum visa
reproduzir ou representar a realidade, mas que no deixa de conter uma crtica radical dela,
feroz ou irnica segundo o caso. Realista ou no, a obra de Kafka, graas sua atitude de
distanciamento permanente com relao s instituies sociais, um dos exemplos mais
cativantes do poder de iluminao profana da literatura. por isso que Andr Breton o
considerava, pura e simplesmente, o maior vidente do sculo.
74
AsK. p. 250
75
Ibid., p. 247
76
KRIPS (2007, passim) apresenta uma interessante tese sobre o extremo rigor formal de
um dos ensaios mais famosos de Adorno narrado pelo prprio autor em transmisses
radiofnicas: Educao aps Auschwitz segue um rigor acadmico to extremado
exatamente para provocar nas pessoas a estranheza por este tipo de linguagem estar
presente em um meio de massa. Ou seja, o rigor extremo da forma-ensaio, visto como
conservador, o que destoa e revoluciona na paisagem massificada. A apropriao do
alemo protocolar, idioma pobre de significado, para a transmisso de novos sentidos
obriga o uso de um lxico restrito de forma inovadora, ou conforme Deleuze, para
estranhos usos menores (K. p.26).
77
AsK, p. 240
41
entendidas como uma subverso, uma explorao de limites que
ressignifica a relao entre a lngua e o tecido da sociedade. Este carter
protocolar da lngua pode ser comparado viso deleuziana sobre a
ausncia de alegorias na escrita kafkiana
78
.
Ao utilizar a lngua alem falada em Praga, que no pertence
totalmente nem ao territrio do alemo erudito nem ao idiche falado nas
comunidades judaicas, Kafka busca um modo de composio e prtica da
linguagem que produza novos sentidos a partir de velhas e poucas
palavras, usando para isso a sobriedade e economia na escrita. Em seu
comentrio sobre o idiche, Kafka caracteriza a lngua menor a partir de
sua capacidade de constituir novas relaes de representao por meio da
reapropriao e mudanas de sentido do vocabulrio utilizado:
O idiche consiste apenas de palavras estrangeiras. Mas
estas no esto firmemente enraizadas nele, elas retm a
velocidade e vivacidade que as fizeram ser adotadas.
Grandes imigraes se movem por meio do idiche, de um
extremo a outro. Todo este alemo, hebraico, francs,
ingls, eslavo, holands, romeno, e at latim, capturado e
78
Adorno, acompanhando o pensamento de Benjamin, v em Kafka um mestre da alegoria,
tipo de construo que exige profundo domnio lingustico: a prosa de Kafka se alinha com
os proscritos tambm por buscar antes a alegoria do que o smbolo. Benjamin a definiu com
razo como parbola (AsK, pp. 240-241). J Deleuze v a literatura "menor" kafkiana
despida destes atributos alegricos devido sua economia de vocabulrio e seu carter
literal, cirrgico. Mas a divergncia camufla uma micro-dialtica que operaria entre a
abordagem dos autores citados sobre a alegoria: fazer o alemo vibrar de novas formas,
dentro de um vocabulrio limitado, possui certa semelhana com o conceito que Benjamin e
Adorno atribuem alegoria. Ao menos, do ponto de vista prtico, aquela gramtica magra
deve ser dominada com preciso para adquirir a expressividade ou os significados
desejados. Se adotarmos o conceito de desterritorializao como uma reapropriao para
novas finalidades, pode-se dizer que Kafka sequestra o idioma alemo para reposicionar
seus significados: a palavra passa a ser uma alegoria ao mesmo tempo que tem sua
literalidade exacerbada. Com um vocabulrio restrito (o alemo protocolar) e utilizado de
forma literal (O princpio da literalidade, certamente uma lembrana da exegese da tor
feita pela tradio judaica, pode se apoiar em vrios textos de Kafka. AsK, p. 242), Kafka
descreve imagens poderosas: s vezes as prprias palavras, principalmente as metforas,
se libertam e ganham uma existncia prpria (AsK, p. 242). Um exemplo so as figuras
animais kafkianas, portadores do resduo/resistncia que caracteriza a arte tanto em Adorno
como em Deleuze: ao provocarem o estranhamento, abrem novas possibilidades de viso.
Se a forma ocupa lugar de destaque na abordagem que Kafka faz do ato de escrever, a
escolha cirrgica das palavras possui funo na construo e entendimento do texto, pois
elas remetem a outros significados. Os protocolos kafkianos, caracterizados pela economia
de vocabulrio, tornam-se assim um tipo singular de alegoria, no qual a literalidade no lxico
e na significao opera um papel importante.
42
includo com curiosidade e frivolidade assim que
contaminado pelo idiche, e exige um grande esforo manter
todas estas linguagens juntas, neste estado
79
.
Se no idiche a riqueza do lxico surge desta apropriao de
palavras, o alemo de Praga uma lngua pobre, visto que aqueles que
a usam no a dominam plenamente. O vasto lxico alemo simplificado
para a linguagem do cotidiano, da burocracia - ambiente de trabalho de
Kafka: uma linguagem de papel
80
ou artificial que ele usa para reatar
relaes com o real. Mas tal magreza de vocabulrio no , em seu limite,
um impeditivo para a compreenso da escrita e, certamente, exige o
extremo domnio de seus processos e modos de composio para a
criao da obra, pois o autor checo busca que este vocabulrio econmico
assuma uma nova cor. A sobriedade exige tanto ou mais do que o
excesso
81
. Neste ponto, a prosa de Kafka se aproximaria da poesia de
79
KAFKA, 1983, p. 69.
80
K., p. 26. Deleuze e Guattari veem em Kafka um tipo de criao que no est contida nas
leituras tradicionais do autor (seja pelo vis psicolgico, biogrfico ou mstico) e que opera
como uma mquina de escritura/expresso: "Kafka mata deliberadamente toda a metfora,
todo simbolismo, toda a significao, assim como toda a designao (K., p.40). Deleuze
entende a metfora como um tipo de envelope ou camisa de fora para o conceito. Por isso,
considera que no se trata de buscar interpretaes e significados para aquilo que Kafka
diz, e sim entender seu funcionamento - o como dito - no se atendo aos efeitos
individuais da leitura da obra. A obra em si opera como um laboratrio de experimentao
onde as experincias ocorrem na forma, no discurso e na linguagem utilizada. possvel
imaginarmos um paralelo entre esta abordagem e o conceito de fbula sem moral: como a
lio no est dada, estamos livres para capturar seu significado. Conforme CARONE
(2009), Kafka sustenta com todas as letras que o contedo e a forma da frase devem
coincidir de maneira precisa. Sua f flaubertiana na linguagem usada com discernimento e
responsabilidade o faz afirmar que "o sentimento infinito permanece to infinito nas palavras
como era no corao" (p.80). Para Kafka a palavra justa tem vida prpria, que requer a
maior vigilncia, e o empenho para capt-la, ou captur-la, descrito com o humor e a
agilidade tpicos de quem conhece por dentro aquilo de que est falando: "Meu corpo inteiro
me adverte diante de cada palavra; cada palavra, antes de se deixar escrever por mim, olha
primeiro para todos os lados". (CARONE, 2009, p. 80-81)
81
possvel aproximar as qualidades da forma-contedo da obra de acordo com Adorno e a
viso deleuziana sobre o escrever em Kafka, que pode ser visto como uma forma de
rearticulao das relaes entre escritor e vida: a literatura no mais constituda a partir de
imagens ou reconstrues imaginrias do mundo, e sim a partir da experincia do mundo,
dando sentido a este. Uma tese a ser averiguada aqui a de que o que regeria a questo
da escrita em Kafka mais a forma (sua desorganizao e reorganizao como mquina,
para Deleuze, ou a impossibilidade de separao entre forma e contedo, para Adorno) do
que o contedo tomado isoladamente. Para Deleuze, a obra de Kafka desejo de escrever,
43
Samuel Beckett, tambm visto por Deleuze como um autor de literatura
menor com a mesma caracterstica "de sobriedade, de pobreza voluntria,
levando a desterritorializao at ao lugar onde apenas subsistem
intensidades.
82
Ainda em Deleuze, a no-existncia da massa que compartilha
uma identidade faz com que as pessoas e minorias nunca estejam
vontade dentro deste grupo maior. Elas vivem imersas em uma linguagem
que no lhes pertence. A prosa de Kafka, como eptome deste tipo de
literatura, refletiria a dificuldade dos judeus de Praga em expressarem sua
conscincia de si pela literatura, pois s poderiam escrever num idioma
que no lhes pertence, do qual no possuiriam o domnio pleno e que
simboliza a distncia irredutvel em relao a uma territorialidade
primitiva, a checa
83
.
Sendo a desterritorializao tanto a liberao da fora de trabalho
de meios especficos de produo como a reconfigurao dos laos entre a
cultura e seu lugar no espao e no tempo, o fato de Kafka ser um judeu
de Praga escrevendo em alemo mostra tanto a dificuldade citada como a
necessidade imperiosa de expresso deste grupo. No havia outra
possibilidade de expresso e escrita, portanto era necessrio fazer algo a
respeito: utilizar de formas novas a linguagem maior, libertando novos
significados a partir dos meios - palavras - especficos
84
.
ler e amar, no a interiorizao de si ou ausncia da lei. O comentrio de Carone sobre o
mtodo da escrita kafkiana sustenta, de certa forma, esta ideia: Com certeza era por isso
que Kafka dizia ser necessrio escrever na obscuridade, como se fosse num tnel: "minhas
histrias so uma espcie de fechar de olhos", diz ele. O que, por sinal, no o impede de
conceber seu trabalho como um esforo para encontrar, flaubertianamente, a palavra justa,
pois para ele a escrita essencial uma forma de orao ou, por outra via, um "assalto
fronteira". (itlico nosso) (CARONE, 2009, p. 62)
82
K., p. 35. Outro autor considerado de literatura menor por Deleuze e Guattari James
Joyce, mas este se utilizaria de um processo oposto: a exuberncia e proficuidade de seus
neologismos operam todas as reterritorializaes mundiais (K., p. 35)
83
K., p. 26
84
Citando Deleuze, vale dizer que o menor no qualifica mais certas literaturas, mas as
condies revolucionrias de toda literatura no seio daquela que chamamos de grande (ou
estabelecida). Mesmo aquele que tem a infelicidade de nascer no pas de uma grande
literatura, deve escrever em sua lngua, como um judeu tcheco que escreve em alemo, ou
como um usbesque que escreve em russo. Escrever como um co que faz seu buraco,
como um rato que faz a sua toca. E, para isso, encontrar o seu prprio ponto de
44
Isso s possvel graas capacidade do autor checo em retratar
seu tempo sem ser aprisionado por ele. O vigor da obra permanece
porque, de alguma forma, nela aparece algo que nos remete ao que no
foi superado em seu tempo - e que ainda ecoa ou existe no nosso, seja
este algo de ordem poltica, sentimental ou metafsica. Ou, citando
Adorno, os antagonismos no resolvidos da realidade retornam obra de
arte como os problemas imanentes da sua forma
85
.
No caso, a sobriedade e crueza do texto modificam a relao entre
texto e leitor, substituindo a fruio como contemplao pela fruio como
urgncia, levando o leitor a uma espcie de vertigem que est imbricada
na prpria obra
86
.
Kafka impe ao observador de outro tempo, supostamente
desinteressado, um esforo desesperado, que lhe assalta e
sugere que de sua correta compreenso depende muito mais
do que seu equilbrio espiritual: uma questo de vida ou
morte.
87
A discusso sobre a pertinncia da noo de parbola em Kafka
88
segue um caminho similar: uma interpretao bastante aceita considera
que o escritor checo subverte esta forma narrativa, tradicionalmente
associada transmisso de um ensinamento moral a ser aplicado na vida
prtica e consolidao da autoridade cristalizada nesse ensinamento.
A parbola de Kafka se constitua, contudo, como o
paradoxo de uma parbola sem doutrina, o que era
explicado por Benjamin pelo fato de ela figurar o
desmoronamento da doutrina judaica que conferia sentido
interpretao do ensinamento contido nos textos sagrados.
subdesenvolvimento, seu prprio pato, seu prprio terceiro mundo, seu prprio deserto.
K., p.28
85
TE, p. 16
86
A sensao de vertigem, ou o choque disruptivo entre imagem e pensamento, aponta uma
ligao com a problemtica do sublime a partir da assincronia entre signo, significado e
significante no uso da linguagem.
87
AsK. p. 241
88
Cf. GATTI, 2009, p. 141 et seq. A diferena entre Benjamin e Brecht sobre o conceito da
parbola serve como exemplo claro desta discusso terica.
45
Na ausncia dessa chave de leitura que vinculava os textos
verdade fundada na doutrina, Kafka transformara a parbola
em um enigma indecifrvel.
89
.
A ausncia do ensinamento, porm, era vista por outros como uma
falha na obra kafkiana. Por exemplo, para Brecht o que Kafka escreve
tomado por uma estril profundidade
90
, visto que este se recusa a
embutir no texto um cdigo de conduta ou uma pedagogia para as
massas. A parbola de Kafka, para o dramaturgo, nunca foi inteiramente
transparente
91
.
A posio brechtiana talvez no leve em conta a possibilidade de
Kafka extrair destes esquemas narrativos apenas o necessrio para a
construo de sua histria, sem a necessidade de se prender a um deles
de forma plena. Da fbula, temos o carter fantstico com a ressalva da
inverso da narrativa animal. Da parbola, o uso de uma linguagem
simblica; e do aplogo o no-enquadramento da lio de moral, visto
que esta figura de linguagem no tem como tema, necessariamente, uma
lio de vida que possa ser adotada pela maioria como forma de ao no
cotidiano
92
.
89
Ibidem
90
Ibidem. Neste ponto, as anlises de Brecht e Lukcs se aproximam.
91
Cf. GATTI, op. cit, p. 141 et seq
92
Ao se compararem as narrativas da fbula, da parbola e do aplogo, possvel observar
que os aplogos tm o objetivo de atingir os conceitos humanos de forma que os modifique
e reforme, levando-os a agir de maneira diferente. Os exemplos so utilizados para ajudar a
modificar conceitos e comportamentos humanos, de ordem moral e social. Diferencia-se da
fbula por se concentrar mais em situaes reais, enquanto a fbula d preferncia a
situaes fantsticas e tambm pelo fato de a fbula se utilizar de animais como
personagens. Diferencia-se da parbola pois esta trata de questes religiosas e lies
ticas, enquanto o aplogo fala de qualquer tipo de lio de vida, mesmo que esta no seja
a que adotada pela maioria como a maneira correta de agir. Na Esttica de Hegel, o
aplogo surge como uma parbola que no usa apenas por similitude o caso singular para
tornar intuitivo um significado universal, mas apresenta e exprime neste revestimento a
sentena universal, na medida em que a mesma est contida efetivamente no caso singular,
que todavia contado apenas como um exemplo singular (HEGEL, 2001, p. 119-120). As
obras de Kafka parecem acolher essa caracterstica de desvelamento do geral naquilo que
visto apenas como ilustrativo. Conforme PEREIRA, no apl ogo, a fbul a
i ndependente da sua i nterpretao moral. Funciona como um acumulador de sentidos e
faz-se eco de focalizaes de afectos, reminiscncias de histrias originais. A moral insere-a
numa determinada cultura, i sto , num determi nado espao e num determi nado
tempo, por vezes de forma to tnue ou to forada ou to i nbi l que o processo
46
O prprio autor, pelo que se sabe, era avesso compreenso de sua
obra dentro dessa forma estilstica. Ao contrrio, parecia especialmente
incomodado com tal associao, ao ponto de recomendar expressamente
a seu editor, Kurt Wolff, providncias para evitar tal identificao.
Conforme Carone,
Embora Wolff tenha achado as histrias de Um Mdico Rural
excepcionalmente belas e maduras e quisesse investir no
aproveitamento editorial delas, Kafka no permitiu que ele as
tomasse por parbolas e alegorias
93
.
Assim, pode-se sugerir uma apropriao intencional da forma da
parbola e da alegoria, mas sem uma obedincia cannica s suas
dinmicas internas
94
, o que remete relao entre os problemas da forma
e os problemas de uma sociedade
95
.
A dialtica operada aqui expe os paradoxos da racionalidade em
contato com os acontecimentos do sculo XX, um tempo no qual o
racional e a barbrie convivem de forma doentia. Para Adorno, a obra de
Kafka um exemplo da explorao destes paradoxos e ao mesmo tempo
a obra forma um campo no qual as regras da razo instrumental no
operam plenamente.
Esta leitura de Kafka busca, segundo alguns crticos, revelar o
mundo real que est presente no interior de suas obras surreais. Tal
revelao opera simultaneamente como denncia e resistncia, visando
parece querer desmascarar-se vol untari amente. (PEREIRA, 2007, p. 27). Logo,
o apl ogo pode ser entendi do como uma fbul a sem moral .
93
CARONE in UMR, p. 76-77
94
Tal possibilidade acaba por nos aproximar novamente da ideia de Deleuze e Guattari de
que a questo mais importante na obra de Kafka no o que dito, e sim como dito. A
obra passa a ser vista como mquina de expresso e o autor mata deliberadamente a
metfora, o simblico, como forma de apreenso do significado do texto. Conforme
ROSENTHAL, as obras de Kafka so, de um modo geral, parbolas sem concluso.
Oferecem ao leitor processos, manifestaes e feitos modelares que, sem express-lo
nitidamente, marcam posies fundamentais de gnero humano, sendo que assim
provocam a perplexidade de uns e a curiosidade de outros, vindo a exercer profunda
influncia. (THEODOR ROSENTHAL, 1968, p. 156)
95
Cf. a teoria esttica de Adorno.
47
encontrar uma sada dentro do prprio problema que parece sem sadas:
a regresso da razo barbrie e a formatao do pensamento. E, com
isso, localizar o ltimo bastio de resistncia dentro do indivduo,
exatamente como o projeto filosfico adorniano da superao da lgica
identitria: Com a fora do sujeito, quebrar a iluso (Trug) da
subjetividade constitutiva.
96
.
Kafka entendido como a traduo do mundo que o cerca: uma
sociedade em mutao permeia e atravessa a obra na qual traos
arcaicos convivem com a gnese do contemporneo como evidenciam
suas figuras animais nas quais o indivduo se encontra como que
imobilizado entre a expresso da racionalidade que a sociedade exige e as
demandas de sua individualidade. O permanente dj-vu o dj-vu de
todos
97
.
Mas isto no ocorre de forma a reduzi-la a um retrato de seu tempo
ou das angstias de um momento histrico especfico, o que seria retirar
tambm a sua fora: ela atinge uma universalidade exatamente porque as
assincronias que lhe do a fora da expresso no se encontram
resolvidas. Adorno comenta que os cenrios de Kafka so sempre
obsoletos
98
, e usa como exemplo o prdio que funcionava como escola
em O Castelo, do qual dito que reunia de modo estranho o carter do
provisrio com o do muito antigo
99
. O prdio significa a reelaborao do
arcaico, fugidia, j a priori obsoleta; sua simples lembrana ou resgate
100
no d conta de explicar o que ocorre. O arcaico deve ser pensado de
96
ADORNO, 1975, p. 10
97
AsK, p. 248
98
Ibid., p. 254
99
ibidem
100
O provisrio apontado por Adorno nesta passagem de Kafka nos indica o presente,
aquilo que no est, digamos assim, fixado. Se o provisrio se torna permanente, torna-se
passado. Percebe-se aqui certa reverberao da anlise de Benjamin, mas com uma
diferena de abordagem substancial: se em Adorno o passado (sob a forma de elementos
arcaicos) importa na medida em que condena e denuncia as prticas do presente
(SANTOS, 2008, p. 150), Benjamin busca as formas pelas quais o passado se mostra ainda
operante no presente, sendo o presente o meio pelo qual ele observa como a tradio se
transmite e se sustenta ou no.
48
acordo com seu entrelaamento com o presente, permanentemente em
construo.
Ou seja, para Adorno, enquanto a palavra do enigma no for
encontrada, o leitor permanece preso
101
. Enquanto no se decifrar o
funcionamento do tecido que gera e gerado por estas contradies, no
h como entend-las ou super-las. A busca desta decifrao das
condies do mundo exige um duplo olhar sobre o objeto da anlise, o
dj-vu em permanncia
102
: h algo de estranhamente familiar e
inquietante (un)heimlich - no modo como Kafka o descreve. E talvez sua
escrita tenha o poder de provocar em ns a surpresa de descobrir algo
que nunca havamos visto, mas que, no fundo, j suspeitvamos que
estivesse l. Ao provocar nossa razo, Kafka obriga-nos a utiliz-la de
forma crtica, apontando e mapeando as contradies do sistema.
Essa a ferramenta de resistncia em relao ao mundo
homogneo que nos cerca. S o trabalho do pensamento, consciente de
si mesmo, consegue escapar a esse poder alucinatrio e, segundo o
idealismo de Leibniz e de Hegel, a filosofia
103
. Ter a conscincia de si a
difcil tarefa em um mundo no qual a prpria noo do Eu j est
predeterminada, de acordo com o filsofo alemo, pelas assim chamadas
ferramentas que condicionam o processo de formao de conscincias.
Por este prisma, pensar - criticamente resistir a esse semipensamento
formatado, deslocar seu ponto de viso e ver o mundo com outros
olhos.
Seja fbula, alegoria, smbolo, parbola ou aplogo sem moral, o
carter de denncia e de estranhamento perante um mundo em mudana
no qual h uma profunda suspeio em relao a esta moral dita
positiva e que evidente nas formas clssicas dessas narrativas um
elemento importante para o entendimento do autor checo.
101
Ibid., p. 241
102
ibidem.
103
DE, p. 181
49
3 O MIMTICO
De que forma a narrativa de Kafka operaria uma representao
mimtica da realidade? Torna-se necessria uma anlise dos elementos
textuais no autor checo para esboarmos uma resposta a tal questo.
A imitao das aes do homem e da natureza, para Aristteles, a
essncia da arte, pois ela no se restringe a um retratar. Ao contrrio,
significa um fazer, uma prxis, um processo. Uma expresso consciente,
que no necessariamente precisa estar vinculada a uma linguagem falada.
Se para buscar a compreenso sobre Kafka necessria a
compreenso de seu mtodo de composio narrativa, no menos
importante o mapeamento de que elementos desta concorrem para que
seja possvel estabelecer uma relao entre o processo mimtico e a obra
do autor checo.
3.1 Gesto
Uma caracterstica do texto de Kafka a profuso de descries de
gestos e aes corporais. Mais que como uma simples nfase de um
dilogo, ele opera como elemento expressivo e significante na narrativa.
Em conflito direto com a leitura de Walter Benjamin, que influenciado por
Brecht analisou o gestual em Kafka em comparao ao teatro chins
104
,
Adorno fixa-se na relao entre linguagem e gesto, considerando este
como um contraponto para a palavra, uma forma de expresso antiga, a
qual supera o bloqueio de comunicao resultante da derrocada da
linguagem.
104
A extensa disputa intelectual entre Adorno e Brecht exigiria um texto exclusivo para ser
devidamente analisada. Por enquanto, importante citarmos a disputa de ambos por
influncia sobre o pensamento de Benjamin.
50
O gesto comunica tanto ou mais que a verbalizao do conceito, por
remeter diretamente - sem mediaes ou conceitos prontos - ao fato ou
ao que precisa ser comunicado. Observa-se assim no texto kafkiano uma
outra maneira de torcer a relao entre o emissor e o receptor da
informao (alm do deslocamento na dinmica entre narrador e
leitor
105
).
Tais gestos so os vestgios de experincias que foram
encobertas pelos significados. o mais novo estado de uma
lngua que enche a boca dos que a falam, a segunda
confuso babilnica, qual a dico sbria de Kafka resiste,
forando a inverter a relao histrica entre conceito e
gesto, como num espelho. O gesto o assim .
106
Tal inverso visvel em um trecho como este, de O Castelo, que
precede a demisso do pai de Olga da brigada de fogo. O chefe
Seemann no pode falar nada. D tapinhas sem parar nos
ombros do pai, como se desejasse que este fizesse sarem
as palavras que ele prprio deve dizer e no encontra. Nesse
meio tempo ri sem cessar, gesto com o qual quer com
certeza acalmar um pouco a si mesmo e aos outros; mas
uma vez que no sabe rir e nunca ningum ainda o ouviu rir,
no ocorre a nenhuma pessoa acreditar que se trata de um
riso. Mas o pai j est desesperado e cansado desse dia para
poder auxiliar Seemann; parece mesmo cansado at para
pensar no assunto de que se trata
107
. (grifos nossos)
Rudos ininteligveis e gestos substituindo palavras: o que no pode
ser dito pode ser expressado de alguma forma, ainda que incompleta. O
efeito do gesto sobre quem o contempla nos remete s imagens
expressionistas to caras ao escritor
108
, assim como s comdias mudas
105
Conforme o tpico O Narrador
106
AsK, p. 244
107
C., pp 203-204
108
AsK, p. 258
51
de Chaplin
109
e Buster Keaton (nascidas da fuso entre o vaudeville e o
teatro idiche), nas quais gestos extremos - emoldurados por trilhas de
piano - levam o espectador ao riso, ao choro ou ao terror
110
. O prprio
Kafka diz: uma vez que no sabe rir e nunca ningum ainda o ouviu rir,
no ocorre a nenhuma pessoa acreditar que se trata de um riso
111
. Cabe
lembrar que no cinema mudo o ato precisa ser exagerado para ser
reconhecido como tal.
Na correspondncia entre Adorno e Benjamin a respeito do ensaio
deste sobre Kafka, aquele faz uma interessante observao sobre esta
ligao no sem uma queixa a respeito da interpretao de Brod sobre
as obras:
Assim, com sua referncia banal ao filme, Brod parece haver
acertado em algo muito mais preciso do que poderia
suspeitar. Os romances de Kafka no so manuais de
direo para o teatro experimental, pois lhe falta, em
princpio, uma plateia que pudesse participar do
experimento. Eles so, antes, os ltimos e evanescentes
vnculos textuais com o cinema mudo (o qual, no por
coincidncia, desapareceu quase simultaneamente morte
de Kafka). A ambiguidade do gesto se d entre o mergulho
109
Nos arquivos de Walter Benjamin, abertos ao pblico em 2012, foi localizada uma nota
que permite ver esta relao de forma mais clara: "Chaplin chave para entender Kafka, na
medida em que Chaplin oferece situaes onde as condies do excludo e do deserdado, e
a eterna dor humana se encontram ligados de maneira nica s circunstncias mais
especiais da existncia hoje em dia, o regime do dinheiro, a grande cidade, a polcia... em
Kafka, todo acontecimento , ao mesmo tempo, imemorvel e uma notcia de ltima hora"
(http://diversao.terra.com.br/arteecultura/noticias/0,,OI5432400-EI3615,00-
Arquivos+do+filosofo+Walter+Benjamin+sao+apresentados+em+Paris+pela+primeira+vez.ht
m)
110
Principalmente nas pelculas de Wiene, Lang e Murnau. Alguns estudos indicam a
existncia de ecos do Nosferatu em textos de Kafka, principalmente em O Castelo e em
trechos dos Dirios e dos Oktavhefte, notadamente um trecho datado de 1922
(coincidentemente ano de produo de O Castelo e de lanamento do filme citado) que
reproduziria a chegada do viajante Thomas Hutter ao castelo do conde: J era tarde da
noite quando eu toquei a campainha do porto. Demorou bastante at que o castelo sasse
indubitavelmente das profundezas do trio e o abrisse. O senhor manda entrar, disse o
criado fazendo uma reverncia e abriu a alta porta de vidro com um solavanco sem rudos.
Da escrivaninha em que se encontrava ao lado da janela aberta e com um passo meio
esvoaante, o conde se apressou ao meu encontro. Observamos um ao outro nos olhos, o
olhar fixo do conde me causou estranheza. (KAFKA, 2006, p. 608, in BENITEZ, 2010, p.
103). Tal parentesco, se que possa ser chamado assim, levanta outra possibilidade: a de
que a figura do vampiro possa ser entendida como um novo tipo de devir-animal em Kafka.
111
C., p.232
52
no mutismo (com a destruio da linguagem) e a emerso
dele na msica - donde a pea mais importante na
constelao gesto-animal-msica provavelmente seja a
descrio do grupo mudo de msicos caninos de
Investigaes de um Co, que eu no hesitaria a equiparar a
Sancho Pana.
112
O gesto, ambguo, remete a algo que se encontra encoberto pela
linguagem. Benjamin e Adorno apontam na mesma direo por caminhos
diferentes: a literalidade e a ironia kafkiana efetuam-se tanto pela palavra
como pelo gesto. Por meio deste, Kafka produz literatura, que nos remete
ao que universal, e teatro, que nos leva ao concreto, ao
acontecimento
113
.
Os gestos tambm so indicativos de um processo de humanizao:
gesticular comunicao sem palavras que envolve compreenso mtua,
e a reproduo do gesto uma tentativa de contato e de semelhana. O
112
ADORNO; BENJAMIN, in ZISCHLER, 2005 ,p. 76
113
Para os estudiosos do teatro ps-dramtico, o conceito de Acontecimento significa a
particularidade do teatro ser uma arte que acontece na presena mtua de executores e
espectadores. Na viso deleuziana, acontecimento uma relao de foras concretizada
em um momento presente: "Em todo acontecimento, h de fato o momento presente da
efetuao, aquele em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, um
indivduo, uma pessoa, aquele que designado quando se diz: pronto, chegou a hora; e o
futuro e o passado do acontecimento s so julgados em funo desse presente definitivo,
do ponto de vista daquele que o encarna. (LS, p. 177). O acontecimento tem portanto um
carter simultneo e diferenciado no tempo (variando de acordo com o ponto de
observao) e na linguagem, pois diferente da proposio que o nomeia e tambm dos
estados de coisas aos quais estaria vinculado. Para Deleuze, "no se perguntar qual o
sentido de um acontecimento: o acontecimento o prprio sentido. O acontecimento
pertence essencialmente linguagem, mantm uma relao essencial com a linguagem;
mas a linguagem o que se diz das coisas." (LS, p. 34). Assim, o acontecimento
inseparavelmente o sentido das frases e o devir do mundo; o que, do mundo, possvel
captar via linguagem e isto permite que a prpria linguagem funcione. Entendendo o gesto
como uma forma de dizer/comunicar sem palavras, mesmo assim o gestual acaba por
assumir um status lxico. A obra em si o acontecimento, ou, para Deleuze, a arte a
contra-efetuao do acontecimento, uma nova significao, um rearranjo dos elementos
deste acontecimento. Tal rearranjo nos permite traar uma linha de fora entre a viso das
duplas Deleuze/Guattari e Adorno/Benjamin sobre a reapropriao e ressignificao
efetuada por Kafka em relao ao gesto e linguagem. Conforme SANTOS (2007, p.153),
um dos elementos que fazem de Kafka aquilo que ele significa no mbito literrio o fato
de ele expressar na literatura, e no no teatro, embora fazendo uso extensivo do gestual,
sua prxis de questionamentos lingusticos. Em outras palavras: uma herana do teatro,
como o quer Benjamin, e tambm uma reflexo (sobre a) da aporia lingustica, como o
quer, por sua vez, Adorno. (itlicos nossos)
53
macaco de Um Relatrio para uma Academia diz: Era to fcil imitar as
pessoas! Nos primeiros dias eu j sabia cuspir
114
. A dedicao do
protagonista em buscar a reproduo do gesto denota a busca da unio
com aquilo a que deseja pertencer.
S agora comeo o exerccio prtico. J no estava esgotado
demais pela aula terica? Certamente: esgotado demais. Faz
parte do meu destino. Apesar disso, estendo a mo o melhor
que posso para pegar a garrafa que me oferecida;
desarrolho-a trmulo; com este sucesso se apresentam aos
poucos novas foras; ergo a garrafa quase no h
diferena do modelo original; levo-a aos lbios e com
asco, com asco, embora ela esteja vazia e apenas o cheiro a
encha, atiro-a com asco ao cho. Para tristeza do meu
professor, para tristeza maior de mim mesmo; nem com ele
nem comigo mesmo eu me reconcilio por no ter esquecido -
aps jogar fora a garrafa de passar a mo com perfeio
na minha barriga e de arreganhar os dentes num sorriso
115
.
E a repetio do gesto, ato mecnico e desumanizante, leva ao
reconhecimento da humanidade do macaco pelos demais humanos,
conforme se l nesta passagem de Kafka:
De qualquer modo, que vitria foi tanto para ele como para
mim quando ento uma noite, diante de um crculo grande
de espectadores - talvez fosse uma festa, tocava uma
vitrola, um oficial passeava entre as pessoas -, quando
nessa noite, sem ser observado, eu agarrei uma garrafa de
aguardente deixada por distrao diante da minha jaula,
desarrolhei-a segundo as regras, sob a ateno crescente
das pessoas, levei-a aos lbios e sem hesitar, sem contrair a
boca, como um bebedor de ctedra, com os olhos virados, a
goela transbordando, eu a esvaziei de fato e de verdade;
joguei fora a garrafa no mais como um desesperado, mas
como um artista; na realidade esqueci de passar a mo na
barriga, mas em compensao porque no podia fazer
outra coisa, porque era impelido para isso, porque os meus
sentidos rodavam eu bradei sem mais al!, prorrompi
num som humano, saltei com esse brado dentro da
114
UMR, p. 67
115
UMR, pp 68-69. Todo o processo de humanizao do macaco se d pela reproduo dos
gestos, o que coloca este tambm no terreno da mimesis, tpico a seguir.
54
comunidade humana e senti, como um beijo em todo o meu
corpo que pingava de suor, o eco - "Ouam, ele fala!".
116
O significado do gesto na atualidade - operando-se aqui uma
articulao dialtica cara a Adorno, entre o elemento arcaico residual e o
tecido da modernidade - o que deve ser buscado, entendendo que no
processo a prpria linguagem experimenta uma profunda modificao,
pois de cdigo consciente para expressar significados, passa a ocult-los:
s vezes as experincias sedimentadas nos gestos seguiro a
interpretao que deveria reconhecer na sua mmesis um universal
reprimido pela conscincia humana
117
.
3.2 Mmesis
Se o gesto, mesmo exagerado, remete a algo que est interditado
compreenso mas que reconhecvel para quem o faz e a quem o
contempla, o conceito de mmesis
118
como imitao - aplicado obra
kafkiana implica em uma ruptura no uso comum da linguagem.
A mmesis para Benjamin tambm um processo de
reconhecimento do outro e do entorno. O agir no mundo se d a partir
deste reconhecimento; a mmesis uma prxis na relao
individual/social. GAGNEBIN observa que
116
UMR, pp 69-70
117
AsK, p. 244
118
Como o termo mmesis recorrente nas anlises de Adorno e Benjamin sobre Kafka,
necessrio que exploremos um pouco mais seu significado em ambos os pensadores. Para
SCHLESENER (2009, p. 149), por exemplo, (...) muito mais que simples imitao, a
mmesis se apresenta como a ao humana capaz de conhecer produzindo semelhanas,
ou seja, capaz de fazer-se parecido, trazer algo representao, encenar e expressar-se
pela arte, principalmente a dana, embora o termo no se restrinja a essa atividade. (...)
Nos escritos de Walter Benjamin, o conceito de mmesis assume um signicado central
continua SCHLESENER como uma capacidade humana que concretiza a nossa insero
no mundo por meio da percepo e da linguagem. A capacidade mimtica se apresenta
como o dom de reconhecer e de produzir semelhanas para compreender e ordenar o
mundo, atribuindo-lhe um sentido: representao e expresso so indissociveis nesse
processo. (2009, p. 149).
55
Como j ressaltava Aristteles, a mmesis ser ligada por
definio ao jogo e ao aprendizado, ao conhecimento e ao
prazer de conhecer. O homem capaz de produzir
semelhanas porque reage, segundo Benjamin, s
semelhanas j existentes no mundo. De maneira paradoxal,
essas semelhanas no permaneceram as mesmas no
decorrer dos sculos. A originalidade da teoria benjaminiana
est em supor uma histria da capacidade mimtica. Em
outras palavras, as semelhanas no existem em si,
imutveis e eternas, mas so descobertas e inventariadas
pelo conhecimento humano de maneira diferente, de acordo
com as pocas
119
.
Adorno compartilha em termos esta leitura de Benjamin, mas
considera que este reconhecimento do outro passa necessariamente pelo
mtodo dialtico para que no se transforme em simples replicao de
comportamentos, como so, por exemplo, os rituais nos quais os
guerreiros pintam as figuras de animais em seu corpo para adquirir a
fora e velocidade destes. Ou seja, para que a mmesis no se resuma a
simples imitao. A elaborao deste momento de mmesis pela razo se
d em direo ao trabalho: o comportamento imitado adquire um carter
social e funciona como sublimao da energia inicialmente direcionada ao
Eros. Conforme Adorno,
Inicialmente, em sua fase mgica, a civilizao havia
substitudo a adaptao orgnica ao outro, isto , o
comportamento propriamente mimtico, pela manipulao
organizada da mmesis e, por fim, na fase histrica, pela
prxis racional, isto , pelo trabalho.
120
Para Adorno, a imediaticidade no existe, pois dialeticamente
falando sempre h uma mediao, uma "imediaticidade mediata
(vermittelte Unmittelbarkeit), que provm do profundo (e compreensvel)
desejo de poder chegar a um conhecimento total, definitivo, no qual o
119
GAGNEBIN, 1993, p. 80
120
DE, p. 168
56
objeto seria realmente alcanado e no qual o sujeito poderia repousar
feliz
121
. Porm, Benjamin v a mmesis por outro ngulo, no como
reproduo/cpia, mas como semelhana: o movimento do pensar se d
no de forma linear, mas metafrica e contgua, ou "no num depois do
outro, mas num ao lado do outro
122
. E essa contiguidade e
descontinuidade permite momentos nos quais aquilo que est separado se
recombine para formar uma nova intensidade e, talvez, possibilitar a
ecloso de um verdadeiro outro
123
.
O mesmo embate se d nas anlises de ambos sobre Kafka. O ato
mimtico na obra de arte tem o poder de romper tal racionalizao e a
linearidade da ordenao do mundo; no entanto, para Adorno mmesis
no natureza, mas realidade social e desvelamento da dimenso da
alteridade. Na imitao ocorre um deslocamento do sempre-igual que
em si aterrador, pois nos coloca frente ao reconhecimento do Outro.
Proust estava familiarizado com o leve mal-estar suscitado pelo
reconhecimento da semelhana com um parente longnquo. Em Kafka, o
mal-estar se transforma em pnico.
124
Quanto mais forte o impulso
mimtico - seja o do medo
125
como o da felicidade originria,
experimentada na dissoluo das amarras da subjetividade e no contato
com o outro - mais rgidas so as interdies a ele e mais forte o efeito de
seu desvelamento.
O rigor com que os dominadores impediram no curso dos
sculos a seus prprios descendentes, bem como s massas
dominadas, a recada em modos de viver mimticos -
comeando pela proibio social dos atores e dos ciganos e
chegando, enfim, a uma pedagogia que desacostuma as
crianas de serem infantis - a prpria condio da
civilizao. A educao social e individual refora nos
homens seu comportamento objetivo enquanto
121
GAGNEBIN, 1993, p. 76
122
Ibid, p. 84.
123
Ibid. p. 84.
124
AsK, pg 249.
125
"A proteo pelo susto uma forma de mimetismo. Essas reaes de contrao no
homem so esquemas arcaicos da autoconservao: a vida paga o tributo de sua
sobrevivncia, assimilando-se ao que morto" (DE, p. 168).
57
trabalhadores e impede-os de se perderem nas flutuaes
da natureza ambiente. Toda diverso, todo abandono tem
algo de mimetismo. Foi enrijecendo contra isso que o ego se
forjou.
126
Pode-se dizer que possvel ver as obras de Kafka de acordo com o
conceito adorniano de arte como desafio ou negao da realidade, como
forma de denncia de suas contradies. O interessante ver este desafio
ocorrer no somente pela denncia, mas tambm pelo uso da mmesis:
uma superconformidade
127
que leva as imagens ao limite do absurdo
para apontar a insustentabilidade do real, ao ponto deste horror e ameaa
reais transformarem o homem ou o animal cheio de medo num bicho
imvel, quase morto, cuja presena no mais trada ao agressor por
nenhum movimento
128
.
Segundo tal interpretao, nesta imitao completa se camufla uma
estratgia de sobrevivncia. A indiferena dos personagens de Kafka
acaba mostrando-se uma forma segura para lidar com o mundo que os
rodeia, pois funciona como um tipo de imerso: ao se misturarem com os
ambientes opressivos, os personagens buscam escapar da opresso que
os ameaa.
Em A Metamorfose, isso visvel em dois momentos: o primeiro
quando o despertador bate novamente s sete horas e Gregor deixa-se
ficar quieto, respirando suavemente, como se porventura esperasse que
um repouso to completo devolvesse todas as coisas sua situao real e
vulgar
129
. Depois, ao ser descoberto pelos hspedes, com o desenrolar do
drama vemos que
Durante todo esse tempo Gregor esteve deitado no lugar
onde os inquilinos o haviam surpreendido. A decepo com o
malogro do seu plano, mas talvez a fraqueza causada por
muita fome, tornavam impossvel que ele se movesse. Com
126
DE, p. 169
127
Cf. nota 73.
128
GAGNEBIN, 1993, p.86,
129
M, p. 76
58
uma certa clareza, temia j para o instante seguinte uma
avalanche geral descarregada em cima dele e ficou
aguardando
130
.
Se a normatizao excessiva da sociedade uma forma de interditar
aquilo que rememore o processo mimtico
131
, a obra de Kafka realiza, por
seu carter extremamente racional, a reelaborao desta mmesis em um
tipo de linha de fuga
132
. O que no pode ser esquecido precisa ser
elaborado: nossa natureza animal e simultaneamente o que nos faz
humanos. A sociabilizao a sublimao das pulses e da mmesis em
direo ao trabalho deixa um resduo que no consegue ser eliminado
ou esquecido. A gnese social do indivduo entendendo esta como a
famlia, o trabalho e a organizao revela-se no final como o poder que
o aniquila. A obra de Kafka uma tentativa de absorver isso
133
.
Assim, o gesto mimtico - e a reproduo do gesto como prosa, no
caso especfico de Kafka - est relacionado diretamente ao mundo, ao
cotidiano e, de certa forma, histria: Os gestos perpetuados so em
Kafka instantes congelados
134
. A imitao no remete ao mtico, mas
histria, ao real.
prprio da experincia traumtica essa impossibilidade do
esquecimento, essa insistncia na repetio. Assim, seu
primeiro esforo consistia em tentar dizer o indizvel, numa
tentativa de elaborao simblica do trauma que lhes
permitisse continuar a viver e, simultaneamente, numa
atitude de testemunha de algo que no podia nem devia ser
130
M., p. 30
131
Conforme Adorno.
132
A escolha do termo remete propositadamente a Deleuze, pois tal ideia a possibilidade
de achar novas sadas a partir do que se apresentaria como dado ou imutvel - constitui um
dos pilares do pensamento poltico/esttico deleuziano. Como o estranhamento visto
tambm por Adorno como uma forma de provocar um deslocamento no receptor, tirando-o
da normatizao do sempre-igual e abrindo novas formas de pensamento, pode-se usar o
termo para ambos os autores.
133
AsK, p. 249.
134
AsK, p. 249
59
apagado da memria e da conscincia da humanidade
135
.
A questo da mmesis espelha simultaneamente a dificuldade das
relaes eu/outro e eu/mundo: a imitao/reproduo dos gestos como
busca da semelhana e da proximidade com o outro
136
, mas tambm
como uma estratgia de enfrentamento do medo e da ameaa que este
mesmo outro representa: a sensao de desconforto que derivada da
contemplao da alteridade e do reconhecimento desta alteridade
dentro de si.
Para superar esta dificuldade de relacionamento que se apresenta,
busca-se a semelhana mxima com o outro, chegando at mesmo ao
ponto da caricatura, se necessrio: mmesis como expresso do horror e
do humor. A imitao, o medo e o riso so usados como estratgias de
preservao, para que o indivduo possa se fundir com a massa sem
despertar suspeitas ou correr riscos. Assim, a escolha do macaco Rotpeter
pela imitao, em Um Relatrio para uma Academia, se mostra acertada:
mimetizar uma questo de sobrevivncia social.
3.3 Mutao/Sonho
O carter hermtico dos escritos de Kafka no oferece
apenas a tentao de contrapor abstratamente a ideia de
sua obra histria - o que ele prprio faz, em longas
passagens -, mas tambm a de retirar, por meio de uma
profundidade barata, sua obra do mbito histrico. Mas
precisamente como obra hermtica que ela toma parte do
movimento literrio do decnio da Primeira Guerra Mundial,
135
GAGNEBIN, 1993, p. 99. Se para Benjamin a histria s pode ser apreendida no
momento em que se cristaliza na obra, o que nos remete tambm noo de
acontecimento, Adorno busca apreender a histria na negatividade que a obra lhe impe,
dentro de um momento temporal que a cerca no qual se mesclam o efmero e a mesmice
(AsK, p. 249)
136
A pantomima, pan-mimesis, uma imitao completa e detalhada de um outro, assim
como uma forma de comunicao e expresso que rompe a necessidade da palavra.
60
que tinha Praga como um de seus pontos centrais, e a cujo
ambiente intelectual Kafka pertencia. Somente quem
conhece (...) consegue captar Kafka em seu horizonte
autntico, o do expressionismo. A sua mentalidade pica
procurou evitar o gesto lingustico deste expressionismo.
137
A assemblage de Kafka entre o teatro idiche (no qual o gesto
adquire uma funo primordial) e as figuras expressionistas e surrealistas,
materializada na relao gesto-palavra, evocam por vezes uma atmosfera
de sonho, notadamente na passagem dos ambientes e nos pequenos
detalhes que aparecem em suas descries. O passeio de Josef K. pelos
cartrios do tribunal, onde chegou por uma pequena escada de madeira
que saa do sto do prdio muito comprido e alto na Juliusstrasse
138
nos
remete s imagens de Escher
139
e do experimentalismo de Buuel e Dali
em Um Co Andaluz.
A prpria forma da narrativa aproxima mmesis e sonho, em uma
descrio minuciosa e hiper-real do ocorrido: a negao do sonho e a
oposio ao real, contudo, se do pela hiperconformidade a estes dois
elementos; o que descrito pode at ser inverossmil, mas descrito de
forma verossmil e rigorosa. Mais do que isso, parece perfeitamente
normal que as coisas sejam da forma apresentada; o sonho mostra-se,
em outros instantes, como um realismo elevado a seu limite. Kafka deixa
isso claro no incio de A Metamorfose: O que aconteceu comigo? -
pensou. No era um sonho.
140
. Adorno observa que ao liquidar o sonho
por sua onipresena, o pico Kafka levou o impulso expressionista to
longe quanto os lricos mais radicais
141
.
Ou seja, a atmosfera onrica que a narrativa assume destaca o
estranho dela e confere realidade a este estranho. O princpio que opera
aqui o da inverso narrativa (ou referencial): em A Metamorfose, em
137
AsK, p. 258
138
Conforme descrito no captulo segundo de O Processo
139
Como a litografia Relativity, de 1953.
140
M. p.5
141
AsK, p. 258
61
vez da histria transcorrer em direo ao clmax narrativo, ela j comea
no ponto mximo de tenso a transformao em inseto e termina de
uma forma anticlimtica, com a morte de Gregor por inanio e a
esperana em um futuro melhor por parte dos sobreviventes. Ou seja,
aqui a coisa narrada no caminha para o auge, ela se inicia com ele
142
.
O efeito de inverso tambm ocorre na prpria abertura da
narrativa, pois Gregor no acorda de um pesadelo, e sim para o pesadelo.
A relao com a noite e o ato de dormir/acordar tambm est presente no
incio de O Castelo
143
e de O Processo
144
, como se os personagens
acordassem dentro de um mundo onrico onde os absurdos se sucedem.
Mas a inverso s se completa se levarmos esse jogo de oposies a um
limite novo: se o comum o onrico, o incomum, um incomum
estranhamente familiar, real. Para Adorno,
pelo contraste com este sonho todo o resto confirmado
como realidade. (...) Tudo o que se assemelha ao sonho e a
sua lgica pr-lgica eliminado, e por isso o prprio sonho
eliminado. No o monstruoso que choca, mas sua
naturalidade
145
.
A realidade distorcida, leitmotif do expressionismo, desvela o real e
o assombro do humano capturado em um jogo de foras que parecem,
primeira vista, no fazer sentido exigindo, portanto, um grande esforo
de compreenso daquele que recebe o impacto da obra. Adorno apresenta
a tese de que tais elementos so fundamentais na apreenso da obra,
salientando a capacidade de Kafka em descrever os ambientes que
imagina.
Somente o visvel pode ser narrado, mas nesse processo o
visvel torna-se completamente estranho, transforma-se em
142
CARONE, 2009. p.32.
143
Ao chegar tarde da noite ao vilarejo, K. acaba por se alojar na sala da pousada, e seu
sono interrompido pelos curiosos camponeses.
144
Josef K. detido logo depois de acordar.
145
AsK, p. 246
62
imagem, no sentido mais literal da palavra. Kafka salva a
ideia do expressionismo no ao se esforar em vo para
escutar os sons primordiais, mas ao transferir para a
literatura os procedimentos da pintura expressionista. Ele se
relaciona com essa pintura da mesma maneira que Utrillo
com os cartes-postais, que teriam servido de modelo para
suas ruas cobertas de gelo. Diante do olhar de pnico que
retira dos objetos toda carga afetiva, essas ruas se
petrificam em algo diferente: nem sonho, que se deixa
apenas falsear, nem macaqueamento da realidade, mas sim
a imagem enigmtica dessa realidade, composta de
fragmentos dispersos
146
.
A pista para localizar estes fragmentos do real est nas elipses
narrativas que surgem como consequncia de seu estilo (ou forma) de
escrita/escritura: descontnuo, labirntico, com vazios que o leitor deve
rechear
147
. Para Adorno, como j dito, as aporias da sociedade na qual a
obra surge retornam como problemas inerentes de sua forma. Uma
sociedade na qual o absurdo a regra se v refletida em uma narrativa
na qual o absurdo elemento constitutivo, assim como a suspeita
universal, profundamente incrustada na fisionomia da poca
contempornea
148
. Sob este aspecto, a escrita kafkiana comunica a
necessidade do questionamento perante o que parece natural; ou, dito de
outro modo: do contraste entre o esperado (ou aquilo que se est
acostumado a ver) e o encontrado na leitura do texto resulta o potencial
de ruptura/negatividade da obra kafkiana.
O leitor deveria se relacionar com Kafka da mesma forma
como Kafka se relaciona com o sonho, ou seja, deveria se
fixar nos pontos cegos e nos detalhes incomensurveis e
intransparentes. O fato de que os dedos de Leni estejam
ligados por uma membrana ou que os executores paream
tenores so coisas mais importantes do que as digresses
sobre as leis
149
.
146
AsK, p. 261
147
MALDONADO, 2006, p. 136.
148
AsK, p. 263
149
AsK, p. 246. A viso de Adorno sobre a relao Kafka-sonho poderia sugerir que o
onrico contivesse o significado oculto de Kafka, mas possvel tambm conjecturar em
outra direo: a de que os detalhes do sonho operam a relao entre texto e leitor; ou seja,
63
Se em muitos momentos os textos de Kafka assumem este carter
supostamente onrico, exatamente deste carter que surge a
possibilidade de entendimento do real: devemos observar com especial
ateno aquilo que no deveria estar ali, indagar o porqu de aparecerem.
Tudo que nos cerca deve ser entendido de forma literal, sem espao para
duplas interpretaes. Este procedimento faz com que a narrativa
transmita humor, prazer e terror simultaneamente. As situaes se
sucedem muitas vezes sem um elo claro de ligao; esta aparente falta de
nexo narrativo cria o efeito do absurdo, triste, assustador e engraado ao
mesmo tempo. O fio condutor, para Adorno, no reside no que descrito
e sim na lgica que a narrativa segue
150
. Nas palavras do prprio Kafka,
o sonho revela a verdade atrs da qual se encontra o pensamento
151
.
Ao observarmos um texto como Um Sonho
152
, o homem que escreve
o nome de Josef K. na lpide teria a posio daquele que desvela a
que estes detalhes contribuem tanto para o entendimento do significado da obra como para
o estabelecimento de uma dinmica entre o leitor e o texto kafkiano. Permitem no apenas
interpretar o texto, mas construir o significado a partir desta dinmica. Nesta acepo, a
anlise de Adorno aproxima-se das de Deleuze e Guattari porque, para ambos, to
importante como o porqu do sonho na produo kafkiana o para qu ele funciona na
obra.
150
Carone, referncia na traduo de Kafka no Brasil, segue a mesma linha quando declara
que "a importncia da obra, toda a sua fora, no vem propriamente da histria contada,
mas sim da sua coerncia e da sua extraordinria unidade, do seu timbre particular
inconfundvel. (...) na verdade no se ouve seno essa voz, e essa voz inteligvel de
imediato, mas no possvel dizer o que ela de fato exprime, apesar da angstia, da
desolao, do humor e da falta de sada do entrecho". (Entrevista ao jornal O Estado de So
Paulo, edio de 02 de julho de 2000.)
151
S, p. 7. Guattari, ao analisar os sonhos de Kafka registrados em suas cartas, anotaes e
dirios, nota que o estgio de sonho distinto tanto do sono como da viglia, e que Kafka se
queixava constantemente do esgotamento ao que o sonhar o levava, contraponto ao vigor
que o escrever lhe trazia. O estgio entre sono e viglia pode tanto se referir ao onrico do
sonho como o da escrita, momentos nos quais o sentido colapsa. (PELBART, p.5)
152
Este texto de Kafka foi originalmente pensado para ser um dos captulos de O Processo,
mas foi eliminado pelo autor. Adorno considera que o intento de Kafka ao retirar o captulo
em questo foi o de que a fronteira entre real e imaginrio permanecesse nublada. Se o
sonho de Josef K. contemplando sua sepultura se mantivesse na obra, no apenas o final
estaria comprometido como tornar-se-ia evidente que o que ocorria era real, incluindo todos
os movimentos de suspenso da descrena, as salas contguas, as membranas entre os
dedos, etc. Tais elementos fantsticos, agora desprovidos da aura dbia, perderiam o
sentido na obra. (cf. AsK, p. 243)
64
verdade pela palavra
153
. O coveiro o prprio escritor, pois este sabe o
destino da personagem e o escreve na obra, sabe a verdade da obra.
Somente o escritor sabe o real significado ou inteno do que escreve; por
no se ter a possibilidade de compreender isto, o nico ponto de
referncia para o leitor se encontra em admitir a palavra escrita como a
realidade em si. O sonho o real e aquilo que est descrito na narrativa
a nica realidade ou verdade que temos, mas uma verdade incompleta e
imprecisa. O despertar de Josef K. ao final do conto j lhe d a certeza de
seu destino, assim como a ns, participantes da trama. Assim, inverte-
se a lgica sonho-realidade: acordamos para o pesadelo e sonhamos com
o destino mais real e inexorvel.
3.4 Humor
A obra de Kafka tambm apresenta uma dimenso pouco explorada:
ao descartar as interpretaes mais comuns sobre sua obra, assume-se
que o entendimento sobre ela deve surgir da leitura do texto e no da
acomodao deste a posies predeterminadas. A autoridade de Kafka
a dos textos
154
. Recorde-se a crtica de Adorno s interpretaes
correntes do texto kafkiano, insistindo numa literalidade de
interpretao
155
que nos leva ao chiste em algumas das situaes
153
Alm da talvez bvia referncia aos escritos e religio judaica que isso possa significar,
podemos ver este sonho dentro do sonho como um exerccio de metalinguagem, uma
referncia de Kafka ao fato da literatura permitir a criao de um universo onde onrico e real
se amalgamam e no qual o homem que escreve na lpide a representao do prprio
Kafka. O conto um sonho que ocorre dentro de uma fico.
154
AsK, p.242
155
interessante observar que o texto de Deleuze/Guattari sobre o autor checo tambm
defende tal literalidade ao descartar de forma contundente o psicologismo nas leituras do
autor, o que ser tratado no decorrer do trabalho. Estranhamente, Adorno considera que
Kafka opera fundamentalmente e com maestria por alegorias (AsK, p. 242, cf. nota 75) e tais
alegorias no conduzem a uma determinao definitiva de sentido do que est escrito, no
que acompanha o pensamento de BENJAMIN (1985): a palavra desdobramento tem duplo
sentido. O boto se desdobra em flor, tambm o papel dobrado em barco que se ensina a
criana a fazer desdobra-se em folha lisa. E esse segundo desdobramento adequado,
com efeito, parbola, ao prazer do leitor ao alis-la, at que seu significado caiba na palma
da mo. Mas as parbolas de Kafka desdobram-se no primeiro sentido, como o boto se
65
descritas. Tal literalidade um processo que ocorre em dois planos que se
entrecruzam: forma e contedo (ou enunciado e enunciao
156
) que, para
Adorno e Benjamin, so uma reminiscncia da tradio judaica e da
leitura da Tor, mas que tambm remete a elementos de comdia. Isso
notado por Adorno em sua anlise
157
.
desdobra em flor. (pp. 147-148). Por este critrio, seria possvel falar na existncia de uma
literalidade alegrica - ou de alegorias literais enquanto figura de linguagem per se que
definiria a forma da obra kafkiana? Um termo desses deve ser usado com srias reservas,
por ser aparentemente paradoxal. Porm, se podemos entender literalidade como uma
correspondncia direta entre signo e significado (assim como alegoria como a aluso a um
significado a partir de um deslocamento do sentido do signo utilizado), talvez vejamos um
estranho fenmeno em Kafka: a compreenso do significado do que escrito s possvel
a partir da interpretao literal de figuras alegricas, como um homem inseto ou animais
falantes. Para entendermos o significado de suas alegorias, precisamos interpret-las de
forma literal. Isso adiciona equao a figura do intrprete, estabelecendo um terceiro plano
de funcionamento do dispositivo literrio. TADEU (2005, p. 1331 et seq.), ao analisar a
abordagem de Deleuze sobre a diferena entre metfora e literalidade, observa que para o
autor francs a metfora uma operao lingustica, uma palavra pela outra, enquanto a
literalidade, o ao p da letra, prope justamente uma operao extralingustica, material,
emprica, uma coisa pela outra. A primeira, como operao lingustica supe uma
identidade, uma semelhana, uma similitude, uma equivalncia de sentido, uma
equivalncia semntica. No samos, aqui, da significncia, apenas trocamos uma por outra.
A segunda, como operao material, supe um isomorfismo, uma equivalncia de
funcionamento, uma equivalncia pragmtica (p. 1335). Se o realismo de Kafka, conforme
Carone, opera na juno entre o que as coisas so e como elas so percebidas pelo olhar
alienado (Cf. nota 38), a alegoria surge a partir de tomarmos ao p da letra aquilo que est
escrito, por mais absurdo que isto parea.
156
ANSCROMBE e DUCROT (2010, passim) definem enunciao como a atividade de
linguagem exercida por aquele que fala no momento em que fala , o que exige que aquele
que ouve o que dito tenha tambm a compreenso dos signos e cdigos usados por
aquele que enuncia. O produto do ato de enunciao o enunciado, sequncia acabada de
palavras de uma lngua emitida por um falante. Do ponto de vista da estilstica, TODOROV
(1982, passim) distingue duas divises: a do enunciado que se ocupa do aspecto verbal,
suas particularidades fnicas, morfolgicas, semnticas, sintticas; e a da enunciao, que
se ocupa da relao entre protagonistas do discurso: locutor, receptor, referente.
157
Tal relao tambm sugerida na leitura deleuzoguattariana. Deleuze apresenta outra
dimenso de Kafka como complemento ou contraponto ideia de abandono, relacionada
sua viso (baseada em informaes de Max Brod, responsvel pela publicao dos textos
de Kafka aps sua morte) de que h uma intencionalidade no absurdo kafkiano, e esta
intencionalidade busca o humor e no a tristeza. Para Deleuze, em sua argumentao para
refutar as leituras ditas densas, Kafka exige uma leitura bem-humorada para adentrarmos o
rizoma de sua obra, mas sem deixar de reconhecer seu carter poltico e seu potencial de
experincia. Assim, rir ao ler Kafka seria uma verdadeira subverso em relao s leituras
tradicionais, tidas por ele como interiorizadas e por isso mesmo emasculadas do potencial
poltico e social que a literatura menor possuiria. Se o mundo surge como um monolito
absurdo perante os olhos dos personagens de Kafka, a sada para este mundo no o
desespero e a melancolia, mas o riso sarcstico. Conforme Deleuze, nunca houve um autor
to cmico e alegre do ponto de vista do desejo; nunca houve autor mais poltico e social do
ponto de vista do enunciado. Tudo riso, a comear pelo Processo. Tudo poltico, a
comear pelas Cartas a Felice (K., p. 42)
66
Ocasionalmente, a literalidade chega, por associao de
palavras, ao extremo do chiste. Assim, por exemplo, na
historia da famlia de Barnabs em O Castelo, onde est dito
que o funcionrio Sortini teria ficado bei der Spritze (junto
bomba) na festa do corpo de bombeiros. A expresso
coloquial alem, que designa a fidelidade ao dever, levada
a srio. O respeitvel personagem fica ao lado da bomba dos
bombeiros, ao mesmo tempo que se alude, como nos atos
falhos, ao desejo grosseiro que leva o funcionrio a escrever
a carta fatal a Amlia
158
A leitura ao p da letra do que descrito remete a elementos do
cinema mudo, como a perseguio policial na chegada ao edifcio onde
Brunelda vive (em O Desaparecido/Amerika). Porm, remete tambm ao
dito sal judaico
159
- um humor sarcstico, que mostra a capacidade de
rir de suas prprias mazelas e caractersticas, historicamente relacionado
a este povo, mas que ganhou corpo na Europa oriental no final do sculo
XVIII
160
como forma de lidar com a dura realidade.
Segundo Feldman (2009), o humor judaico uma tentativa de
nomeao do que no satisfaz
161
na cultura e cotidiano do povo judeu,
mas que opera de uma forma mais simples e eficaz do que a pura
denncia dos motivos desta insatisfao, pois tal oposio pura e simples
envolveria um conflito consigo mesmo e com suas origens. Com ele, o
indivduo tem a chance de se separar de sua cultura e demonstrar seu
desagrado sobre alguns temas que o cercam, sem que haja uma punio
por isso
162
. mais simples lidar com questes individuais ou de grupo
por meio do riso do que pela ruptura.
Considerando que entre suas caractersticas se encontram a nfase
na incongruncia, o recurso a interpretaes literais, absurdas e a crtica
cida da relao entre os indivduos e as estruturas de poder, do
158
AsK, p. 243
159
Revista Morash ed. 51 - dezembro de 2005. Publicao do CBSp. So Paulo. SP
160
Cf. BRUMER, A. O Humor Judaico em Questo. In WebMosaica - Revista do Instituto
Cultural Judaico Marc Chagall. V1 N.2 - Jul-dez 2009
161
FELDMAN, L. Humor judaico: o sorriso entre lgrimas. Webmosaica. 2009, p. 27-28
162
ibidem
67
autoritarismo e das normas que parecem no ter sentido para o homem
comum, no um tipo de humor que apele para o riso fcil, para simples
jogos de palavras de conotao dbia ou duplo sentido, pastelo ou de
personagens caricatos com frases mordazes na medida certa para agradar
ao leitor comum, como o humor de seriados de costumes com suas
crianas mais espertas do que adultos ou idosos que repetem imprecaes
a todo momento: o humor judaico induz reflexo. um humor
reservado, no provoca o riso fcil, a gargalhada e sim um pensativo
sorriso
163
.
Tais elementos influenciaram sobremaneira os espetculos teatrais
da poca, alm de serem facilmente reconhecveis na prosa kafkiana.
Sabe-se que em 1911 Kafka assistiu a apresentaes de teatro idiche em
Praga
164
e que a amizade com Isaac Lwy, ator da companhia que se
apresentou na cidade, teve tremenda influncia em sua literatura. O
idiche tem entre um de seus trunfos o uso pouco ortodoxo do texto, pois
no raro os artistas, a partir de comentrios (espontneos ou no) da
plateia, improvisavam dilogos nos quais o absurdo era a tnica. O dito
humor judaico rico em passagens nas quais, por meio da crtica irnica,
inteligente e at excessiva aos arqutipos de sua cultura, busca o
esvaziamento dos esteretipos atribudos ao grupo por outras
coletividades. De uma aparente submisso, decorre a afirmao da
prpria fora. Com isto em mente, uma passagem do texto de Adorno se
torna mais clara:
O mundo antes revelado como sendo to absurdo quanto o
seria para o intellectus archetypus. (...). Mas a ironia destes
traos, muitas vezes notada, faz parte do prprio contedo
doutrinrio. Kafka no pregou a humildade, mas um
comportamento mais testado contra o mito: a astcia. Para
ele, a nica, mais fraca e menor possibilidade de o mundo
no ter razo a possibilidade de lhe dar razo. (...). O
humor de Kafka deseja reconciliar o mito atravs de uma
163
SCLIAR, in BRUMER, p. 8
164
Kafka comentou extensivamente sobre tais apresentaes, assim como sobre seu
envolvimento com duas atrizes e sua amizade com o ator Isaac Lwy, em seus Dirios.
68
espcie de mmica. (...) Como h milhares de anos, Kafka
procura a salvao pela incorporao da fora do inimigo
165
.
Se a observao de que Kafka incorporou escrita o sistema
burocrtico em que vivia, recriando na fico o estilo protocolar, como
forma de registro e ironia
166
for analisada sob este aspecto, esta
absoro surge como denncia, crtica e resistncia ao mundo que cerca o
autor de Praga.
Ao usar de frmulas do humor judaico - a salvao pela fora do
inimigo
167
- para tal denncia, Kafka combate o isolamento da cultura
judaica em direo a um terreno acima de culturas regionais, em direo
a temas que transcendem fronteiras nacionais
168
. O dito absurdo de suas
obras opera como denncia do absurdo do mundo. Um combate
burocratizao por meio de um texto rgido como um relatrio. Por isso o
falsum o index sui: atesta-se por si e, por meio disso, revela a verdade
oculta.
Parte do enigma reside na denncia e definio do real por meio do
absurdo, do caricato e do cmico que sua interpretao ao p da letra
proporciona. Um conto como O Novo Advogado um bom exemplo de
como o absurdo pode ser usado como ferramenta cmica e ao mesmo
tempo crtica. O mais absurdo talvez no seja o fato de Bucfalo, o cavalo
de Alexandre Magno, se tornar advogado, mas a compreenso das
pessoas de que, sendo a sociedade moderna aquilo que
169
, o pobre
animal no tinha mesmo outra alternativa na vida. Ou seja, dito de forma
165
AsK. p. 268
166
CARONE, 2000. Entrevista a OESP. 02/06/2000
167
AsK., p.168.
168
A obra de Kafka apresenta caractersticas que permitem alinh-la ao conceito de
Weltliteratur (Cf. CARONE, 2005, p. 72). Para Goethe, tal literatura tem como caracterstica
aquilo que h em comum entre as diferentes culturas, sem que se apague a individualidade
que se baseia em diferenas nacionais (KESTLER, 2010), no se constituindo em uma
homogeneizao cultural nem na superioridade de uma cultura ou literatura sobre as
demais. O que comum a todos, este carter humano, o que est em primeiro plano
neste tipo de literatura, que no restrita nem por questes geogrficas nem mesmo pelas
inmeras diferenas entre as culturas.
169
KAFKA, 1988, p. 69
69
popular, o mundo no est fcil nem para quem, digamos assim, tem
estirpe ou amigos poderosos (no caso de Bucfalo e Alexandre, muito
poderosos). Ao p da letra, podemos ler tambm que at mesmo um
cavalo conseguiria trabalhar como advogado poca de Kafka, o que
nivelaria os advogados a animais
170
.
A ironia kafkiana mostra a impossibilidade de separao entre o
negativo e o positivo uma coisa definida tambm pela determinao
de sua negao
171
. Assim, a ironia funciona como uma forma de lidar com
o fato de que a identidade de um indivduo ou de um grupo se forma,
muitas vezes, pela oposio ou contraste em relao a outros grupos ou
ideias. No caso de Kafka, pode-se pensar que ele pertence a vrios grupos
simultaneamente e, de certa forma, ele um estrangeiro em todos eles. O
humor surge em um mundo no qual o que se faz mais visvel o horror e
a opresso, o que nos remete ao inslito
172
de uma risada que
exatamente pelo seu exagero transcende a simples diverso: uma
expresso - o riso - que transcende a palavra escrita
173
.
170
Visto que Kafka era advogado, o conto torna-se irnico e um pouco autodepreciativo
exatamente como as caractersticas j apresentadas do humor judaico.
171
Ele [Kafka] o criptograma da fase final e resplandecente do capitalismo, que Kafka
excluiu para determin-la mais precisamente em sua negatividade. (AsK, p. 252).
Importante salientar a coincidncia de anlise entre Adorno e Deleuze sobre a obra kafkiana
como retrato da passagem de modelos na sociedade; no caso do francs, a passagem entre
sociedades disciplinares e de controle.
172
Inslito este que pode ser relacionado ao inquietante conforme FREUD, como veremos
no captulo 4 Das Unheimliche.
173
Tanto Adorno como Deleuze notam a importncia do teatro idiche em Kafka e sua
capacidade de comunicar via cdigos corporais. No rompimento da palavra, em si uma
experincia de linguagem, se instala a capacidade de resistncia: para o filsofo alemo,
resistncia como denncia das contradies da sociedade que suporta a obra, como aquilo
que surge a partir do que se mostra mais roto e arruinado na vida social. O conceito de runa
em Adorno, assim como em Benjamin, remete ao eco. Se as questes de uma sociedade se
encontram imbricadas na obra de arte, tambm possvel rastrear aquilo que resultou no
surgimento dessas questes, os resduos de cada fase na histria. Daquilo que se mostra
destrudo, buscar novos significados. Para PEREIRA (2007), Benjamin saberia que o
homem moderno um indivduo destitudo de experincia; , portanto, um ser cuja condio
de perda se anuncia num mundo de escombros, em que se veem perfilados em runas os
grandes valores antigos. O mundo moderno um mundo cuja histria foi desagregada, nele
o passado j no se encontra contido no presente, remanesce apenas como uma lembrana
difusa de fatos que, para ele, no lhe dizem mais respeito. J para Deleuze, a resistncia
surge como multiplicidade ou rizoma que forma a mquina de escritura de Kafka, como
potncia de vida que aparece pelas brechas do campo majoritrio do pensamento, pelos
interstcios de um sistema dominante. Em ambos os casos, a resistncia se mostra como
70
Desta maneira
O escritor torce a linguagem, f-la vibrar, abraa-a, fende-a,
para arrancar o percepto das percepes, o afeto das
afeces, a sensao da opinio visando, esperamos, esse
povo que ainda no existe. (...) ... a tarefa de toda
arte(...). Um monumento no comemora, no celebra algo
que se passou, mas transmite para o futuro as sensaes
persistentes que encarnam o acontecimento: o sofrimento
sempre renovado dos homens, seu protesto recriado, sua
luta sempre retomada. Tudo seria vo porque o sofrimento
eterno, e as revolues no sobrevivem sua vitria? Mas o
sucesso de uma revoluo s reside nela mesma,
precisamente nas vibraes, nos enlaces, nas aberturas que
deu aos homens no momento em que se fazia, e que
compem em si um monumento sempre em devir, como
esses tmulos aos quais cada novo viajante acrescenta uma
pedra.
174
O surreal dos ambientes, as atitudes egicas e os gestos muitas
vezes desprovidos de lgica dos personagens, a sisudez burocrtica do
texto e a aparente fragmentao da narrativa levam o leitor a um ponto
em que ele se questiona, em um riso sardnico, sobre se realmente aquilo
no poderia ser de outra forma, fazendo-o, por um instante, contrapor
esta viso com a sua percepo de mundo. Quem, ao ler o discurso
devastador de Josef K. frente ao juiz de instruo em O Processo, no se
imaginou, nem que seja por um instante, realizando algo semelhante
diante de uma situao na qual se sente flagrantemente desrespeitado?
voz/expresso daquilo que no est visvel de imediato no tecido social predominante,
apesar de que no pensamento de Adorno e Benjamin temos a rememorao como
estratgia e, no de Deleuze, como instncia do novo.
174
DELEUZE, 1992, pp. 228-229. interessante a analogia possvel entre a palavra e o
tmulo, visto que sma, da qual derivou signo e semntica, tem como significado originrio
tmulo. Conforme GAGNEBIN (2006), isto um indcio evidente de que todo o trabalho de
pesquisa simblica e de criao de significao tambm um trabalho de luto. E que as
inscries funerrias estejam entre os primeiros rastros de signos escritos confirma-nos,
igualmente, quo inseparveis so memria, escrita e morte, (p. 38). Se aplicarmos esta
relao ao texto deleuziano, teria a palavra discurso, literatura menor a misso da
rememorao, de nos fazer lembrar da necessidade de irmos em frente, da possibilidade de
um devir?
71
O mundo abre-se ao protagonista e desta forma tudo pode
acontecer: nas dobras do surreal descortina-se o terror e o desamparo
da existncia. Porm, isso ocorre de uma forma contida, sem rompantes
ou descontrole: um certo humor negro surge nas sombras, aparece nos
detalhes do viver e expe inapelavelmente que nossa compreenso usual
da realidade e da existncia est inequivocamente equivocada, pois est
contaminada pelo amortecimento do reconhecimento de si e do outro, ou
seja, pela regresso da razo.
Imaginem a arte de Kafka como um tipo de porta, e a ns,
leitores, batendo nesta porta, mais e mais, no apenas
querendo entrar, mas precisando disso desesperadamente.
No sabemos o porqu, mas podemos sentir este desespero
absoluto para entrar, batendo e empurrando e chutando,
etc. Ento, finalmente, a porta se abre...e se abre para fora:
ns estvamos o tempo todo dentro
175
.
Estamos do lado contrrio da porta. E Kafka sorri, educadamente,
de nossos esforos infrutferos.
3.5 Horror
Pode-se dizer, ento, que o humor encontrado em Kafka a partir
desta interpretao possui um componente de horror em sua estrutura,
um horror que antes se imiscua quase imperceptivelmente em cada
palavra
176
. Mas se esse horror estava oculto, de que forma ele se desvela
medida em que lemos Kafka? Como a linguagem efetua este
desvelamento na estrutura da obra? Para localizar este componente de
horror, preciso conceituar o que quer se dizer com tal expresso. Como
j visto, no possvel reduzir a obra kafkiana a um expoente da
175
WALLACE, 1998.
176
AsK, p. 251
72
literatura fantstica ou de horror do incio do sculo XX
177
. O componente
de horror, assim como do fantstico em sua obra, est vinculado a outra
problemtica: a do irrepresentvel, o que nos perturba; o que no pode
ser descrito facilmente.
Uma observao de Kafka datada de 25 de outubro de 1915 para
seu editor, Kurt Verlag, mostra a inteno clara do escritor em buscar o
impacto do irrepresentvel na imaginao de seu leitor:
Prezado Senhor: O sr. mencionou recentemente que
Ottomar Starke ser o autor de ilustraes para A
Metamorfose. Na medida em que conheo o estilo do artista,
essa possibilidade me causou um pequeno e talvez
desnecessrio receio. Ocorreu-me que Starke, como
ilustrador, poderia tentar desenhar o inseto propriamente
dito. Isto no, por favor, no! No quero impor-lhe
restries, mas apenas fazer este pedido devido ao
conhecimento mais profundo que tenho da histria. O inseto
no pode ser representado. No pode sequer ser visto
distncia.
178
H um descompasso entre a experincia do horror e sua
representao, j que esta no capaz de abrang-lo totalmente
179
. Da
mesma forma, a representao funciona como um sistema de
ordenamento da realidade que nos cerca. Por isso, o acontecimento
extraordinrio, que nos provoca pasmo, estranhamento ou horror, pe em
177
Cf. o tpico 2.1
178
JESUS, 2011, p.5
179
Um problema crucial da filosofia, a relao entre realidade, pensamento e representao
obriga-nos a analisar a real possibilidade de apreendermos algo pela conscincia. Na
separao clssica entre sujeito e objeto do conhecimento, a representao funcionaria
como o elo entre o representante (o sujeito) e o representado (o objeto): A noo de
representao tem sido empregada, em termos gerais, para designar a forma sob a qual
algo se apresenta, como distinta da simples apresentao de alguma coisa; enquanto tinha
a ver com uma atitude cognoscitiva, a dita noo se referia maneira segundo a qual um
sujeito, ou um meio de representao, capta algo que se lhe apresenta (ARNAO, p. 188-
189). Isso tambm vale para a problemtica do sujeito, j que este uma representao do
ser ou de si. A representao se mostra sempre incompleta ou no-correspondente ao
objeto representado, seja pela impossibilidade de separao completa entre quem sabe e o
que se sabe (entrando em um terreno caro a Bergson) como na afirmao kantiana de que
somente podemos conhecer as representaes, e no as coisas em si, o que indica uma
diferena categorial entre elas.
73
questo a representao que temos do mundo, pois desestabiliza toda a
compreenso que a representao propicia, visto que ela um princpio
de inteligibilidade, de razo.
180
O despertar de Gregor Samsa em A Metamorfose um exemplo de
acontecimento extraordinrio no qual a perda de sentido, a perda da
representao, se d de forma imediata: a sentena O que aconteceu
comigo?
181
exemplar. O desconhecido no est apenas frente do
protagonista, como futuro: constitutivo de seu presente e de seu
passado - de sua identidade ou representao de si. Paradoxalmente, o
efeito de tal acontecimento extraordinrio maior no gerente e na famlia
do que no prprio Gregor em um primeiro momento, visto que este, ao
abrir a porta
ouviu o gerente soltar um oh alto soava como o vento
que zune e ento Gregor o viu tambm: era o mais
prximo da porta e comprimia a mo sobre a boca, enquanto
recuava devagar, como se o impelisse uma fora invisvel que
continuasse agindo de modo constante. A me apesar da
presena do gerente, ela estava ali com os cabelos ainda
desfeitos pela noite, espetados para o alto a principio fitou
o pai com as mos entrelaadas, depois deu dois passos em
direo a Gregor e caiu no meio das saias que se espalhavam
ao seu redor, o rosto totalmente afundado no peito. O pai
cerrou o punho com expresso hostil, como se quisesse fazer
Gregor recuar para dentro do quarto, depois olhou em volta
de si, inseguro, na sala de estar, em seguida cobriu os olhos
com as mos e chorou a ponto de sacudir o peito poderoso.
182
Nota-se a ausncia da descrio do estado de Gregor por parte
daqueles que o viram e isso a torna mais vvida. O horror que no dito
mais assustador do que o que mostrado de forma explcita, assim
como a perda da referncia de si mais chocante para o outro do que
para o prprio Eu. Enquanto Samsa tenta argumentar, o gerente, em
completo desespero
180
FAVARETTO, p. 19
181
M., p.7
182
M., p.24
74
tinha virado as costas e s lhe dirigia o olhar por cima dos
ombros trmulos, com os lbios revirados. E durante a fala de
Gregor no ficou parado um instante, recuando sem perder
Gregor de vista, muito gradualmente, em direo porta,
como se houvesse uma proibio secreta de deixar a sala. J
estava na ante-sala e, pelo movimento sbito com que pela
ltima vez tirou o p do cho da sala de estar, seria possvel
acreditar que acabava de queimar a sola do p. Na antessala,
entretanto, esticou longe a mo direita, no sentido da escada,
como se l o aguardasse uma salvao decididamente
extraterrena
183
.
A incapacidade de comunicao entre Gregor e o restante do
mundo, seja pela incompreensibilidade do que dito entre eles como da
recusa em estabelecer contato (por parte do gerente e, em muitos
momentos, da famlia) retiraria a possibilidade de se lidar com a situao
gerada pela metamorfose. O incomunicvel o indizvel, o inominvel. O
horror no se comunica, se vive. E o fato de no poder ser descrito o
acentua: a linguagem ou melhor, sua limitao fundamental para
isso.
O horror poderia ser entendido como a realidade sem filtro: o
simples fato de organizarmos a linguagem para expressar o que se sente
ou contempla cria uma mediao entre o fato e o entendimento. Se o
horror o fundo das coisas, a cultura e a linguagem (a arte) estariam a
para cont-lo
184
. Com isto em mente, a ausncia de
comunicao/linguagem entre Gregor e sua famlia torna a situao mais
angustiante, incontida e real. De forma similar, a escrita rgida de Kafka,
a dita pobreza do lxico utilizado e a forma pouco usual de organizao de
sua narrativa acabariam por possibilitar uma melhor representao deste
fundo exatamente por deixar espaos abertos ao leitor. A literalidade em
cada palavra no engessa o texto ou restringe sua compreenso.
183
M., pp 26-27
184
WARIN, apud FAVARETTO, p. 20
75
Ao interpretar figuras de linguagem de forma literal, aparentemente
retirando delas seu carter alegrico, Kafka as ressignifica, expondo a
falncia da linguagem como forma de conteno deste horror. O horror se
torna explcito por meio da literatura que deveria, em sentido contrrio,
impedir seu desvelamento.
76
4 DAS UNHEIMLICHE
O manejo da tcnica da alegoria por Kafka cria um espao de
estranhamento em sua narrativa. Somando-se este fato s estranhas
figuras nas quais o humano e o inumano se confundem, a inquietao
gerada permitiria uma reflexo sobre categorias filosficas to dspares
como o sublime, a subjetividade e a mmesis? O estranhamento causado
pelos textos do autor de Praga pode, sua maneira, ser um indicativo da
presena de tais categorias na obra. A chave seria o conceito de
inquietante, uma ruptura entre o familiar e o inusitado.
Cabe, ento, uma anlise dos elementos constitutivos deste
estranhamento e o mapeamento de sua funo na obra de Kafka, que
desvela o inslito a partir do banal. O segredo estaria no no que se
mostra, e sim no que se oculta, no irrepresentvel e no no-representado
na obra?
4.1 Do sublime ao inquietante
Fazer o negativo nosso dever. O positivo j nos foi dado
185
.
Os textos de Kafka, talvez ao contrrio do que normalmente
acontece com outras obras artsticas de valor reconhecido, no provocam
uma sensao de satisfao da Razo ou um arrebatamento dos sentidos.
So feitos de interditos
186
, de pequenos ambientes
187
. Da sensao de
185
Aforismo 27, in AsK.p.269
186
A porta e o guardio em Diante da Lei, uma interdio tanto no movimento do
protagonista como um tipo de linguagem cifrada, algo entre-dito, com significado nas
entrelinhas.
187
As salas apertadas e sem ventilao de O Processo so exemplares neste sentido,
principalmente o aposento de Titorelli. Da mesma forma, o quarto de Gregor Samsa em A
Metamorfose se torna um depsito de tudo aquilo que descartado pela famlia, diminuindo
cada vez mais o espao de locomoo do rapaz-inseto.
77
sempre existir algo fora de lugar, uma aresta que incomoda
constantemente o leitor.
uma obra que certamente prescinde da busca pelo belo, mas que
possui uma relao dbia com o conceito de sublime: nela no h uma
ultrapassagem dos sentidos em direo ao ilimitado, ao grandioso, ou
uma conciliao entre imaginao, entendimento e razo, mas sim o
desacordo das estranhas figuras e ambientes descritos de forma
extremamente detalhada e realista e, simultaneamente, exatamente
este detalhamento que torna tais figuras surreais.
Cada palavra escrita como se fosse uma insero cirrgica e
dolorosa no tecido do real e l permanece. Tal efeito certamente era
buscado pelo autor de Praga tanto no que lia como no que produzia.
Acho que s devemos ler a espcie de livros que nos ferem e
trespassam. Se o livro que estamos lendo no nos acorda
com uma pancada na cabea, por que o estamos lendo?
Porque nos faz felizes, como voc escreve? Bom Deus,
seramos felizes precisamente se no tivssemos livros e a
espcie de livros que nos torna felizes a espcie de livros
que escreveramos se a isso fssemos obrigados. Mas ns
precisamos de livros que nos afetam como um desastre, que
nos magoam profundamente, como a morte de algum a
quem amvamos mais do que a ns mesmos, como ser
banido para uma floresta longe de todos. Um livro tem que
ser como um machado para quebrar o mar de gelo que h
dentro de ns. nisso que eu creio
188
.
188
KAFKA, Carta a Oscar Pollak, 1904. A lista de obras e autores que ferem e trespassam
Kafka inclui, de acordo com a biografia escrita por Max Brod, desde Kleist e Dickens (o qual,
apesar de apreciar, Kafka censurava a verborragia) at Thomas Mann (com especial
interesse no conto Tonio Kroeger). De acordo com BROD (1995, p. 51), seu amor por
Goethe e Flaubert nunca mudou nos vinte e poucos anos em que fui seu amigo, mesmo
no havendo um eco evidente destes autores em sua escrita. Goethe era para Kafka mais
do que um modelo de escrita, mas sim um modelo de vida (ZILCOSKY, 2003, p.44), o que
era um tanto comum entre os jovens da comunidade judaica em Praga, com profunda
influncia da cultura alem. Na mesma carta a Pollak, Kafka recrimina o amigo por admirar
Goethe sem a profundidade necessria ou sem seguir seus passos (ZILCOSKY, idem). No
caso de Flaubert, Kafka afirma em alguns momentos ser seu filho espiritual (Cartas a
Felice, apud ZILCOSKY, p. 45). O timbre de autores russos como Gogol, Kropotkin e,
principalmente, Dostoievski todos encontrados nas estantes kafkianas - possvel de ser
sentido em alguns momentos. De acordo com TRAGTEMBERG (2001), o absurdo da
existncia fator comum a ambos os autores, seja pela constatao de que toda forma de
organizao social ou religiosa erigida sobre a ideia do absurdo e tende burocracia.
Para Tragtemberg, a parbola do Grande Inquisidor, em Os Irmos Karamazovi, um
78
Mas o que provoca esta ruptura desejada por Kafka no est em
primeiro plano em sua obra: no a transformao de Gregor Samsa
189
em inseto ou a acusao contra Josef K
190
que provocam no leitor pavor
ou desespero, mas sim algo que parece estar presente na obra sem que
esteja realmente escrito
191
. Uma coisa que no aterroriza, mas provoca
algo diferente, uma inquietao e um incmodo maior, que parece nunca
estar resolvido. Quando certa manh Gregor Samsa acordou de sonhos
intranquilos
192
em direo a seu destino como inseto monstruoso, no
mais possvel tanto para o personagem como tambm para os leitores -
exemplo claro disso em Dostoievski: nela, Cristo desce terra na poca da inquisio
espanhola. O Grande Inquisidor justifica sua misso terrena mostrando a Cristo que ele
dando liberdade ao homem a verdade vos tornar livres eu sou a verdade deu-lhe
um fardo pesado para suas costas fracas e o Grande Inquisidor tirando-lhe a liberdade em
troca da segurana revelou-se seu amigo, ao mesmo tempo em que transferia toda
responsabilidade dos atos humanos na terra para si, deixando para o homem o po
terrestre. Em nome do homem e do cristianismo o Grande Inquisidor poderia atirar Cristo
fogueira. (p. 2). J o absurdo em Kafka estaria na relao do homem consigo mesmo e na
incomunicabilidade entre os seres humanos. A similaridade de abordagem sobre a questo
da burocracia ser alvo de anlise posterior. Outro indcio da presena do escritor russo no
imaginrio kafkiano est em uma das obras mais famosas do autor checo: na Carta ao Pai,
ao comparar as ameaas do pai com seus gritos, o enrubescimento do seu rosto (CP, p.
30) mas que no se concretizavam em uma surra - ao homem condenado forca e que s
fica sabendo de seu indulto quando o lao pende diante do seu rosto (CP, idem), o que
pode fazer com que este carregue a culpa por toda a vida. Kafka faz referncia direta ao
ocorrido com Dostoievski, que s ficou sabendo de seu indulto exatamente nestas
condies descritas. A descrio em questo vista por BACKES (2011) como indicao
clara da influncia do russo no texto do autor checo. Porm, talvez a maior influncia sobre
a prosa kafkiana seja a exercida pelo suo Robert Walser (1878-1956). Os primeiros contos
de Kafka foram definidos por MUSIL (apud TELAROLLI, in WALSER, 2011) como um caso
particular do tipo Walser. Tal parentesco foi perpetuado em um sem-nmero de anlises
sobre Kafka, com destaque para as de BENJAMIN (p.53), ADORNO (p. 249), Coetzee e
Canetti. Musil salienta a delicadeza paradoxal superficial e profunda do tom ldico e
inconsequente de Walser (ROSENFIELD, 2011) e constri uma ponte conceitual entre este
paradoxo e o rigor na escrita kafkiana, tambm plena de aporias.
189
Protagonista de A Metamorfose.
190
Protagonista de O Processo. Cabe uma indagao a ser analisada posteriormente neste
trabalho: at que ponto o personagem principal da obra, em vez de ser Josef K., no o
processo em si?
191
O uso da linguagem de forma conotativa ou figurada, implicando mais significados do que
a interpretao literal do que est escrito, remete-nos diretamente questo da alegoria
como elemento da escrita kafkiana. A alegorizao (ou seja qual a figura de linguagem
utilizada), como elemento provocador do estranhamento, acaba por estar relacionada
problemtica do sublime, se a entendermos como uma tentativa de expressar em palavras
algo que irrepresentvel.
192
M., p. 6
79
acordar mais uma vez e escapar da situao, notar que tudo era
somente mais um sonho.
Inquietao ou estranhamento, conforme definido por Freud
193
,
seriam formas de nomear essa sensao que surge da ambivalncia entre
o extraordinrio e o cotidiano. Unheimlich, em alemo, pode significar
tanto aquilo que incomum, no-familiar, como o que cotidiano, usual.
No texto de Freud a palavra designa exatamente aquilo que era familiar e
subitamente se torna externo, inexato, inesperado, vindo dessa
caracterstica seu poder de choque e deslocamento. Conforme o fundador
da psicanlise,
Em geral, somos lembrados de que a palavra heimlich no
deixa de ser ambgua, mas pertence a dois conjuntos de
ideias que, sem serem contraditrias, ainda assim so muito
diferentes: por um lado significa o que familiar e agradvel
e, por outro, o que est oculto e se mantm fora da vista.
`Unheimlich habitualmente usado () apenas como o
contrrio do primeiro significado de heimlich e no do
segundo. ()heimlich uma palavra cujo significado se
desenvolveu na direo da ambivalncia, at que finalmente
coincide com seu oposto, unheimlich
194
.
interessante notar que o conceito freudiano de estranhamento e a
definio do sublime por Kant acabam por se mostrar ligados de forma
slida, ainda que indireta. Se para Kant o gosto algo subjetivo e o belo
aquilo que provoca reaes agradveis por parte de todas as pessoas,
trazendo sensaes de tranquilidade e conforto, h coisas que provocam
reaes mais complexas quando contempladas, que trazem fascinao,
inquietao e desconforto ao ponto de serem praticamente
indescritveis.
Kant usa como exemplo do sublime a fora da natureza. Em uma
tempestade, ouvimos o som do trovo com medo, respeito e um certo
alvio por sermos apenas espectadores. Em uma primeira visada, este
193
No texto O Inquietante datado de 1919
194
FREUD, 1976, pp. 282-283
80
foco do sublime naquilo que majestoso e ultrapassa a capacidade de
compreenso pouco teria a ver com a caracterstica de familiaridade
levantada por Freud, assim como no se relacionaria com os ambientes
claustrofbicos descritos por Kafka. Mas o estranhamento,
estranhamente, acaba por se aproximar do sublime por um tipo de efeito
contrrio: no se trata de tentar exprimir aquilo que inexprimvel e
grandioso, mas sim de dizer o inominvel a partir do banal e do
corriqueiro. Esta viso sobre o sublime e o conceito de estranho
compartilham um diagnstico de contraste entre o objeto da
contemplao e a reao a este, e no a harmonia entre eles.
O texto de Freud deixa clara esta no-aliana entre aquilo que
chamado por ele de doutrina das qualidades de nosso modo de sentir
195
e uma doutrina do belo
196
, ou seja, um descompasso entre a fruio
esttica do objeto pelo sentimento do sujeito e a anlise no do que
sentimos, mas das pulses que esto ocultas em nossos sentimentos
197
.
H algo que no est contido na beleza ou na capacidade de agradar, mas
a nega ou at ultrapassa; esta negatividade fica mais evidente no prprio
texto freudiano:
Ora, sobre esse ponto, nada encontrado, por assim dizer,
nas apresentaes detalhadas da esttica, que preferem em
geral se ocupar dos modos de sentimento belos, grandiosos,
195
Ibidem, p. 282-283
196
Ibidem, p. 282-283
197
Remetendo agora obra de Kafka, tal descompasso poderia estar presente ou ser
percebido at mesmo na linguagem utilizada pelo autor de Praga? CARONE (2011)
observa que, ao se ater imagtica das figuras de linguagem e lev-las ao p da letra,
Kafka manobra a linguagem de forma a abrir novas possibilidades de sentido e de
interpretao tendo como base expresses j esvaziadas pelo uso: no sobre a metfora
em si que o escritor se interessa, mas sobre o efeito artstico (e de conhecimento) que faz
dela aquilo que (EFK, pg.17) . A incapacidade ou supercapacidade da linguagem em
expressar o que quer ser dito levaria sensao de vertigem que define o sublime. Aqui,
ganha corpo um paralelo entre a ideia da desterritorializao/reterritorializao da linguagem
por Deleuze e a negao/hiperconformidade da forma-contedo em Adorno - como
maneiras de esgaramento e abertura de novas possibilidades de resistncia e contestao
no real. A prpria obra de Kafka pode ser tomada como exemplo desta relao de
resistncia: a economia de linguagem opera como uma economia do desejo dentro da obra.
Da tenso no uso da lngua, que em um primeiro momento restringe o entendimento e
depois paradoxalmente o abre, resulta aquilo que provoca a vertigem, o deslocamento. O
sublime como choque e ultrapassamento.
81
atraentes, ou seja, positivos, assim como de suas condies
e objetos que os provocam, mais do que de seus modos
opostos, repelentes e penosos
198
.
A ocultao destes modos negativos das qualidades do sentir
199
-
angustiantes, opostos, repelentes - o maior indicativo de sua existncia.
Por assumir um carter velado, aquilo que inquietante no se d
plenitude do conhecimento, da razo ou do intelecto, sendo
irrepresentvel ou indescritvel. Tal estranhamento remete a uma
experincia de difcil apreenso na esfera do conceito, cuja marca
fundadora mesmo a do paradoxo de uma polaridade, uma
ambivalncia
200
, que evoca
o nimo sublime, em que os elementos contrrios coexistem
estranhamente o prazer e a dor; o fracasso da imaginao e
o triunfo da razo; os sentimentos de pequenez,
insignificncia e morte e a elevao ao incondicionado eivada
de reafirmao moral
201
.
Tal coexistncia vista no prprio lxico da obra kafkiana, que
contm em si tais aporias e contrastes: a escrita, como a f e a
guilhotina, pesada e leve ao mesmo tempo
202
e construda com rigor
para evitar um equvoco verbal: o que deve ser ativamente destrudo
precisa antes ser sustentado com firmeza total; o que desmorona,
desmorona, mas no pode ser destrudo.
203
Dois exemplos interessantes dessa coexistncia dos contrrios esto
nos trechos a seguir de A Metamorfose e Um Artista da Fome, que se
198
FREUD, in MASSARA, G. p.230
199
Ibidem, p.230
200
Ibidem, p.231
201
Ibidem, p.230
202
Aforismo 87. EFK, p. 203.
203
Ibidem, Aforismo 91.
82
passam, coincidentemente, em momentos nos quais o protagonista se
encontra s portas da morte
204
.
Logo descobriu que no podia absolutamente mais se
mexer. No se admirou com este fato, pareceu-lhe antes
pouco natural que at agora tivesse conseguido se
movimentar com aquelas perninhas finas. No restante,
sentia-se relativamente confortvel. Na realidade tinha dores
no corpo todo, mas para ele era como se elas fossem ficar
cada vez mais fracas e finalmente desaparecer por
completo. A ma apodrecida nas suas costas e a regio
inflamada em volta, inteiramente cobertas por uma poeira
mole, quase no o incomodavam. Recordava-se da famlia
com emoo e amor. Sua opinio de que precisava
desaparecer era, se possvel, ainda mais decidida que a da
irm. Permaneceu neste estado de meditao vazia e
pacfica at que o relgio da torre bateu a terceira hora da
manh. Ele ainda vivenciou o incio do clarear geral do dia
do lado de fora da janela. Depois, sem interveno de sua
vontade, a cabea afundou completamente e das suas
ventas fluiu fraco o ltimo flego
205
.
Neste trecho o sentimento de amor pela famlia (uma recordao,
algo que ficou no passado) mistura-se opinio racional de Gregor sobre
a necessidade de desaparecer ou dar a situao por encerrada. O
protagonista chega a um estado de transcendncia em relao ao que o
cerca puro pensamento - e a redeno se d sem interveno de sua
vontade: at a meditao, o pensar, cessa ao final, impotente contra o
destino inexorvel. Mas a partir do momento em que este destino se
cumpre, o alvio completo porque sabemos que o drama de Gregor
204
Certamente isto no uma coincidncia. A relao entre morte e sublime tambm pode
ser localizada em Freud. No texto Sobre a transitoriedade (1916), ele enaltece a beleza
efmera como sublime exatamente porque acaba. A dimenso da morte do que belo e,
de acordo com a anlise de GUATIMOSIM (2008), esta morte est ligada ideia de
castrao e vazio - engrandece a fruio da beleza: beleza aqui no mais ideal, como
queria o melanclico interlocutor de Freud, mas sublime, ou seja, para alm do belo ideal
imaculado, esttico, especular, homo, temos o sublime que transita entre a vida e a morte,
marcado pelo tempo, pelo paradoxo humano, pela diviso subjetiva, indicando ento a
diferena radical, o singular, o hteros (GUATIMOSIM, p. 51). A viso freudiana ecoa,
certamente, em Benjamin e Adorno, e a discusso sobre o efmero que envolve ambos os
filsofos prova disto, como mostra a frase de Adorno O efmero, ao ser perpetuado,
atingido por uma maldio . (AsK, p. 248)
205
M., p. 78 / EFK, p. 286
83
termina assim como tal alvio visvel em sua famlia, liberta e
reconfigurada
206
.
Em uma situao anloga, o artista da fome tomado como louco
ao ser encontrado, e a razo extrema que esgrime em seu argumento
para o jejum - a revelao da origem de seu talento - nos mostra que
sua maior habilidade, ao final, pesa como um fardo para o qual a morte
surge como uma soluo.
- Voc continua jejuando? perguntou o inspetor Afinal
quando vai parar?
- Peo desculpas a todos sussurrou o artista da fome, s o
inspetor, que estava com o ouvido colado s grades, o
entendia.
- Sem dvida disse o inspetor, colocando o dedo na testa,
para indicar aos funcionrios, com isso, o estado mental do
jejuador. Ns o perdoamos.
- Eu sempre quis que vocs admirassem meu jejum disse
o artista da fome.
- Ns admiramos retrucou o inspetor. Por que no
haveramos de admirar?
- Mas no deviam admirar disse o jejuador.
- Bem, ento no admiramos disse o inspetor Por que
que no devemos admirar?
- Porque eu preciso jejuar, no posso evit-lo disse o
artista da fome.
- Bem se v disse o inspetor. E por que no pode evit-
lo?
- Porque eu disse o jejuador, levantando um pouco a
cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor com os
lbios em ponta, como se fosse um beijo, para que nada se
perdesse. Porque eu no pude encontrar o alimento que
me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, no
teria feito nenhum alarde e me empanturrado como voc e
todo mundo.
206
LYOTARD (1997) afirma que, para Burke, o sublime a composio entre terror (uma
paixo mais forte do que a simples satisfao, ligada privao de algo e a representaes
associadas inconscientemente a situaes dolorosas) e prazer (um prazer negativo, ligado
dor e morte). Para que esta composio ocorra, a ameaa que desencadeia o terror deve
ser mantida a uma certa distncia, retida. Esta incerteza, esta diminuio de uma ameaa
provoca uma espcie de prazer que no , por certo, o de uma satisfao positiva, mas sim
de um alvio (LYOTARD, p. 104). Frente a um risco incomensurvel, a alma se imobiliza.
Ao afastar esta ameaa, a arte proporciona um prazer de alvio, de delcia (idem, ibidem).
Nos dois trechos acima, a morte no chega como um castigo, mas como uma libertao.
Como alvio sublime, a ser frudo aps o fato. Desta forma, faz muito sentido que os contos
no terminem simplesmente com a morte de seus protagonistas, indicando uma possvel
relao entre tal imobilidade da alma e o comportamento mimtico.
84
Estas foram suas ltimas palavras, mas nos seus olhos
embaciados persistia a convico firme, embora no mais
orgulhosa, de que continuava jejuando
207
.
Ainda em Um Artista da Fome, o contraste entre a runa do artista e
a jovem pantera que passa a ocupar a jaula chega a ser didtico neste
sentido, pois o terror e assombro caractersticos do sublime se deslocam
do interior para o exterior da jaula:
Mas na jaula puseram uma jovem pantera. Era um alvio
sensvel at para o sentido mais embotado ver aquela fera
dando voltas na jaula tanto tempo vazia. Nada lhe faltava. O
alimento de que gostava, os vigilantes traziam sem pensar
muito; nem da liberdade ela parecia sentir falta: aquele corpo
nobre, provido at estourar de tudo o que era necessrio,
dava a impresso de carregar consigo a prpria liberdade; ela
parecia estar escondida em algum lugar das suas mandbulas.
E a alegria de viver brotava de sua garganta com tamanha
intensidade que para os espectadores no era fcil suport-la.
Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jaula e
no queriam de modo algum sair dali
208
. (grifos nossos)
Baseando-se em Kant, pode-se concluir que a fruio da experincia
do sublime no est relacionada diretamente forma pela qual ela se
manifesta, por ser uma grandeza acima de qualquer possibilidade de
medida, replicao ou representao. de se pensar, ento, se possvel
dizer que no a modalidade ou linguagem artstica utilizada que provoca
em ns este sentimento do sublime; mas podemos supor que a delicada
relao entre o que uma obra explicita e aquilo que ela deixa entrever,
mas no capturado por ela, permite uma apreenso fugidia e incompleta
daquilo que nos inquieta ao termos contato com a obra
209
. No sublime, a
207
AF/C, pp. 34-35
208
AF/C, pp. 35-36
209
possvel pensar em uma digresso sobre o tema a partir do conceito de aura em Walter
Benjamin. Se, para o pensador frankfurtiano, a aura representa o carter transcendente,
fugidio e inesgotvel da obra, inapreensvel apesar da proximidade a ela, este paradoxo
entre proximidade e distncia no nos leva a uma remisso ideia de beleza, como a
tradio crtica nos diz, mas ao sublime. Se, de acordo com AVELAR (2008), a beleza da
85
ideia do que no est ao alcance de sua representao: ela parece estar
sempre prestes a ocorrer, mas se mantm ainda a uma certa distncia.
Assim, o sublime no estaria no que se mostra, e sim no que se
oculta, no irrepresentvel e no no-representado. Tal inverso do conceito
efetuada por Kafka se postularmos a ideia de que para ele, partindo
daquilo que lhe mais familiar, possvel desvelar o que existe de mais
estranho ou surpreendente, ou seja, atingir a estranheza tpica do sublime
a partir do que menos estranho.
No conto A Construo, a repetio incansvel dos passos do roedor
para construir e vigiar os tneis de sua toca envoltos em procedimentos
meticulosos e rotineiros que em certos momentos nem ele segue risca -
acaba por distrai-lo da ameaa que, em seu pensamento, sempre esteve
espreita. Tal repetio lhe d a segurana que julga ameaada desde
sempre. A partir do momento em que o roedor percebe o rudo que rompe
o silncio seguro da toca (um evento do qual no se tem certeza sobre a
origem), a segurana desaparece quase que por mgica: quando
cheguei, no o ouvi de modo algum, embora ele decerto j estivesse
presente
210
.
Na mente do roedor, a ameaa finalmente est vindo em sua
direo. Foi contra esta ameaa que sua vida/obra (a toca) foi voltada
mesmo sem o saber: no entanto, houve algo parecido no incio da
construo. A principal diferena que eram os primeiros tempos da
obra
211
. Agora visvel que todos os procedimentos do roedor, ainda que
obra de arte reside em sua essncia misteriosa e a aura equivaleria a um vu ou invlucro
que exprime o Belo preservando a inacessibilidade da prpria essncia da Beleza, esta
poderia ser entendida como operando em dois nveis: um no qual h a relao com a forma
o hic et nunc desta e outro no qual esta relao impossvel. Nesta segunda acepo,
tal no-coincidncia nos colocaria no terreno do sublime, e no no belo.
210
AF/C, p. 87
211
AF/C, p. 103. CARONE (2011) considera que A Construo trata das batalhas de Kafka
contra a morte (a tuberculose) e o horror (o fascismo) que se desenhavam no horizonte.
Eventos contra os quais ele pouco ou nada pde fazer, apesar da iluso de segurana que a
toca lhe proporciona (a vida regrada e a fortaleza de sua obra). Sem que se percebesse,
tanto a doena como o horror se desenvolvem. Perante a inexorabilidade da doena ou a
ascenso da opresso, o que um escritor judeu de Praga poderia fazer? DELEUZE
ressaltar o carter poltico da literatura kafkiana como a voz de seu povo em oposio s
identidades majoritrias: a escrita como uma forma de expresso daqueles que no
86
banais, sempre foram contaminados pelo signo do medo, por um perigo
sempre presente ainda que despercebido. Com sua revelao, manifesta-
se o estranho existente nos atos cotidianos do roedor.
Preso em seus pensamentos, o roedor hesita entre ao e
imobilidade, buscando as certezas e a proteo perdidas. O silncio
retorna construo - pois o rudo se torna banal, parte do ambiente.
Porm, no mais como sinal de segurana, e sim como a calma que
precede a tempestade que paira sobre a cabea do narrador. A ameaa
continua l, em suspenso (mas tudo continuou inalterado
212
), levando o
conto a um anticlmax pela ausncia de desfecho.
No sentimento do sublime tambm preciso superar o prprio medo
e ir em direo ao desconhecido, ao que estranho. O grotesco, o
inquietante, o desconfortvel identifica-se com aquilo que mais familiar
e comum. Mais do que anlogo ao sublime, o estranho como efeito em
Kafka torna-se idntico a ele. O conto O Foguista retrata de forma
bastante visvel esta questo.
Uma viagem, ou o movimento de deslocamento de um lugar a
outro, em si uma experincia que mescla o abandono da segurana e o
temor, ou fascnio, do desconhecido. O conto tem incio com a chegada de
Karl Rossmann em um novo territrio, a Amrica, abandonando seus
vnculos familiares e um passado que o embaraa. Podemos inclusive
entender a perda de sua bagagem como uma representao simblica
desta ambiguidade entre o desbravamento de um novo territrio e o
desejo de conservao dos objetos que lhe fornecem referencial de
identidade e vnculo familiar, como as camisas e o salame verons que
sua me lhe dera
213
.
conseguem se expressar. Nas palavras do prprio Kafka, a literatura tem menos a ver com
a histria literria do que com o povo (Dirios, 25 de dezembro de 1911). Tal carter
poltico tambm ressaltado por CARONE (2011, pp 19-23).
212
AF/C, p. 108
213
Deleuze estabelece uma relao entre o ato de comer com os conceitos de
reterritorializao e desterritorializao, que podem ser aplicados a este conto que trata, ao
fim e ao cabo, exatamente do deslocamento do ser em direo ao desconhecido e, ao
mesmo tempo, da tentativa do protagonista em recuperar a sensao de segurana. Em O
Desaparecido, romance do qual O Foguista faz parte, o alimento dado pela me,
87
Perdido em caminhos que nunca havia percorrido no navio, Karl
acaba por se tornar espectador involuntrio do drama do foguista, uma
pessoa com srios problemas de relacionamento com seus colegas da
tripulao, principalmente com o romeno Schubal. O foguista simpatiza
imediatamente com Karl, o que acontece reciprocamente, e busca o apoio
de Rossmann para a resoluo de seus problemas.
Assim, o protagonista acaba sendo jogado em uma situao da qual
no conhece mais do que o relato que ouviu na cabine de seu atual guia
na jornada, do qual acaba por assumir a posio de advogado de
defesa. A soluo da situao para Karl ocorre como um deus ex machina
com o surgimento do tio, mas o problema do foguista fica sem soluo, o
que angustia o viajante. O encontro com o tio, se pode trazer uma
sensao de alvio a Karl por ser retirado da disputa, novamente o joga
dentro do espectro da famlia, de algo que conhecido pelo vnculo
familiar e pelo fato do tio saber os motivos pelos quais ele teve que viajar.
Se unheimlich (a inquietante estranheza) significa tudo o que
deveria ter permanecido secreto e oculto mas veio luz
214
, tanto a
revelao dos segredos da famlia Rossmann como a da ameaa ao animal
em sua toca provocam esta sensao de inquietude e de desconforto em
quem l, fundamental no enredo e presente inclusive na linguagem
empregada na narrativa. A identificao com o leitor no se d pela
similitude das situaes, mas sim pela sensao de deslocamento e
vertigem que o texto provoca. O estranho , em certos momentos,
mantenedora da vida, pode simbolizar tanto uma relao edpica (ou re-edpica) e o desejo
de retorno ao seio familiar como a percepo de que, mesmo que tente, Karl nunca se
livrar completamente de seu passado (quando a mala finalmente entregue de volta a ele,
o cheiro do salame j impregnou todas as roupas e todo o contedo da mala o que
narrado no decorrer do conto). Em ambos os casos, a inadequao entre o momento vivido
e o desejado a marca, e o desconforto em sua prpria origem patente. Tal possibilidade
de leitura deste conto acaba por fornecer elementos aproximativos com duas obras de
Goethe e Flaubert especialmente apreciadas por Kafka, a saber: Viagem Itlia e Viagem
ao Egito, e que direta ou metaforicamente abordam tais experincias de deslocamento e
no-pertencimento, mas com uma diferena: enquanto Goethe e principalmente Flaubert
buscam na viagem um perder-se no mundo e uma perda de si que acaba por resultar em
um encontrar-se consigo mesmo, o perder-se de si seria o objetivo principal do personagem
do conto de Kafka (e do autor, por extenso). (ZILCOSKY, p. 50)
214
SCHELLING apud FREUD, 1976
88
idntico ao familiar, ou mais: o que mais familiar que nos deixa mais
desconfortveis, pois permite que se veja alm do imediato. No permite
a representao do sublime e assim, paradoxalmente, aponta em sua
direo.
4.2 Desumano e inumano
possvel traar uma interessante analogia entre as figuras homem-
animal presentes na obra de Franz Kafka e o amortecimento da
conscincia de si, se buscarmos no autor os sintomas de um processo que
atinge seu pice no presente: a coisificao do homem e as mudanas
sociais que a originam - e que decorrem dela.
Adorno, em sua anlise sobre o escritor checo, considera que as
diversas ocorrncias de zoomorfismo em Kafka so uma representao
deste descolamento do homem de si mesmo. O indivduo (ou o sujeito?)
se desvanece, substitudo por caricaturas, hbridos que mostram a crise
na qual a sociedade administrada os coloca. O inseto Gregor Samsa
215
,
que por baixo de sua carapaa ainda irmo e filho, no mais
reconhecido como pertencente ao ncleo familiar.
A hostilidade daqueles com quem mais se identifica exemplifica esta
perda de conscincia de si e da relao com o outro pois Gregor encontra-
se imerso em um mundo que caminha para a barbrie. Um mundo que,
apesar de parecer um sistema externo ao indivduo, fruto das aes de
indivduos que se sentem desconfortveis na relao com seus
semelhantes:
- preciso que isso v para fora exclamou a irm -, o
nico meio, pai. Voc simplesmente precisa se livrar do
pensamento de que Gregor.. Nossa verdadeira infelicidade
termos acreditado nisso at agora. Mas como que pode
ser Gregor? Se fosse Gregor, ele teria h muito tempo
215
Em M.
89
compreendido que o convvio de seres humanos com um
bicho assim no possvel e teria ido embora
voluntariamente
216
.
O mundo que nos cerca adquire uma aparncia monoltica em
contraste com o vazio interior, que soa como uma denncia desta rigidez.
O trgico o fato de Samsa no perder a conscincia no processo e sim
senti-la se desvanecer aos poucos. J o macaco Rotpeter em Um Relatrio
para a Academia apresenta um domnio completo da razo, haja vista que
sua humanizao entendida por ele como a nica forma para escapar da
jaula que o prendia.
Via aqueles homens andando de cima para baixo, sempre os
mesmos rostos, os mesmos movimentos, muitas vezes me
parecendo que eram apenas um. Aquele homem ou homens
andavam pois sem impedimentos. Um alto objetivo comeou
a clarear na minha mente. Ningum me prometeu que se eu
me tornasse como eles a grade seria levantada. No se
fazem promessas como essa para realizaes
aparentemente impossveis. Mas se as realizaes so
cumpridas, tambm as promessas aparecem em seguida,
exatamente no ponto em que tinham sido inutilmente
buscadas. Ora, naqueles homens no havia nada em si
mesmos que me atrasse. Se eu fosse um adepto da j
referida liberdade, teria com certeza preferido o oceano a
essa sada que se me mostrava no turvo olhar daqueles
homens. Seja como for, porm, eu os observava desde
muito tempo antes que viesse a cogitar nessas coisas - sim,
foram as observaes acumuladas as que primeiro me
impeliram numa direo definida. (...) Era to fcil imitar as
pessoas!
217
(itlicos nossos)
Mas at que ponto ele no saiu de uma priso para outra sem
perceber, ao submeter sua natureza ao domnio de uma razo que lhe ,
216
M, p.78
217
UMR, p. 66-67. A relao mimesis-humanizao se torna mais clara desta forma.
90
realmente, externa
218
? Adorno dir que, no lugar da reflexo sobre o
homem e suas lembranas, o que temos
a prova por exemplo de sua desumanizao. Sua presso
impe aos sujeitos uma involuo quase biolgica,
preparando o caminho para as parbolas animais de Kafka.
O momento da resposta, aquele a que tudo aponta em
Kafka, aquele no qual os homens se do conta de que no
so eles mesmos, e sim coisas. (...) Kafka antecipou
magnificamente o conceito psicanaltico posterior da
estranheza ao Eu
219
.
O animal surge como representao, tambm, do primitivo atrelado
ideia da incomunicabilidade: Samsa inicialmente ainda consegue
entabular comunicao com sua famlia e com seu superior no trabalho,
porm a perda da capacidade de linguagem de Gregor (quando o falar se
transforma em um rumorejar ou em sons ininteligveis) encontra
similitude com a confuso universal ou babilnica referida por Adorno
em sua anlise da linguagem na sociedade: muito se fala, pouco se diz,
menos se reflete.
A palavra perde significado e com ela a articulao do raciocnio se
enfraquece: de um momento para outro, nossa humanidade (razo)
desaparece ou nossa animalidade sublimada, como nos dois exemplos
de Kafka. O desvanecimento da capacidade de comunicao est
relacionado perda da capacidade de entendimento sobre si, pois o
simples desenvolvimento da razo no fez o homem superar sua
animalidade. A posse de si e da Natureza no liberta o eu autnomo; ao
contrrio, uniformiza-o, negando-o.
Em um sistema no qual no nos reconhecemos como indivduos,
estamos sujeitos ao discurso que perpetua o domnio de uma razo
218
Para Adorno e Horkheimer, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar
os homens do medo e de investi-los na posio de senhores (DE. p. 19). Entretanto, a
negao do natural em nome do racional, ou a represso do instintivo pelo superego, traz
para os autores o signo de uma calamidade triunfal (DE. p. 19). O desencantamento do
mundo, com a substituio da imaginao pelo saber, pode ser analogamente visto na
jornada de Rotpeter neste conto de Kafka.
219
AsK. p. 251
91
voltada a fins, no-reflexiva e no-contestadora, gerando a iluso de
autonomia e esvaziando a possibilidade de resistncia: A subjetividade
absoluta , ao mesmo tempo, desprovida de sujeito
220
O fragmento O homem e o animal
221
um exemplo desta
antropologia dialtica. Se a animalidade sinnimo de natureza e
humanidade o de razo ou do domnio sobre esta natureza, o confronto
do homem com sua animalidade tido comumente como uma recada no
mtico, uma demonstrao de fraqueza a ser superada pela
racionalidade.
Neste mundo liberado da aparncia, no qual os homens
depois da perda da reflexo de novo se tornaram os animais
mais inteligentes, que subjugam o resto do universo,
quando no esto se dilacerando entre si, respeitar o animal
no mais considerado simplesmente como
sentimentalismo, mas como uma traio do progresso.
222
O homem-coisa, fruto da sociedade administrada, soa como um
hbrido estranho entre humanidade e animalidade, perdendo ambas no
processo. O indivduo no se sente em casa ou em si nem no seu
prprio corpo.
Os traos do cozinho representam ainda, como os saltos
desajeitados do corcunda, a natureza mutilada, enquanto a
indstria de massa e a cultura de massa j aprenderam a
preparar tanto os corpos dos animais de criao quanto os
dos homens segundo mtodos cientficos. As massas
uniformizadas esto to pouco conscientes de sua prpria
transformao, da qual no entanto participam to
convulsivamente, que no precisam mais de uma exibio
simblica desta transformao. (...) A dominao no
precisa mais de imagens luminosas, ela se produz
industrialmente e penetra atravs delas com uma segurana
ainda maior nos homens.
223
220
AsK, p. 259
221
DE, pp.229-237
222
DE. p. 236
223
DE. p. 234
92
Sendo o homem um animal tambm, o simples rememorar desta
constatao - a existncia de sua prpria condio humana - soa ao
mesmo tempo como uma provocao e um deslocamento de perspectiva
em relao ao sistema. Em vez da ideia de dignidade humana, conceito
supremo da burguesia, aparece em Kafka a ideia da salutar semelhana
do homem com o animal
224
. Algo que surge apenas no confronto com o
que j dado - como um negativo fotogrfico, que mostra todo seu
contedo no contraste com a luz. Este negativo o que precisa ser
desvelado pelo pensamento, rompendo a viso unidimensional da
realidade.
Adorno v o projeto do pensamento moderno de uma forma mais
positiva em sua origem: compreender o arcaico em ns e na realidade:
esse foi o passo definitivo tomado pelo pensamento ocidental
225
e no o
estabelecimento de uma relao de represso com aquilo que no pode
ser explicado pelo sistema ou domado pelo ego enrijecido. Contudo,
segundo Adorno, algo se perdeu no caminho e aquilo que deveria ser
entendido foi interditado compreenso.
Em vez de uma recada no mtico, Adorno considera que nas
histrias animais de Kafka h um movimento de resgate da razo, que
surge do confronto com tais hbridos. A forma da obra kafkiana ganha a
expresso do humano em uma poca na qual este humano regride
animalidade, devido repetio do sempre-igual resultante, entre outros
fatores, da atuao da Indstria Cultural e da perda do poder da
linguagem: Na medida em que so atribudos significados e teorias
humanas a elementos da natureza (...) o esprito se reconhece neles
226
.
Pois mesmo imerso no animal, o humano irrompe, porm isto no se d
de forma imediata. Quando finalmente essa irrupo acontece, novamente
224
AsK, p. 268
225
ADORNO, in HULLOT-KENTOR, p.24
226
AsK, p. 264
93
sob o signo do estranho: como exemplo, a dor, o medo e o ferimento
em Samsa o humanizam e tambm acentuam a sua natureza animal.
No seu torpor no pensava em outra maneira de se salvar
seno correndo; e tinha quase esquecido que as paredes
estavam sua disposio, embora aqui elas permanecessem
obstrudas por mveis cuidadosamente talhados, cheios de
recortes e pontas quando nesse momento alguma coisa,
atirada de leve, voou bem ao seu lado e rolou diante dele.
Era uma ma; a segunda passou voando logo em seguida
por ele; Gregor ficou paralisado de susto; continuar correndo
era intil, pois o pai tinha decidido bombarde-lo. Da fruteira
em cima do buf ele havia enchido os bolsos de mas e,
por enquanto sem mirar direito, as atirava uma a uma. As
pequenas mas vermelhas rolavam como que eletrizadas
pelo cho e batiam umas nas outras. Uma ma atirada sem
fora raspou as costas de Gregor mas escorregou sem
causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrrio,
literalmente penetrou nas costas dele; Gregor quis continuar
se arrastando, como se a dor surpreendente e inacreditvel
pudesse passar com a mudana de lugar; mas ele se sentia
como se estivesse pregado no cho e esticou o corpo numa
total confuso de todos os sentidos. Com o ltimo olhar
ainda viu a porta do seu quarto ser escancarada e a me se
precipitar de combinao frente da irm que gritava; pois
a irm a tinha aliviado das roupas para permitir que ela
respirasse com liberdade enquanto estava desacordada; viu-
a correr ao encontro do pai e no caminho carem ao cho,
uma a uma, as saias desapertadas; e viu quando ela,
tropeando nas saias, chegou at o lugar onde o pai estava
e, abraando-o, em completa unio com ele mas nesse
momento a vista de Gregor j falhava -, pediu, com as mos
na nuca do pai, que ele poupasse a vida de Gregor
227
.
Reside a a fora das parbolas kafkianas: por lidarem com
extremos, levam ao choque; por nos colocarem perante o desconforto da
animalidade de seus personagens, resgatam nossa prpria natureza
animal. Por nos lembrarem o familiar, exigem interpretao, mas no
aceitam nenhuma.
227
M, p. 60-61. O pedido da me pela vida do filho encontra correspondncia na reao
hostil de Gregor retirada do quadro da senhora que usava peles, ou o retrato que lhe
lembrava a me.
94
A mentalidade dita burguesa somente reconhece nos outros tal
animalidade. Em relao a si mesmo, este arcaico se tornou tabu. Kafka,
por manobrar exemplarmente as distncias entre leitor e obra, fora-nos
a um tipo de interao (no contemplao ou apropriao) com a
personagem, em uma situao absurda: no nos sentimos sendo Gregor
Samsa, mas nos sentimos como insetos.
Na Metamorfose, o percurso da experincia se deixa
reconstruir na literalidade, como extrapolao. Estes
viajantes so como percevejos, diz a expresso que Kafka
deve ter escolhido, alfinetando-a como um inseto. O que
acontece com um homem que um percevejo do tamanho
de um homem?
228
Se imaginarmos o olhar de uma criana que contempla um adulto
integrado a uma sociedade baseada na represso dos instintos, onde a
pulso direcionada ao trabalho e o pensamento s opera como validao
da estrutura (ou sistema) e no como forma de liberao do ser - este
ser visto pela criana, de pernas enormes e cabea pequena, no assim
to distante do percevejo.
Os hbridos indicam tambm outra caracterstica do estranhamento:
a situao de deslocamento
229
. Em Relatrio para uma Academia vemos a
humanizao do macaco que precisa se adaptar ao ser humano. O
movimento reverso ocorre em A Metamorfose, com a adaptao do animal
228
AsK, p. 251
229
Utilizando terminologia deleuziana, teramos um encontro de desterritorializaes:
homens e animais em terrenos adversos, fora de suas naturezas. interessante notarmos
que as vises de Deleuze e de Adorno guardam certa consonncia sobre o potencial de
ruptura e ressignificao do Eu representado nos hbridos. Para Adorno, ao mesmo tempo
em que os homens-animais simbolizam a perda da humanidade, apontam para um resgate
do instintivo, do id. Em Deleuze, o devir-animal uma linha de fuga que no deixa subsistir
nada da dualidade de um sujeito da enunciao e de um sujeito de enunciado, mas constitui
um nico e mesmo processo, um nico e mesmo processus que substitui a subjetividade.
(K., pp. 54-55). Ou seja, se mostra como uma reconfigurao no apenas do ponto de vista
narrativo, como da prpria subjetividade. "A essncia animal a sada, a linha de fuga,
ainda que no mesmo lugar ou na gaiola. Uma sada, e no a liberdade. Uma linha de fuga
viva, e no um ataque (K., p. 53 itlicos do autor). A essncia do devir-animal no uma
metfora simples, mas liberdade e agresso, estados pelos quais os personagens
passam.
95
ao homem, sendo o inseto uma fuga do confronto entre Gregor e sua
famlia - ou o chefe - em uma situao desconfortvel, em terreno
novo
230
.
Tanto o homem-animal como o animal-homem mostram seres fora
de sua zona de conforto e deslocados de sua natureza originria, imersos
numa realidade que obriga os personagens ao, ruptura do padro
estabelecido
231
. As figuras animais decorrem e so evidncia da tenso
existente entre duas realidades opostas
232
.
Um elemento presente neste choque de realidades a prpria arte
como manifestao humana, mas simultaneamente representao
(Darstellung) de um inumano, de um emocional/animal reprimido pela
racionalidade esclarecida e pela tessitura social que nos humaniza, isto ,
nos aliena dos impulsos primitivos da libido e da desrazo. O cotidiano
humano satirizado por Kafka, ainda no Relatrio, quando Rotpeter, o
macaco, nos diz que
Se chego em casa tarde da noite, vindo de banquetes,
sociedades cientficas, reunies agradveis, est me
230
Deleuze ver o devir-animal de Gregor no como uma resposta ou ruptura deste com o
pai, mas como "encontrar um caminho onde ele no o encontrou (K., p. 41), como a busca
de uma nova possibilidade. O estranhamento como uma linha de fuga, portanto.
231
Apesar deste potencial de ruptura, a linha de fuga esboada nos contos animais se
mostra sem sada, na viso de Deleuze, pois nos remete novamente a uma reinsero da
figura do personagem e do drama familiar, o que visvel principalmente em A
Metamorfose. Temos novamente o encontro entre desejo (animal) e estrutura (famlia), com
a reinsero daquele na esfera desta. Como exemplo, Deleuze e Guattari destacam a
reao de Samsa frente foto da senhora usando peles - simbologia da me. Exatamente a
partir do momento em que Samsa no deixa a irm retirar a imagem da me de seu quarto,
Grete comea a se afastar do irmo, deixando de cuidar de sua subsistncia at que este
definha e morre. Sua reedipianizao o leva morte. No final do conto, o tringulo edpico
est refeito - pai, me e filha - e a vida de seus componentes segue independentemente do
resto do mundo. Assim, o devir-animal uma potencialidade dotada de dois polos
igualmente reais: um polo propriamente animal e um polo familiar. Vimos, com efeito, que o
animal oscila entre seu prprio devir-animal e uma familiarizao demasiado humana. (...)
todos os animais oscilam entre um Eros esquizo e um Tanatos edpico. S deste ponto de
vista se corre o risco de que a metfora se reintroduza com todo seu cortejo
antropocentrista (K., p. 67).
232
Para Deleuze, o devir-animal mostra uma linha de fuga mas no a percorre, pois o que
as tornava capazes de mostrar a sada era outra coisa agindo dentro delas (K., p. 68). A
tenso entre o desvelamento e a ao, assim como entre animal e humano, sugere um
processo dialtico em curso, mas que em vez de propor uma sntese totalizante como
resultado, aponta a suspenso da possibilidade de tal sntese entre eles.
96
esperando uma pequena chimpanz semiamestrada e eu me
permito passar bem com ela maneira dos macacos.
Durante o dia no quero v-la; pois ela tem no olhar a
loucura do perturbado animal amestrado; isso s eu
reconheo e no consigo suport-lo
233
Em A Metamorfose, quando Gregor busca ouvir a pea de violino
que Grete executa para os inquilinos, percebe-se um lampejo da
humanidade perdida pelo protagonista inseto. J no Relatrio, ao remeter
ao teatro (gesto) para criar sua personagem humana e assim convencer a
todos, Rotpeter tem como destino o teatro de variedades, onde pode
encenar sua humanidade social no mundo do trabalho no lar, ele se
permite certa inumanidade, mas controlada.
Em sntese: o inumano a arte, a sensibilidade, a libido
234
- aquilo
que recupera o ser de sua desumanizao.
233
EFK, p. 123
234
Cf. LYOTARD (2001). J DELEUZE analisa a questo da libido em Kafka como ligada a
seus relacionamentos pessoais, e a literatura como uma espcie de operao do autor no
tecido da realidade que permite o afloramento de seus desejos/vontade. Desta forma, cada
modalidade de escrita (carta, conto, romance) opera uma funo neste mecanismo,
chamando especial ateno o papel das cartas, vistas como uma forma de lidar com a
dificuldade de relacionamento com o feminino e com os relacionamentos amorosos:
Substituir o amor por uma carta de amor, desterritorializar o amor, substituir o contrato
conjugal to temido, por um pacto diablico (K., p. 46) que mantm o perigo do casamento
distncia e permite s intensidades erticas aflorarem. Deleuze sugere um carter
vampiresco nas cartas de Kafka a Felcia, e essa relao com o vampiro no gratuita, se
levarmos em conta a intensa significao ertica na imagem de Drcula e no sangue como
smbolo de fora e energia vitais. O vampiro, especialmente, parece uma figura fascinante
no processo. Deleuze aponta a existncia de um ensaio de Claire Parnet, o qual no foi
possvel localizar, em que a relao Kafka-Drcula seria aprofundada. Seria o vampiro um
tipo novo de devir-animal, que no reproduz a ideia molar/majoritria que temos dessas
criaturas como seres das trevas e encarnao do mal, mas sugere, pelo beber sangue, uma
potncia de vida que irrompe e flui entre os indivduos? Ou Drcula e seus amigos seriam o
contraponto - e por isso mesmo a resposta e a liberao - ao sujeito
domado/dominado/domesticado pela Razo e enredado nos modelos majoritrios de bem,
moral, segurana, etc.? Se o vampiro (assim como outros monstros) a personificao de
muitos dos medos e desejos humanos, abre-se a intrigante possibilidade da relao medo-
desejo ser motor e ferramenta de libertao do majoritrio por meio da transgresso, do
desejo de transgredir.
97
4.3 Duplos e sries
O inumano em Kafka no representado apenas pela natureza
animal. Os movimentos repetidos, as mquinas fantsticas e as figuras
duplicadas
235
so exemplos do princpio hermtico do texto de Kafka, a
subjetividade completamente alienada
236
- ou, em outras palavras, do
afastamento e alienao extremos na relao do sujeito consigo mesmo e
com o semelhante. O que est contido na bola de vidro kafkiana mais
coerente e portanto mais cruel ainda do que o sistema l fora porque no
espao e no tempo absolutamente subjetivos no h lugar para algo que
possa perturbar seu princpio, o da alienao inexorvel
237
. Alienao de
si ou enxergarmos a ns mesmos como um outro, no nos
reconhecendo no mundo que nos cerca - ou a alienao em relao ao
outro, que objetificado e indiferenciado.
Kafka leva ao reconhecimento da nossa prpria condio
desumanizada - e simultaneamente nossa condio humana - ao mostrar
235
A recorrncia dessas figuras flagrante em obras como O Castelo, A Preocupao do
Pai de Famlia, Na Colnia Penal, entre outras. Para Deleuze, o prprio texto de Kafka tem
tais caractersticas maqunicas, devendo ser desmontado para seu entendimento. Aqui, a
mquina no significa perda de humanidade, mas sim o encontro de linhas de fora, de
eventos, que compe o objeto a ser analisado, em uma relao de vizinhana entre termos
heterogneos independentes. A mquina est e o entorno, no est subsumida ao
maquinista. Cada relao de foras , em si, uma mquina, ou um agenciamento maqunico
diferente. A mquina um algo social, a prpria sociedade. E o mesmo para o
organismo: da mesma forma que a mecnica supe uma mquina social, o organismo
supe, por seu turno, um corpo sem rgos, definido pelas suas linhas, seus eixos e suas
graduaes, todo um funcionamento maqunico distinto tanto das funes orgnicas quanto
das relaes mecnicas. De acordo com esta anlise, uma mquina nunca s tcnica,
pois sempre faz parte de uma mquina social que usa os homens como peas para seu
funcionamento. A aproximao entre a viso da mquina como representao do alienado,
e do maqunico como agenciamento de foras individuais e sociais decorrente da
observao dos efeitos destas linhas de fora sobre sua resultante, no caso o indivduo e o
corpo social. O corpo sem rgos, o desejo, reprimido ou liberado, age nas linhas de fora
ou sofre a ao delas. O desmontar do maquinismo do texto em Kafka equivale a entender a
relao entre autor e realidade que o cerca, como este expressou via linguagem e a
prpria linguagem assume uma funo neste maquinismo, como um tensor no qual
percebemos tais linhas e que as tensiona tambm. Isso proporciona uma aproximao com
a relao entre tecido social e obra de arte conforme pensada por Adorno. O duplo, por sua
vez, opera como um espelho e simboliza no apenas uma repetio de signos ou imagens,
mas uma diferena entre eles, que se d no terreno do estranhamento.
236
AsK, p.258
237
AsK, p.259.
98
personagens cujo relacionamento se d de forma conflituosa, mesmo sob
uma aparente cordialidade. Isso se torna mais visvel, como exemplo, nos
problemas entre os protagonistas e os personagens femininos das obras
(Leni em O Processo, Grete em A Metamorfose
238
, Frieda ou Pepi em O
Castelo) ou na relao conflituosa e ao mesmo tempo exagerada descrita
na Carta ao Pai - relaes marcadas pelo signo da incompreensibilidade.
Este problema no reconhecimento de si e do outro guarda paralelos
com o conceito de idiossincrasia, tomado por Adorno como a repulsa
irracional em relao ao estranho, o diferente
239
. Mas o que repele pela
sua estranheza , na verdade, familiar
240
.
Esta dupla condio expressa uma relao de amor e dio, uma
situao em que movimento, ao, e paralisia, inao, se determinam
mutuamente e ameaam conduzir o sujeito diretamente loucura
241
. O
conceito psicanaltico do duplo vnculo, usado para definir relacionamentos
contraditrios nos quais ocorrem de forma simultnea comportamentos de
afeto e agressividade, pode ser visto, como j mencionado, em O
Veredicto. E as relaes pessoais e sociais dispostas na obra muitas vezes
apresentam essa multiplicidade de comportamento. nesse sentido que
238
Por que razo Grete chora no aposento da esquerda, antes mesmo de saber em que o
irmo havia se tornado? O relacionamento em questo algo mais profundo ou estranho do
que parece?
239
Nos Elementos do Antissemitismo (DE, p. 157-194), a idiossincrasia ganha um
significado muito alm do dicionarismo: em vez de ser o detalhe de conduta peculiar a um
indivduo determinado e que no pode ser atribudo a processos psicolgicos gerais, bem
conhecidos (Dicionrio MICHAELIS) - ou seja, a reao personalizada a fatores externos -,
idiossincrasia passa a ser entendida como a intolerncia completa (seja incompreenso,
inamistosidade ou repulsa) a tudo que diferente de si. Os conceitos de idiossincrasia e
mmesis se articulam estranhamente. Neste texto, segundo GAGNEBIN (1993), Adorno e
Horkheimer partem da justificativa to frequente dos antissemitas: a idiossincrasia, isto ,
uma repulso incontrolvel e incontrolada em relao a algo exterior, no caso os judeus.
Essa justificativa recusa de antemo questionamentos crticos, pois apela para uma reao
fisiolgica, pretensamente natural, como de algum que sofre de alergia poeira ou ao plo
dos gatos. Nessa falsa naturalizao jaz, no entanto, um elemento de verdade, a saber, a
lembrana recalcada de reaes mimticas originrias, esses "momentos da proto-histria
biolgica", esses "sinais de perigo cujo rudo fazia os cabelos se eriarem e o corao
cessar de bater". Tais reaes, independentes do controle consciente, so uma forma fsica
primeira de mmesis. (GAGNEBIN, p. 75)
240
DE, p. 170
241
LAGES, p. 110
99
para Adorno os hermticos protocolos de Kafka contm a gnese social
da esquizofrenia
242
.
A duplicidade pode ser lida tambm como ambivalncia. O uso do
duplo (ou das figuras indiferenciadas ou similares) na literatura no
novo, mas funciona como um interessante elemento narrativo: O tema
dos gmeos indiferenciveis (...) ou dos simillimi (...) ou dos ssias (...)
ou dos duplos (...) tem sido, para a dramaturgia, um filo inesgotvel
desde a Antiguidade (...).
243
, haja visto que os equvocos, trgicos ou
cmicos, que podem advir de duas personagens ao mesmo tempo
diferentes e iguais
244
so um recurso eficaz tanto na comdia como na
tragdia.
A perda de sentido do humano que surge como consequncia
dessa duplicidade causa estranhamento, riso ou drama. Em O Castelo,
possvel perceber tanto o potencial cmico como o trgico da duplicidade:
Os trs ento ficaram sentados relativamente em si-
lncio no salo do albergue, bebendo cerveja numa pequena
mesa, K. no meio, direita e esquerda os ajudantes. Alm
desta, s uma mesa estava ocupada por camponeses, de
maneira semelhante noite anterior.
Com vocs no fcil disse K., comparando os
seus rostos, como j o tinha feito vrias vezes. Como
que posso distinguir um do outro? Vocs so diferentes
apenas no nome, no mais so parecidos como estacou e
depois prosseguiu involuntariamente no mais vocs so
parecidos como cobras.
Eles sorriram.
Outras pessoas nos distinguem bem disseram
como justificativa.
Acredito disse K. Eu mesmo fui testemunha
disso, mas s posso ver com os meus olhos, e com eles no
consigo distinguir um do outro. Por isso vou trat-los como
sendo um nico homem e chamar os dois de Artur, no
assim que um de vocs se chama... voc, por acaso?
perguntou K. a um deles.
No disse este. Eu me chamo Jeremias.
Bem, d no mesmo disse K. Vou chamar a
ambos de Artur. Se eu mandar Artur para alguma parte, vo
os dois; se eu der uma tarefa a Artur, vocs dois a fazem;
242
AsK, p. 251
243
FONSECA, p. 10
244
FONSECA, p. 11
100
para mim isso tem a grande desvantagem de que no posso
us-los para trabalhos isolados, mas tem tambm a
vantagem de que os dois assumem juntos a
responsabilidade de tudo aquilo de que eu os incumbir. Para
mim indiferente de que modo vocs dividem entre si o
trabalho, a nica coisa que no podem se desculpar um
por causa do outro, para mim vocs so um nico homem.
Eles refletiram e disseram:
Isso seria bem desagradvel para ns.
Como poderia deixar de ser? atalhou K.
Naturalmente que deve ser desagradvel, mas assim que
vai ficar
245
.
Vendo a si mesmo como um outro - e vendo o outro como algo
indiferenciado - o homem retratado por Kafka tanto uma representao
de figuras do universo do grotesco como uma antecipao de algo mais
tenebroso, homens fabricados em linhas de produo, exemplares
reproduzidos mecanicamente semelhantes aos psilons de Huxley
246
: o
indivduo fruto da indstria cultural e da ideologia da sociedade
administrada.
Tomando essa concepo de Adorno como aplicvel a toda a obra de
Kafka, esse ambiente repetitivo se mostraria visvel em diversos
momentos das novelas e contos: se Adorno detecta que o homem padece
da iluso da subjetividade em uma estrutura com todos os dados j
condicionados previamente, analogamente, em O Processo, Kafka
descreve a confiana ilusria de Josef K, que acredita dominar a situao
quando na verdade o processo corre sua revelia. Se em A Metamorfose
Grete acaba por se enfastiar da tarefa que assumiu (por sua prpria
vontade) de cuidar do irmo-inseto e deseja o fim deste tormento, a
anlise adorniana sobre a relao do ser com o binmio trabalho-tempo
na sociedade administrada mostra que a reproduo dos processos do
tempo de trabalho ocorre inclusive no tempo em que no se est
trabalhando, de tal modo que o trabalhador no deseja o fim deste
processo, pois no consegue perceber a real diferena entre um estado e
245
C, p. 22
246
AsK, p. 249
101
outro. O executor do trabalho parece assumir por sua prpria vontade o
aumento de eficincia, produtividade e mais-valia em benefcio do
empregador
247
.
Mas talvez o momento onde esta rotina seja mais visvel esteja em
Na Colnia Penal, onde o suicdio/execuo do oficial literalmente uma
relao simbitica entre o homem e a mquina
248
: o fato de o oficial
programar a mquina de tortura para execut-lo impiedosamente leva
ambos perfeio e destruio simultaneamente. A simples existncia
da mquina funcionava como forma de coero e controle do meio social.
Temor e conformidade se misturam transformando o prprio dia-a-dia em
condenao. Nas palavras do carcereiro do conto, seria intil anunci-la
[a sentena]. Ele vai experiment-la na prpria carne
249
. A dualidade e a
assincronia na prpria noo de si do indivduo no podem ser lidas sem a
relao direta com o ambiente que as gera ou alimenta. O mundo que
promove o super-eu o que destri a identidade e promove a
indiferena
250
.
247
Deleuze far uma observao no mesmo sentido em seu texto Post-scriptum sobre as
sociedades de controle, apontando que dentre as modificaes no tecido social ocorridas
desde o colapso das sociedades disciplinares no das menores o surgimento de uma
nova conformao nas relaes sociais e de trabalho, cada vez mais semelhantes. O
conceito de classes minimizado e o empregado se v como um co-laborador, ou algum
que trabalha junto ao chefe. No mundo do trabalho de hoje, diria o autor, s h gerentes.
Isso nos aproxima da leitura adorniana de que a mercadoria assumiu o papel de cultura na
sociedade, isto , as relaes humanas passam a ser mediadas pelos cdigos da empresa
e da mercadoria.
248
Compreensvel tanto pela chave conceitual do fetichismo tecnolgico como pela ideia do
maquinismo. Entender e conservar o processo de funcionamento da mquina o que d
sentido vida do oficial, ao ponto dele ser o nico que ainda se importa com aquilo que a
mquina executa e representa. No apenas a relao com a mquina ultrapassa a distncia
sujeito-objeto (a mquina simboliza/significa um mundo que no retornar mais e que s
possui sentido para o oficial) como assume um carter concreto, uma soma de partes que
mais do que seu todo. Deter o entendimento sobre o funcionamento da mquina pode ser,
analogamente, ter a compreenso de como o mundo se inscreve no indivduo (o que nos
aproxima da viso marxiana sobre a determinao da natureza humana por meio das
condies materiais a mquina da existncia). Manter o funcionamento da mquina
equivaleria, analogamente, manuteno de um status quo e de tais processos de inscrio
do mundo no sujeito, o transformando/alienando de si com a mquina sendo o centro
de sua vida e criando um tipo de simbiose homem-mquina na qual decompor o
mecanismo da mquina sugere a decomposio do prprio oficial, ou do humano.
249
NCP. p. 40
250
Segundo Zischler, um filme que causou grande impacto sobre Kafka foi O Outro (Der
Andere, direo Max Mack, 1913) , com Albert Bassermann no papel de um homem que
102
Segundo GAGNEBIN, esta indiferena se mostra inclusive na
personagem do viajante, que, pretensamente imbudo de uma viso mais
europeia das coisas e da justia, apenas contempla o que ocorre sem
sequer esboar algum tipo de interveno afinal, como mais evoludo
culturalmente, deve respeitar os estranhos processos como detalhes
pitorescos da regio que visita: sempre problemtico intervir com
determinao em assuntos estrangeiros
251
. Mesmo considerando a
mquina um processo desumano, nada faz para mudar o desenlace dos
fatos e deixa a ilha sozinho no fim, obrigando o condenado e o soldado a
permanecerem naquilo que considera ser uma barbrie. Uma descrio do
homem de hoje, no qual o respeito ao que lhe diferente e ao espao do
outro camufla uma completa indiferena mais ainda, um desejo
confesso de no-interveno, denunciado tambm no microconto Os que
passam por ns correndo:
Quando se vai passear noite por uma rua e um homem j
visvel de longe - pois a rua sobe nossa frente e faz lua
cheia - corre em nossa direo, ns no vamos agarr-lo
mesmo que ele seja fraco e esfarrapado, mesmo que algum
desenvolve dupla personalidade aps um acidente, um evento mundano. considerado por
ELSAESSER (1996) como o primeiro "filme de autor" alemo, assim como tambm o
primeiro drama psicanaltico do cinema que tratava da dupla personalidade e que j flertava
com elementos do cinema fantstico. O Estudante de Praga, do mesmo ano, que tambm
foi assistido por Kafka, lida com a temtica do doppelgnger (a rplica andante), smbolo do
lado negativo de uma pessoa e sinal de morte iminente, de acordo com as lendas a respeito
desta criatura. Neste filme, a criatura negativa triunfa, levando o protagonista Balduin
morte. Metaforicamente, podemos ver isto como um triunfo do lado negativo do ser, mas
que, em vez de estar em um espelho ou personificado em uma criatura externa ao
protagonista, residiria dentro dele mesmo. As tcnicas de filmagem usadas poca
(sobreposio de pelcula) permitiam que o ator contracenasse consigo mesmo. Seria
possvel teorizar que os protagonistas em Kafka realizam o mesmo processo de atuao,
dentro da prpria estrutura narrativa? A estrutura de composio de personagens em Kafka
parece nos apontar que a esfericidade de um personagem se d por um choque de
naturezas contrrias. Um personagem encerra a si prprio e seu duplo. Um exemplo
Grete, que contm em si tanto a irm amorosa, substituta da me, como a que diz aos pais
para abandonarem o pensamento de que o inseto Gregor (M.,p.78). Sendo o
doppelgnger, no folclore da regio, tambm uma espcie de conscincia do ser, negativa
ou positiva, poderamos imagin-lo como sendo o narrador no-onisciente kafkiano?
DELEUZE sinaliza que Em suas cartas, Kafka se serve do duplo, mas
seu objetivo apenas confundir a pista para que troquem seus papis. Nas novelas, em
cada um de seus personagens, Kafka prolifera sobre si sem ter necessidade
de se desdobrar nem de passar por duplos (K., p. 123)
251
NCP, p.51
103
corra atrs dele gritando, mas vamos deixar que continue
correndo.
Pois noite e no podemos fazer nada se a rua se eleva
nossa frente na lua cheia e alm disso talvez esses dois
tenham organizado a perseguio para se divertir; talvez
ambos persigam um terceiro, talvez o primeiro seja
perseguido inocentemente, talvez o segundo queira matar e
ns nos tornssemos cmplices do crime, talvez os dois no
saibam nada um do outro e cada um s corra por conta
prpria para sua cama, talvez sejam sonmbulos, talvez o
primeiro esteja armado.
E finalmente - no temos o direito de estar cansados, no
bebemos tanto vinho? Estamos contentes por no ver mais
nem o segundo homem
252
.
4.4 O estranhamento de si
Se o problema da relao com o semelhante perpassa diversos
momentos da obra de Kafka, h quem diga que a prpria questo do
sujeito uma das linhas de fora de sua produo. Kafka mostraria a
falncia do modelo de identidade caracterizado pelo sujeito autnomo,
senhor de si e dominador da natureza
253
, tanto nas narrativas
protagonizadas por animais como no fato de que no temos em sua obra
252
C/F, p. 27
253
CANEVACCI (1985) realiza uma interessante distino entre os conceitos de Indivduo e
Sujeito: o primeiro acabou por se referir esfera psicolgico-sensorial humana enquanto o
segundo tornou-se uma qualidade humana que funda as grandes categorias (p.11), sejam
estas transcendentais, sociais ou epistemolgicas. Esta ciso, originria da prpria
organizao da sociedade e da separao do homem em relao natureza,
sistematizada radicalmente na era burguesa, onde o indivduo se torna a representao
daquilo que miseravelmente materialista e passional e o sujeito, o livre-proprietrio que
transcende tal misria e pura categoria tica, lgica, econmica e poltica. Assim, a posse
e o poder deste Sujeito se legitimam e ganham um status quase religioso. J os sem-sujeito
(grupos e pessoas marginalizados durante a histria da humanidade: mulheres, escravos,
crianas, trabalhadores, etc.) so os que no detm tal poder ou propriedade das relaes
sociais de produo. Se o humano, sujeito de si, domina o trabalho, o tempo e a natureza
(enquanto o animal dominado pelo tempo), a perda da condio de sujeito imanente ao
surgimento do que chamamos de sociedade administrada (onde se assiste a um processo
reverso de dominao do humano pelo tempo e pelo trabalho)? O homem-animal kafkiano
o ser que surge pelo desenvolvimento das tcnicas que subordinam a vida ao imperativo da
economia do tempo e da maximizao da produo e, simultaneamente, percepo de
perenidade/imobilidade do tempo na estrutura burocrtica e, por extenso, nas relaes
sociais? A ciso do indivduo se daria, assim, no espao que ocupa (fbrica, cidade, etc.),
nos papis sociais e tambm na percepo do fluxo de sua prpria vida.
104
protagonistas que determinam ou influenciam diretamente os fatos
descritos na narrativa: eles so levados s situaes por foras
irresistveis, as quais muitas vezes desconhecem
254
.
Como os inocentes de Sade - e tambm dos filmes de terror
americanos e dos desenhos animados -, o sujeito kafkiano,
especialmente o emigrante Karl Rossmann, pula de uma
situao desesperadora e sem sada para outra: as estaes
da aventura pica transformam-se em uma histria de
sofrimento. O nexo imanente se concretiza como uma fuga
de prises
255
.
O trabalho ser o definidor da personalidade de cada personagem
256
.
Pessoas so descritas como funes
257
: o gerente, o carcereiro, o
agrimensor, o lavrador. Os personagens de Kafka ou so os
representantes da mquina burocrtica ou so os excludos da vida social
e do alto escalo. So aqueles que arrumam as casas, limpam o lixo,
atendem as mesas e as estalagens, levam produtos de porta em porta.
No uma literatura de grandes heris, mas de pessoas comuns em
situaes incomuns (ou situaes que, ao serem descritas, parecem
incomuns, mas so mais corriqueiras do que se imagina). De certa forma,
esto margem da sociedade ou sobrevivem nos espaos que ela deixa.
Um exemplo disso o pintor chamado de Titorelli
258
: sua existncia,
basicamente, est voltada produo de quadros exatamente iguais e ele
no tem, na verdade, a ascendncia que se espera que tenha sobre os
promotores e juzes. Mas isso no o impede de executar sua tarefa e
aconselhar Josef K. sobre os rumos que deve tomar e com isso vender
trs de seus quadros absolutamente iguais. O fato de mesmo no quarto
de Titorelli existirem atalhos para as salas da Justia pode ser entendido
254
Afinal de contas, quem acusa Josef K? E do que ele acusado, afinal?
255
AsK, p. 263
256
Cf. ANDERS, 2007, p. 67
257
ibid., p. 62
258
Sei do seu processo atravs de um certo Titorelli. um pintor, Titorelli apenas o nome
artstico dele, nem mesmo conheo seu nome real. J faz anos, de tempos em tempos, vem
ao meu escritrio. P, p. 127
105
como uma analogia ao fato de que todos esto, de uma forma ou outra,
integrados ao sistema, que permeia todas as instncias da vida dos
indivduos. Vivem conforme a sociedade e apesar dela. A identidade do
indivduo no surge do confronto com o sistema, mas sim da sua
adaptao a ele. A identidade vira identificao.
Se os personagens possuem vnculos com o mundo que os cerca, o
autor se sente "sem antepassados, sem mulher, sem posteridade, com
um violento desejo de possuir antepassados, vida conjugal e
posteridade
259
". A solido e dificuldade de relacionamento ganham tanto
espao nas interpretaes de Kafka por terem se tornado, no nosso
sculo, um problema social
260
. Em um mundo feito de pessoas isoladas, a
prosa kafkiana desvela a existncia do outro exatamente por sua ausncia
pela necessidade de buscar algo que no est ali.
E, quando se observa com maior rigor, Kafka encontra dentro
dele mesmo, encravada em sua subjetividade isolada, a
presena do social, a dimenso coletiva do humano: "A
unidade humana, que todo homem, mesmo o mais social e
mais flexvel, pe em dvida de tempos em tempos (ainda
que apenas afetivamente) revela-se tambm, por outro lado,
a todo homem - ou parece revelar-se - na harmonia total que
pode sempre ser encontrada entre o desenvolvimento do
conjunto da humanidade e o desenvolvimento do indivduo.
Mesmo nos sentimentos mais fechados do indivduo". (Dirio,
4-12-1913).
261
Desta forma, a questo do sujeito se mostra em aberto dentro da
obra de Kafka. Um problema fulcral, pois seus textos indicam, mesmo
indiretamente, a insuficincia do modelo de um Eu autnomo capaz de
deixar sua menoridade - conforme o conceito iluminista. Recorrendo
leitura de Adorno e Horkheimer, tal modelo de sujeito parece resultar
exatamente no contrrio do que o conceito de emancipao abriga,
invertendo-se em represso de si e dominao dos demais. Isto ocorre
259
Dirio, 21 de janeiro de 1922
260
Segundo a anlise de KONDER, 1974. p. 107
261
Ibidem, p. 104
106
pelo fato da razo ter sido colocada na posio que antes era ocupada
pelo sujeito autnomo: a coordenao das instncias da vida. A
instrumentalizao da razo e a que foi operada por esta no entendimento
da realidade, aparentemente com o objetivo de dar ao ser a capacidade
de usar os meios para operar e alterar este real, guarda em si seu
contrrio, promovendo a liquidao do sujeito por meio de uma
subjetivao da realidade
262
.
O processo de subjetivao afeta todas as categorias filosficas,
porm em vez de as reorganizar em uma unidade de pensamento melhor
estruturada, as simplificou posio de fatos a serem catalogados. A
prpria categoria de Sujeito sofre deste processo, mesmo no podendo
mais ser interpretada de forma rgida. necessrio pensar como isso
ocorre no mundo e que tipo de mundo d a base para que isto ocorra.
Buscar saber, de outra forma, o que acontece com a experincia do
mundo quando o fundamento da experincia um sujeito pensado
263
,
mas no realizado, a partir das experincias de unidade, autonomia,
transparncia e identidade? Conforme Safatle, a maneira com que
compreendemos a categoria de sujeito no poderia deixar de ter
consequncias na maneira com que definimos o que um objeto da
experincia, quais as condies para que algo aceda condio de objeto.
(...)
264
. Assim, o processo de constituio do Eu moderno, com suas
exigncias de auto-identidade imediata e de autodeterminao, significou
a submisso de toda experincia possvel ao primado da identidade e da
abstrao
265
.
262
Se, como algumas correntes filosficas argumentam, o Sujeito est morto e as
estruturas/experincias moldam o indivduo, sendo a vida um aglomerado de substncias
heterogneas, a exaltao de uma individualidade liberta das garras da mnada liberal que
o reduziria a uma figura sem rosto e sem personalidade (o Eu cartesiano-kantiano),
paradoxalmente retira tal individualidade deste indivduo, pois o primado da experincia se
sobrepe ao ser que a frui. O ser se torna objeto da experincia, que o objeto para sua
definio como ser. A subjetivao se transforma na objetivao do ser.
263
Cf. SAFATLE (2009, p.7)
264
ibidem
265
ibidem.
107
Para Horkheimer, tais indivduos seriam como projees do que
chamado de mentalidade do engenheiro, uma forma de pensamento
ligada s exigncias da produo em si mais do que busca do lucro e
que comanda os homens posio de instrumentos sem objetivos
prprios
266
. O Eu moderno como uma ausncia de um eu, seja pela
submisso da experincia pessoal identidade/identificao de massa
como da formao da identidade pessoal de acordo com o primado da
experincia e do processo social.
Tal situao colocaria o ser humano frente ao que se pode chamar de
crise do indivduo, pois o antagonismo em relao sociedade, mediante
o qual o indivduo constri o seu self como projeto, foi substitudo na
sociedade de consumo por um desejo de adaptao mimtica realidade,
seja no ajuste a algo j dado como na iluso de que a realidade se ajusta
a seus desejos. A mediao do poder social pelo poder sobre as coisas
implica o domnio do prprio indivduo pelas coisas, a perda de traos
individuais genunos, a perda de liberdade e a transformao da sua
mente num autmato da razo formalizada.
A rigidez de personagens como o oficial em Na Colnia Penal e o pai
de Gregor em A Metamorfose remetem negao adorniana da mmesis,
uma caracterstica do pensamento racional na qual se vinculam a
degradao do pensar por imagens e a crtica da fora cognitiva da
semelhana e da analogia
267
. Tais personagens poderiam se referir
situao do homem moderno, que tem como seu cdigo definidor a
negao do seu semelhante, a
identidade do eu que no pode perder-se na identificao
com um outro, mas [que] toma possesso de si de uma vez
por todas como mscara impenetrvel
268
. Pois a identidade
do Eu seria dependente da entificao de um sistema fixo de
identidades e diferenas categoriais.
269
266
HORKHEIMER, p. 156
267
SAFATLE, 2009, p.6.
268
DE, p. 24 in SAFATLE. op. cit., p.6
269
SAFATLE, 2009, loc.cit.
108
Esta esquematizao se mostra nas esferas do pensamento,
cultura/arte, sociedade/poltica e na prpria determinao do sujeito. A
eliminao da dialtica entre indivduo e sociedade significa a perda da
prpria noo de si. As categorias de sujeito transcendental, universal e
trans-histrico, cristalizadas na expresso kantiana eu penso, seriam
bloqueios ao real entendimento da razo, do sujeito e do social pois estas
categorias se projetam sobre o mundo, padronizando a forma de pensar.
Isto chamado, por Adorno, de
falsa projeo ligada dinmica do narcisismo e aos
processos de categorizao do sujeito cognoscente
270
, j
que, em ltima instncia, a categorizao seria uma
projeo do princpio de identidade do Eu na sntese do
diverso da intuio em representaes de objetos da
experincia.
271
Talvez seja possvel ver em um pequeno conto como A Coleira tal
engessamento da subjetividade, assim como uma manifestao da
angstia que surge do confronto entre o externo e o individual. Longe de
ser uma pea de teologia, o conto se assemelha muito mais a uma
confisso de no-pertencimento a qualquer das realidades descritas, se
entendermos Cu e Terra como limites da liberdade e da identidade
humanas, ou limites da individualidade e do externo ao indivduo:
Livre e confiante cidado da Terra, eis que est preso a uma
corrente longa o bastante para lhe proporcionar liberdade
sobre todo o espao terrestre; conquanto longa apenas de
maneira a que no o solicite coisa alguma fora dos limites da
Terra. ao mesmo tempo livre e confiante cidado do Cu,
e eis que est preso a igual corrente celeste.
270
Sempre que as energias intelectuais esto intencionalmente concentradas no mundo
exterior (...) tendemos a ignorar o processo subjetivo imanente esquematizao e a
colocar o sistema como a coisa mesma. Como o pensamento patolgico, o pensamento
objetivador contm a arbitrariedade do fim subjetivo que estranho coisa . ADORNO, p.
180 apud SAFATLE, 2009, loc.cit.
271
SAFATLE, ibidem.
109
Quando pende muito para a Terra, estrangula-o a coleira
celeste; quando pende muito para o Cu, estrangula-o a
coleira terrestre...
Tem todavia todos os recursos, sente isso; sim, mas
obstina-se em negar que tudo se deva a um erro inicial na
fixao dos grilhes
272
.
Ao abdicarmos da viso teologizante das obras de Kafka
273
, esta
dualidade contida no pequeno conto pode tambm ser entendida como um
confronto entre a dominao da natureza (sobre todo o espao
terrestre), caracterstica do sujeito iluminista conforme Adorno, e a
dominao/represso de si. Como nunca atingimos nem o cu ou a terra,
nunca ocorre o domnio completo de nenhum dos polos. O mundo das
obras frio, sem vida ou natureza, j que o mundo que nos cerca est
totalmente mais: totalitariamente institucionalizado: ou
seja, no h mais aquele saldo vacante e inaproveitado que
ns costumamos reverenciar ou fruir como natureza. Essa
falta de natureza no mundo kafkiano verdadeira na medida
em que ocupa tudo aquilo que existe pelo menos
virtualmente como matria-prima ou fonte de energia, e
extermina tudo o que seja inaproveitvel, mesmo
homens.
274
A questo passa a ser se o sujeito reside nesta projeo do Eu sobre
o mundo ou no. Em uma perspectiva adorniana, o sujeito se mostra
como um constructo onde "a subjetividade coletiva, a subjetividade
individual e o mundo objetivo, cada um em seu devido lugar, apoiam-se
272
EFK, p. 199
273
da histria `Josefina`, muito bonita, mas fato estranho relativamente desconhecida,
que se deduz quo pouco Kafka concebeu seus escritos como pea de teologia judaica
(ANDERS, 2007, p. 126). O autor se perfila aos analistas que consideram a interpretao de
Max Brod sobre a obra de Kafka, notadamente mstica e teolgica, como incapaz de captar
sua dimenso completa. Anders apresenta Josefina, a camundongo que canta e supe
proteger o povo, mas na verdade protegida por ele, como uma analogia religio judaica,
considerando sua voz um intermezzo na histria de seu povo. Por extenso, Anders
defende que o recurso mstica judaica, mesmo existindo em certo grau, no a chave de
interpretao correta para dar conta da complexidade da obra de Kafka.
274
ANDERS, id, p.125
110
entre si operando uma dialtica da no-identidade"
275
. Para Adorno este
sujeito surge da confrontao entre pensamento e individualidade com os
campos empricos do saber
276
.
Se formos buscar tal problemtica na obra de Kafka, ela se mostra na
perda da identidade do indivduo frente ao mundo e da busca pela
rememorao dessa mesma identidade, como Gregor Samsa insiste
durante todo o seu drama. Ou seja, em uma relao dialtica indivduo-
mundo, eu-outro, buscando superar a lgica identitria que norteia o
entendimento do eu e do mundo.
275
JAY, M. in SHOLLE, D. Subject of Adorno. International Communication Association, San
Diego, CA, 27/05/2003. Disp. http://www.allacademic.com/meta/p112007_index.html
276
Tal postulao vai de encontro ao projeto geral do filsofo alemo que, ao contrrio da
afirmao de Hegel de que a filosofia tem por objetivo conhecer o que , considera que a
filosofia tem a tarefa de conhecer o que no mais, ou seja, de descobrir por que foram
vedadas as possibilidades segundo as quais seria possvel instituir uma vida melhor aqui e
agora, respondendo porque a humanidade, como se l no comeo da Dialtica do
Esclarecimento, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, est se
afundando em uma nova espcie de barbrie. (BEHRENS, R
.
p. 2) O esclarecimento,
enquanto evoluo do pensamento, tem como objetivo a superao do medo (ou do
irracional, do mito). Porm, quanto mais esclarecido, o mundo estranhamente recai com
maior intensidade no dito irracional. Este processo detectado na observao do
cruzamento entre pensamento filosfico e cincias particulares: o voltar-se da filosofia
(razo crtica) sobre o mundo na busca de uma resposta para suas prprias questes.
Deve-se rumar em direo ao tecido da realidade para tentar buscar as respostas que
possam superar esta aparente aporia na qual a racionalidade contm em si os germes da
barbrie. Porm, a prpria racionalidade - o pensamento que incorpora em si a crtica
sua prpria regresso - que pode ser o caminho para libertao deste problema. Safatle,
interpretando tal relao, afirma que isso pode nos indicar a existncia de objetos que s
podem ser apreendidos na interseco entre prticas e elaboraes conceituais
absolutamente autnomas e com causalidades prprias (SAFATLE, 2009, p.4) e que
impossvel apreender (ergreifen) a totalidade da realidade (Wirklichen) atravs da fora do
pensamento (ADORNO, apud SAFATLE, idem). Desta forma, o que leva Adorno a
interrogar temas to diversos em sua obra a tentativa de achar uma resposta ao enigma
da dialtica entre razo e barbrie, buscando no mundo as marcas que permitem o
entendimento do problema. desta fragmentao temtica, da articulao entre os
assuntos, que surge a fora de seu pensamento, pois neste entrecruzamento que se
mostram as verdadeiras interrogaes que perpassam o prprio funcionamento do real, as
fraturas e oposies invisveis sob um manto de homogeneidade. No que produzido na
sociedade esto expressas as contradies que a compem, as quais se mostram de
Ulisses at a Indstria Cultural, da perda de sentido do eu e a desumanizao de si at a
represso das pulses como uma tentativa malsucedida de domnio da natureza interior; do
entrelaamento entre civilizao e barbrie at a autodestruio do Esclarecimento; do
predomnio da razo abstrata (instrumental) at a mentalidade de ticket e a padronizao do
pensamento sob um manto de progresso e evoluo, que guarda em si o fracasso do
pensar. Racionalidade e irracionalidade dialeticamente ligadas, colocando o homem
(sujeito/objeto deste mecanismo) em constante confronto com este sistema.
111
Essa imerso dos personagens em um mundo estranho tenta
responder pergunta de como o que nasce no interior de uma situao
pode servir de ponto de fuga, como perspectiva que permite criticar esta
prpria situao
277
.
Buscar o Outro na obra de Kafka, surpreendentemente, pode nos
levar investigao do interior dos prprios personagens, o Eu da obra.
Como j ventilado na anlise do duplo, seria possvel imaginar que a
construo dos protagonistas de cada novela ou conto de Kafka usa a
oposio de caractersticas como tcnica para lhes conferir esfericidade
278
.
Um personagem contm a si mesmo e sua nmese, seu duplo oposto. Um
outro Eu, assim como as tcnicas de filmagem permitem a sobreposio
da pelcula para que o ator contracene consigo mesmo.
Ou ainda, recorrendo novamente a Carone, os textos de Kafka so
construdos para exibir simultaneamente as coisas como so e como so
percebidas pelo olhar alienado (alienado de si, estranhado, um outro que
o prprio eu).
Cada personagem, assim, se mostraria cindido j em sua origem e
contracenaria consigo mesmo na narrativa, mas isso se daria tanto na
diferena de percepo ser-mundo (a reao da famlia animalidade de
Gregor em contraste com a conscincia de si, deste como ainda humano)
como na percepo de si mesmo (ainda em A Metamorfose, o processo de
domnio do corpo-animal por Gregor equivaleria ao domnio de um outro
eu). A incapacidade de comunicao de Gregor com sua famlia o coloca
na posio de dependncia, assim como uma criana sem a possibilidade
de expressar a conscincia de si, mesmo que esta j exista em algum
grau.
Grete, neste momento, assume para si o papel de mantenedora de
seu irmo, papel que exerce at sua tentativa infrutfera de retirar a
imagem da dama de peles do recinto, ao que provoca uma reao hostil
277
SAFATLE, 2009, p.7.
278
Amor/dio (Grete), deciso/indeciso (Josef K.), animal/humano (Gregor e Rotpeter),
dever/desejo (o mdico rural), ao/inao (o homem do campo em Diante da Lei),
sofrimento/sucesso (a bailarina em Na Galeria), entre outros.
112
de Gregor. Assumir a situao de dependncia completa de Grete
279
simbolizada na retirada do quadro equivale a assumir a perda de
humanidade, a incapacidade de si, a perda do Eu: Elas lhe esvaziaram o
quarto; privavam-no de tudo que lhe era caro
280
.
Ao se insurgir e provocar a ira da irm e da famlia, o indivduo
Gregor se rebela contra a tentativa de formatao de um novo Eu, que
comea com um quarto todo vazio
281
. Ao mesmo tempo que soa como um
retorno dependncia edipiana, pode significar seu contrrio: no voltar
para a completa dependncia.
Ser sujeito ser expresso de si, seja esta formada pela
racionalidade ou pelas intensidades e desejos. A impossibilidade da
expresso clara no significa a inexistncia do ser, mas a existncia de
dois seres no mesmo: o que quer expressar e o que no compreendido.
H um Gregor e um duplo-Gregor simultneos.
Esta outra identidade dos protagonistas, o duplo, poderia estar no
prprio narrador, como algum que falasse de si mesmo na terceira
279
Este ponto considerado por Deleuze como o momento de reedipianizao do texto de A
Metamorfose, pois Gregor no abandona todos os seus resqucios de humanidade (deste
devir-animal) e retorna a uma figura materna abandonando a relao esquizo com a irm.
Isso desembocaria na mudana de comportamento dela em relao ao irmo, que de um
ser com nome passa a ser um isto. Grete, ao assumir o papel de me-nutridora, passa a
estabelecer uma relao edpica e com forte carga sexual com o irmo, que rompida por
este. possvel interpretar esta viso esquizo, mesmo com cuidado, de forma diversa do
proposto por Deleuze: apesar do retorno figura da me, o que no explcito na imagem
da mulher de peles (A Vnus das Peles de Masoch, recorrendo a outro texto deleuziano?), o
que talvez ocorra aqui seja uma ao de afirmao de identidade e de reelaborao do
passado.
280
EFK., p. 264. Os mveis e o ambiente do quarto de Gregor acabam por nos remeter,
novamente, ao conceito de runa benjaminiano, pois o quarto do homem-inseto virou o lugar
das coisas que no se podia vender mas que no se podia jogar fora (EFK., p. 276); os
resqucios do passado que ainda precisam ser ressignificados. Aquilo que compunha sua
vida pessoal e familiar, da qual os demais integrantes da famlia buscavam uma forma de se
livrar ou ao menos ocultar de sua vista cotidiana, assim como dos hspedes. O quarto-
inseto o segredo de famlia, assim como um indivduo o , de certa forma, com seu eu
formado e deformado pela influncia do tringulo familiar e da interao deste com os
demais tringulos (burocrtico, funcional, econmico, social), exemplificados nos trs
hspedes e no gerente. Aps a morte de Gregor, a famlia resolve se mudar para uma casa
menor, que no fora escolhida pelo caixeiro-viajante, deixando para trs aquilo que
rememoraria o episdio.
281
Um sujeito a ser preenchido, um nome que no se refere a nada. O indivduo no tem
mais uma histria pessoal (HORKHEIMER, p.163). Novamente, a limpeza do quarto
simblica, por ser a retirada desta histria de dentro do ambiente-sujeito.
113
pessoa? Tal diviso (dividuum) explicitaria o vazio ao qual o personagem
se refere e ao mesmo tempo sugeriria um ponto de resistncia entre tais
identidades, um limite a no ser ultrapassado entre elas? Se, conforme j
visto, o narrador no-onisciente de Kafka est to jogado dentro das
situaes quanto os personagens, pode ser em si a projeo de um
personagem, porm fora do jogo entre enunciao e enunciado como se
realmente olhasse a cena por cima do ombro do protagonista, mas sem
ser ele. Como um doppelgnger
282
: o que se acreditava no-divisvel (in-
dividuum
283
) explode em crise. O sujeito narrador em Kafka a fratura do
Eu
284
.
Escrevo de forma diferente do que falo; falo de forma
diferente do que penso; penso de forma diferente do que
deveria pensar - e assim se segue at as profundezas mais
escuras do infinito
285
.
282
Goethe narra em sua autobiografia o que teria sido um encontro que teve com seu duplo
na estrada para Drusenheim. Goethe contempla a si mesmo andando a cavalo e a
lembrana deste estranho encontro se torna um pensamento reconfortante para ele quando
obrigado a deixar a Alscia, comparvel retomada da posse de si. Kafka, como leitor
vido de Goethe, certamente no desconhecia esta passagem. Se esta situao influenciou
a criao de sua tcnica narrativa outra histria, visto que sabida a atrao do escritor
checo pelo uso literal de expresses alegricas (algo a que a expresso rplica que anda
poderia remeter), o que abre uma interessante possibilidade.
283
Traduo latina do grego atomon. A construo da individualidade parte da ideia da
existncia de uma singularidade original sobre a qual o conceito de sociedade e civilizao
se baseiam e que rege a percepo/ordenao do mundo a partir de si. Isso perceptvel,
de forma explcita ou no, em todo o pensamento ocidental (a mnada leibniziana um
exemplo claro, assim como o cogito cartesiano). Conforme Horkheimer, a evoluo do
conceito do Eu um espelho da dupla histria do esforo do homem em submeter a
natureza e da submisso do homem pelo homem. Assim, tal conceito nasce de forma
complicada, pois no h uma contraposio rgida entre natureza e sociedade ou natureza e
indivduo: as relaes entre tais polos so mediatizadas pela prxis. No h, como j dizia
Marx, uma separao do sujeito em relao ao mundo onde vive, uma subjetividade FORA
da natureza, da mesma forma que a natureza no pode ser separada do humano. A ruptura
do conceito de Sujeito , paradoxalmente, um movimento no qual este se reafirma, mas sem
a iluso de uma subjetividade objetiva, ou seja, estratificada.
284
Por isso, para Deleuze, Kafka prolifera sobre si nos textos. Proliferao que no um
simples desdobramento, porque um desdobramento pressuporia um algo inteiro que se
replica. Aqui a questo outra, pois a multiplicidade deste Eu um a priori. No se trata de
um Eu estratificado, mas de uma subjetividade mltipla, composta de diversas facetas. Por
meio das obras, conhecemos a multiplicidade da personalidade kafkiana.
285
Carta a Ottla, 10 de julho de 1914. Esta multiplicidade de vises ou de Eus a que
Kafka se refere mostraria o fracionamento da noo de sujeito de enunciao, e por
conseguinte da noo de Sujeito, em sua obra?
114
4.5 As sobras da razo
Os personagens que mais se mostram descolados daquilo que
poderia ser interpretado como normal so, muitas vezes, a chave para o
entendimento da narrativa, pois denunciam, em sua existncia, que tal
loucura pode ser entendida como a iluso de liberdade particular e de
individualidade numa sociedade cujo cerne a explorao do ser e a
extino da autonomia do sujeito, substituda por um simulacro de
individuao e um pensamento formatado produzido industrialmente.
No imaginrio das obras do autor checo, a loucura objetiva
mostrada em seu extremo - e paradoxalmente como um caminho para a
retomada da razo. interessante reparar que, para Adorno, Kafka
aborda este processo simultaneamente no indivduo e no tecido social, em
ambas as esferas: como na poca da crise do capitalismo, o peso da
culpa tirado da esfera de produo e atribudo a agentes da circulao
ou a pessoas que prestam servios: viajantes, bancrios e garons
286
.
O sistema no questionado diretamente enquanto elemento de
desagregao da individualidade: em O Processo, as reaes de Josef K.
s particularidades do processo se voltam a fatos que no tem relao
direta com o procedimento em si: o mal-estar ante a presena dos
funcionrios, a irritao com a postura protetora de seu tio ou a
exasperao em relao a Leni e o advogado, como se estes fossem
responsveis pela situao. Mas desta forma, sem citar nomes, um duplo
recado dado: o sistema que perpassa os homens, e fruto da apatia
destes, tem sua mscara arrancada exatamente pela aparente inao dos
personagens. Ao confiarem na coerncia do sistema, este os desampara -
como era de se esperar - e esta a culpa que carregam: acreditar que
assim .
286
AsK, pag. 256
115
Kafka no glorifica o mundo pela subordinao, antes resiste
a ele pela no-violncia. Diante dela, o poder deve
reconhecer-se como aquilo que realmente . Kafka conta
com isso. O mito deve se prostrar diante da prpria imagem
no espelho. Os heris de O Processo e de O Castelo tornam-
se culpados no por sua prpria culpa - eles no tm
nenhuma - mas porque procuram trazer a justia para o seu
lado
287
.
A conformao do indivduo administrao da sociedade o que
dissolve a instncia do subjetivo e d ao sistema (ou queles que se
beneficiam dele) a posio de comando, at o ponto em que o prprio
sistema ultrapassa a simples relao de poder e dominao entre grupos.
A sociedade administrada passa a reger todos os aspectos da realidade,
no como uma conspirao perpetrada por um grupo, mas por simples
inrcia: a imposio de uma forma nica de pensamento e ao (o
sempre-igual que Adorno detecta na sociedade contempornea) se d
pelos prprios integrantes do corpus social, que de to afastados da
possibilidade do pensamento reflexivo, perpetuam sua prpria condio de
alienao: Integrao desintegrao, e nela se encontram o encanto
mtico e a racionalidade dominadora
288
.
No mundo do racionalismo extremo, a razo voltada a fins assume a
posio da nova divindade, replicando a ideologia que perpassa a
sociedade, retirando do indivduo sua autonomia e dando a tudo um ar de
semelhana e indiferenciao.
A semelhana cumpre um papel crucial na manuteno do status
quo, pois qualquer espao para o surgimento da diferena pode trazer em
si o risco da ruptura deste tecido social:
Sistemas polticos e de pensamento no desejam nada que
no se lhes assemelhe. Porm, quanto mais fortes ficam,
quanto mais reduzem tudo o que existe a um denominador
comum, tanto mais oprimem e se afastam do que existe
289
.
287
AsK, p. 269
288
AsK, p. 253
289
AsK, p. 253
116
A obra de Kafka, na viso tanto de Adorno como de Benjamin, se
ope a esta semelhana forada e forjada pelas ferramentas de
dominao do sistema exatamente por seu hermetismo, meio pelo qual
denuncia e resiste reificao, expressando-a na forma literria: a razo
est por trs da obra, revelando a loucura objetiva atravs do principium
stilisationis
290
. O contraste entre uma organizao scio-poltico-
econmica que busca incessantemente sua auto-replicao e a arte,
entendida como tudo aquilo que no voltado apenas
autopreservao
291
, surge na obra do escritor checo exatamente por meio
da apresentao in extremis da disposio maqunica e industrial da
sociedade administrada. Ao apresentar a mquina, Kafka a desnuda, j
que nenhum mundo poderia ser mais homogneo do que o mundo
sufocante que ele comprime em totalidade por meio da angstia do
pequeno-burgus
292
.
Kafka se recusa a abraar a vida danificada (a vida que no mais
vida, na qual apenas sobrevivemos
293
) e efetua sua denncia sobre seu
290
AsK, p. 263
291
Este choque est presente na expresso pela qual a filosofia de Adorno mais
conhecida. O oxmoro Indstria Cultural guarda em seu interior o mesmo conflito que o
humano/indivduo/sujeito enfrenta na sociedade administrada - a aporia entre um sistema
cuja lgica, permeada pelas leis do capital, exige e executa a reproduo de padres
identitrios j formatados e destinados a finalidades especficas contra a necessidade e
impulso de expresso autntica tanto do indivduo que busca a conscincia de si (sua
autonomia no sentido kantiano) como da coletividade em busca de uma organizao
condizente com sua realidade. Replicar e condicionar industrialmente este Geist somente
possvel por meio da alienao, no sentido do no-reconhecimento de si e do outro, e da
veiculao de uma ideologia especfica que ocupe o lugar da cultura desta sociedade. Por
isso, mais do que transformar cultura em mercadoria, o grande segredo da Indstria Cultural
a transformao da mercadoria em cultura, ou seja, quando a lgica da mercadoria dita o
modo de vida da sociedade e do indivduo, por extenso. Mais do que peas na mquina,
somos produtos na prateleira. Desta forma, o carter de entretenimento da Indstria Cultural
opera uma dupla funo: direcionar este conflito do sujeito em relao ao Eu para um
apaziguamento provisrio e simultaneamente reforar a inexorabilidade do sistema por meio
da difuso velada ou no da ideologia que o suporta.
292
AsK, p. 252
293
O conceito de vida danificada aparece com o entendimento de que o viver se transformou
em modo de vida e o indivduo se encontra subordinado e iludido pela embalagem
positiva ou espetacular do sistema em que vive, no sendo possvel a autonomia. Para
Adorno, a vida danificada surge como efeito de uma coero funcional do indivduo, ou a
circunstncia em que o membro particular da espcie humana se v condicionado por uma
117
tempo a partir de seus personagens tambm danificados, retratos de ns
mesmos, aqueles que no so os heris da narrativa histrica, os
mantenedores do mecanismo social que as descarta: Quem parece
suprfluo no so os poderosos, mas os heris impotentes
294
, e em sua
impotncia tais heris se tornam fundamentais.
Assim como em outros momentos de sua produo filosfica, a ideia
de Adorno de que o pensamento e a arte devem colocar sua afinidade
mimtica com o que h de mais morto e arruinado na realidade social
295
pode ser apreendido de sua anlise de Kafka: buscar naquilo que parece
estar mais formatado ou excludo pelo sistema os espaos para sua
ruptura
296
.
Desta forma, estranhamente - pelo estranhamento - a prpria sada
surge desta aparente falta de sadas. Da contradio existente na obra de
Kafka entre a replicao e a recusa, entre a reificao e a angstia,
podemos vislumbrar um devir. Mas este no , necessariamente, a
conciliao de tais opostos. Aqui a dialtica opera de forma negativa
297
:
sujeito e objeto, ideia e natureza, razo e experincia no esto
conciliados, mas imbricados. Desta forma, a tenso entre eles se mantm.
rede funcional ou uma circunstncia de descolamento entre o progresso da cultura material
e o progresso no campo da sua liberdade e da sua felicidade. O ser acaba por se submeter
s coisas que cria, ou seja, o trabalhador pe sua vida no objeto; porm agora ela j no
lhe pertence, mas sim ao objeto (MARX, 2001, p.112). A alienao no apenas em
relao ao outro, a alienao de si mesmo, de sua prpria humanidade, nos
transformando em escravos das coisas que fazemos. Este o dano maior que a sociedade
provoca no indivduo. Em Kafka, o estranhamento provocado por sua temtica, narrativa e
pela forma de sua obra , segundo Adorno, o caminho para a libertao desta vida
danificada, por nos obrigar ao questionamento.
294
AsK, p. 252. A frase nos remete viso de Baudelaire sobre o homem na modernidade,
tambm abordada por Benjamin: a sensao de impotncia e angstia perante o mundo.
295
SAFATLE, 2005, pp. 21-45.
296
Neste sentido a insistncia adorniana nos aspectos da obra de Kafka que dificultam o
entendimento tambm nos remete sentena de Beckett I cant go on, Ill go on: o ponto
onde a sada parece estar totalmente interditada exatamente onde se deve insistir. A partir
da fora da prpria razo, romper a escravido em que a razo dirigida a fins nos coloca.
necessrio questionar a iluso da subjetividade a partir da prpria fora do sujeito. Como os
problemas no-resolvidos da sociedade voltam na forma da obra de arte, na prpria forma
que surge a possibilidade de confrontao destes problemas. No toa, Beckett tambm
objeto da anlise do filsofo alemo.
297
Para Adorno, a experincia esttica se caracteriza como a forma mais adequada para o
conhecimento pois nela possvel ir alm do conceito, atravs do conceito (DN, p. 22)
118
A melancolia tende, ento, a seu extremo oposto: o humor negro. A
resignao empurra em direo ao. A partir do que parece ser um
obstculo, mostram-se as condies para sua superao; estar em sua
prpria lngua como estrangeiro
298
gera o uso menor da lngua. Para
superar a viso psicanaltica da obra, exige-se uma polidez esquizo
299
,
uma psicanlise in extremis
300
. Para denunciar o real, lev-lo a seu limite,
por superconformidade. Kafka executa operaes de linguagem para leva-
la at um momento de pane e esta pane o que realmente desvela o
sentido da linguagem
301
.
Ao dizer que o efmero, ao ser perpetuado, atingido por uma
maldio
302
, Adorno aponta o fato de que esta sensao de inquietao
provocada pela obra tambm pode ser absorvida ou replicada de forma
industrial pelas ferramentas de controle, com a consequente perda de
impacto da obra. Porm, ainda permanece um rudo, uma recusa ideia
de integrao total : no h sistema sem resduo
303
. Localizar este
resduo a tarefa.
298
K., p. 41
299
K., p.26
300
Tal abordagem soa muito similar ideia de hiperconformidade conforme Adorno.
301
Surge aqui uma interessante possibilidade de dilogo entre Kafka, a lgica do sentido
deleuziana e a anlise adorniana sobre a linguagem na Teoria Esttica, a ser desenvolvida
posteriormente.
302
AsK, p. 248. Este um ponto de discordncia entre as vises de Adorno e Benjamin
relacionado dinmica obra/momento histrico. Se Benjamin considera que o momento
transitrio, cristalizado na obra, j permitia a apreenso do real de forma plena, Adorno
necessariamente insere este movimento do fragmentrio, do efmero, dentro de um
processo dialtico. Se Benjamin abdica, de certa forma, da totalidade em prol do instante, do
arruinado na sociedade, Adorno concebe a viso destas runas como um tipo de totalizao
negativa, um todo de mltiplos instantes. Sem o entendimento de seu contexto e sem seus
desdobramentos, o efmero pode ser facilmente reificado.
303
AsK, p. 253. O resduo nos aponta a existncia de um Outro que se define de forma
negativa. Para SAFATLE (2005, p. 39), na esttica adorniana, a mmesis no est
diretamente ligada ao imperativo de reconciliao com a imagem positiva da natureza, como
poderamos esperar em uma reflexo tradicional sobre a mmesis na arte. Adorno
extremamente crtico em relao aos projetos que procuraram recuperar algo desta reflexo
tradicional como, por exemplo, o programa de reconstituio da racionalidade musical a
partir da tentativa de posio de protocolos de afinidade mimtica com a faticidade imanente
e no-estruturada do sonoro. Neste sentido, a anlise da crtica adorniana a John Cage
extremamente instrutiva. Na verdade, a exigncia adorniana passa pela necessidade de a
arte pr sua afinidade mimtica com o que h de mais morto e arruinado na realidade
social, sendo este o resduo que se revela.
119
Mesmo com a elevao de Kafka categoria de estilo literrio e de
kafkiano a adjetivo enquadrando-o em escolas e sistemas de
pensamento
304
- o estranhamento, elemento fundamental na prpria obra
e na leitura que se faz dela, nos desafia e provoca nosso pensamento a
sair de sua zona de conforto.
Desta forma, a prosa de Kafka
305
apresenta uma dimenso poltica -
no sentido de que abre lacunas ou fissuras no tecido aparentemente
homogneo da sociedade administrada, operando como pontos de apoio
para a negatividade. Mais do que isso, podem servir como inspirao para
a prxis.
Ao ouvir o som do violino tocado por sua irm, Gregor modifica sua
ao cotidiana de recolhimento e resolve sair do quarto, correndo o risco
da visibilidade, mas no num arroubo de coragem ou afirmao e sim
como consequncia de uma completa exasperao. Sua indiferena
diante de tudo era grande demais para que, como antes, tivesse ficado de
costas e se esfregado no tapete vrias vezes durante o dia
306
.
E a indiferena o faz agir e ir para a sala de estar: a ao aparece
exatamente a partir da aparente inao, da situao de maior imobilidade
ou alienao.
Independente da reao escandalosa dos hspedes, algo foi feito,
algo sai do dito padro ou do esperado. A literatura kafkiana evidenciaria
assim a dimenso subjetiva e social que os indivduos perderiam na
sociedade administrada
307
, podendo, na viso de Adorno, apresentar
304
Podemos imaginar que este enquadramento tentado em relao obra de Kafka, tanto
pelas diversas interpretaes de sua produo literria como pelos esteretipos existentes a
respeito de sua dificuldade de compreenso, possa ter tambm o objetivo de amortecer o
potencial questionador da obra. Apresentar uma soluo para o enigma Kafka equivaleria
a achar uma frmula para a produo em srie de textos com uma certa atmosfera sombria,
fantstica e hermtica, porm sem a fora de provocar o estranhamento.
305
Assim como a filosofia de Adorno e a de Deleuze, dentro da questo abordada neste
trabalho.
306
EFK., p.279
307
Para Adorno, os processos que ocorrem na realidade histrica atual e nossa percepo
desta realidade - esto condicionados pelos processos econmicos visveis, por exemplo,
na Indstria Cultural, que replica a ideologia dominante em um processo de duas vias: na
primeira, os bens culturais padronizados j trazem em si uma resposta a qualquer aresta
ou questionamento que possa surgir. Na segunda, a produo cultural em todas as suas
120
tambm a forma pela qual esta dimenso pode ser resgatada, o que no
se d seno em um movimento dialtico, negativo e de
confrontao/crtica, levando a administrao social a sua prpria runa.
instncias subordinada lgica de replicao do capital. Na sociedade de consumo do
capitalismo tardio, cultura e esttica se amalgamam com a produo e a propaganda para
criar um estilo de vida focado no consumo de bens, servios, imagens de massa e
espetculos (KELLNER, in CARSON, 2011), perdendo capacidade de operarem como
fatores de deslocamento do ponto de viso. O efeito disso a perda da capacidade de
reconhecimento de si e do outro, substituda por uma pseudo-conscincia de si mediada
entre opes disponibilizadas pelo mercado (SAFATLE, 2002, online) e, por conseguinte,
acomodada em si e para si.
121
5 A ESTTICA POLTICA
De todas as interpretaes j realizadas sobre a obra de Kafka,
talvez uma das dimenses menos exploradas seja a existncia de um
carter eminentemente poltico em suas obras
308
. A definio de poltica,
aqui, poderia ser vista de forma mais ampla do que as relaes e disputas
por um poder central ou um aparelho de estado, mesmo levando-se em
conta a simpatia que Kafka teria por alguns grupos anarquistas - e talvez
at mesmo por isso, visto esta ser uma forma de organizao social na
qual o conceito de relao de poder duramente atacado
309
.
preciso ter em mente que a tenso arte-ideologia-sociedade deve
necessariamente operar em um substrato espao-temporal. A arte tem
tambm na sua forma, no apenas no contedo, os registros da
experincia histrica. A forma da obra indissocivel do trabalho do
conceito e da reflexo, mas isto no os iguala. Uma obra artstica,
intelectual, etc. - pensada de forma completa e significa em sua
totalidade, mas esta totalidade no um em-si, mas sim a totalidade da
308
bvio que no podemos reduzir a obra de Kafka a uma doutrina poltica, seja ela qual
for. Kafka no produziu discursos, mas criava indivduos e situaes, e exprimia em sua
obra sentimentos, atitudes, um Stimmung. O mundo simblico da literatura irredutvel ao
mundo discursivo das ideologias: a obra literria no um sistema conceitual abstrato,
como doutrinas filosficas ou polticas, mas criao de um universo imaginrio concreto de
personagens e coisas. (Cf. GOLDMANN, 1959, apud LOWY, 2005)
309
A crptica frase No esquecer Kropotkin em seus dirios traz Kafka a uma problemtica
poltica insuspeita na anlise mais difundida sobre sua obra, que versa sobre os temas do
tribunal ntimo ou de sua natureza teolgica. O lder anarquista russo Piotr Kropotkin,
considerado um dos fundadores do anarco-socialismo, era leitura comum entre os jovens no
crculo de amizades de Kafka, segundo dados constantes nos textos de Brod e Janouch
sobre o escritor (Cf. LOWY, 2005). O prprio Kafka teria recebido de presente, segundo
MARES (apud WAGENBACH), um exemplar de Palavras de um Rebelde, obra do pensador
russo. Independente da veracidade do relato de Mares, bastante contestada, pode-se
avaliar que o crculo de Praga no qual o escritor estava inserido no estava alheio ao debate
ideolgico da poca. A simpatia pelo anarquismo ou anarco-socialismo que seria
dispensada por Kafka estaria materializada em expresses como tudo hierarquizado, tudo
est nos grilhes e, ao se referir ao capitalismo, em afirmaes como um sistema de
relaes de dependncia. Para Lowy, a residiria um indicativo do conhecimento de Kafka
sobre o anarquismo, haja vista que sua crtica no se atm ao modo de produo e
economia, como Marx, e sim s relaes de poder. Trata-se de uma viso poltica de uma
estrutura econmica.
122
inigualvel experincia do pensamento como atividade humana
310
,
localizada no espao e no tempo.
A dicotomia forma e contedo abandonada em prol de uma
construo histrico-esttica, uma tenso entre o que mostrado e o
como mostrado que nos permite ver pelas brechas do tecido do real,
superando assim as armadilhas do discurso que busca organizar tal
realidade. Nas palavras do prprio Kafka,
Escrever o que me sustenta. Mas no seria mais acurado
dizer que o que sustenta este tipo de vida? O que no
significa, claro, que minha vida melhor quando eu no
escrevo. Ao contrario, s vezes muito pior, quase
insuportvel, e inevitavelmente termina em loucura. Isso,
claro, ocorre apenas se assumo que sou um escritor at
mesmo quando no estou a escrever - o que de fato o
caso: e um escritor que no escreve , de fato, um monstro
cortejando a insanidade
311
Desta tenso, dialeticamente, insinua-se aquilo que resiste ou
desafia a sua prpria representao, aquilo que mais do que nos
mostrado imediatamente: a dimenso esttico-poltica da realidade. Kafka
atribua tal capacidade de desafiar a natureza amortecida do fruidor da
obra literatura
312
. Logo, se h uma ligao entre o real e a obra, esta
ter uma dimenso poltica se este termo for entendido como existncia
social, o que abarca as relaes pessoais, profissionais e as simpatias
ideolgicas do autor.
Das figuras de autoridade s ineficincias do sistema retratado nas
obras, tudo se torna poltica, inclusive a prpria literatura kafkiana. Este
ponto ser investigado a partir de agora.
310
NOYAMA, S. p. 139
311
Carta a Max Brod, 5 de julho de 1922.
312
Cf. Nota 188
123
5.1 Literatura a contrapelo
A literatura uma violncia organizada contra a fala comum
313
O estranho das relaes humanas apresentadas por Kafka em suas
obras , para alguns autores, reflexo e eco de suas relaes pessoais. O
escrever em Kafka poderia ser visto como uma forma de rearticulao das
relaes entre escritor e vida: a literatura no mais constituda a partir
de imagens ou reconstrues imaginrias do mundo, e sim a partir da
experincia do mundo, dando sentido a este. O prprio Kafka observa,
sobre O Processo, em uma anotao no Dirio:
Estou escrevendo desde h alguns dias [...] No me sinto,
hoje, to protegido [...] pelo trabalho como h dois anos,
mas adquiri um sentido - minha vida regular, vazia,
insensata de celibatrio, tem uma justificativa
314
.
A literatura, o ato de escrever, funcionaria como um canal para o
desejo de viver de Kafka, espremido entre um emprego relativamente
estvel e suas j anedticas dificuldades de relacionamento com as
pessoas. Usando a linguagem de escritrios para um significado oposto ao
que ela expressaria de forma direta, Kafka surge como criador de um
novo continente, uma nova constelao tanto para sua expresso pessoal
como para a literatura - e exatamente por isso o articulador de um novo
vocabulrio que reconfigura a linguagem e seus significados
315
.
313
JAKOBSON, apud EAGLETON, 2006, p.3
314
Dirio, 15 de agosto de 1914, em CARONE, p.67.
315
Por este prisma, a temtica kafkiana no a fraqueza, a sublimao de um mundo
demasiado hostil ou uma torre de marfim, mas um rizoma, uma toca que mostra novas
possibilidades de conexo e superao. "Uma linha de fuga, sim - mas no um refgio (K,
p. 41). Captar esta diferena se faz a partir da leitura da obra, de seu funcionamento como
mquina: a leitura to experimental quanto a escrita teria sido. Deleuze considera que a
leitura da obra, em si, no deve seguir um modo estruturante, devendo ser experimentada.
124
Ao contrrio do uso cotidiano da linguagem, em que a comunicao
uma ferramenta social para troca de conhecimento, a linguagem
literria ultrapassa esta utilizao funcional. O pensamento literrio se
inicia quando a organizao das palavras busca no mais explicitar o que
evidente, mas sim revelar novas possibilidades de compreenso do que
dito, buscando realizar uma aproximao real do que possa ser fato,
consequncia ou fico
316
.
O estranhamento na literatura abriria, desta forma, tal possibilidade
de desvelamento dos sentidos ocultos, encobertos pela linguagem
prosaica. Se o lxico dos escritrios a fala corrente no dia a dia
burocrtico, seu uso literrio em si a violncia organizada em questo.
A literatura se constri como processo de organizao e reapropriao de
sentidos, por meio de um lxico (ou linguajar) fora de posio ou do que
S acreditamos numa experimentao de Kafka, sem interpretao nem significao, mas
somente protocolos de experincia (K, p. 7).
316
Em sua Filosofia da Composio, Poe detalha o processo de criao de O Corvo, e
chama a ateno para o fato de que toda literatura busca, primordialmente, o uso da
linguagem para provocar um efeito no leitor. H um erro radical, acho, na maneira habitual
de construir uma fico. Ou a histria nos concede uma tese, ou uma sugerida por um
incidente do dia, ou, no melhor caso, o autor senta-se para trabalhar na combinao de
acontecimentos impressionantes, para formar simplesmente a base da narrativa,
planejando, geralmente, encher de descries, dilogos ou comentrios autorais todas as
lacunas do fato ou da ao que se possam tomar aparentes, de pgina a pgina. Eu prefiro
comear com a considerao de um efeito. Mantendo sempre a originalidade em vista, pois
falso a si mesmo quem se arrisca a dispensar uma fonte de interesse to evidente e to
facilmente alcanvel, digo-me, em primeiro lugar: "Dentre os inmeros efeitos, ou
impresses a que so suscetveis o corao, a inteligncia ou, mais geralmente, a alma,
qual irei eu, na ocasio atual escolher?" Tendo escolhido primeiro um assunto novelesco e
depois um efeito vivo, considero se seria melhor trabalhar com os incidentes ou com o tom -
com os incidentes habituais e o tom especial ou com o contrrio, ou com a especialidade
tanto dos incidentes, quanto do tom - depois de procurar em torno de mim (ou melhor,
dentro) aquelas combinaes de tom e acontecimento que melhor me auxiliem na
construo do efeito. (POE, 1999, pp. 101-102). Tal uso da linguagem seria eminentemente
operativo, ou seja, como processo do descrever e inscrever que no se separa do enredo
descrito. Em Kafka, o efeito se mostraria pelo prprio uso intencional/literal das figuras de
linguagem, e a intencionalidade constitutivo do processo, do incio ao fim do texto. Citando
POE, s tendo o eplogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu
aspecto indispensvel de consequncia, ou causalidade, fazendo com que os incidentes e,
especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua inteno. (idem,
p.101). E o aforismo 26 de Kafka se encerra afirmando: Existe um objetivo, mas nenhum
caminho; o que chamamos de caminho hesitao (EFK, p. 193). Para algum que se
definia como um escritor mesmo quando no escrevesse, tal afirmao soa por demais
interessante para se deixar de lado um paralelo entre vida e narrativa.
125
se espera
317
. Isto provoca o choque e o estranhamento. Um fracasso
bem-sucedido da estabilidade semntica, no qual o estranho se completa
e opera no estranho.
Dentro desta abordagem, a introduo edio norte-americana da
obra de Deleuze sobre Kafka apresenta um interessante tour de force
entre a viso deleuzoguattariana e a de Walter Benjamin, a comear da
recusa que ambos fazem a determinadas leituras comuns sobre o escritor
checo: a psicanaltica e a teolgica
318
, pois estas reduziriam a fora de
Kafka ou a conflitos no seio familiar ou a um subproduto da ideia de que
o homem nunca tem razo em face de Deus
319
, em prejuzo de sua
insero no mundo. Para ambos, a obra kafkiana possui um carter
poltico - o carter de referncia direta realidade e do
entranhamento/estranhamento entre artista e meio social. Se Deleuze o
abrigar dentro de seus postulados da literatura menor, Benjamin
descartar de pronto a relao psicanaltica to cara a outros
317
Poderamos supor que Kafka, que dominava alemo e checo de forma quase bilngue, ao
apreender o uso de trabalho do idioma alemo efetuou uma operao simples, bem
humorada e que qualquer estudante de lnguas j fez: ler as expresses idiomticas ou os
falsos cognatos de forma literal? O olhar do estrangeiro sobre a lngua de uma regio um
hbrido entre suas experincias pessoais e a incapacidade de compreenso completa
daquele meio ao qual no se pertence em sua totalidade. Como a comunicao uma
necessidade da qual o estrangeiro no pode se furtar, o ato de comunicar deve,
necessariamente, passar por um uso recursivo e extensivo da linguagem a ser
compreendida. Este olhar estrangeiro pode ser aquilo a que Deleuze se refere quando
observa que, para Kafka, h a impossibilidade de no escrever, impossibilidade de escrever
em alemo, impossibilidade de escrever de qualquer outra maneira.(K., p. 29) Lembremos
que apenas 7% da populao da regio da Bomia dominava o idioma alemo, percentual
no qual se inclua Franz Kafka, que aprendeu alemo por obra de sua me, que fora
alfabetizada em alemo e somente depois aprendera o checo. A regio da Bomia fazia
parte do Imprio Austro-Hngaro. Praga, sede administrativa da regio, concentrava o
funcionalismo pblico do qual Kafka fazia parte e que usava o alemo como lngua oficial
para documentos, processos e procedimentos.
318
Para BENJAMIN, h dois mal-entendidos possveis com relao a Kafka: recorrer a uma
interpretao natural e a uma interpretao sobrenatural. As duas, a psicanaltica e a
teolgica, perdem de vista o essencial (p. 152). Para DELEUZE, os trs temas mais
deplorveis em muitas interpretaes de Kafka so a transcendncia da lei, a interioridade
da culpa, a subjetividade da enunciao. Esto ligados a todas as estupidezes que se
escreveram sobre a alegoria, a metfora, o simbolismo de Kafka (K., p. 68). Diga-se de
passagem, diversas outras citaes poderiam ser feitas a partir do texto de Deleuze, mas
consideramos que esta d conta de maneira exemplar, at mesmo por enumerar os
problemas interpretativos, assim como Benjamin faz.
319
Conforme a citao que Benjamin faz de Willy Haas in BENJAMIN, p. 153. Tal afirmao
mostra-se bastante similar ao entendimento deleuziano.
126
comentadores em prol de uma aproximao entre a dinmica filho-pai e a
relao homem-mundo:
O pai a figura que pune. A culpa o atrai, assim como atrai
os funcionrios da Justia. H muitos indcios de que o
mundo dos funcionrios e o mundo dos pais so idnticos
para Kafka
320
.
Essa viso estranhamente similar a de Deleuze quando este diz
que
Os juzes, comissrios, burocratas, etc., no so substitutos
do pai; antes o pai que um condensado de todas essas
foras, s quais ele prprio se submete e convida seu filho a
submeter-se
321
.
Tal condensao entre o poder paterno e o da instituio bastante
visvel neste trecho de A Metamorfose, no qual a fora recobrada pelo pai
parece ter uma relao direta com o uniforme que ele enverga e,
indiretamente, com o trabalho simbolizado por este. A atitude do
pai/empregado contra o filho inseto sem condies de trabalhar a de
puni-lo, trat-lo com severidade extrema, transferindo a culpa pela
metamorfose a Gregor:
Agora, porm ele estava muito ereto, vestido com um
uniforme azul justo, de botes dourados, como usam os
contnuos de instituies bancrias; sobre o colarinho alto e
duro do casaco se desdobrava o forte queixo duplo; sob as
sobrancelhas cerradas os olhos escuros emitiam olhares
vvidos e atentos; o cabelo branco, outrora desgrenhado,
estava penteado com uma risca escrupulosamente exata e
luzidia. Atirou o quepe no qual estava gravado um
monograma dourado, provavelmente de um banco at o
sof, descrevendo um arco por todo o quarto, e caminhou
para Gregor, o rosto irascvel, as mos nos bolsos das
calas, as abas do comprido casaco do uniforme atiradas
320
BENJAMIN, p. 139
321
K., p. 19
127
para trs. Certamente ele mesmo no sabia o que estava
querendo, de qualquer modo, levantava os ps a uma altura
pouco comum e Gregor ficou espantado com o tamanho
gigantesco das solas das botas. Mas no ficou nisso, j sabia
desde o primeiro dia da sua nova vida que diante dele, o pai
s considerava adequada a severidade extrema.
322
Outra relao entre culpa e punio, assim como quanto lei e a
justia, est na estranha mquina Odradek, de A Preocupao do pai de
famlia. Indefinvel por princpio, pois at mesmo a origem de seu nome
alvo de debates se eslava ou alem -, tudo o que sabemos que ela
existe, mesmo que no nos seja possvel entend-la. Nas palavras de
Kafka, naturalmente ningum se ocuparia de estudos como esses se de
fato no existisse um ser que se chama Odradek
323
.
Para Benjamin, este ser o mais estranho bastardo gerado pelo
mundo pr-histrico com seu acasalamento com a culpa
324
, um
casamento que remete ao mtico, a uma histria primeva da humanidade,
a qual o Esclarecimento e a sociedade buscam reprimir. Odradek "se
aloja, segundo os casos, em stos, escadas, corredores, vestbulos
325
", o
que na viso benjaminiana permite um paralelo com os ambientes
descritos em O Processo, onde o tribunal persegue a culpa.
Da mesma forma, Benjamin aponta que Odradek o aspecto
assumido pelas coisas em estado de esquecimento
326
aquilo que existe,
322
M., p. 32-33
323
UMR, p. 43
324
BENJAMIN, p. 158. Nas correspondncias entre Benjamin e Adorno, este observa que
Odradek no poderia ser reduzido a tal acasalamento de forma direta. Necessariamente,
operar-se-ia uma dialtica entre o arcaico e a modernidade, assim como entre culpa e
superao da culpa. Conforme ADORNO, se o lugar de Odradek junto ao chefe de
famlia, no representaria ele precisamente a preocupao e o perigo para este ltimo, no
anteciparia ele precisamente a superao do estado de culpa da criatura, e no seria essa
preocupao um verdadeiro Heidegger posto de cabea para cima a cifra, a mais
indubitvel promessa de esperana, precisamente na superao do lar? (ADORNO,
BENJAMIN, p. 131). Da juno do pr-epocal e da culpa, surge o signo da distoro (a
estranha mquina), mas tambm um emblema do transcender (p. 132), do
ultrapassamento do mtico e da culpa em direo a uma reconciliao entre orgnico
(animal, humano) e inorgnico (mquina, razo).
325
ibidem, loc. cit.
326
ibidem, loc. cit.
128
mas com suas origens j perdidas no tempo, ligadas tradio e
transmitidas pelo movimento das foras histricas. O sto onde Odradek
se aloja o lugar dos objetos descartados e esquecidos
327
, o lugar onde
o indivduo guarda seus fantasmas - e a sociedade suas origens.
Trata-se ento de apontar de que formas a tradio sobreviveria at
o presente, tendo nisso um profundo interesse histrico. A porta da
justia o estudo
328
da tradio/lei/direito, mas Benjamin combate uma
associao direta da justia em Kafka exegese judaica: Kafka no se
atreve a associar a esse estudo as promessas que a tradio associava
aos estudos da Tor
329
. A justia - representada nos investigadores,
empregados, mensageiros, assistentes, nas criaturas de sua obra - no
procuraria o mito, e sim o percurso da culpa. Ao buscar a sala onde
deveria comparecer na Juliusstrasse no primeiro interrogatrio em O
Processo, Josef K. mentalmente brincava com a recordao das palavras
do guarda Willem, segundo as quais a justia era atrada pela culpa. A ser
assim, a escada que por acaso escolhera iria dar, sem dvida, sala dos
interrogatrios
330
, o que realmente aconteceu.
Voltando ao caso Odradek, a preocupao do pai no parece ser em
relao ao estranho ser, mas sim a respeito do que a existncia deste
hbrido do qual sabemos coisas impressionantes, porm nada realmente
essencial lhe remete: a finitude. Mesmo aps a morte do pai de famlia,
Odradek permanece, e sua existncia ainda ser indecifrvel como era
antes.
Inutilmente eu me pergunto o que vai acontecer com ele.
Ser que pode morrer? Tudo que morre teve antes uma
espcie de meta, um tipo de atividade e nela se desgastou;
no assim com Odradek. [...] Evidentemente ele no
prejudica ningum, mas a ideia de que ainda por cima ele
deva me sobreviver me quase dolorosa
331
.
327
BENJAMIN, p.158
328
Idem, p. 164
329
Idem, p. 103
330
P., p. 27
331
UMR, p. 44-45. A sobrevivncia de Odradek apontada por ADORNO (2012) como um
sinal da conciliao orgnico/inorgnico apontada anteriormente, assim como de uma
superao da morte (ADORNO, BENJAMIN, p. 132). O incmodo que gera a preocupao
129
J Deleuze e Guattari vero o estranho dispositivo em formato de
carretel, que ri e fala, de outra maneira: como uma mquina abstrata
(...) transcendente e reificada
332
, arruinada pelo tempo e hoje um
destroo, mas que ainda funciona (o que no seria uma caracterstica
comum nas mquinas abstratas). A profuso dos fios soltos em Odradek,
que indicariam a ruptura ou incompletude deste, parece no ser o
suficiente para tornar o dispositivo inoperante. Kafka diz que em parte
alguma podem ser vistas emendas ou rupturas; (...) o todo na verdade se
apresenta sem sentido, mas completo sua maneira
333
: esta a
descrio de Odradek ou, de certa forma, da realidade que cerca o autor?
Mas esta realidade, agora, se apresenta sem uma metanarrativa que lhe
d coerncia.
H certa proximidade na leitura de Benjamin e de Deleuze e
Guattari sobre a transcendncia da culpa na obra de Kafka, mas estes
interpretam esta transcendncia como uma caracterstica da lei, que no
se relaciona mais com a justia - campo do desejo
334
. A forma da lei no
do pai a atemporalidade da mquina o faz contemplar necessariamente sua dimenso
orgnica.
332
K. p. 125. Tal transcendncia apontada por Deleuze e Guattari guarda certo paralelo com
a que Adorno observa, variando apenas a questo da reconciliao entre humano e no-
humano, que no ocorre para Deleuze. Em ambas, o carter arruinado de Odradek se
destaca. Parece, assim, haver uma aproximao entre os autores sobre o potencial de
ruptura contido naquilo que colocado margem do sistema vigente.
333
UMR, p. 44
334
Mas o caso contrrio tambm aparece nas novelas: mquinas abstratas surgem por si
mesmas e sem ndices, todas montadas, mas desta vez elas no tem ou no tm mais
funcionamento. Assim a mquina da Colnia Penal, que responde Lei do velho
comandante e que no sobrevive sua prpria desmontagem, ou a bobina chamada
Odradek, a qual seramos tentados a acreditar que outrora teve uma forma til e que agora
algo quebrado, mas isso sem dvida seria um erro (...), o conjunto parece vazio de
sentido, mas completo em seu gnero (UMR, p. 44) , ou as bolas de pingue-pongue de
Blumfeld. Ora, parece que a representao da lei transcendente, com seu cortejo de culpa e
de incognoscibilidade, essa mquina abstrata. Se a mquina da Colnia Penal, como
representante da lei, aparece como arcaica e ultrapassada, no de modo algum, como
frequentemente se disse, porque ali haveria uma nova lei mais moderna, mas porque a
forma da lei em geral inseparvel de uma mquina abstrata autodestrutiva e que no pode
desenvolver-se concretamente. (K., p. 71-72). Fica a questo, ainda em aberto, sobre qual
seria a possibilidade de desenvolvimento de uma nova mquina, transcendente, para lidar
com tal questo. Deleuze apostaria na prpria escrita como uma possibilidade provocadora:
130
pode se desenvolver de maneira concreta. No texto de Deleuze, a justia -
tambm representada nos mesmos empregados, investigadores, serviais,
pintores - est procura de sua libertao da culpa, pois no possui
nenhuma relao com a lei: a justia desejo, e no lei
335
. Em O
Processo, isso se torna mais evidente quando Josef K. conversa com a
Srta. Burstner sobre o inqurito:
! Est vendo? disse K. - No tem muita experincia em
questes judiciais.
- No, no tenho disse a senhorita Burstner -, e j o
lamentei muitas vezes, pois gostaria de saber tudo e so
justamente as questes judiciais as que mais me
interessam. O tribunal tem uma fora de atrao singular,
no ?
336
no mais o simblico - a lei - que torna o real (a justia) impossvel, mas o prprio real que
interdita sua possibilidade de realizao. Talvez isso signifique que os agenciamentos
passam a se dar segundo a lgica do simblico e no mais em oposio a ele, ou talvez a
lei (linguagem de papel, norma pseudo-transcendente) passe a ser o desejo dos
agenciamentos (prticas) concretos. Se esta posio da mquina abstrata s atingida por
meio de um agenciamento especfico (o de enunciao) e este revela a maquina literria
como seu mecanismo, qual a aptido de uma mquina literria, de um agenciamento de
enunciao ou de expresso, para formar ele mesmo essa mquina abstrata enquanto
campo do desejo? (K, p. 119). Seriam estas as condies de uma literatura menor?
(idem). A possibilidade seria a de entender a prpria mquina literria do autor como o
instrumento de medida de tais agenciamentos. Desta forma, o romance seria em si um
agenciamento - sua referncia e engajamento ao real absoluta, e seu absurdo a
descrio quase premonitria daquilo que nos espera. Falamos de prticas que soavam
como absurdas, pois o momento de sua enunciao (o ontem) no o mesmo de sua
realizao (o hoje). Matar toda a metfora, toda a significao, levando em conta questes
de estilo da obra, pode implicar ser realista por meio de alegorias literais - e com especial
crueza, como vimos: Eis ento as caractersticas novas do agenciamento maqunico
romanesco, em oposio aos ndices e s mquinas abstratas. Eles impem, no uma
interpretao nem uma representao social de Kafka, mas uma experimentao, um
protocolo social-poltico. A questo torna-se: como funciona o agenciamento, j que ele
funciona realmente no real? (K, p. 73). Ou seja, como se d a relao poltica (no real)
deste agenciamento kafkiano (sua prpria obra)?
335
K., p. 74.
336
P., p. 29. H diferenas entre a traduo deste romance feita por Carone e a traduo
portuguesa (feita por Gervsio lvaro). Em especial, uma destas diferenas acaba por
mostrar a presena do desejo e da libido como componentes do texto: quando a senhorita
Burstner diz a K. que A justia tem um poder de seduo fora do vulgar, no acha?. O
poder de seduo seria no apenas daqueles que executam o processo da justia, mas a
prpria justia seria sedutora. H componentes de seduo, de desejo e de vontade (o
fazer) ligados posse e o exerccio do poder. Ter poder atrativo para quem o detm e
para quem o deseja.
131
Seja o mapeamento do passado promovido por Benjamin ou a busca
de intuio do futuro articulada por Deleuze, em ambos os casos tem-se
uma preocupao com os efeitos da obra kafkiana no presente e no
mundo onde ela est inserida, um mundo arruinado, composto por
criaturas estranhas e deslocadas de onde se esperaria encontr-las. Ou
seja, um carter poltico e de deslocamento. No possvel, para ambos,
separar o autor da obra, a ferramenta do arteso, o leitor como
lexegrafo do escritor como subscritor
337
: uma enunciao conjunta de
um mundo, um novo territrio do qual temos a intuio da existncia nas
brechas que surgem na aparente coeso da realidade. O esquecimento,
para Benjamin, o que deve ser combatido, e rememorar entender o
presente:
Aquilo que foi esquecido (...) nunca algo puramente
individual. (...) O esquecimento o receptculo a partir do
qual emergem luz do dia os contornos do inesgotvel
mundo intermedirio nas narrativas de Kafka. Aqui, a
plenitude do mundo considerada a nica realidade
338
H uma relao possvel entre esquecimento e a sensao de perda,
a melanclica contemplao das runas do passado, sem qualquer
pretenso de alcanar a neutralidade de uma posio distanciada
339
. Da
impossibilidade de alcanar esta neutralidade surge a possibilidade de
transformar tal melancolia em sua superao. Memria e esquecimento
so protocolos de experincia
340
do viver; o mundo intermedirio o que
se encontra entre tais protocolos, entre o que ficou para trs e o que se
abre para o futuro. Entre o arcaico e o contemporneo.
337
BENSMAA. R, The Kafka Effect (Prefacio edio norte-americana de K)., p. xii. A
interpretao que parece mais acertada para os termos lexeograph e subscriptor constantes
no original seria a seguinte, de acordo com a referncia a Roland Barthes: para o primeiro, o
leitor como pea fundamental na construo semntica do texto - por onde o sentido do
texto emerge e, para o segundo, o autor como interessado ou leitor da prpria obra.
338
BENJAMIN, pp. 156-157
339
KAMPFF-LAGES, p. 235
340
K., p. 17
132
A aproximao em relao a este mundo intermedirio, no entanto,
diferente em cada comentador. A partir do mesmo ponto - a mquina do
real em Kafka os autores tomam vias diversas: se Benjamin v
melancolia, Deleuze realiza uma leitura prtica
341
da obra, uma
experincia de vida, comdia e desejo
342
, ao afirmar que Kafka um
autor que ri com profunda alegria, uma joie de vivre
343
:
Arriscamo-nos de duas maneiras a ignorar um grande autor.
Por exemplo, ao desconhecer sua lgica profunda ou o
carter sistemtico de sua obra. (Falamos, ento, de suas
incoerncias, como se elas nos dessem um prazer
superior). Ou, de outro modo, ao ignorar sua potncia e seu
gnio cmicos, de onde a obra retira geralmente o mximo
de sua eficcia anticonformista. (Preferimos falar das
angstias e do aspecto trgico). Na verdade, no se pode
admirar Kafka sem rirmos ao l-lo
344
.
As lembranas de tempos passados evocadas em A Metamorfose,
como as conversas animadas dos velhos tempos, nas quais Gregor
sempre pensava com alguma nostalgia quando, nos pequenos quartos de
hotel, tinha de se atirar cansado cama mida
345
, no so apenas ecos
de um tempo no qual o problema da transformao no havia atingido o
protagonista, mas funcionam como um impulso para este continuar
vivendo. Gregor
s vezes pensava em reassumir os assuntos da famlia,
exatamente como antes, na prxima vez em que a porta se
abrisse; nos seus pensamentos apareceram de novo, depois
de muito tempo, o chefe e o gerente, os caixeiros e os
aprendizes, o contnuo to obtuso, dois, trs amigos de
outras firmas, uma arrumadeira de um hotel no interior
recordao agradvel e passageira, uma moa que
trabalhava na caixa de uma loja de chapus que ele tinha
341
BENSMAA, p. xxi
342
Ao mergulharem profundamente nos mtodos e processos que Kafka usou para
revogar o mistrio da lei e relacion-lo com seus lugares de enunciao, e os descrevendo
com preciso, Deleuze e Guattari abrem caminho para talvez pela primeira vez - uma
leitura alegre de Kafka: uma Gaia Cincia do trabalho kafkiano. (BENSMAA, p. xix).
343
K., p. 41
344
DELEUZE, 1962, p. 3.
345
M., p.34
133
cortejado seriamente, mas devagar demais; todos eles
surgiram entremeados com estranhos ou pessoas j
esquecidas, mas ao invs de o ajudarem e famlia,
estavam sem exceo inacessveis, e ele ficou feliz quando
desapareceram
346
.
Mas o rebate de Benjamin s interpretaes naturais e
supernaturais da obra de Kafka tambm soa como uma advertncia
linha de interpretao adotada por Deleuze: mais fcil extrair
concluses especulativas das notas pstumas de Kafka do que investigar
um nico dos temas que aparecem em seus contos e romances
347
. Como
j visto, a obra para ser tomada literalmente, sem metforas
348
, ou sem
a transformao destas em uma adequao exata entre representao e
realidade
349
.
Deleuze, mesmo se utilizando de elementos externos s obras para
desmontar o funcionamento das mquinas de expresso kafkianas
(elementos principalmente fornecidos por Max Brod contestado
fortemente em suas anlises por Benjamin, por Adorno e pelo prprio
Deleuze, que ver o bigrafo como o responsvel pela inflexo da obra de
Kafka em direo teologia negativa
350
- e tambm pela leitura dos
346
M., p.36
347
BENJAMIN, p. 154. Mesmo se considerarmos que Benjamin no conhecia o teor das
correspondncias entre Kafka e Brod, assim como o contedo dos Dirios, o pensador
alemo faz um chamado sobriedade na leitura kafkiana. Benjamin ir utilizar o conceito de
alegoria, um tipo de narrativa que referente a uma coisa ou processo vivo, um relato de
uma ao. Se na metfora os significados so transferidos por meio de relaes analgicas,
comparativas, proporcionais, referenciais, entre outras, a composio alegrica atribui uma
condio de ser normalmente imprpria coisa qual se refere, gerando novos objetos de
significao. (cf. tpico Smbolo, Alegoria e Parbola)
348
No sentido bergsoniano do termo, to caro a Deleuze, a metfora expressaria o conceito,
porm no processo pode reduzir uma coisa a outra. Para que a metfora sirva como meio
de aproximao direta da realidade preciso que a imagem no cristalize um significado,
mas sugira uma viso, que no interpretao, mas contato. (SILVA, p. 97).
349
SILVA, p. 97. O deslocamento/estranhamento na forma literria, no lxico, surge
exatamente pela no-correspondncia entre o escrito e o real (a literalidade) que ocorre a
partir do fato da linguagem ser literal em si.
350
Deleuze considera que a organizao dos captulos em O Processo, feita por Brod, nos
joga na atmosfera da teologia negativa e da onipresena da ausncia de Deus. Como
exemplo, ir dizer (pp. 43 - 46) que a execuo de K ao final do livro poderia, talvez, fazer
parte de uma experincia onrica que se passaria na abertura do romance em vez de
134
Dirios do escritor), centra seu foco nos temas das obras como
enunciaes da coletividade. Kafka seria a voz dos judeus checos de Praga
de seu tempo, uma insero da obra no tecido do real
351
: como
possvel algum alegrar-se com o mundo, a no ser quando se refugia
nele?
352
5.2 Burocracia
A sisudez da linguagem dos escritrios, a burocracia e o pasmo do
humano frente a uma srie de processos e relaes de foras que para ele
soam como absolutamente incompreensveis j so, h muito, apontadas
como temticas presentes nas obras kafkianas. Essas obras, segundo
LOWY, descreveriam um mundo entregue ao absurdo, injustia
autoritria e mentira, um mundo sem liberdade em que a redeno
messinica s se manifesta negativamente, por sua ausncia radical
353
.
Sabendo-se que Kafka tinha uma especial afeio pelo trabalho com
provrbios e frases do senso comum, levando-as ao p da letra at que
seu significado fosse totalmente reconfigurado, o monumental O Processo
poderia remeter ao ditado alemo: A falta de resposta tambm uma
encerr-lo com o fecho da desesperana. J a relao conflituosa entre Brod e os
frankfurtianos pode ser inferida da anlise feita por SANTOS de que nestes ltimos o que
sobressai o desejo de libertar Kafka de uma leitura estritamente religiosa. Nesse sentido,
Benjamin foi provavelmente quem com mais veemncia combateu as interpretaes de Max
Brod. Adorno totalmente favorvel a esse combate com Brod (p.155)
351
Como j visto, a viso de Anders sobre o conto Josefina ou O povo dos Camundongos
similar a esta abordagem deleuziana. Anders v no conto a ineficcia da religio (e, por
extenso, da tradio) como forma da preservao dos cdigos do povo judeu. O narrador,
um dos ratos, vocaliza o espanto, o desapontamento e a indiferena dos ratos com as
habilidades da cantora. Kafka formularia assim, para ele, a posio dos judeus no mundo ou
a atitude dos judeus que no eram mais judaicos diante dos judeus judaicos os judeus
de Praga so como um outro povo, uma coletividade imersa em um grupo majoritrio.
352
EFK, p. 192
353
LOWY, 2005, p. 132. Tal comentrio nos remete anlise de TRAGTEMBERG (2002) de
que toda forma de organizao social ou religiosa erigida sobre a ideia do absurdo e
tende burocracia. O papel da religio se mostraria similar ao das organizaes
administrativas nas quais Kafka se encontra imerso, assim como est imerso na
comunidade judaica de Praga.
135
resposta
354
. Josef K. pergunta do que acusado, mas principalmente
quem seu acusador
355
. E tais questes, os motores do romance (e que
esto ligadas indelevelmente sua frase de abertura
356
), nunca so
respondidas: o mximo que se tem a suposio de que se trata de uma
calnia, mas nem disso temos certeza. Mas a inexistncia formal desta
resposta no impede o desenrolar do processo, como se o silncio e os
procedimentos e informaes confusas a respeito de seu trmite
funcionassem como confisso de culpa por um crime que ningum sabe
qual .
A confuso , visivelmente, uma das caractersticas que o sistema
burocrtico descrito no livro provoca no apenas em Josef K., mas
principalmente nos leitores. Perante tal dificuldade de compreenso
357
,
Kafka a eleva at chegar ao extremo do chiste: perante aquilo que no
parece ter soluo, pouco h a fazer seno rir do absurdo que se
aproxima.
Em O Processo, o extremo j se insinua na prpria diviso do texto:
ao lermos a disposio e os nomes dos captulos, a impresso que se tem
a de que se est a contemplar um relatrio jurdico, ou uma
investigao: nomes, profisses, locais, aes. Os passos da lei e do
sistema. Os nveis das reparties e rgos da mquina burocrtica
envolvidos em cada fase at o final/execuo da sentena.
As etapas (ou instncias jurdicas) do processo so a espinha dorsal
do romance, assim como o processo em si pode ser visto como um
protagonista, talvez o principal, da histria. Mas um protagonista sem
354
Keine Antwort ist auch eine Antwort, no idioma original.
355
Tiro essa concluso do fato de ser acusado e no conseguir descobrir a mnima culpa
da qual me pudessem acusar. Isso tambm secundrio, a questo principal : por quem
sou acusado? Que autoridade conduz o processo? Os senhores so funcionrios? (P.,
p.16)
356
Algum certamente havia caluniado Josef K, pois uma manh ele foi detido sem ter feito
mal algum. (P., pg.7)
357
O que nos levaria novamente presena, na temtica kafkiana, do problema da
incomunicabilidade e da dificuldade de entendimento, como visto em A Metamorfose e O
Veredicto. A soluo tentada por Kafka para este problema poderia ser uma recuperao da
linguagem face seus lugares-comuns cotidianos, no qual o provrbio que encerraria a lio
de sabedoria se encontra esvaziado de sentido na realidade, por meio de uma
superconformidade/literalidade entre o enunciado e o significado?
136
nome: descobrimos como os funcionrios se chamam, mas nunca como o
processo em si nomeado, isto , a que crime ele se refere, nem quem o
atribui/imputou contra K. Uma nmese que no se mostra, mas cuja
presena constante. Tal embate entre o indivduo e a estrutura permite
considerarmos que um dos temas centrais de O Processo o
funcionamento de uma hipcrita mquina burocrtica na qual o heri foi
inocentemente capturado
358
. O poder emanado por esta mquina mais
tirnico do que o concentrado na figura de um ditador, por exemplo,
exatamente por no ter rosto ou nome, por ser um sistema que funciona
independentemente de quem seja o nome ou rosto que, simbolicamente,
o comandaria. Onde o processo em si mais importante do que os seres
envolvidos em seu desenrolar
359
. Para Kafka, as cadeias da humanidade
torturada so feitas de papel de escritrio
360
.
A relao entre o homem e as figuras de autoridade condensadas na
burocracia, no pai ou na religio, guardariam em si a dualidade entre a
alienao e a busca pela liberdade. Ao mesmo tempo em que, em O
Castelo, K. tenta de todas as formas contato com Klamm para receber as
instrues para a execuo de seu trabalho, a negativa do contratante
coloca o protagonista em uma situao verdadeiramente alienada, de
anulao da personalidade individual: o que o definiria naquela
comunidade onde o recm-chegado o fato de ser o agrimensor, mas
ele acaba sendo contratado para no fazer aquilo a que teoricamente teria
358
ARENDT apud LOWY, 2005, p. 110
359
Tanto Horkheimer/Adorno como Deleuze observam a existncia de processos sociais nos
quais isto ocorre, variando apenas as nomenclaturas usadas pelos frankfurtianos em relao
ao filsofo francs (sociedade administrada e sociedades de controle). A dita mentalidade
do engenheiro que caracteriza a razo instrumental coloca o engenho, o processo, a forma
de fazer como aquilo ao qual o ser humano deve se adaptar. Desta forma, o papel da
tcnica se inverte: em vez de conjunto de procedimentos e aes com as quais o ser
humano transforma o mundo, torna-se um sistema ao qual quem deve se adaptar o
prprio humano, o que se estende ao tecido social como um todo. A sociedade passa a ser
gerida como uma empresa, ou mais precisamente, como uma linha de produo na qual o
produto so os prprios indivduos; que se modifica de acordo com a demanda do capital e
as mudanas nos modos de produo.
360
KAFKA apud LOWY, 2005, pp.13 et seq. Este comenta que tal imagem sugere, ao
mesmo tempo o carter opressivo do sistema burocrtico, que subjuga os indivduos com
seus documentos oficiais, e o carter precrio das cadeias, que facilmente poderiam ser
rompidas se os homens quisessem libertar-se delas (p. 15)
137
sido chamado. Para no ser o que : no tenho relao com os
camponeses nem perteno ao castelo
361
.
Uma das reaes de K., investindo na seduo de Frieda (conhecida
por ser amante de Klamm) pode ser vista como uma forma de readquirir
certo controle da situao e de si, pois paira a dvida se a moa no seria
apenas um joguete para uma audincia com ele. Com a exceo de
Amlia, todas as figuras de autoridade tm consigo a submisso quase
voluntria das pessoas do vilarejo. Para K., subverter esta cadeia de
poder no vilarejo adquire uma funo emancipatria, mesmo que ao final
ele no seja visivelmente bem-sucedido no processo
362
.
A burocracia do mundo retratado se faz acompanhar por uma
obedincia tcita a ela: vivemos em um mundo no qual a autoridade
vista como natural e a adaptao ordem um comportamento elogivel
e aconselhado em todos os momentos, efetuado at mesmo por aqueles
que em tese deveriam critic-lo, ao ponto em que desaparecem as
distines entre as esferas pessoal e oficial: onde termina o K. agrimensor
e comea o indivduo K.?
E o que era ali, na realidade, aquela outra vida? Em lugar
nenhum K. tinha visto antes, como ali, as funes
administrativas e a vida to entrelaadas de tal maneira
entrelaadas que s vezes podia parecer que a funo oficial
e a vida tinham trocado de lugar. O que significava, por
exemplo, o poder at agora apenas formal que Klamm
361
C., p. 8
362
LOWY (2005, passim) considera que O Castelo se refere, mesmo que de forma indireta,
s insurreies na Europa entre 1818 e 1922, o que colocaria a obra dentro de uma
temtica de resistncia ao poder, ainda que uma resistncia individual, como Amlia, ou
uma busca de sentido da estrutura deste poder, como o prprio K. O fato do livro terminar
no ar, no meio de uma frase, no soluciona a situao, o que para alguns seria a indicao
de que o terror burocrtico no teria sadas, assim como o final de O Processo sugere. Ou
isso pode ser visto como uma sada em aberto. Para ele, uma das temticas da obra de
Kafka a liberdade, e que seus escritos possuem forte vis antiautoritrio, chegando s
raias do anarquismo (o que explicaria a famosa citao No esquecer de Kropotkin). Este
no aparece enquanto doutrina poltica, mas na forma de um estado de esprito e de uma
sensibilidade crtica cuja principal arma a ironia, o humor (p. 57). Mas nem por isso a
obra pode ser reduzida a esta caracterstica. Kafka estava longe de ser um anarquista,
mas o antiautoritarismo de origem romntica e libertria atravessa o conjunto de sua
obra romntica e libertria, num movimento de universalizao e de abstrao crescente do
poder da autoridade paterna e pessoal at a autoridade administrativa e annima (p. 59).
138
exercia sobre o ofcio de K.. comparado com o poder que
Klamm tinha em toda a sua efetividade no quarto de dormir
de K.?
363
Analogamente, uma pea como Josefina, considerada como
portadora de uma temtica crtica religiosa
364
, pode ser vista como uma
cida comparao das relaes que sustentam a burocracia.
Comparativamente, se a ratinha supe proteger o povo, mas protegida
por ele e mantida nesta iluso, so as tradies e as inter-relaes
humanas que acabam por dar a forma e a fora estrutura burocrtica
que surge aparentemente para a defesa dos componentes do grupo, mas
que ineficaz nesta tarefa. Esta estrutura tambm acaba sendo mantida,
a despeito de sua exemplar inoperncia. Vejamos que a ratinha reclama
de qualquer quebra no padro de seus espetculos: um estado
jurdico/burocrtico especialmente afeito a seus rituais.
A autoridade religiosa tambm um corpus burocrtico:
mandamentos so regras de conduta de uma sociedade. Desrespeit-las
significa atrair a ira do socius, que insufla dio pela diferena e impe o
silncio e a resignao
365
. A voz dbil consegue, mesmo assim, calar.
363
C., p. 43. Para LOWY (2005), esta sensao de falta de limite entre o oficial e o individual
a expresso mais clara do termo kafkiano, que significaria um aspecto da realidade que
as cincias sociais tendem a ignorar e para o qual no tm qualquer conceito pertinente: a
opresso e o absurdo da reificao burocrtica tal como so vividos pelas pessoas comuns
(pp. 204-205).
364
Para ANDERS (2007), este conto apresenta inequivocamente a religio judaica como
um incidente na histria do povo judeu (p.126), como j visto.
365
A religio acabaria por assumir um papel contratualista na relao entre as pessoas.
Para Adorno e Horkheimer, os princpios tico-reflexivos do judasmo e das demais religies
antigas se encontram entranhados no socius que suporta tais modelos de crena,
ordenando a vida do grupo que os adota. Tal relao se quebra com a ascenso do
cristianismo, que separa Csar (a lei, o estado, a organizao do imprio romano, at
mesmo nas moedas cunhadas com o rosto do govenante) de Deus (o transcendente e
atemporal). A transformao do ritual pago do sacrifcio no se consumou apenas no
culto, nem apenas na mente, pois ela tambm determinava a forma do processo de
trabalho (DE, p.166). Por extenso, determina a forma das relaes que constituem a
sociedade, onde o sacrifcio necessrio para a manuteno e funcionamento do
organismo/sistema como um todo: os finais de O Processo e Na Colnia Penal so
instrutivos neste sentido. O monstro burocrtico nos remeteria, ento, a uma viso
weberiana da organizao social por parte de Kafka?
139
Ela tem s desprezo por aqueles que tm opinio contrria
sua e provavelmente um dio no confessado [...] a arte
dela nos faz bem e quando nos sentimos bem, assobiamos;
mas sua audincia no assobia, nela nem um rato bole,
como se participssemos todos da paz almejada, da qual
nosso prprio assobio no mnimo nos aparta e por isso
silenciamos. seu canto o que nos enleva ou a quietude
solene que envolve a fraca vozinha
366
?
Persiste a dvida sobre a razo pela qual a audincia (comunidade)
se deixa levar por to dbil canto, mas esta razo parece residir em uma
autoridade que se transformou em necessidade: criou-se dependncia de
um sistema que se passa por salvador a posteriori deste povo
367
, o que,
apesar de inverossmil e sabido por todos, aceito sem muita hesitao.
As regras de casa tambm representam uma modalidade de
burocracia, como pode ser visto em O Veredicto e tambm na famosa
Carta ao Pai. No primeiro, o fluxo epistolar entre Georg e seu amigo pode
ser visto de forma anloga troca de memorandos, principalmente
porque o pai era o representante [do amigo] aqui no lugar
368
e o amigo
realiza um procedimento que descrito de forma quase cartorial para se
informar do que acontece, pois, segundo seu representante, ele
sabe de tudo cem vezes mais do que voc [Georg] mesmo,
amassa sem abrir as suas cartas na mo esquerda enquanto
com a direita segura as minhas diante dos olhos para ler
369
.
Ao final, a sentena proferida pelo pai-juiz e cumprida risca por
Georg acaba por apresentar a face bizarra da autoridade
370
: a no-
liberdade, pois o uso do poder se d sem propsito ou justificativa e o
cumprimento estrito da ordem denuncia seu absurdo. De igual teor a
366
AF/C, pp. 40-41
367
AF/C, p. 46
368
EFK, p. 40
369
ibidem, p.41
370
A relao figura paterna-figura burocrata tambm assumida como possvel por Deleuze
e por Benjamin, conforme visto no tpico 5.1.
140
opresso do pai de Kafka sobre este, mesmo sendo de ordem psquica e
no fsica. A descrio minuciosa dos recursos educativos
371
empregados
pelo velho Hermann na educao de seu filho Franz encontram paralelos
nos procedimentos detalhados para o cumprimento das sentenas em Na
Colnia Penal: se a mquina interioriza no condenado a ordem do
sistema, aniquilando-o em todos os nveis, o exerccio da autoridade de
forma to ostensiva por parte do pai interioriza nos irmos e no prprio
Franz o modelo a ser seguido, como um manual de procedimentos
372
.
Nesses momentos, portanto, a crtica kafkiana opera como uma
possibilidade de resistir, de no se submeter. Para tal, preciso
compreender como funcionam, mas principalmente como fracassam, os
mecanismos de submisso. A exemplar ineficincia da mquina da
burocracia/lei/autoridade (destruda em Na Colnia Penal, ridicularizada
em O Processo, enfrentada na Carta ao Pai, entre todos os exemplos j
elencados) aponta para uma situao de crise do modelo ao qual ela se
remete. A estrutura s risvel e motivo de chacota porque o modelo que
lhe daria suporte j no existe mais, fazendo com que ela perca o sentido,
deixando o processo burocrtico com seu significado encerrado em si
mesmo e a lei como pura forma vazia, sem contedo
373
.
De certa forma, a insuficincia deste modelo antev um momento
no qual a compreenso que temos do processo civilizatrio - ou do modelo
de sociedade existente at ento, influenciada pelos ideais iluministas -
no seria mais capaz de dar sentido existncia. O tecido social onde e
sobre o qual Kafka escreve j mostra os sinais daquilo que Deleuze
chamar de potncias diablicas que batem porta: fascismo,
estalinismo e americanismo
374
.
371
CP, p.13
372
A interiorizao de procedimentos nos prprios corpos em Na Colnia Penal permite o
estabelecimento com os conceitos de disciplina e corpos dceis conforme descritos por
FOUCAULT (2007).
373
Para Deleuze, Kafka entender que da relao entre a mquina da lei e a prtica de
justia que surge a relao de poder: da assincronia entre um cdigo permanentemente
anacrnico e as prticas dirias, o desejo de justia, do certo e do errado. Lei e culpa se
inter-relacionam, assim como justia e desejo - uma diferena entre normatizao e prtica.
374
K., p. 41
141
Se isso for observado pelo prisma da relao entre indivduo e
sociedade - sua insero direta no mundo e as relaes estabelecidas a
partir disso - a falncia do modelo abriria espao tanto para a irrupo de
formas mais livres de associaes ou mais igualitrias do ponto de vista
da justia como tambm para as formas mais temveis de opresso do
indivduo, em que a lei - linguagem de papel que versa sobre a sociedade
- passa a ser o ponto de referncia do tecido social e das interaes
humanas, sobrepondo-se de certa forma a estas.
Porm, a insuficincia dos procedimentos jurdico-burocrticos como
campo de regulao social - e o absurdo dos interminveis escritrios,
tribunais e instncias de julgamento (ao ponto em que podemos
interpretar em certas horas o romance O Processo como as atas de um
processo ou como o processo social que mostra tal ineficcia) mostra que
aqui h uma clara oposio entre o modelo e a realidade: a burocracia
(transcendente) e a vida (imanente) no se relacionam mais, ou nunca se
relacionaram, pois pertencem a mundos diferentes e que se encontram
em mutao. Surgiria, dentro da obra kafkiana, uma busca por liberdade
que
no aparece como tal em lugar nenhum em seus romances e
contos: ela existe somente em negativo, como crtica de um
mundo totalmente desprovido de liberdade, submetido
lgica absurda e arbitrria de um aparelho todo-
poderoso
375
.
Assiste-se, ento, a um embate entre o voc deve - a representao
da norma, materializada na lei e na burocracia - e o eu quero - a
expresso da vontade e do desejo pessoais: o personagem K. vive dentro
do mundo burocratizado (que ope regra e desejo), saindo de uma
situao de oposio entre lei e vontade (esprito/corpo;
processo/processado) para a onipresena de um desejo, de uma ao,
que mesmo no explicitados se encontram vivamente presentes.
375
LOWY, 2005, p. 56
142
Mas na obra de Kafka no h uma questo hierrquica envolvida
apenas nas relaes entre o protagonista e o aparelho. As formas de
organizao social, de maneira geral, mostram-se entremeadas pelas
relaes de poder dos indivduos que as compem. O desejo de agir,
como constitutivo do indivduo, faz parte do mundo na medida em que o
indivduo participa do socius. O poder no exclusivo da subjetividade,
mas surge como fruto das relaes entre indivduo e tecido social.
Aquilo que denominamos como poder acaba por desenvolver
desdobramentos e tentculos eficazes para a sustentao de estruturas
hierrquicas (ou administrativas) incoerentes, que acabam sendo
utilizadas em benefcio de alguns.
Para isso, as relaes humanas so uma ferramenta especialmente
eficaz: no apenas a relao entre Frieda e K, como a entre Leni e Josef
K., dentre outras na obra kafkiana, podem ser consideradas relaes-fim,
segundo as quais o envolvimento entre os personagens pautado por um
objetivo especfico dentro das estruturas de poder. Relaes burocrticas,
pois ocorrem dentro do prprio organismo do poder: se o processo o
prprio romance em si, tudo que ocorre ali se d dentro das malhas da lei
e da ordem. Norma e libido, devidamente plasmadas
376
.
376
A ideia de que a burocratizao da sociedade uma forma de lidar com o impulso do
Eros, o desejo, nos remete j ao conceito freudiano do direcionamento da pulso para o
trabalho e ecoa nas anlises tanto de Adorno como de Deleuze, inclusive em seus textos
sobre Kafka. Em Adorno, tanto a anlise da mmesis como a da pulso, ou a tendncia
inerente a todo ser humano de retorno a uma situao anterior abordam tal problemtica.
Para Adorno, Inicialmente, em sua fase mgica, a civilizao havia substitudo a adaptao
orgnica ao outro, isto , o comportamento propriamente mimtico, pela manipulao
organizada da mimese e, por fim, na fase histrica, pela prxis racional, isto , pelo
trabalho. (DE., p. 168). A dominao do Eros ocasiona aquilo que chamado por Adorno
de domnio crispado do homem sobre a natureza. Se o projeto de racionalidade iluminista
passa pelo domnio deste medo via trabalho e reflexo, mas no o elimina completamente, o
medo reaparece na prpria proibio ao medo: a racionalidade dirigida a fins surge como
forma de disciplina contra a prpria razo e a possibilidade de reconhecimento do outro,
pois haveria sempre um resduo do qual a normatizao acabaria por no dar conta. A
burocracia, como elenco de cdigos normatizadores da sociedade, operaria como uma
tentativa constante de formatao social a um ponto no qual os prprios integrantes da
sociedade cuidam de eliminar a diferena, buscando homogeneidade e a realizao da
ideologia na qual se inserem, acaba por operar em dois circuitos: catarse (pulso de morte
irracional) e a manuteno do status quo (razo dirigida a fins e como um instrumento de
dominao). O rigor com que os dominadores impediram no curso dos sculos a seus
prprios descendentes, bem como s massas dominadas, a recada em modos de viver
143
K. abriu o livro de cima da pilha e apareceu uma gravura
obscena. Um homem e uma mulher estavam sentados nus
num canap; a inteno vulgar do desenhista era
claramente discernvel, mas sua inabilidade tinha sido to
grande, que afinal podiam ser vistos apenas um homem e
mimticos - comeando pela proibio social dos atores e dos ciganos e chegando, enfim, a
uma pedagogia que desacostuma as crianas de serem infantis - a prpria condio da
civilizao. A educao social e individual refora nos homens seu comportamento objetivo
como trabalhadores e impede-os de se perderem nas flutuaes da natureza ambiente.
Toda diverso, todo abandono tem algo de mimetismo. Foi enrijecendo contra isso que o
ego se forjou. (DE., p. 169). O sujeito que desenvolve uma conduta que se assujeite ao
pensamento e prtica totalitria levado a tal por um mecanismo de projeo reversa, o
reverso da mimese genuna, profundamente aparentada mimese que foi recalcada, talvez
o trao caracterial patolgico em que esta se sedimenta. S a mimese se torna semelhante
ao mundo ambiente, a falsa projeo torna o mundo ambiente semelhante a ela (DE., p.
174). A falsa projeo est na categoria do recalque: a interdio do reconhecimento do
outro e do processo mimtico tem, como contrapartida, a iluso de controle e de
conformao do mundo ao Eu, fazendo o indivduo ignorar completamente as relaes
estruturais presentes no corpus social e produzir uma falsa segurana de si e para si. A
negao da mimese e dos impulsos do id acaba por fazer o indivduo projet-los como
caractersticas do objeto de cobia ou dio, por exemplo. A confuso se forma pelo fato de
que, a partir de um determinado ponto, impossvel determinar o que projeo e o que
intrnseco ao objeto. Mas tal resduo do Eros acaba por aparecer dentro do prprio sistema.
O Eros reprimido e recalcado acaba por encontrar uma expresso nos prprios elementos
que simbolizam tal recalque: Adorno notar o carter ertico existente, por exemplo, na
repetio de gestos e na disciplina extrema (no exemplo do oficial nazista nos Elementos do
Antissemitismo), ao ponto de sugerir uma relao direta entre autoritarismo e represso
sexual. Em Deleuze, o Eros jurdico-burocrtico surge no como uma represso do impulso
libidinal, mas como efeito positivo de sua existncia: Onde se acreditava que havia lei, h
de fato desejo e apenas desejo. A justia desejo e no lei. (!) Se todo mundo pertence
justia, se todo mundo seu auxiliar, do padre s mocinhas, no em virtude da
transcendncia da lei, mas da imanncia do desejo. (K., p.74 e p.76). O desejo o que
cria/produz a estrutura, no o que reprimido por ela. Em Kafka, o desejo a relao com o
feminino no , no caso, uma busca pela me ou musa inspiradora - seria uma fonte de
fora fsica para escrever (K., p. 47). No caso do romance, a exposio e mapeamento do
Eros burocrtico, policial, judicirio, econmico ou poltico, ou a construo de uma nova
forma de entendimento da relao entre lei/sistema e os agenciamentos de desejo, ou entre
querer e poder realizar. A anlise deste autor sobre Sacher-Masoch e o carter contratual
do chamado masoquismo (que envolve palavras-chave, combinaes de limites, aceitao e
transferncias de objetos, logo sujeito a regras e leis como um Eros burocrtico exige e
condiciona ao mesmo tempo que gera novas regras para tal) refora esta abordagem.
Somos mquinas desejantes, estabelecemos agenciamentos-associaes e relaes de
acordo com o objetivo de satisfazer a tenso que nos impele a um fim. Inoculamos o
produzir no que produzimos: a obra literria, na viso de Deleuze, no apenas o livro - o
prprio ato de sua confeco passa a ser um constitutivo de seu significado. Em Kafka a
produo seria uma forma de lidar com a tenso de seus relacionamentos e seu medo do
casamento. Com certa ironia, pode-se sugerir aqui um mecanismo freudiano de
direcionamento da pulso em direo ao trabalho em busca de novas linhas de ao,
intensidades ou velocidades; para ORLANDI (1995), com a concepo produtivista do
desejo, Deleuze e Guattari operam uma transposio do conceito de pulso para o de
mquina desejante (p. 178 apud ARAGON, 2006, p.18). Parafraseando a frase de Henry
Kissinger, no caso do Eros burocrtico, o poder o afrodisaco mais forte.
144
uma mulher que sobressaam da gravura com uma
corporeidade excessiva, sentados os dois em posio
demasiado ereta e, em consequncia da falsa perspectiva,
s se voltavam um para o outro com dificuldade. K. no
continuou a folhear, abriu somente a pgina de rosto do
segundo livro; era um romance com o ttulo: Os tormentos
que Grete teve de sofrer com seu marido Hans.
- So estes os cdigos de lei estudados aqui disse K. -,
por homens assim que devo ser julgado
377
.
5.3 O caso K: estranhamento e arte poltica
A priori, antes de suas obras, a arte uma crtica da feroz seriedade que a
realidade impe sobre os seres humanos
378
Toda ao humana envolve, mesmo que de forma implcita, a
presena/existncia de um outro, ou de uma coletividade, uma polis. As
relaes entre as pessoas, desta maneira, podem ser entendidas como
polticas pois ocorrem dentro de um tecido social que lhes d suporte.
Qualquer inter-relao entre o ser e a realidade (sejam outros seres ou o
espao que os abriga) um ato poltico, seja em escala macro ou micro.
Toda ao uma ao poltica. A vida poltica em sua totalidade
379
.
377
P., p. 53. A interessante referncia que Kafka faz ao nome de uma de suas personagens
mais famosas, a irm de Gregor, faz com que imaginemos o que possa ter acontecido aps
o final de A Metamorfose. A relao de Gregor e Grete tambm , como j visto,
contaminada pela tenso libido-autoridade, naquilo que Deleuze chama de incesto esquizo
e que, ao no se concretizar, dispara a ira de Grete (ser a mesma que sofre com Hans?):
No fundo, o que a irm no tolera. Ela aceitava Gregor, queria como ele o incesto
esquizo, o incesto de fortes conexes, o incesto com a irm que se ope ao incesto
edipiano, o incesto que testemunha uma sexualidade no humana como um devir animal.
No entanto, ciumenta do retrato, ela passa a odiar Gregor e o condena. A partir da a
desterritorializao de Gregor em seu tornar-se animal fracassa: ele se faz reedipianizar
pelo lanamento da ma, e s resta morrer, ma incrustada nas costas. (K., p.23)
378
TE, p. 13
379
Toda sociedade, mas tambm todo indivduo, so pois atravessados pelas duas
segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra molecular, sendo que sempre uma
pressupe a outra. Em suma, tudo poltico, mas toda poltica ao mesmo tempo
macropoltica e micropoltica (MP, p.90)
145
Como exemplo, o mundo da burocracia est presente na vida de
Kafka, assim como tambm est presente na obra do escritor
380
. Mais do
que simplesmente descrever em seus textos o dia-a-dia das reparties
ou dar obra um carter confessional, Kafka usa a burocracia como
elemento operante na obra e como indicativo das relaes humanas, que
se mostram mediadas pelo aparato de leis e normas. Uma imbricao
entre um modelo social ou scio-poltico, visto que a existncia de uma
estrutura organizacional jurdica pressupe a existncia de um sistema de
foras e relaes de conquista e manuteno de poder
381
, e as relaes
de autoridade, digamos, na vida privada
382
, alteradas pelas estruturas
mas tambm alteradoras destas estruturas.
Ainda que no de forma explcita, ou atrelada a uma ideologia, a
obra de Kafka se torna poltica exatamente pela temtica abordada e pela
forma que tal temtica se apresenta na estrutura da prpria obra. Para
muitos, Kafka considerado um realista, mesmo que tal realismo se
mostre por meio de imagens que no parecem ter ligao com a
realidade. Ou seja, sua obra realizaria uma abordagem objetiva da
realidade, estaria engajada neste real.
380
Constituindo-se, de certa forma, em um plano de imanncia da obra kafkiana. Burocracia
e poltica so terrenos imbricados. KORFMANN (2009, passim) levanta uma hiptese
bastante plausvel que relaciona a simpatia de Kafka pelo pensamento de esquerda a seu
trabalho como funcionrio pblico: Kafka fez carreira como funcionrio pblico na Arbeiter
Unfall- Versicherungs Anstalt, chegando a uma posio gerencial intermediria. Alm
disso, produziu artigos especializados sobre sua rea, que deviam classificar empresas
industriais quanto a seu grau de perigo para a sade dos trabalhadores. Para uma
compreenso melhor de processos industriais, frequentou cursos sobre tecnologia mecnica
na Universidade de Praga e visitava regularmente as fbricas, onde via de perto os danos
fsicos causados pelas mquinas, descrevendo as consequncias em textos ilustrados.
Como via os efeitos da mecanizao nos indivduos, inclusive descrevendo amputaes e
episdios de invalidez de trabalhadores em tais papers, aproximou-se do pensamento pr-
proletariado.
381
Emprestando tal definio de poltica do pensamento de Maquiavel. O poder dos
funcionrios da Justia sobre os destinos de Josef K., assim como o poder de Klamm sobre
o agrimensor, deriva de suas posies dentro deste socius narrado por Kafka.
382
O que j foi tratado, ainda que de forma incompleta, no tpico sobre a burocracia, e que
visvel em diversos relacionamentos dos personagens dos contos e romances. Avanando
neste paralelo em direo vida pessoal de Kafka e sua imbricao com sua obra, a Carta
ao Pai se torna eminentemente poltica, visto que no se esgota na relao edpica, mas
aponta para um conflito de geraes ou de autoridades, resultante de diferentes vises de
mundo. Retorna-se aqui ao conceito de menor, ou revolucionrio, em Deleuze: a expresso
de uma diferena frente a um padro dominante.
146
O objeto a ser pensado, ento, no a busca por um
posicionamento poltico-ideolgico panfletrio na obra kafkiana, mas
entender como a questo poltica pode ser um dos componentes em sua
prpria elaborao e quais caractersticas desta obra provocariam tal
efeito.
O estranhamento uma poltica da obra kafkiana, um modo de agir
por meio da escrita que visa comunicar uma mensagem, assim como
provocar um efeito especfico e intencional sobre o receptor de tal
mensagem
383
. Conforme j visto no decorrer deste trabalho, o prprio
autor via tal provocao, tal situao de deslocamento/desloucamento,
como uma ao calculada em seu texto
384
. Tal ao possui um carter
poltico, de acordo com a definio usada para este termo que agora
abrange todo o processo da existncia. Qual seria ento a interpretao
poltica possvel para o estranhamento na obra de Kafka?
A no-familiaridade a partir do familiar, ou a sensao de ser um
estranho em sua prpria terra, coloca a realidade sob suspeita. Kafka
deslouca a aparncia aparentemente normal do nosso mundo louco, para
tornar visvel sua loucura
385
. O deslocamento gerado pela narrativa do
autor checo nos remete ao pensamento de Adorno sobre a imbricao
entre a forma-contedo da obra de arte e o mundo que a suporta, no
sendo possvel abdicarmos de um polo em benefcio do outro; a fratura do
texto (presente desde a economia da linguagem at a passagem entre
383
Pode-se, a partir desta observao sobre Kafka, apontar a existncia de uma economia
politica da literatura: as regras internas da obra, regras de ao narrativa que conduzem os
modos de ao e de relao autor-texto-leitor, mediando seus efeitos e impactos.
384
Cf. nota 188: a escrita como o machado que rompe o mar de gelo que h nas pessoas e
em cada indivduo. Carone observa que, em A Metamorfose, a preciso da expresso
ungeheueres Ungeziefer (inseto monstruoso) mostra o cuidado de Kafka com a linguagem e
com aquilo a ser transmitido. Como etimologista amador, o autor checo saberia exatamente
o efeito da repetio do prefixo un (que cria uma atmosfera negativa para o desenrolar da
novela), assim como o da escolha da palavra ungeheuer, que etimologicamente significa
aquilo que no mais familiar, ou seja, estranho, opondo-se a geheuer, ou familiar.
Interessante observar que tal palavra acaba por ter significado muito prximo se no igual
- relao unheimlich/heimlich, que tambm designam o estranho e o familiar.
385
ANDERS, 2007, p. 15
147
situaes aparentemente inconciliveis) indicia
386
pois no se trata de
apenas alegorizar os contrastes e contradies da realidade: Ele
[Kafka] o criptograma da fase final e resplandecente do capitalismo, que
Kafka excluiu para determin-la mais precisamente em sua
negatividade
387
.
A obra de arte acaba por assumir o papel do negativo em relao
realidade na qual foi engendrada, abrindo um campo que pode ser
reconhecido como uma alteridade a esta realidade. Mas uma alteridade
que contm em si os elementos da prpria realidade geradora. Assim, a
relao entre arte e sociedade no mediada, e sim direta. Para COHN,
os componentes fundamentais do processo histrico-social
no interior do qual a obra produzida esto incorporados
nela, na forma da obra. Adorno no vai procurar elos
intermedirios entre a msica de Beethoven e a sociedade
europeia ps-revolucionria e napolenica. Vai procurar a
marca dessa sociedade na tessitura das obras mesmas, nos
problemas que o compositor enfrentou para dar conta do
material ou seja, do conjunto de elementos tcnicos e
construtivos historicamente constitudos de que dispunha e
nas solues encontradas na efetuao da lgica interna
da lei formal na composio de uma sinfonia, por
exemplo.
388
O mundo onde a obra de Kafka surge j um mundo em
transformao, onde as contradies que desenham o presente esto
386
Em Semitica, o ndice um signo que situa o fato, o indicando no espao e no tempo.
quando o significante remete ao significado tomando como base a experincia vivenciada
pelo interpretante (PEIRCE, apud CARDOSO, M. 2012, p.166). Por exemplo, ao ver uma
imagem de um carro sem a maaneta, estando apenas um buraco no seu lugar, isto um
ndice de uma tentativa de assalto. Mas isso s se torna evidente porque temos
experincias anteriores com assaltos, seja atravs de experincias pessoais, seja por
reportagens vistas no telejornal dirio. Para Peirce, o ndice opera pela conexo de
contiguidade de fato entre dois elementos, porm no de forma alegrica mas referencial: o
que prximo ao fato remete a ele, mas no o cita diretamente nem o narra de forma
pictrica. Utilizamos a palavra indiciar para se referir a este processo pois a raiz indcio
possui o significado de sinal ou fato que deixa entrever alguma coisa, sem a descobrir
completamente, mas constituindo princpio de prova (Dicionrio MICHAELIS online). Kafka
no acusa a realidade de ser catica, mas aponta os indcios disso.
387
AsK, p. 252
388
COHN, 1986, p.20
148
tambm indiciadas na obra: as estruturas que cercam o indivduo e a
relao entre desejo, sublimao e ato na construo do eu social o que
caracteriza a insero do indivduo na sociedade, esta um constructo no
qual os signos do capital se transformam no modo de vida e nos cdigos
culturais que unem a coletividade.
A Metamorfose nos traz uma possibilidade interessante de anlise
nesse sentido: Gregor, o arrimo da famlia, est em um ponto de sua
carreira no qual j no um simples trabalhador braal, mas no chegar
a uma posio de chefia at mesmo pelo fato de ser um profissional
relativamente autnomo pertencente pequena burguesia
389
. A
transformao em inseto traz, em primeiro lugar, a preocupao com a
relao de trabalho e com possveis punies por parte do chefe, com a
consequente decadncia financeira que isso pode trazer famlia,
devedora ainda por cinco ou seis anos
390
. Mas tambm um obstculo
ao desejo de liberdade de Samsa, pois no conseguir quitar o dbito
significa a permanncia do estado de coisas. Se a transformao em
inseto uma priso para o corpo, impossibilitado de trabalhar, e da
mente, incapaz de sair do pensamento prtica, a manuteno da
humanidade de Gregor seria a sua prpria priso dentro do sistema
391
.
389
Em alguns dos principais textos de Kafka, os protagonistas parecem se encontrar dentro
de um estrato social caracterizado por certa autonomia em relao ao trabalho braal, mas
nunca em posies de real destaque na cadeia de produo e valor. Exemplos: o mdico da
provncia; o agrimensor K., contratado por empreitada; o caixeiro-viajante Samsa; Josef K,,
o bancrio; a famlia de comerciantes em O Veredicto. O tecido social abordado parece ser
o que Marx chama de pequena burguesia, a popular classe mdia, ou mediana como seus
personagens; uma literatura de uma burguesia decadente.
390
EFK, p. 228. A dvida vista por Gregor como aquilo que o impede de declarar sua
independncia do trabalho que o extenua: a dvida dos pais um tipo de priso para o filho.
Alm das implicaes bvias relacionadas tradio judaica, ao pecado e psicologia, tal
questo pode ser vista como uma referncia perda de identidade do ser dentro do socius,
assim como do peso das relaes econmicas normatizando as aes e os vnculos
familiares (a micropoltica da famlia).
391
Conforme Adorno, em Kafka a origem social do indivduo revela-se no final como a fora
que o aniquila (apud CARONE, p.224). Pode-se entender tal origem social como a famlia,
pela interpretao de Carone, que realiza uma inverso da figura de Gregor: de parasitado a
parasita da famlia, aquele que impede que as potencialidades surjam e que obriga a todos
na casa a ajustarem sua vida ao problema do filho-inseto, que agora nem mesmo colabora
para a renda da casa. Mas tambm possvel ver tal origem como um indicativo das
relaes de trabalho e da problemtica do sujeito: o indivduo preso s engrenagens do
sistema, que o define como homo oeconomicus e que forma suas noes de personalidade.
149
J em O Processo temos outro tipo de relao poltica: indivduo
versus aparato de Estado, ou a ausncia da liberdade mesmo quando ela
aparenta ainda existir. Quando Josef K. vai procurar Titorelli, este diz que
nunca presenciou algum caso no qual o acusado fosse absolvido.
Esqueci de lhe perguntar primeiro que tipo de libertao
deseja. Existem trs possibilidades, ou seja, a absolvio
real, a absolvio aparente e o processo atrasado.
Naturalmente o melhor a absolvio real, s que no tenho
a mnima influncia sobre esse tipo de soluo. Na minha
opinio, no existe nenhuma pessoa que pudesse ter
influncia sobre a absolvio real. Provavelmente, aqui
decide apenas a inocncia do acusado. Uma vez que o
senhor inocente, seria de fato possvel que confiasse
apenas na sua inocncia. Mas a no precisa de mim nem de
qualquer outra ajuda.
392
Se no h como fugir ao peso da lei e a condenao certa, a
liberdade apenas retrica, o que valeria tanto no processo de Josef K.
como nos processos ditos cotidianos, no prprio desenrolar de sua
existncia individual em inter-relao com o mundo: a diferena que a
absolvio aparente exige um esforo concentrado e temporrio, e o
processo arrastado um esforo muito menor, mas duradouro
393
. O
A classe social como origem do pensamento que aliena e ideologiza, afastando o indivduo
do seu semelhante. O sujeito tambm sujeitado pela estrutura.
392
P., p. 164
393
P., p.168. Deleuze v esta frase de Kafka como o indicativo de passagem de modelos
sociais entre as sociedades disciplinares e as de controle: Nas sociedades de disciplina no
se parava de recomear (da escola caserna, da caserna fbrica), enquanto nas
sociedades de controle nunca se termina nada, a empresa, a formao, o servio sendo os
estados metaestveis e coexistentes de uma mesma modulao, como que de um
deformador universal. Kafka, que j se instalava no cruzamento dos dois tipos de sociedade,
descreveu em O processo as formas jurdicas mais temveis: a quitao aparente das
sociedades disciplinares (entre dois confinamentos), a moratria ilimitada das sociedades de
controle (em variao contnua) so dois modos de vida jurdicos muito diferentes, e se
nosso direito, ele mesmo em crise, hesita entre ambos, porque samos de um para entrar
no outro. (Conv., p.252). O fato do processo ser prorrogado indefinidamente poderia
significar, na viso de alguns, a conservao da liberdade por mais tempo antes da
execuo da sentena, mas isso pode ser visto tambm como um novo tipo de priso, sem
grades: a sociedade moderna. A priso como segmentaridade rgida (celular) remete a uma
funo flexvel e mvel, a uma circulao controlada, a toda uma rede que atravessa
tambm os meios livres e pode aprender a sobreviver sem a priso. Parece um pouco com
a prorrogao indefinida de Kafka, que j no necessita de deteno nem de condenao
150
discurso da liberdade esconde em si um subtexto de disciplina e
normatizao em trechos como a apresentao de Josef K. ao juiz de
instruo (em que o protagonista padece da iluso de controle sobre o
rumo do processo) ou todo o encontro do protagonista com o sacerdote,
quando a entrada pela porta, ou a libertao do tormento da espera,
guarda em si a aceitao de todo o texto da Lei, assim como da hierarquia
relacionada a este. A liberdade o sonho de angstia de Kafka
394
. O
estranho aqui reside no fato de que ao tentar entrar na Lei, o homem do
campo se mostra j dentro dela, mas pelo lado de fora, seguindo
escrupulosamente as determinaes do representante desta
legalidade
395
. Seguindo a Lei sem estar nela: quando a porta se fecha, o
homem do campo j est para dentro, e o que se cerrou foi a sada.
Como nascemos imersos dentro de um sistema de relaes sociais,
a possibilidade de sada se tornaria inexistente. A negao do sistema
(seja pela ausncia do trabalho ou at da vida) apenas o reafirmaria, e a
anulao mxima do indivduo (o alienar-se de si, substitudo ou por uma
(Conv., p. 161). O novo modelo apontado por Kafka chega para substituir a lei, smbolo e
ferramenta das sociedades disciplinares, mas esta nova mquina transcendente, esta nova
organizao normativa descontnua e horizontal, ainda no est desenhada, logo no temos
a noo clara de sua operao. O processo contra Josef K. abriga esta dupla situao de
ser regulado por um dispositivo legal hermtico e definido (com incio, meio e fim) e
simultaneamente no ter incio (ningum sabe quem caluniou Josef K. e do que ele foi
acusado) nem fim. Conforme CHEVITARESE e PEDRO (2003) Compreender O Processo
como um romance interminvel significa renunciar ao final proposto no Cap. X.: a
execuo de K. Deleuze destaca que nada nos diz que o captulo final tenha sido escrito ao
fim do Processo; pode ser que ele tenha sido escrito no incio da redao (...) Poderia ser
um sonho situvel no correr do romance (...) Essa maneira de termin-lo pela execuo de
K. contradita por toda dmarche do romance, e pelo estado de prorrogao ilimitada que
regula o Processo. (DELEUZE, 1977, p. 66 grifos nossos)
394
ANDERS, 2007, p. 37
395
A ausncia de liberdade se d exatamente onde mais ela parece existir: o homem do
campo ainda no est oficialmente dentro da lei, ou seja, seria livre. Mas j segue os
ditames desta, ainda que do lado de fora da porta. Tanto para Adorno como para Deleuze,
tal assincronia entre a liberdade e sua negao so caractersticas dos tempos em que a
deciso das pessoas em seguir o sistema no se d pela ordem, mas pelo convencimento
efetuado pelos meios de comunicao e da expanso desenfreada da tecnologia, seja com
as nomenclaturas de Sociedade Administrada (Adorno) ou Sociedade de Controle
(Deleuze). Quanto maior a liberdade aparente, menor a de fato, pois as opes para o
exerccio de tal liberdade seja do consumo, da informao, do entretenimento - j esto
determinadas previamente, produzindo subjetividades pr-fabricadas e controladas, s quais
o prprio indivduo busca desesperadamente se adequar para se sentir nico e
simultaneamente como pertencente ao grupo.
151
coletividade forada ou por uma individualizao artificial) condio de
princpio da organizao hierrquica da sociedade. A cena de Na Colnia
Penal, na qual o oficial programa a mquina de tortura para execut-lo
impiedosamente, didtica neste sentido: a eficincia completa da
mquina tambm a negao da vida; a perfeio do ato a completa
destruio do agente; a realizao plena do desejo de conservao do
sistema combinada com eficincia tcnica a toda prova. O oficial encontra
seu fim (ou objetivo) em sua mais completa alienao: o alienar-se de si
mesmo em prol das mquinas sociais, machina machinarum reguladora da
relao ato-vontade
396
. E assim como o oficial, vivemos da mesma forma,
longe de ns mesmos e dentro da mquina
397
: Kafka coloca-nos em
situao de desconforto, pois tal abandono que est oculto no cotidiano se
desvela em especial crueza em sua obra.
No este o mundo que o escritor checo deseja para si ou para
qualquer pessoa: em suas prprias palavras,
Voc pode se conter diante dos sofrimentos do mundo -
algo que tem liberdade de fazer e corresponde sua
natureza, mas talvez seja esse autocontrole o nico
sofrimento que voc poderia evitar
398
.
396
Para Deleuze, o que sofre ou goza em Kafka no um pai, um super-eu ou um
significante qualquer: j a mquina tecnocrtica americana, ou a burocrtica russa, ou a
mquina fascista (K., p. 21). Uma situao na qual o conceito de individualidade j est
perpassado pelas potncias diablicas de um mundo que como o pai da Carta: tcnico,
funcional, rpido (o que refora a viso benjaminiana da relao entre figuras da burocracia
e figuras paternas em Kafka). Considerando que a literatura menor tem como uma de suas
caractersticas tal carter poltico, ou no mundo, indivduo e sociedade existem em
interpenetrao, e tal carter no d espao para dilogos dentro do tringulo pai-me-filho,
j que esta relao familiar tocada e esgarada por outras, externas e sociais, que
concorrem em sua composio: a histria de um seja ele Gregor ou Josef K., ou o rato
que nos conta sobre Josefina a histria de todos, a histria que se guarda em si contra
este mundo e a deste prprio mundo. Nas palavras do prprio Kafka, novamente, a
literatura tem menos a ver com a histria literria do que com o povo (Dirios, 25 de
dezembro de 1911).
397
A dimenso poltica da alienao e da perda de si j foi abordada no decorrer do
trabalho, mas nunca demais reforar que a fragmentao da conscincia de si possui
relao direta com a incapacidade de um indivduo ou de um povo de estabelecer cadeias
de ao social de acordo com seus interesses e os da coletividade, tornando-se passvel de
manipulao por um sistema de processos dos quais muitas vezes o indivduo nem
desconfia. Este carter de ingenuidade ou ignorncia do indivduo perante o sistema est
presente em diversas obras de Kafka.
398
Aforismo 103. EFK, p. 206
152
Da anlise desta passagem, surgiria um Kafka surpreendentemente
interessado no que se passa em torno de si. A viso de um Kafka alheio
ao mundo, tradicionalmente atribuda ao autor, no parece fazer sentido
se aplicada a este aforismo, visto que evitar o sofrimento do autocontrole
perante aquilo que o mundo traz de daninho equivale a sair da
imobilidade em direo a algum tipo de ao. A perda do controle, no
caso, uma escolha de engajamento: algo que no o imobilismo precisa
ser feito, para que ao menos este sofrimento seja evitado. No se fala de
um confronto direto ou de um engajamento nos moldes revolucionrios,
mas sim de algo que poderia ser definido como a astcia
399
de Kafka: a
denncia velada, a referncia a algo que no est escrito. A alegoria literal
como o que cria o espao/estranhamento.
Ao adotarmos a definio de que a arte algo que resiste ou desafia
a sua prpria representao, algo que mais do que nos mostrado
imediatamente, a leitura da obra de Kafka permite - por sua astcia - uma
aproximao severa entre o carter poltico evidente da literatura menor
deleuziana (atravessada pelo meio social onde se desenvolve) e a
assertiva adorniana de que no h mediao entre arte e sociedade (pois
a mediao, conforme Adorno, no se limita a perguntar como a arte se
situa na sociedade, mas reconhece como a sociedade se objetiva nas
obras de arte
400
). Esta toro do dilema poltico da esttica supe uma
outra toro na prpria definio do processo da arte
401
, tomado agora
uma forma de resistncia a todo um sistema/mundo no qual ela surge.
Fala-se ento de resistncia no apenas no sentido de oposio ou
combate como tambm de afirmao de um modo de existncia. Trata-se
399
A observao de Adorno sobre a relao de Kafka com o poder e o mito funciona de
forma precisa neste contexto (Kafka no pregou a humildade, mas um comportamento mais
testado contra o mito: a astcia. AsK, p. 268). Poltica e cadeias de poder esto
intrinsecamente ligadas.
400
ADORNO, 1988, p.114
401
RANCIRE, Jacques. Ser que a Arte resiste a alguma coisa? Artigo disponvel em
http://www.rizoma.net/interna.php?id=316&secao=artefato. Publicado em 17/12/2008.
Acessado em 17/03/2009 s 14:01h
153
de uma re-existncia, j que na atualidade, s a vida capaz de
resistir
402
. Dessa maneira, as figuras criadas por Kafka ganham novas
possibilidades de interpretao: novas existncias, reinventadas por meio
do estranhamento que causam
403
.
Podemos ver a morte do oficial no conto Na Colnia penal como a
eptome deste descortinar de possibilidades de ao e como uma forma de
colocar tal problema em discusso. Para Deleuze, com a execuo o
homem introduz-se completamente
404
na mquina, impregnando-a de
humanidade. Na negao determinada de Adorno, trata-se de afirmar o
humano em oposio completa mquina. Mas a resistncia, no caso,
ocorre pela integrao para destruir/recriar, pela oposio direta de foras
ou surge de uma imbricao tensa de ambas as vises?
Cremos que no desenvolvimento deste trabalho tal tenso pde ser
mapeada, ainda que certamente de forma incompleta, tanto na anlise da
linguagem como da estrutura da obra de Kafka, tornando possvel
402
ROQUE, 2003, pp.24-25 apud CHEVITARESE (2003). A resistncia soa como uma
contrainformao em relao sociedade, como ato de negao ou de ressignificao. Um
ponto de fuga descolado simultaneamente do protagonista, da histria e do leitor, como o
narrador original de Kafka. Malraux, citado por Deleuze, dir que a arte a nica coisa que
resiste morte (O Ato de Criao, conferncia publicada na Folha de S. Paulo de
27/06/1999), Ou seja, permanece para alm desta. resistncia no espao e no tempo,
assim como uma prtica de resistir. A re-existncia, em um quadro como o que se vivencia
atualmente (cfe. VIRTANEN) exigiria a ressignificao do chamado pathos da distncia, a
subjetividade humana sem nenhuma direo ou tarefa especfica, aptica, indiferente e que
possui uma imunidade paradoxal para qualquer tentativa significativa de organizao (p.
66). Esta reorganizao somente seria possvel se, partindo desta apatia, buscssemos
invert-la: da ambivalncia ou instabilidade resultante do isolamento do ser humano de si
mesmo e do convvio com o outro poderiam advir novas relaes de cooperao. A obra
kafkiana, ao mostrar a fratura do Eu, apontaria a necessidade de super-la, tendo como
ponto de partida esta mesma fratura. Assim, o sujeito ainda existente no interior da
subjetividade definida pelo mercado e o processo de resgate deste sujeito de dentro desta
subjetividade constituda passa a ter um carter poltico. Isso torna esta linha de
pensamento muito similar apresentada por Adorno, j abordada anteriormente.
403
Continuando a relao entre existncia, resistncia e morte, que poderiam caracterizar o
processo da arte como um todo (e no somente em Kafka), Deleuze observa que basta
contemplar uma estatueta de 3.000 anos antes de Cristo para descobrir que a resposta de
Malraux uma boa resposta. Poderamos dizer ento, de forma mais tosca, do ponto de
vista que nos interessa, que a arte aquilo que resiste, mesmo que no seja a nica coisa
que resiste. Da a relao to estreita entre o ato de resistncia e a obra de arte. Todo ato
de resistncia no uma obra de arte, embora de uma certa maneira ela faa parte dele.
Toda obra de arte no um ato de resistncia, e no entanto, de uma certa maneira, ela
acaba sendo (idem)
404
K., p 26
154
reconhecer em sua produo os sintomas de um processo poltico-social
que atinge seu pice no presente: a coisificao do homem e as mudanas
sociais que originam tal processo e simultaneamente decorrem dele.
Conforme j visto, Adorno localiza Kafka como algum que evidencia o
funcionamento da sociedade burocrtica administrada. J Deleuze
caracteriza o escritor checo como aquele que, com sua obra, representa a
passagem entre os dois modelos sociais apresentados em sua produo
filosfica: as sociedades disciplinar e de controle.
Apesar das diferenas de terminologia ou de aparatos de
conceituao, temos uma coincidncia de objeto/processo histrico
405
. Se
Adorno declara que Kafka traz o conceito da desumanizao e da
estranheza ao eu para a berlinda, Deleuze v esse homem perdido no
mundo no cruzamento dos modelos que indica. Mantendo-se em terreno
deleuzoguattariano, desnudar os escritos kafkianos equivaleria a
especificar o funcionamento dos dispositivos que estruturam estes
desenhos de sociedade:
S acreditamos numa poltica de Kafka, que no nem
imaginria nem simblica. S acreditamos numa ou em
mquinas de Kafka, que no so nem estruturas nem
fantasma. S acreditamos numa experimentao de Kafka,
405
CHAU (2012, informao verbal), a partir da leitura de Merleau-Ponty e Claude Lefort,
observa que o momento histrico imanente obra do pensamento (categoria na qual
podemos incluir tanto a filosofia como a arte/literatura), pois toda produo (a escrita, por
exemplo) uma apreenso (leitura) do e no momento em que a obra produzida. Quem
escreve l o que escreve ao mesmo tempo. Assim, a obra de um autor trataria
simultaneamente do momento espao-temporal em que escrita e do que ela aponta para o
devir (agora presentificado) ou, ainda, aquilo que permanece e tem carter, digamos,
universal. A prpria interpretao da obra por aqueles que a recebem compe o corpus da
obra. A obra de Kafka teria em si, de forma intrnseca e imbricada, o momento histrico no
qual foi produzida, as questes pessoais e poltico/sociais, o indicativo dos processos que
ocorrem a partir desta escrita em direo ao futuro e at mesmo as mais diversas
interpretaes possveis para seus textos - tambm elementos constituintes da obra em si.
Uma obra do pensamento que perdura a que fala simultaneamente ao presente e ao que
vir, pois sempre levantar questes maiores do que sua circunscrio imediata. A
expresso adorniana de que a autoridade de Kafka emana dos textos (no que Deleuze
concorda) no significaria, ento, reduzir sua leitura a uma exegese ou a um formalismo
metodolgico, mas exatamente conhecer seus elementos constituintes, suas interpretaes
(mesmo para descart-las) e suas linhas de fuga (utilizando um termo deleuziano
propositadamente) imanentes obra do autor checo.
155
sem interpretao nem significao, mas somente protocolos
de experincia
406
A relao entre arte e poltica se torna explcita: aquela, trespassada
pelas linhas de fora do mundo que a abriga, uma experincia que se d
no dito real, e seus efeitos so sentidos neste tecido. Neste ponto, os
conceitos de Deleuze e Adorno se completam rumo a uma definio de
arte menor, compartilhando as mesmas caractersticas. A arte poltica
decorre, ento, de sua insero no mundo da vida como forma de
resistncia.
Viver em si um ato poltico - o estar em relao com o que o cerca
- e o estar no mundo algo sempre presente em Kafka, mesmo que em
uma sala ao lado, mesmo que de forma marginal. O artista contempla de
fora e ao mesmo tempo est imerso no mundo, como Gregor Samsa
eternamente preso no quarto enquanto tudo se passa nos ambientes
contguos, mas nem por isso deixando de atuar. Resiste-se s potncias
diablicas
407
do mundo no prprio mundo.
O papel do desejo e da pulso tambm ganha uma nova dimenso,
pois antes era fruto da interdio realizada pela lei (era submetido e
impunha sua prpria submisso): no dipo que produz a neurose, a
neurose (...) que produz dipo
408
, o valor de mercado da neurose. Deve-
406
K, p. 17
407
Construindo um paralelo entre Deleuze e Lyotard, se estas potncias diablicas
(fascismo, stalinismo, tecnocracia) representam o inumano da sociedade, Kafka responde a
isto revelando as possibilidades contra este inumano por meio de suas figuras sub-
humanas: o tornar-se animal, o devir-animal como macaco, inseto, cachorro - no como
arqutipo ou substituto do pai, mas como intensidades liberadas onde os contedos se
libertam das suas formas assim como de sua expresso, do significante que o formaliza (K,
p. 13)
408
K., p. 21. Deleuze e Guattari combatem com especial fria o que chamam de
psicanalizao excessiva de Kafka, principalmente nas leituras da Carta ao Pai, vista como
eptome de um complexo de dipo latente (ou manifesto) na obra. Porm, segundo o prprio
autor - e de acordo com seu bigrafo - no h este trao nos textos, e no se trata de
sublimar pulses, o que mostra um embate intrigante entre a ideia da literatura como
expresso da intimidade de um autor (ou como representao de um Eu ou de um recorte
especfico no tempo e espao) e a produo de linhas de fuga em relao aos cenrios
descritos: Kafka sabe perfeitamente que nada disso verdade: a sua inaptido para o
casamento, a sua escrita, a seduo do seu mundo desrtico intenso tm motivaes
156
se entender a neurose, ento, para alm do desejo j submetido que
busca comunicar sua prpria submisso
409
, j que um desejo no algo
que tenha existncia ontologicamente determinada, no autnomo em
si. A categoria de desejo pressupe uma relao direta com uma
subjetividade e uma coletividade (um socius): o desejo um processo em
um indivduo ou coletividade, no uma forma ou um ente.
A neurose sim representa um ente externo, as `potncias
diablicas que se alegram sem medida por poder irromper em ns
410
.
Como em um jogo de polaridades, temos pares conceituais operando no
bloqueio e ao mesmo tempo no estmulo deste desejo: represso e
impulso, auto-alienao e recalque, autojulgamento e condenao
411
. E a
produo e experimentao surgem como forma de vencer a interdio da
neurose
412
: o desejo agora se torna excesso, produo que se afirma a si
mesma - se torna poltica, prxis.
Kafka tematiza, por meio de sua prosa econmica e tensa, a poltica
como sistema de regras e (des)organizao de uma sociedade em
mutao
413
. E tambm a poltica (o modo de ao e organizao) do ser
humano ao buscar uma maneira de lidar com esse processo
414
. A pena de
totalmente positivas do ponto de vista da libido, e no so reaes derivadas de uma
relao com o pai (K., p. 15)
409
K., p. 15
410
K., p. 23
411
Tal jogo de polaridades poderia ser estabelecido tambm entre resistncia e mundo, mas
de uma forma que nos leve a uma superao deste por aquela. Apesar da recusa clara de
Deleuze formao de qualquer sistema, principalmente polar ou dialtico, esta recusa no
um impeditivo ultrapassagem, se pensarmos que o rizoma - figura-base dos
agenciamentos deleuzianos - pode ter elementos em oposio e que essa oposio seja o
que impulsione ao devir, sem a obrigatoriedade de uma sntese dos opostos: uma inverso
dialtica da prpria dialtica que criticada. Leituras mltiplas, como rizomas, so sempre
bem vindas, e da multiplicidade brotam novos significados que so, em si, revolucionrios.
412
VIRTANEN (2011) observa que, no quadro social atual, a neurose no se caracteriza
mais por uma interdio de significados ou do desejo, mas por uma psicose relacionada
sobrecarga de energia e informao (p.59) e consequentemente pela perda de centros de
sentido que operem como referenciais. Se o excesso pode romper a interdio, pode
tambm criar novas cadeias de arbtrio.
413
Cf. nota 392
414
BOSI (2008) observa que a relao entre narrativa/literatura e resistncia se d, de
praxe, em dois nveis: quando a resistncia o tema da narrativa (como a literatura de
resistncia na Frana, com profundo compromisso tico e poltico o engajamento
sartreano) e quando ela forma imanente da escrita, ou quando suas tenses internas nos
levam posio de desvelamento da relao sujeito/contexto existencial e histrico. Assim,
157
Kafka volta-se ento no contra ele mesmo, como em um tribunal ntimo,
mas contra seu tempo
415
. Para Deleuze, um escritor no um homem
escritor, seno um homem poltico
416
. Para Adorno, no h sistema sem
resduo. Contemplando-o, Kafka profetiza o futuro
417
. J Kafka mostra
um otimismo ou esperana insuspeitos na capacidade do ser humano
de sair de seu sonambulismo:
A maioria dos homens no ruim - disse Franz Kafka
enquanto falvamos do livro de Leonhard Frank, O homem
bom. - Os homens tornam-se maus e culpados porque falam
e agem sem imaginar o efeito que tero suas palavras e
conforme o autor, a resistncia seria um movimento interno ao foco narrativo (p. 134). Em
Kafka, a segunda acepo do termo facilmente percebida, mas para Bosi a primeira
tambm presente. A coexistncia de absurdo e construo de sentido, de desespero
individual e esperana coletiva; (...) de escolha social arrancada do mais fundo sentimento
de impotncia individual (p.128) que caracterizaria o pensamento existencialista engajado
politicamente esquerda (do qual Sartre, Camus, Bernanos, etc., seriam exemplos claros)
j se encontra na obra kafkiana, conforme o prprio Camus expe no Mito de Ssifo. Este
posicionamento pressupe um profundo senso tico e uma atitude de confronto que no se
d pela simples oposio, mas por uma nulificao da realidade (relaes existentes) por
meio da criao de uma linguagem/palavra radicalmente antiburguesa, no conformista,
revolucionria, voltada para a construo do novo Homem em uma perspectiva imanente
(p.129). A segunda acepo de resistncia que surge da tenso causada pela prpria
linguagem no resgata apenas o que foi dito uma s vez no passado. (...) Tambm o que
calado no curso da conversao banal, por medo, angstia ou pudor soar no monlogo
narrativo, no dilogo dramtico. E aqui so os valores mais autnticos e mais sofridos que
abrem caminho e conseguem aflorar superfcie do texto ficcional (pp. 134-135). Desta
forma, a linguagem opera como maneira pela qual o sujeito pode, em vez de permanecer
imerso nos processos mecnicos do cotidiano, experienciar um deslocamento que o permita
ver a si mesmo dentro do corpus social: a escrita pode cavar um vazio nessa espessa
materialidade. O vazio, negatividade grvida de um novo estado do ser, a conscincia
jamais preenchida pelo discurso especular das convenes ditas realistas (p.134). A leitura
da Carta ao Pai como um libelo antiautoritrio e de imensa dimenso poltica ganha corpo
com tal viso, assim como as transformaes animais/humanas exemplificam tal
deslocamento.
415
Kafka prope-se a extrair das representaes sociais os agenciamentos de enunciao
e os agenciamentos maqunicos e de desmontar esses agenciamentos (K., p. 46). Mas isso
no feito apenas como denncia, mas tambm como uma desterritorializao: expandir o
processo ao limite do esgaramento.
416
K., p. 17
417
AsK, p. 253. Interessante observar a coincidncia plena entre as vises de Adorno e
Deleuze sobre esse carter poltico/proftico da obra kafkiana. O francs comenta que de
uma ponta outra [Kafka] um autor poltico, adivinho do mundo futuro (K., p. 119).,
reforando a definio de poltica como a relao das foras sociais e da arte como forma
de captura e entendimento das interaes de tais foras. Uma arte poltica/social na sua
forma mais direta. Logo, uma arte que no pode ser vista como uma interpretao ou
representao, mas como um protocolo social-poltico (K, p. 73), como destacamos.
158
seus atos. So sonmbulos, no patifes.
418
Ao mesmo tempo que sua arte poltica por ocorrer em um mundo
que a suporta, Kafka abre a expanso das possibilidades de ao neste
mundo, talvez visando despertar o homem de seu sonambulismo. A Kafka
se aplica a ideia de que a literatura, por ser fico, resiste mentira.
nesse horizonte que o espao da literatura, considerado em geral como o
lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente
419
: o lugar
onde o autor cumpre o compromisso consciente com tal despertar da
conscincia.
Por meio da literatura, Kafka coloca-se
420
margem de si, como um
duplo de si mesmo, um inseto ou um animal falante, enquanto interage
com o mundo - nos libertando das cadeias da existncia cotidiana
421
- e
abre a possibilidade de realizar tanto a denncia como uma ressignificao
de um novo mundo, efetuando uma cartografia do outro de todo o
mundo, o que faz do mundo um outro (...) tornando assim possveis
resistncias inditas, assim como vozes inauditas
422
. Vozes de
estranhamento, que nos dizem muito mais do que o que est escrito.
418
JANOUCH,1971, pp. 112-113
419
BOSI, 2008, p.135
420
E tambm nos coloca margem de ns mesmos no processo.
421
PELBART, 2000, p.298
422
idem
159
Excurso: FORMA E ESTILO
Alguns elementos da obra kafkiana foram objeto de uma anlise
mais atenta tanto por Adorno como por Deleuze. Em especial, h um
elemento que, apesar da diferena de terminologia entre os autores
citados, parece estar em destaque para ambos. Se, para estes dois
pensadores, a dimenso poltica de uma obra estaria expressa em sua
prpria escrita, como isso aproximaria as definies de forma da obra, por
Adorno, e estilo de uma obra, por Deleuze, no apenas nas anlises sobre
o escritor checo, mas em tudo aquilo que chamado de trabalho do
pensamento?
necessrio retomar estes conceitos para averiguar a possibilidade
de sua articulao. Para Deleuze, o estilo de um texto o como algo
dito - parte integrante do prprio conceito a ser descrito no texto, ou
seja, do que dito. Na histria do pensamento, um mesmo objeto
(mental, social, etc.) abordado de forma diferente por filosofias
diferentes at mesmo pelo uso de um outro lxico, gramtica ou idioma.
interessante observar que aquilo que Hegel atribui Arte Grega
(ou seja, que esta s poderia ser da forma que era, naquele tempo e sob
aquelas condies especficas) reaparece aplicado ao trabalho do
pensamento de forma tortuosa mas instigante: uma filosofia no
definida apenas pelo tempo na qual foi elaborada, mas pelo prprio fato
de ter sido elaborada daquela forma, ou melhor, pelo estilo em que foi
elaborada. E o estilo de um filsofo parte integrante de sua filosofia.
A definio de estilo, de acordo com a anlise literria, consiste nos
diversos tipos de linguagens usadas na elaborao de um discurso, de
forma a que este discurso seja compreensvel e identificvel pelo leitor.
Desta forma, possvel dizer que estilo
a forma peculiar de manifestao pela palavra. Assim como
socialmente h um estilo de roupa para vestir, h tambm
160
um estilo na forma de apresentar pensamentos ou
sentimentos atravs da palavra
423
.
A funo dos personagens conceituais, como figuras de estilo,
apresentar uma resposta questo que motiva a sua criao, mas tal
resposta est subsumida s condies que geraram sua problemtica
motriz (o que inclui at mesmo questes geogrficas, tradies culturais,
idiomas, etc. Um exemplo disso estaria na prpria terminologia Filosofia
contempornea de matriz francesa ou matriz alem, por exemplo). Um
mesmo problema pode ser objeto de conceituaes diversas.
Nunca uma filosofia idntica a outra, portanto. Podem ocorrer
semelhanas, mas no uma coincidncia conceitual completa, mesmo com
a coincidncia de objetos que esto sob anlise. Logo, possvel o
estabelecimento de um sistema que envolva diversas filosofias, mas no
possvel entender uma filosofia por meio de outra. At mesmo os
comentadores fazem parte do corpus de estudo da filosofia principal, da
mesma forma em que a leitura de uma obra um componente da
mquina de expresso da prpria obra.
Com base nisso, a viso deleuziana poderia ser comparada ao
pensamento de Adorno de que as contradies da poca em que uma obra
gerada retornam como contradies ou elementos da forma da obra, de
sua apresentao. De acordo com Selligman, Adorno afiliado a uma
certa tradio de pensamento alem, que via na forma, na apresentao
(Darstellung), um momento indissocivel do trabalho do conceito e da
reflexo
424
. Assim
para Adorno no existiria a possibilidade de separar, sem
mais, o contedo da forma de uma obra. Toda tentativa de
reduo representaria uma traio do original - e isso no
423
FERREIRA, 2012, p.2
424
SELIGMANN, 2009, p.6. A influncia hegeliana em Adorno visvel nesta questo: para
Hegel, em sua Esttica, a obra de arte a expresso (Darstellung) da verdade ideal em uma
forma sensvel, ou o resultado do trabalho humano em uma comunidade, o Esprito objetivo.
Deixando o idealismo de Hegel de lado, assim como a necessidade de sntese da dialtica
hegeliana, percebe-se a proximidade entre os conceitos citados.
161
significa de modo algum que ele reduzisse a obra a uma
intencionalidade primria, pura, que seu autor teria passado
sem mediao para o texto
425
.
Porm, isso que chamado de apresentao no poderia ser lido
como estilo? A recepo de uma obra (sua pragmtica) est diretamente
relacionada com a forma como o autor ou escritor manobra a linguagem e
a codificao oferecida ao leitor. Tudo pode ser entendido como a forma
que o autor usa para se fazer entender, ou de se fazer respeitar
esteticamente.
Quando falamos de apresentao, automaticamente se fala de
estilo, no sentido descrito acima: uma inter-relao entre forma/lxico e
contedo, na qual ambos se impulsionam e se limitam mutuamente.
Conforme Adorno, "faz parte da tcnica de escrever ser capaz de
renunciar at mesmo a pensamentos fecundos, se a construo o
exigir"
426
.
Deleuze e Adorno destacam que a prosa, em Kafka, mais do que
um veculo da obra; ela um elemento constitutivo que, em si, transmite
um significado. Das caractersticas de estilo a serem analisadas em Kafka,
no de pouca importncia a anlise da estrutura de linguagem.
Como exemplo, a anlise estatstica
427
da prosa kafkiana mostra-nos
que, na medida em que a produo do autor aumentava, o vocabulrio
utilizado recrudescia, mostrando que o estilo do autor se solidificava. O
lxico utilizado em Amerika mais rico do que o encontrado em O
Processo e O Castelo.
No nvel sinttico, fatores como a pontuao, a preferncia pelo
subjuntivo e o emprego de certas preposies e conjunes so
determinantes na produo do efeito desejado, assim como o uso de
advrbios e expresses condicionais deixa espaos livres para a
425
idem, ibidem
426
MM, p.73
427
Cfe. CURCIO (2007), in http://www.textodigital.ufsc.br/num04/veronica.html
162
interpretao daquilo que est descrito/escrito no nvel semntico.
Conforme Curcio,
Gnter Anders destaca a frequncia de subjuntivos e o forte uso
da conjuno wenn (se), e esta ltima justamente uma das
particularidades que Martin Walser prope sobre a limitao da
prosa kafkiana; so os ses das possibilidades e impossibilidades
que se manifestam tambm como as co-ocorrncias de vielleicht e
wahrscheinlich, e nas sutilezas do narrador com wie wenn, als
ob
428
.
E de que forma esta indeterminao pode nos dizer algo sobre o
pensamento de Kafka, assim como da relao entre pensamento, obra e
socius no qual o escritor estava inserido? Conforme j abordado, a
indeterminao do narrador pode apontar uma fratura no conceito de
Sujeito, o que reflete, de certa forma, o processo de perda da identidade
concomitante s mudanas nos modelos econmico e poltico que se
aceleravam desde meados do sculo XIX. A poca da perda das certezas
parece trazer a Kafka uma certa angstia em relao prpria escrita e
ao entendimento de si, o que visvel nesta passagem do Dirio
No escrevi muito sobre mim nestes dias, (...) em parte
tambm por medo de trair o conhecimento que tenho de
mim. Este medo justifica-se, porque uma pessoa s devia
permitir fixar na escrita a sua autopercepo quando o puder
fazer com a maior integridade, com todas as consequncias
secundrias e tambm com toda a verdade
429
.
As contradies de um tempo no qual as certezas do projeto
iluminista eram rapidamente substitudas pelo florescimento de ideologias
totalitrias e da alienao de si reverberam, inclusive, na ausncia ou na
negao da escrita. Segundo Pawel, a literatura, poca de Kafka, era
428
CURCIO (2007), in http://www.textodigital.ufsc.br/num04/veronica.html. Vielleich significa
talvez ou possivelmente; wahrscheinlich, provvel ou provavelmente; wie wenn
como se ou que se; als ob significa como se.
429
D., p. 23
163
vista como uma espcie de religio
430
, um sintoma de uma era de
desencantamento com a f, os ritos e as tradies: la mystique de qui ne
croit rien (a mstica de quem no cr em nada)
431
. A literatura, nesta
viso, passa a ser uma tentativa de, por meio de palavras, dar significado
ao existente.
Toda essa literatura um esforo para romper a fronteira.
No fosse pela interveno do sionismo, ela se teria
facilmente transformado num novo misticismo, numa
Cabala. H tendncias incipientes nesse sentido. O que se
faz necessrio, entretanto, algo inconcebvel, que lance
razes nos sculos ancestrais ou que as recrie por completo,
e que, ainda assim, no se desgaste na tarefa, mas apenas
d incio ao seu trabalho
432
.
Assim, a linguagem em si no pode ser mais entendida como um
meio neutro capaz de representar os objetos fsicos ou mentais de forma
plena e integral
433
. A relao entre o que dito e o como dito, ou seja,
entre significado e signo, esconde mais do que a simples intencionalidade
do autor do discurso: esta relao reproduz, sugere ou critica o prprio
meio social onde gerada e registrada
434
.
430
PAWEL, 1986, p. 95. Religio, aqui, pode ser entendida como um processo de
construo de uma comunidade, que refora (religa) seus laos por meio de atos, smbolos
e discursos. A literatura ocuparia o lugar da histria e da tradio como narrativa voltada a
possibilitar a compreenso da realidade em que engendrada e o estabelecimento de
relaes entre os componentes da comunidade. Por outro lado, esta narrativa seria capaz
de influir na percepo desta realidade, funcionando de maneira anloga a uma ideologia.
431
FLAUBERT, G., apud PAWEL,1986, p. 96.
432
KAFKA, apud PAWEL, 1986, p.98
433
A viso positivista reproduzida pelo tratamento dado linguagem pela Indstria
Cultural: um instrumento de apresentao e exaltao da imediaticidade do presente. Do
que se apresenta sem nuances ou intencionalidade. Por isso, o discurso crtico ou
questionador das relaes de produo e reproduo da cultura visto como ideologizante:
fcil ver ideologia no discurso que critica as aes cotidianas, e quase impossvel
reconhecer que suas prprias palavras e aes so carregados de ideologia. A linguagem
seria uma mimesis da realidade (ou de uma realidade), mesmo quando se refere ao
fantasioso ou quando pretensamente teria iseno em relao ao real? Seria este o carter
poltico da prpria linguagem? Esta seria a origem do carter menor de uma literatura?
434
A semelhana apontada por CURCIO (2007) entre as construes semnticas adotadas
em diversos textos de Kafka e a linguagem dos jornais praguenses poca de sua
produo, alm de nos revelar um hbito de leitura do escritor, mostraria uma estratgia da
escrita de Kafka: a semntica jornalstica, por definio, estaria atrelada a uma descrio o
164
Nunca h apenas uma voz em um discurso, mas vrias. O unvoco
no se verifica na prtica: a polifonia a caracterstica bsica de qualquer
discurso. Assim a linguagem (forma da obra) ecoa, em suas entrelinhas,
as contradies da poca na qual materializada. Pelo mesmo motivo, de
acordo com Deleuze, Kafka seria a voz de todos os judeus de Praga do
seu tempo, ou um sujeito coletivo de enunciao. Ou talvez como um
estilo de ser e se expressar de um povo
435
.
A proximidade conceitual entre os dois filsofos sob anlise no se
restringe questo de forma e estilo: conforme Seligmann, para Adorno,
filosofia acima de tudo `comentrio e crtica
436
, que s podem existir
no espao da tradio e de sua crtica calcada politicamente no
presente
437
. Assim,
nas obras de arte - musicais, literrias e plsticas - Adorno
aplicaria do modo mais original essas premissas. Para ele, a
cultura no podia ser pensada separadamente da crtica; a
esta cabe o papel de revelar a no-verdade da primeira.
Assim, na Teoria Esttica (sua ltima obra), Adorno
apresentaria a esttica como "a filosofia em si", e no como
um campo dela, ou como a aplicao de teoremas ao
universo artstico-cultural
438
.
A relao entre esttica e pensamento tambm pode ser encontrada
na produo deleuziana: o criar conceitos a atribuio mxima da
filosofia, mas que tambm realizada pela arte e pela cincia, muitas
vezes para problematizar situaes que ainda no esto nominadas ou
mais objetiva possvel da realidade ou do fato ocorrido. Ao mobilizar tal lxico jornalstico em
suas narrativas desloucadas, Kafka atribui, por meio da linguagem, status de verossmil ao
que inverossmil. A partir desta anlise de CURCIO, pode-se teorizar que este
procedimento de Kafka, em vez de tornar seu texto crptico, o faria surpreendentemente
acessvel s massas.
435
Para PAWEL (1986), a literatura, por ser a ferramenta de Kafka para lidar com o mal-
estar gerado pela sensao de no-pertencimento, do no-ser, tornou-se "uma insgnia
daquela 'alteridade', daquele sentimento de ser diferente, que, para muitos dos que
pertenceram gerao de Kafka, passou a ser a soma e a essncia do judasmo" (p. 57).
436
SELIGMANN, 2009, p. 10
437
ibidem
438
idem, p.11
165
conceituadas. O conceito, como obra de criao, de todo modo uma
criao esttica e estilstica do filsofo para dar conta de um problema
especfico.
O filsofo o amigo do conceito, ele est em potncia de
conceito. Isto quer dizer que a filosofia no uma simples
arte de formar, de inventar ou de fabricar conceitos, porque
os conceitos no so necessariamente formas, achados ou
produtos. Mais rigorosamente, a filosofia a disciplina que
consiste em criar conceitos. (...) Criar conceitos sempre
novos, esse o objeto da filosofia.
439
Mesmo com a ressalva adorniana de que os objetos do pensamento
so dados nos conceitos, mas no por meio destes simplesmente isto ,
que cada conceito contm em si uma constelao de elementos no-
conceituais que so componentes do processo de aproximao entre o
conceito e o conceituado a importncia da estruturao de conceitos
novos, vinculados realidade que os gera, terreno comum aos dois
autores
440
. Criao, comentrio e crtica de conceitos, calcadas no
presente e indicativas do futuro.
Os conceitos criados esto sempre no passado em relao suas
crticas, tambm geradoras de novos conceitos que sero devidamente
criticados. A cultura no pode ser pensada separadamente de sua crtica e
vice-versa, uma dialtica encontrada em todo o trabalho do pensamento
(filosofia, arte e cincia). Para Adorno, na relao entre o conceitual e o
no-conceitual que possvel vislumbrar realmente o objeto ao qual o
conceito se refere, e no nos extremos:
439
OQF, p.9
440
possvel aproximar as constelaes conceituais de Adorno do campo de imanncia
dos conceitos em Deleuze, mas esta relao no ser abordada neste trabalho. Por
enquanto, pode-se apontar que, se o campo de imanncia pr-conceitual (como afirma
Deleuze), o espao ocupado pelo conceito est em relao direta com esta pr-
conceitualidade, ou seja, com o problema que originou a criao deste conceito. Pode-se
afirmar, ainda, que de modo anlogo, em Adorno (cfe. SELIGMANN, 2009) a construo e
a leitura das constelaes e dos campos de fora devem tensionar as diversas estrelas (a
saber, os conceitos e suas configuraes), a partir da fora de gravidade que emana do
presente (p.13), o que significa dizer que h aqui tambm um dado apriorstico no
processo, ou seja, pr-conceitual: um fator que est na origem da elaborao do conceito.
166
o conhecimento se d numa rede onde se entrelaam
prejuzos, intuies, inervaes, autocorrees, antecipaes
e exageros, em poucas palavras, na experincia, que
densa, fundada, mas de modo algum transparente em todos
os seus pontos. Desta, a regra cartesiana segundo a qual s
devemos nos ocupar com aqueles objetos dos quais nosso
esprito parece poder atingir um conhecimento certo e
indubitvel, fornece um conceito to falso (...) quanto a
doutrina que lhe contrria, mas intimamente aparentada,
da intuio das essncias
441
O conceito pode ser visto como forma e figura de estilo do
pensamento simultaneamente. Como ato criativo, se aparenta arte ou
toma elementos desta, mesmo que tais elementos no estejam vinculados
forma da obra de arte em sentido estrito, colocando a imaginao a
servio da razo. Tal identidade pode ser encontrada na constatao de
que o escrever filosfico tem necessariamente um qu literrio. Melhor
dizendo, a escrita filosfica compartilha caractersticas com o processo de
composio literria. O grande escritor e o grande filsofo so criadores e
codificadores de realidades e conceitos, a partir do terreno da sua
individualidade e do socius que o rodeia, por meio de um processo no qual
a liberdade de criao se articula com o rigor do pensamento.
Sendo assim, por que razo a obra de Kafka instigante a ambos os
filsofos abordados como eptome desta relao entre arte e filosofia? A
ttulo de comparao, Kafka v sua prpria obra como a tentativa de
comunicar algo incomunicvel, explicar algo inexplicvel, falar de algo
que sinto apenas em meus ossos e que s pode ser experimentado nestes
ossos
442
. J Adorno v a filosofia como o esforo permanente e
mesmo desesperado de dizer o que no se pode propriamente dizer
443
. E
a criao conceitual deleuziana a filosofia como a arte de formar, de
441
TF, p. 69-70
442
Carta a Milena, in PAWEL, 1986, pp.95-96
443
TF, p.63
167
inventar, de fabricar conceitos
444
- , ao fim e ao cabo, a busca por uma
maneira de enunciar o que ainda no foi dito, um devir-linguagem para
um devir-povo, o que s possvel realizar ao se encontrar o estilo (ou a
forma) apropriados. Invertendo propositadamente os termos, a escrita
kafkiana seu estilo ao denunciar as contradies no-resolvidas da
realidade, assim como sua forma de criar, inventar e fabricar/maquinar a
resistncia a estas contradies, de propor um novo caminho, menor ou
revolucionrio.
444
OQF, p. 8
168
REFERNCIAS
ADORNO, T. & BENJAMIN, W. Correspondncia 1928-1940. So Paulo :
Ed. Unesp, 2012
ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. Dialtica do Esclarecimento:
fragmentos filosficos. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, 1985
ADORNO, T. Apuntes sobre Kafka, in ______, Prismas la crtica de
la cultura y la sociedad. Trad. Manuel Sacristn. Barcelona : Edicciones
Ariel, 1962
______, Anotaes sobre Kafka, in ______, Prismas, Crtica cultural e
sociedade. So Paulo : Editora tica, 1998
______, Dialtica Negativa. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Editor, 2009
______, Negative Dialektik. Frankfurt : Suhrkamp, 1975
______, Teoria Esttica. Lisboa : Edies 70, 1988
______, Rsum sobre Indstria Cultural. Disp. Em
http://www.robertexto.com/archivo5/resume_adorno.htm.
______, Indstria Cultural e sociedade. 2
a
ed. So Paulo : Paz e Terra,
2004
______, Sobre a ingenuidade pica e Posio do narrador no romance
contemporneo, in ______, Notas de Literatura I. So Paulo : Ed. 34,
2003
______, A arte alegre? In: RAMOS-DE-OLIVEIRA, N.; ZUIN, A. . S.;
PUCCI, B. (Orgs.). Teoria crtica, esttica, educao. Campinas:
Unimep, 2001. p. 11-18.
______, Minima Moralia: Reflexes a Partir da Vida Danificada. 2
ed. Trad. L.E. Bicca. So Paulo: tica, 1993
______, Terminologia filosfica Tomo I. Trad. Ricardo Sanchez Ortiz
de Urbina. Madrid: Taurus, 1976
AGAMBEN, G. Profanaes. So Paulo : Boitempo Editorial, 2007
ANDERS, G. Kafka: Pr e Contra. Traduo, posfcio e notas Modesto
Carone. So Paulo: Cosac e Naify, 2007.
ANSCROMBE, J-C; DUCROT, O; TODOROV, T. Dicionrio Enciclopdico
das Cincias da Linguagem. 3
a
edio, 4
a
reimpresso. So Paulo : Ed.
Perspectiva, 2010
ARAGON, L.E. O Anti-dipo no anti-psicanlise. Conferncia. XXV
Semana da psicologia Unimep - Cem anos da teoria da sexualidade e suas
ramificaes. Piracicaba, 2007. Disp. em
www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/antiedipoaragon.pdf
ARNAO, M. A distino entre representao de palavra e
representao de coisa na obra freudiana: mudanas tericas e
169
desdobramentos filosficos. gora (Rio J.) [online]. 2008, vol.11, n.2,
pp. 187-201. ISSN 1516-1498.
AUERBACH, E. Ensaios de Literatura Ocidental Filologia e Crtica.
Org. Davi Arrigucci Jr. e Samuel Titan Jr. So Paulo : Ed. 34/Duas
Cidades, 2012
AVELAR, S.M.M. Benjamin e a Aura. Revista Exagium, vol I, Abril/2008.
Disp. Em www.revistaexagium.com.br/edicoes/edicao%201/savelar.pdf
BACKES, M. Prefcio, em KAFKA, F. Carta ao Pai. Porto Alegre : L&PM,
2004
BARRENTO, J. O arco da palavra: ensaios. So Paulo : Escrituras
Editora, 2006
BARROS, M.A.; BORDIN, L. Esttica e poltica contempornea: Bertolt
Brecht e Walter Benjamin: uma prtica esttica contra a barbrie e
em defesa da vida. Revista gora Filosfica (Universidade Catlica de
Pernambuco), ano 6, n 2, jul/dez 2006, pp. 67-102
BARTHES, R. Grau zero da escrita (seguido de novos ensaios
crticos). So Paulo : Martins Fontes, 2000
BASTOS, T. O processo como alegoria de ser Judeu: Franz Kafka e
um de seus destinos. Revista Psicol. clin., Rio de Janeiro, v. 19, n.
2, Dec. 2007 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
56652007000200011&lng=en&nrm=iso>. access
on 19 Mar. 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
56652007000200011.
BEHRENS, R. A Dialtica negativa da negao determinada: algumas
implicaes estticas na teoria crtica da sociedade de Theodor Adorno.
Trad. Eduardo Soares Neves Silva. In DUARTE, R. et al (orgs) Theoria
Aesthetica. Porto Alegre : Escritos, 2005
BENJAMIN, W. Franz Kafka: a propsito do dcimo aniversrio de sua
morte e O Narrador: consideraes sobre a obra de Nikolai Leskov in
______, Magia e Tcnica, Arte e Poltica. So Paulo: Brasiliense, 1985
______, Arquivos. Notcia disponvel no portal Terra. Link:
http://diversao.terra.com.br/arteecultura/noticias/0,,OI5432400-
EI3615,00-
Arquivos+do+filosofo+Walter+Benjamin+sao+apresentados+em+Paris+p
ela+primeira+vez.htm
BENSMAA. R, The Kafka Effect (Foreword). In: DELEUZE, G.; GUATTARI,
F. Kafka: toward a minor literature. Minneapolis : University of
Minnesota Press, 1986
170
BEZERRA. C.C., Ocidente: Terra do Poente - Consideraes sobre
filosofia e literatura. Rev.Let. So Paulo, v.50, n2, pp 327-336, jul/dez
2010.
BOSI, A. Literatura e Resistncia. 1 reimpresso. So Paulo :
Companhia das Letras, 2008
BROD, M. Franz Kafka: A Biography. New York: Da Capo Press, 1995.
Disp. em
http://books.google.pt/books?id=BOkXnR4TACMC&printsec=frontcover&hl
=pt-BR&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false
BRUMER, A. O Humor Judaico em Questo. In: WebMosaica - Revista
do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. V1 N2 - Jul-dez 2009
CAMUS, A. O Mito de Ssifo: ensaio sobre o Absurdo. Rio de Janeiro :
Record, 2004
CANEVACCI, M. (org.) Dialtica do Indivduo: o indivduo na
natureza, histria e cultura. Trad: Carlos Nelson Coutinho. So Paulo :
Brasiliense, 1981
CAUSO, R. Fico Cientfica, fantasia e horror no Brasil 1875 a
1959. Belo Horizonte : UFMG, 2003
CARDOSO, M.J.d'E. Peirce, Lacan e a questo do signo indicial. gora
(Rio J.) [online]. 2012, vol.15, n.1. Disp. em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
14982012000100011&script=sci_arttext
CARONE, M. Lies de Kafka. So Paulo : Companhia das Letras, 2009
______, O Realismo de Franz Kafka. In: Revista Novos Estudos
CEBRAP. N. 80 Mar.2008. Disp. Em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
33002008000100013&script=sci_arttext
______, O parasita da famlia, Revista Psicologia USP, n 3, p. 131-
141, 1992.
CARSON, B. Towards a Postmodern Political Art: Deleuze, Guattari,
and the Anti-Culture Book. Rhizomes: Cultural Studies in Emerging
Knowledge 7 (2003). Ohio, EUA. Acesso em 28/11/2011
http://www.rhizomes.net/issue7/carson.htm
CHAU, M. Fazer histria da filosofia. Conferncia plenria XV Encontro
Nacional ANPOF. 26 de out. 2012. No prelo.
171
CHEVITARESE, L.; PEDRO, R. A questo da liberdade na Sociedade
Tecnolgica, por uma alegoria de Kafka e Dick. In: 27 Encontro
anual da ANPOCS, CD-ROM, 2003.
COHN, G. Introduo: Adorno e a teoria crtica da sociedade, em:
Theodor W. Adorno (Coleo Grandes Cientistas Sociais 54). So Paulo :
tica, 1986.
COLERIDGE, S.T. Samuel Taylor Coleridge, ed. por H. J. Jackson.
Oxford : Oxford University Press, 1985
COSTA, L.I.O., Destruio e transmissibilidade: o narrador Kafka na
correspondncia entre Benjamin e Scholem. Congresso Internacional
Deslocamentos na Arte UFOP/UFMG/ABRE. Anais (pp. 129-138). Belo
Horizonte, 2010.
COUTINHO, C.N., Lukcs, Proust e Kafka. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2005
______, Entrevista. Editora Record. Disp. em
http://www.record.com.br/autor_entrevista.asp?id_autor=2949&id_entre
vista=100.
CURCIO, V.R. Sintaxe da frustrao: anlise estatstica do estilo de
Kafka. Orientao: Prof.Dr. Alckimar Luis dos Santos. Dissertao de
mestrado, UFSC, 2007. Disp.
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/89918
______, Repeties de Kafka: uma anlise estatstica. Texto Digital,
Florianpolis, ano 3, n. 1, Julho 2007. ISSN 1807-9288. Disp.
http://www.textodigital.ufsc.br/num04/veronica.html
DAVIS, G. Pode algo ser salvo ao ser defendido? Benjamin com
Adorno. Revista Remate de Males, Campinas-SP, (30.1): pp. 25-44,
Jan./Jun. 2010
DELEUZE, G. A filosofia crtica de Kant. Coleco O saber da Filosofia.
Lisboa : Edies 70, 2000
______, Post-scriptum sobre as Sociedades de Controle. In: ______,
Conversaes: 1972-1990. So Paulo : Ed. 34, 1992.
______, Controle e Devir. In: ______, Conversaes: 1972-1990. So
Paulo : Ed. 34, 1992
______, Cinema 1: a imagem movimento. So Paulo : Brasiliense,
1985
______, Cinema 2: the time image. Minneapolis : University of
Minnesota Press, 1989
______, Critica y clnica. Barcelona : Editorial Anagrama, 1996
______, Rousseau: precursor de Kafka, Cline e Ponge. Arts, n 872,
6-12 junho, 1962.
172
______, Sacher-Masoch: o frio e o cruel. Trad. Jorge Bastos. Rev.
tcnica Roberto Machado. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2009
______, Lgica do Sentido. So Paulo : Perspectiva/EdUSP, 1974
______, Conversaes. Trad. Peter Pal Pelbart. So Paulo : Editora 34,
1992
______, Foucault. So Paulo : Brasiliense, 1998
______, "O ato de criao". Trad. Jos Marcos Macedo. Em: Folha de So
Paulo, Caderno Mais!, 27 de junho de 1999
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Kafka. Por una literatura menor. Trad.
Jorge Aguilar Mora. Mxico : Edicciones Era, 1978.
______, Kafka: toward a minor literature. Minneapolis : University of
Minnesota Press, 1986
______, Kafka. Por uma literatura menor. Rio de Janeiro : Imago,
1977
______, Kafka. Pour une littrature mineure. Collection Critique. Paris
: Les ditions de Minuit, 1975
______, A Thousand Plateaus. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1987
______, O anti-dipo: Capitalismo e esquizofrenia. So Paulo :
Editora 34, 2010
______, Mil Plats - Vols 1-5. So Paulo : Editora 34, 1995
______, O que a filosofia?, Trad. Bento Prado Jr. e A.A. Muoz, So
Paulo: Ed. 34, 1992
DUNKER, C.; SAFATLE, V.; SILVA JUNIOR. N. Fetichismo, reificao e
Corporeidade: anlise de uma patologia social. Disciplina do
programa de ps-graduao em Filosofia. FFLCH/IP-USP. 2010
EAGLETON, T. Teoria da Literatura: uma introduo. 6
a
edio. So
Paulo : Martins Fontes, 2006
ECO, U. Seis Passeios pelos bosques da fico. 2
a
edio. So Paulo :
Companhia das Letras, 1994
ELISSON, D. Ethics and Aesthetics in European Modernist
Literature: From the Sublime to the Uncanny. Cambridge :
Cambridge University Press, 2004
FAVARETTO, C. F. A cena contempornea: criao e resistncia. In:
FONSECA, T.M.G.; PELBART, P.P; ENGELMAN, S. (Org.). A Vida em
Cena: Teatro e subjetividade. Porto Alegre : EdUFRGS, 2008
______, Deslocamentos: entre a arte e a vida. Congresso
Internacional Deslocamentos na Arte UFOP/UFMG/ABRE. Anais (pp. 65-
76). Belo Horizonte, 2010
FEIL, G.S. Kafka Ertico. Revista Travessias, n 1. n/d. Disp. em
www.unioeste.br/travessias
173
FELDMAN, L. Humor judaico: o sorriso entre lgrimas. So Paulo :
Webmosaica. 2009
FERRARI, S.C.M. Kafka, Benjamin: o natural e o sobrenatural.
Revista Trans/Form/Ao, So Paulo, 30(2): 151-165, 2007
FERREIRA, J. O estilo literrio. Ensaio disponvel no endereo eletrnico
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=419&cat=Ensaios
&vinda=S
FOERSTE, G.M.S. e CAMARGO, F.M.B. Estranhamento como categoria
esttica em arte. 19 Encontro da Associao Nacional de Pesquisadores
em Artes Plsticas Entre Territrios (Anais), pp 2057-2070. Bahia, 2010
FREITAS, N.A. Apontamentos sobre mmesis em Adorno e Benjamin.
Comunicao disp. em
www.ip.usp.br/laboratorios/lapa/versaoportugues/2c60a.pdf
FREUD, S. O Estranho. In: ______, Obras Completas. Vol. 12. Traduo
de Jayme Salomo. Rio de Janeiro: Imago, 1985.
______, Recordar, repetir e elaborar. Trad. Paulo C.L. Souza. Jornal de
Psicanlise, So Paulo, 27(51): pgs. 125-136, jul. 1994
FONSECA, C.A.L. Introduo. In: PLAUTO. Os dois Menecmos. Col.
Textos Clssicos. Vol. 16. Coimbra : Instituto Nacional de Investigao
Cientfica, 1983
FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrpolis : Vozes, 2000
GADAMER, H. Verdade e mtodo: traos fundamentais de uma
hermenutica filosfica. 3 ed. Petrpolis : Vozes, 1997.
GAGNEBIN, J.M. Lembrar, Escrever, Esquecer. So Paulo : Ed. 34,
2006.
______, Prefcio. In: BENJAMIN, W. Obras Escolhidas: Magia e
Tcnica, Arte e Poltica. So Paulo : Brasiliense, 1985
______, Le printemps adorable a perdu son odeur. In ALEA, vol. 9,
n 1, Janeiro-Junho de 2007
______, Do conceito de mmesis no pensamento de Adorno e
Benjamin. Texto apresentado no Ciclo de Conferncias sobre a Escola de
Frankfurt, realizado na Faculdade de Cincias e Letras da UNESP, Campus
de Araraquara, em 1990. Perspectivas, So Paulo, 16: 67-86, 1993
GANCHO, C.V. Como analisar narrativas. 8
a
ed. revista. Srie
Princpios. So Paulo : tica, 2004
174
GATTI, L. Constelaes Crtica e verdade em Benjamin e Adorno.
So Paulo : Loyola, 2009
GOETHE, J.W.W.V. Truth and Poetry: from my own life. Trad. John
Oxenford. Londres : Thirteen Books, 1848
______, Mximas e Reflexes, trad. de Jos M. Justo. In: ______, Obras
Escolhidas de Goethe, vol.5. Lisboa : Crculo de Leitores, 1992
GUATIMOSIM, B.M.B. O belo e o sublime. Psicanlise & Barroco em
Revista v.6, n.3: 48-59, jul.2008
GUATTARI, F. Mquina Kafka. Trad. Peter Pl Pelbart. So Paulo/Helsinki
: n 1, 2011
GUATTARI, F; ROLNIK, S. Micropoltica: Cartografias do desejo. 2a
Ed. Petrpolis : Vozes, 1986
HARMAN, M. "Digging the Pit of Babel": Retranslating Franz Kafka's
"Castle". New Literary History, Vol. 27, No. 2, Problems of Otherness:
Historical and Contemporary (Spring, 1996), pp. 291-311. The Johns
Hopkins University Press. Disp. Em
http://www.jstor.org/stable/20057354. Acesso em 07/02/2011 12:36
HEGEL, G.F.W. Cursos de Esttica. Vol I e II. Trad. Marco Aurlio
Werle. So Paulo : EdUSP, 2001.
HORKHEIMER, M. Eclipse da Razo. 7
a
edio. So Paulo : Centauro,
2007
HUBNER.B. Franz Kafka, A Metamorfose - possveis leituras. Disp no
site www.filologia.org.br/iiijnlflp/textos_completos, p.1-14. s/d.
HULLOT-KENTOR, R. Translators introduction. In: ADORNO, T.
Aesthetics Theory. Londres : Continuum, 2002
JESUS, R. Die Werwandlung (A Metamorfose): refazendo o caminho
de Kafka. Revista Garrafa, n 25. Set-dez 2011. UFRJ
JANOUCH, G. Conversations with Kafka. New York : WW Norton &
Company, 1971
KAFKA, F. A Metamorfose. Trad. Modesto Carone. 2
a
edio. So Paulo :
Companhia das Letras, 2003
______, Essencial. Trad., seleo e comentrios de Modesto Carone. So
Paulo : Penguin Classics/ Companhia das Letras, 2011
______, O Desaparecido. Trad. Susana Kampff Lages. So Paulo : Ed.
34, 2003
175
______, Discurso sobre a lngua idiche. In: ______, Obras Completas.
Lisboa/Madri : Editorial Teorema Visin Libros, 1983
______, El Proceso. Biblioteca virtual Librodot, 2002
______, O Processo. Trad. Modesto Carone. So Paulo: Companhia das
Letras, 2000
______, O Processo. Traduo, organizao, prefcio, glossrio e notas
de Marcelo Backes. Coleo L&PM Pocket. Porto Alegre : L&PM, 2004
______, O Processo. Trad. Gervsio lvaro. 4 edio. Coleco dois
mundos. Lisboa: Livros do Brasil, 1999
______, O veredicto & Na colnia penal, trad. de Modesto Carone, 3
edio, So Paulo : Brasiliense, 1991
______, Um mdico rural: pequenas narrativas. Trad. Modesto
Carone. 4 reimp. So Paulo: Companhia das Letras, 2010
______, Contemplao/O Foguista. Trad. Modesto Carone, So Paulo :
Companhia das Letras, 1999
______, Carta ao Pai. Trad. Modesto Carone. So Paulo : Companhia das
Letras, 2003
______, Um Artista da Fome/A Construo. Trad. Modesto Carone.
So Paulo: Companhia das Letras, 2000
______, Parbolas e Fragmentos. Prefcio e traduo: Joo Barrento.
Lisboa: Assrio & Alvim, 2004
______, Carta ao Pai. Traduo, organizao, prefcio, glossrio e notas
de Marcelo Backes. Coleo L&PM Pocket. Porto Alegre : L&PM, 2004
______, The blue octavo Notebooks. EUA : Exact Change, 2004. Disp.
em https://docs.google.com/document/d/1gD981HZ190BUJF-
3czZNX3DsFWvqp3cq-Z4QS4d-9gw/edit?hl=en
______, O abutre e outras histrias. Traduo Nomia Ramos, rev.
Francisco Silva Pereira. Coleco Resgatados. Cascais: Estrofes & Versos,
2009
______, Diarios 1910-1923. Ed. Max Brod. Trad. Feliu Formosa.
Coleccin Fabula. Barcelona : Tusquets, 1995
______, Die Verwandlung. Acessado em 08/fev/2011. DigBib.org. Disp.
em NDAL8PCAG/www/digbib.org/Franz_Kafka_1883/Die_Verwandlung
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo. Trad. Valrio Rohden e Antnio.
Marques. 2
a
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2008
KATE, C. Towards minor theory. Environment and Planning D:Society
and Space, vol. 14, pp 487-499. New York, 1996
KESTLER, I.M.F. O conceito de literatura universal em Goethe, in
Revista Cult, ed. 130, 2010. Disp. em
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/o-conceito-de-literatura-
universal-em-goethe/
KLEIN, V. Inquietante poltica. Revista Tempo Freudiano, 2009. Disp.
http://www.tempofreudiano.com.br/artigos/detalhe.asp?cod=65
176
KLEINES TASCHENWRTERBUCH DEUTSCH-PORTUGIESISCH
(Dictionnaires Garnier). Org R.de Mesquita. Rio de Janeiro / Paris : H.
Garnier, s/d
KONDER, L. Kafka - vida e obra. 5 edio. So Paulo : Jos lvaro
Editor / Paz e Terra, 1974.
KORFMANN, M. A respeito do Processo de Kafka. Revista Contingentia,
v.4, n1, 2009. UFRGS. Acesso em 26.dez.2012 s 17h49. Disp. em
http://seer.ufrgs.br/contingentia/article/view/8650/5022
KORFMANN, M / KEPLER, F. A literatura e o cinema como novo
medium artstico: Hanns Heinz Ewers e O estudante de Praga
(1913). Revista Pandaemonium germanicum, 12a ed., 2008, pp. 45-64.
Disp. Em www.fflch.usp.br/dlm/alemao/pandaemoniumgermanicum.
Acesso em 07/09/2012 s 15:35
KRIPS, H. A Mass Media Cure for Auschwitz: Adorno, Kafka and
Zizek. International Journal of "i#ek Studies, Vol 1, No 4 (2007). Disp
http://zizekstudies.org/index.php/ijzs/article/view/67
LAGES, S. K. O Enigma Compartilhado. Revista Cult, 12/03/2010
______, Walter Benjamin: traduo e melancolia. So Paulo : EdUSP,
2002
LEMOS, C.A., A imitao em Aristteles. Revista Anais de Filosofia
Clssica, vol. 3 n 5, 2009.
LOWY, M. Franz Kafka: sonhador insubmisso. Rio de Janeiro :
Azougue Editorial, 2005
______, Franz Kafka e o socialismo libertrio. Disp.
http://pt.protopia.at/wiki/Franz_Kafka_e_o_socialismo_libert%C3%A1rio
#cite_note-14
______, Apresentao, in COUTINHO, C.N., Lukcs, Proust e Kafka. Rio
de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005
LUKACS, G. Realismo critico hoje. Trad. Ermnio Rodrigues. Introduo
por Carlos Nelson Coutinho. Braslia : Coordenada-Editora de Braslia,
1969
______, La signification prsente du ralisme critique. Les essais
XVC. Trad. Maurice de Gandillac. Paris : Gallimard, 1960
______, A Teoria do romance. Coleo Esprito Crtico. So Paulo : Ed.
34, 2000
______, Franz Kafka or Thomas Mann? in CRAIG, D. (org) Marxists on
Literature: an anthology. New York : Penguin Books, 1975
LYOTARD, J-F. O Inumano: consideraes sobre o tempo. 2
a
edio.
Lisboa : Editorial Estampa, 1997
177
MACHADO, R. Deleuze: a Arte e a Filosofia. Rio de Janeiro : Jorge
Zahar Editor, 2009
MALDONADO, M. El Expresionismo y las vanguardias en la literatura
alemana. Madrid : Sntesis, 2006
MAQUIAVEL, N. O Prncipe. Comentado por Napoleo Bonaparte. So
Paulo : Martin Claret, 2008
MARANHO, H.P. Entre Kafka e Foucault: anotaes do poder no
corpo disciplinado. Revista Aulas - Dossi Foucault. N 3 dezembro
de 2006/maro de 2007. Unicamp. Campinas, 2007
MARTINEZ, V. Estado K. ou o Povo dos Camundongos. Simpsio
Estranhamento e sociabilidade: uma anlise crtica de O Processo de
Franz Kafka. UNESP-Marlia, 07/10/2005. Disp.
http://www.sociologiajuridica.net.br/lista-de-publicacoes-de-artigos-e-
textos/45-direito-e-ficcao-/127-estado-k-ou-o-povo-dos-camundongos-
MARTINS, N.S. Introduo estilstica. 4
a
edio revista. So Paulo,
EdUSP, 2008
MASSARA, G. O esttico e o tico na psicanlise: Freud, o sublime e
a sublimao. Tese de doutorado. Orientao Prof.Dr. Vladimir Pinheiro
Safatle. So Paulo : USP, 2010. Disp. Em
www.fflch.usp.br/df/site/.../2010.../2010.mes_guilherme_massara.pdf
MICHAELIS MODERNO DICIONRIO ESCOLAR da Lngua Portuguesa. 7a
ed. So Paulo : Melhoramentos, 2010. Disp. em
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
MORAES, A. L. Sobre a negatividade do conceito de indivduo em
Adorno: a resistncia possvel. Psicol. USP [online]. 2006, vol.17, n.3
[citado 2012-10-14], pp. 127-144 . Disponvel em:
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1
678-51772006000300010&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1678-5177.
MUSSE, R. A Dialtica como mtodo e filosofia no ltimo Engels.
Revista Crtica Marxista no. 05, pp. 40-54. So Paulo: Xam, 1997.
NESBITT, N. The Expulsion of the Negative: Deleuze, Adorno, and
the Ethics of Internal Difference Revista SubStance Ed.107
(Volume 34, Number 2), 2005, pp. 75-97. University of Wisconsin Press.
Disp. em
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/substance/v034/34.2nesbitt.html
178
NOYAMA, S. Adorno e o ensaio como forma. Revista Itaca, n 14,
UFRJ, 2009. Disp. www.revistaitaca.org/versoes/vers14-09/135-147.pdf
OXFORD KAFKA RESEARCH CENTRE. Portal. http://www.kafka-
research.ox.ac.uk/index.php
PEQUENO DICCIONARIO PORTUGUEZ-ALLEMO (Dictionnaires Garnier).
Org R.de Mesquita. Rio de Janeiro / Paris : H. Garnier, s/d
PAWEL, E. O pesadelo da Razo: a vida de Franz Kafka. Trad. Vera
Ribeiro. Rio de Janeiro : Imago, 1986
PELBART, P.P. Da Clausura do Fora ao fora da clausura: loucura e
Desrazo. So Paulo : Brasiliense, 1989
______, A bordo de um veleiro destroado, in GUATTARI, F. Mquina
Kafka. So Paulo/Helsinki : n 1, 2011
______, A vertigem por um fio: polticas da subjetividade
contempornea. So Paulo : Iluminuras, 2000
PELLEJERO. E, Literatura e fabulao: Deleuze e a poltica da
expresso. Trad. Susana Guerra. Polymatheia - Revista de Filosofia, vol
IV, n 5, pp 61-78. Fortaleza, 2008.
PEREIRA, M. Barroco, smbolo e alegoria em Walter Benjamin.
Revista Analecta, v. 8, n 1, p. 11-18. Jan-jun 2007
PODDIS, J. G., Os insetos e o homem na literatura e no cinema: uma
metamorfose. Anais do SILEL. Volume 1. Uberlndia: EDUFU, 2009.
POE, E. A. Poemas e Ensaios. Trad. Oscar Mendes e Milton Amado. 3
edio revista. So Paulo: Globo, 1999.
PUCCI, B. Para Rosa com Adorno: a luta agnica da palavra e do
conceito em busca do quem das coisas. Revista Artefilosofia n. 08,
abril de 2010, p.122-133
RANCIRE, J. Ser que a Arte resiste a alguma coisa? Artigo
disponvel em
http://www.rizoma.net/interna.php?id=316&secao=artefato. Publicado
em 17/12/2008. Acessado em 17/03/2009 s 14:01h
ROBERTSON, R. Kafka: a very short introduction. Oxford : Oxford
University Press, 2004
ROSENFIELD, K. Walser por Xerxenesky, Joca Terron e Kathrin
Rosenfield. Disp. em
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2011/04/02/walser-por-
xerxenesky-joca-terron-kathrin-rosenfield-372501.asp
179
S, M.C. Da literatura fantstica (teorias e contos). Dissertao de
mestrado em Teoria Literria e Literatura Comparada. 2003 : FFLCH/USP.
Orientadora. Prof. Dr. Sandra Margarida Nitrini. Disp. em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-23102003-
190256/publico/TeseMarcioSa.pdf. Acesso em 21/10/2011
SAFATLE, V. Para introduzir a experincia intelectual de Theodor Adorno.
In: ALMEIDA, J.; BADER, W., Pensamento alemo contemporneo.
So Paulo: Cosac e Naify, 2009.
______, Espelhos sem imagens: mimesis e reconhecimento em
Lacan e Adorno. Trans/Form/Ao, Marlia, v. 28, n. 2, 2005
. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31732005000200002&lng=en&nrm=iso>. access
on 01 Dec. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
31732005000200002
______, Ps-modernidade: utopia do capitalismo. Revista Virtual
Trpico, 2002
______, Runas em road movie. Correio Brasiliense, suplemento
Pensar, 1 de setembro de 2002. Disp.
http://www.geocities.ws/vladimirsafatle/vladi047.htm
______, Linguagem e negao: sobre as relaes entre pragmtica
e ontologia em Hegel. Revista doispontos, Curitiba/So Carlos, vol. 3, n.
1, p.109-146, abril, 2006
SANTOS, P.S. Benjamin e Adorno: consideraes ao redor de Kafka.
Tempo da Cincia (UNIOESTE), v. 15, p. 147-157, 2008
______, (Im)possibilidades na literatura de Franz Kafka.
Dissertao de mestrado em Sociologia. FFLCH/USP. Orientador: Prof. Dr.
Leopoldo Waizbort. Disp. Em
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../PATRICIA_SILVA_SANTOS.pdf
SANTOS, T.B. Tecnologia e media ticos em Franz Kafka. Dissertao
de Mestrado em Literatura Comparada. Orientao Prof. Dr. Michael
Korfmann. UFRGS. Porto Alegre, 2010. Disp. em
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/.../000749333.pdf?...1
SARTRE, J-P. Que a Literatura? 3
a
ed. 3
a
impresso. So Paulo : tica,
2006
SCHLHESENER, A. Mmesis e infncia: observaes acerca da
educao a partir de Walter Benjamin. So Leopoldo : UNISINOS,
2009
SELIGMANN-SILVA, M. Adorno. Coleo Folha Explica. So Paulo :
Publifolha, 2009
______, Mal-estar na cultura: corpo e animalidade em Kafka, Freud
180
e Coetzee. Congresso Mal-estar na Cultura / Abril-Novembro de 2010.
Departamento de Difuso Cultural - PROREXT-UFRGS; Ps Graduao em
Filosofia - IFCH UFRGS. Disp. em:
http://.difusaocultural.ufrgs.br%2Fadminmalestar%2Fdocumentos%2Farq
uivo%2FMarcioSeligmannSilva.pdf
SERCEAU, M. De la littrature au cinema, de Kafka Orson Welles.
Un exemple dadaptation-interprtation: Le Procs. Association des
Professeurs de lettres (site). Disp. Em
http://www.aplettres.org/de_Kafka_a_Orson_Welles.pdf
SHOLLE, D. The Subject of Adorno. Palestra. International
Communication Association. Disp.
http://www.allacademic.com/meta/p112007_index.html. Acesso em
26/11/2008.
SCHOLLHAMMER, K. As prticas de uma lngua menor: reflexes
sobre um tema de Deleuze e Guattari. Revista Ipotesi, Juiz de Fora,
2002
SCOTT, J. O enigma da igualdade. Revista Estudos Feministas,
Florianpolis, 13(1): 216, janeiro-abril/2005- Disp. em
http://www.scielo.br/pdf/ref/v13n1/a02v13n1.pdf
SILVA, F.L. Bergson: intuio e discurso filosfico. So Paulo : Loyola,
1994
SILVA, H. Os filmes desnarrativos de David Lynch. So Paulo :
Revista Trpico, 2008. Disp. Em
http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/2999,2.shl
SOUZA, L. S., Avessos da dialtica: Adorno, Lukcs e o realismo no
sculo XX. Revista Verinotio, n 12, ano VI, out/2010. Disp. em
http://www.verinotio.org/
TADEU, T. Deleuze e a questo da literalidade: uma via alternativa.
Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 93, p. 1331-1338, Set./Dez. 2005.
Disponvel em http://www.cedes.unicamp.br
TELLAROLI, S. Entrevista in CARVALHO, P. Visionrio de pequenas
coisas (resenha sobre a obra Jakob Von Gunten, de WALSER). Dirio de
Pernambuco, edio de 22 de abril de 2011
THEODOR ROSENTHAL, E. Introduo Literatura Alem. Rio de
Janeiro : Ao Livro Tcnico, 1968.
THOBURN, N. Deleuze, Marx and Politics. Routledge Studies in Social
and Political Thought. Londres : Routledge, 2003.
181
TIBURI, M. Crtica da razo e mmesis no pensamento de Theodor
W. Adorno. Porto Alegre : EDPUCRS, 1995
TRAGTENBERG. M. Franz Kafka - Romancista do Absurdo. in Revista
Alfa, no 1. F.F.L.C. Marlia. Marlia, 1962
TRONCA, F.Z. O estilo enquanto lgica de identificao: elo entre as
caractersticas expressivas complexas que se coadunam no
trnsito do processo histrico e a manifestao expressiva
particular e singular de um indivduo. E-peridico ModaPalavra Ano 1,
n.2, ago-dez 2008, pp. 60 68. ISSN 1982-615x
TODOROV, T. Introduo Literatura Fantstica: Teoria da
Literatura. Debates. So Paulo : Editora Perspectiva, 2008.
VIRTANEN, A. O discreto charme do precariado, in GUATTARI, F. Mquina
Kafka. So Paulo/Helsinki : n 1, 2011
WALLACE, D.F. Laughing with Kafka. Conferncia no simpsio
Metamorphosis: a new Kafka. PEN American Center. Nova Iorque, 1998.
Publicada em Harpers Magazine, edio de jul/1988
ZILCOSKY, J. Kafkas Travels: Exoticism, Colonialism, and the
Traffic of Writing. Palgrave Macmillan, Nova Iorque : 2003. Disp. em
http://books.google.com.br/books?id=-
TZVKQFicTEC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
ZISCHLER, H. Kafka vai ao cinema. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro :
Jorge Zahar Editor, 2005
Você também pode gostar
- Atividade Individual Transformação Digital FGVDocumento10 páginasAtividade Individual Transformação Digital FGVRenan SilvaAinda não há avaliações
- Prova Didática Discursiva Nota 100 Uninter PDFDocumento4 páginasProva Didática Discursiva Nota 100 Uninter PDFKiko Braga80% (5)
- Atividade Contextualizada - 3155 - 5 - Metodologia Da ...Documento3 páginasAtividade Contextualizada - 3155 - 5 - Metodologia Da ...marcelodavilla0% (2)
- A Importância Da Contabilidade No Desempenho EmpresarialDocumento84 páginasA Importância Da Contabilidade No Desempenho EmpresarialFábio Oliveira VazAinda não há avaliações
- SNC ExemplosPráticosDocumento142 páginasSNC ExemplosPráticosRute Silva0% (1)
- A Implementação Do Sistema de Contabilidade de Custos Nos Municípios PortuguesesDocumento144 páginasA Implementação Do Sistema de Contabilidade de Custos Nos Municípios PortuguesesFábio Oliveira VazAinda não há avaliações
- Franz Kafka, A Metamorfose - Possíveis Leituras e InterpretaçõesDocumento14 páginasFranz Kafka, A Metamorfose - Possíveis Leituras e InterpretaçõesFábio Oliveira VazAinda não há avaliações
- Aula Data Conteúdo Previsto Modalidade InteraçãoDocumento3 páginasAula Data Conteúdo Previsto Modalidade InteraçãoMiss J. KediAinda não há avaliações
- Historia Atividades 7anoDocumento7 páginasHistoria Atividades 7anoMateus Gomes100% (1)
- Resolução #509-2017-CONSUP de 26 de Dezembro de 2017 - Define A Política Que Regulamenta As Atividades Do Núcleo de Tecnologias AssistivasDocumento7 páginasResolução #509-2017-CONSUP de 26 de Dezembro de 2017 - Define A Política Que Regulamenta As Atividades Do Núcleo de Tecnologias AssistivasPablo Nunes PereiraAinda não há avaliações
- Teste Matematica 5 AnoDocumento2 páginasTeste Matematica 5 Anoiprates2100% (2)
- A Logica Dos Verdadeiros ArgumentosDocumento15 páginasA Logica Dos Verdadeiros ArgumentosMateus Silveira MeloAinda não há avaliações
- Atividades Do AEE Educação EspecialDocumento60 páginasAtividades Do AEE Educação EspecialRita Oliveira100% (8)
- Livro Insetos Aquáticos COMPLETODocumento728 páginasLivro Insetos Aquáticos COMPLETOWagner M. S. Sampaio82% (11)
- Filosofia MoralDocumento67 páginasFilosofia MoralPatricia CordeiroAinda não há avaliações
- Lei 873 - 2008 - PCCV MagisterioDocumento17 páginasLei 873 - 2008 - PCCV MagisterioSalvar O BrasilAinda não há avaliações
- So Um Minutinho CompletoDocumento11 páginasSo Um Minutinho CompletoKatia Teixeira100% (2)
- Ferramentas Digitais para ProfessoresDocumento55 páginasFerramentas Digitais para ProfessoresErlon DantasAinda não há avaliações
- Xii Semana de Letras AnaisDocumento255 páginasXii Semana de Letras AnaisVilma QuintelaAinda não há avaliações
- 2 Formação LeitoraDocumento26 páginas2 Formação LeitoraGilda BBTTAinda não há avaliações
- Prova 20Documento6 páginasProva 20Keilinha AssuncaoAinda não há avaliações
- Kit BNCC 5° Ano PortuguêsDocumento41 páginasKit BNCC 5° Ano PortuguêsKaren Adriély Schneider de SouzaAinda não há avaliações
- GREIVE VEIGA, Cyntia. Monopolização Do Ensino Pelo Estado e A Produção Da Infância EscolarizadaDocumento11 páginasGREIVE VEIGA, Cyntia. Monopolização Do Ensino Pelo Estado e A Produção Da Infância EscolarizadaLlama VicuñaAinda não há avaliações
- Conjuntos Lista de Exercícios - Parte II (Fixação I) : Definições de ConjuntoDocumento4 páginasConjuntos Lista de Exercícios - Parte II (Fixação I) : Definições de ConjuntoKaio Arlei StrelowAinda não há avaliações
- ArquiteturaDocumento80 páginasArquiteturaRodrigo OtavioAinda não há avaliações
- Linguagem Verbal, Não Verbal e MistaDocumento8 páginasLinguagem Verbal, Não Verbal e Mistamary5stela5camillatoAinda não há avaliações
- Instrucao Normativa Conjunta 0032022 DeducdpgeseedDocumento4 páginasInstrucao Normativa Conjunta 0032022 DeducdpgeseedJeferson WruckAinda não há avaliações
- Improbidade Sig Informatica Nao-SigilosaDocumento60 páginasImprobidade Sig Informatica Nao-SigilosaJoao MachadoAinda não há avaliações
- Lei 5.335/11Documento7 páginasLei 5.335/11ConcursosRJAinda não há avaliações
- Pensamento Educacional de WhiteheadDocumento9 páginasPensamento Educacional de WhiteheadIsidro Candido Da Costa100% (1)
- EIXO I - Atividades - Revisão Da TentativaDocumento7 páginasEIXO I - Atividades - Revisão Da TentativaIvan fariaAinda não há avaliações
- Resumo (P Aprendizagem)Documento2 páginasResumo (P Aprendizagem)Vânia ChaúqueAinda não há avaliações
- Capitulo I 1. IntroducaoDocumento9 páginasCapitulo I 1. IntroducaoCalu RemigioAinda não há avaliações
- Guia Pratico Da Politica Educacional No Brasil Pablo Silva Machado Bispo Dos SantosDocumento16 páginasGuia Pratico Da Politica Educacional No Brasil Pablo Silva Machado Bispo Dos SantosLuci BarbosaAinda não há avaliações