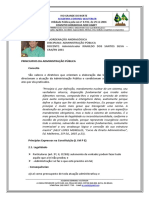Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anais Egressos 2013 Versao Final
Enviado por
dehduDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anais Egressos 2013 Versao Final
Enviado por
dehduDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Amrico Grisotto
Carlos Alberto Albertuni
Charles Feldhaus
(Organizadores)
ANAIS
V ENCONTRO DE EGRESSOS E ESTUDANTES DE
FILOSOFIA:
20 ANOS DO CURSO DE FILOSOFIA DA UEL
Catalogao na publicao elaborada pela Diviso de Processos Tcnicos da
Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina
Dados Internacionais de Catalogao-na-Publicao (CIP)
E56a Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia (5 : 2013 : Londrina, PR).
Anais do V Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia [livro
eletrnico] : 20 anos do curso de filosofia da UEL, 30 de setembro
a 04 de outubro, Londrina, PR / Universidade Estadual de Londrina;
(organizadores) : Amrico Grisotto, Carlos Alberto Albertuni e
Charles Feldhaus. - Londrina : UEL, 2014.
1 arquivo digital : il.
Disponvel em: http://www.uel.br/col/filosofia/
Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-7846-251-2
1. Filosofia Congressos. 2. Filosofia Estudo e ensino Congressos.
I. Grisotto, Amrico. II. Albertuni, Carlos Alberto. III. Feldhaus, Charles.
IV. Universidade Estadual de Londrina. V. Ttulo.
CDU 1(061.3)
1
Amrico Grisotto
Carlos Alberto Albertuni
Charles Feldhaus
(Organizadores)
ANAIS
V ENCONTRO DE EGRESSOS E ESTUDANTES DE FILOSOFIA:
20 ANOS DO CURSO DE FILOSOFIA DA UEL
(Londrina, 30 de setembro a 04 de outubro de 2013)
Capa: Charles Feldhaus
Editorao: Charles Feldhaus
Reviso: Amrico Grisotto
APOIO:
Mestrado em Filosofia da Universidade Estadual de Londrina
Especializao em Filosofia Moderna e Contempornea
Especializao em Histria e Filosofia da Cincia
Especializao em Filosofia Poltico-Jurdica
2
SUMRIO
PREFCIO
Maria Cristina Mller..............................................................................................5
RESUMOS
PRIMEIRAS IMPRESSES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
PIBID DE FILOSOFIA DA UEL
Fernanda Scheel................................................................................................................10
TEORIA CAUSAL: DA LIBERDADE E INDETERMINISMO EM HUME
Thas Poliana da Silva Ribeiro..........................................................................................11
O SIGNIFICADO DO AGIR MORAL EM KANT
Kelly Cristina dos Santos..................................................................................................12
HUME E DELEUZE: DA IMAGINAO IMANNCIA
Diego de Souza Hirata...................................................................................................... 13
SE A ANGSTIA O PESO DO SOFRIMENTO O AMOR A REPARAO
Cleide Rosana Marquiori................................................................................................14
O CUIDADO EM HEIDEGGER E EM WINNICOTT
Guilherme Devequi Quintilhano.......................................................................................15
ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MDIO E ALGUMAS CONTRIBUIES
POSSVEIS DA PESQUISA DO LTIMO FOUCAULT
Luiz Felipe Navas Podadeiras........................................................................................16
SCHOPENHAUER E AUGUSTO DOS ANJOS: MONLOGO DE UMA SOMBRA
ACERCA DO MUNDO COMO VONTADE E COMO REPRESENTAO
Camila Berehulka de Almeida.....................................................................................17
RELATO DE EXPERINCIA: A FILOSOFIA COMO FATOR PARA PENSAR A
FUTURA PROFISSO
Bruno Vinicius Brandino...............................................................................................18
RELATO DE EXPERINCIA NO ENSINO DE FILOSOFIA E A CRTICA DE
HEIDEGGER METAFSICA PLATNICA
Vanessa dos Santos Oliveira...........................................................................................19
3
LUDWIG WITTGENSTEIN: OS JOGOS DE LINGUAGEM E A QUESTO DA
DVIDA
Leandro Sousa Costa
Bortolo Valle........................................................................................................................20
A SUBJETIVIDADE EM AUGUSTO COMTE
Sergio Tiski........................................................................................................................ 21
PRTICA DOCENTE NO ENSINO MDIO: A OLIMPADA DE FILOSOFIA
COMO EXPERINCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Anderson Souza Oliveira e Yuri Jos Victor Madalosso.....................................................22
TEXTOS COMPLETOS
O ENSINO DE FILOSOFIA COMO QUESTO CLSSICA - NA TRADIO
DO PENSAMENTO FILOSFICO
Filipe Ceppas.......................................................................................................................24
GORA VIRTUAL: A FILOSOFIA NA CIBERCULTURA
Vanderson Ronaldo Teixeira.................................................................................................34
O GRUPO PRTICO DE DESLOCAMENTOS E A CONSOLIDAO DAS
ESTRUTURAS COGNITIVAS
Vicente Eduardo Ribeiro Maral.........................................................................................46
CONCEPES SOBRE O CONCEITO DE INTENCIONALIDADE NO MBITO
ESCOLSTICO E FENOMENOLGICO
Edsel Pamplona Diebe.........................................................................................................58
A JUSTIA DISTRIBUTIVA DE ARISTTELES: PRTICA, CARTER E O
MRITO
Leonardo Cosme Formaio................................................................................................66
FILOSOFIA EM EDUCAO DAS SRIES INICIAIS: RETORNO AO ESPANTO
E CRIATIVIDADE
Fernanda Martins de Oliveira...........................................................................................75
O SENTIMENTO DO MUNDO: FICHTE E O PROBLEMA DA AFECO
Glauber Cesar Klein............................................................................................................83
O CULTIVO DE SI EM HUMANO DEMASI ADO HUMANO
Jordan Pagani.....................................................................................................................95
BIOPODER E RACISMO DE ESTADO EM FOUCAULT
Fabio Batista......................................................................................................................105
4
SARTRE: RELAO ENTRE FILOSOFIA E LITERATURA
Ester da Silva Gomes......................................................................................................114
MICHEL FOUCAULT E A BIOPOLTICA: UMA ANLISE REFLEXIVA
Fernanda Ramos Leo.................................................................................................. 120
ANALTICA DO PODER EM MICHEL FOUCAULT: DO PODER
BIOPOLTICA
Franco Pereira Leite........................................................................................................129
A EMANCIPAO POLTICA E OS DIREITOS DO HOMEM EGOSTA: MARX
E A SOCIEDADE MODERNA
Andr Ferreira...................................................................................................................142
CONSIDERAES FREUDIANAS ACERCA DA FELICIDADE
Weisell Gomes Neves..........................................................................................................150
FACTICIDADE E DIFERENA: ELEMENTOS DE FILOSOFIA DA
LINGUAGEM E FILOSOFIA DO DIREITO EM HABERMAS E DERRIDA
Lucas Antonio Saran
Rogrio Cangussu Dantas Cachichi...................................................................................158
O DIREITO MODERNO E A INCLUSO DO OUTRO NAS SOCIEDADES
COMPLEXAS SEGUNDO HABERMAS
Joo Paulo Rodrigues........................................................................................................170
O HOMEM COMO FUNCIONRIO E FUNDO-DE-RESERVA:
TCNICA MODERNA EM HEIDEGGER E FLUSSER
Maurcio Fernando Pitta...................................................................................................183
ASPECTOS EPISTEMOLGICOS DA FILOSOFIA DE JOHN DEWEY
Marileide Soares de Lima..................................................................................................195
INFERNCIA DA MELHOR EXPLICAO ANTE A PERSPECTIVA DO
EMPIRISMO CONSTRUTIVO DE VAN FRAASSEN: UM DEBATE ENTRE
REALISMO E ANTIRREALISMO.
Debora Domingas Minikoski.............................................................................................207
TEMPORALIDADE E ETERNO RETORNO:LIBERDADE EM FRIEDRICH
NIETZSCHE
Silmara Aparecida Villas Bas...........................................................................................216
A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM KANT RELACIONADA TEORIA
DA JUSTIA DE RAWLS
Emanuel Lanzini Stobbe..................................................................................................................225
5
PREFCIO
Essa coletnea rene os trabalhos apresentados durante o V Encontro de
Egressos e Estudantes de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina e II Encontro de
Dissertaes em Andamento de Filosofia EDAF , realizado nos dias 30 de setembro a
04 de outubro de 2013, no Anfiteatro Maior do Centro Letras e Cincias Humanas da UEL.
O Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia de 2013 comemorou os 20
Anos de reativao do Curso de Graduao em Filosofia da UEL, festejou a consolidao
do Curso e reverenciou aqueles que fizeram parte de sua construo prestando-lhes
homenagem. O evento objetivou refletir sobre os desafios que o Curso de Graduao em
Filosofia apresenta ao final desses 20 anos. Entendeu-se que essa tarefa se fez
imprescindvel para projetar o futuro do Curso uma vez que refletir sobre o presente
ilumina tanto o passado quanto o futuro. Para entender o presente necessrio inicialmente
contar a histria do curso de Filosofia da UEL percebendo sua identidade e traando
projees para os prximos 20 anos.
A histria da Filosofia na UEL se mistura histria da prpria Universidade. A
Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Londrina foi criada em 1956 e iniciou suas
atividades em 1958. Dez anos depois, a antiga Faculdade foi transformada em
Universidade; inicialmente foi criada a Universidade Estadual de Londrina como uma
Fundao e somente em 1991 foi transformada em Autarquia. A contribuio da Filosofia
era oferecida, em geral, atravs da disciplina Introduo Filosofia nos vrios Cursos
existentes.
Em 1972, construiu-se o projeto de um Curso de Filosofia contendo um currculo
mnimo, nmero de vagas, durao e regime do curso. No Primeiro Semestre de 1973
determinou-se a realizao do vestibular com oferta de 40 vagas. O Curso de Filosofia
estava aberto. No entanto, logo a seguir, a direo da Universidade no abriu novas vagas e
os poucos alunos que estavam matriculados no recm-criado curso foram aconselhados a
migrar para outros cursos. Em 1976, o Curso de Filosofia deixou de receber matrculas e
foi considerado desativado. No se pode negligenciar o fato de que o Brasil estava em
6
plena Ditadura Militar e cidados crticos no eram desejados por um regime autoritrio. A
Filosofia passou novamente a fazer parte apenas das disciplinas introdutrias dos vrios
cursos existentes na Universidade.
A partir da dcada de 1980, com a paulatina redemocratizao poltica do pas, a
vontade de reativar o Curso de Filosofia foi colocada em pauta. A Filosofia e os
Professores de Filosofia, na poca, pertenciam ao Departamento de Histria; constituam a
rea de Filosofia no Departamento de Histria. A primeira ao para a reativao do
Curso de Filosofia consistiu no desmembramento do Departamento de Histria e a criao
de um Departamento prprio, o Departamento de Filosofia.
Nos primeiros anos de existncia do Departamento de Filosofia, a responsabilidade
permanecia na oferta de disciplinas introdutrias Filosofia ministradas nos diversos
Cursos de Graduao e no Curso de Especializao em Filosofia Brasileira, que atendia aos
mais diversos profissionais sedentos pelas reflexes filosficas em suas reas de atuao.
Com a existncia de um Departamento prprio e a consolidao de um corpo docente
pequeno, porm interessado na insero da Filosofia no Paran, o desejo de criao de um
Curso de Graduao em Filosofia foi inevitvel. Comeava o trabalho de construo de um
novo projeto de Curso de Graduao em Filosofia.
A Universidade no foi unnime na criao de uma Graduao em Filosofia e
muitas foram as discusses at se alcanar a aprovao. O Conselho que aprovava os
novos cursos tendia no aprovao; no entanto, atentou-se que no se tratava de um novo
curso, mas da reativao de um curso existente que se encontrava desativado.
Finalmente no dia 24 de junho de 1992 foi reativado o Curso de Graduao em
Filosofia. O vestibular foi realizado em janeiro de 1993 e em fevereiro iniciaram as
atividades letivas do Curso de Graduao Licenciatura em Filosofia. A primeira turma
concluiu o curso em 1996. Com o objetivo de Desenvolver a crtica interpretativa e
conceitual de maneira radical e lgica nas mais diversas reas da sociedade e capacitar
professores para o ensino mdio e superior, o Curso formou em torno de duzentos e
cinquenta 250 Licenciados em Filosofia nesses 20 anos. Atualmente o Curso conta com
180 alunos matriculados.
Ao longo desses 20 anos de Reativao do Curso, novas e importantes conquistas
se consolidaram junto ao Departamento de Filosofia. Muitos Concursos Pblicos para a
contratao de Professores Efetivos foram realizados; hoje o Curso conta com um Corpo
7
Docente Efetivo de vinte e quatro 24 Professores e trs 3 Professores
Colaboradores. H trs 3 cursos de Especializao Lato Sensu em pleno
funcionamento, so elas: Especializao em Filosofia Poltica e Jurdica; Especializao
em Filosofia Moderna e Contempornea: aspectos ticos e polticos; Especializao em
Histria e Filosofia da Cincia. Em 2010, abriu-se o Programa de Ps-Graduao em
Filosofia Mestrado o que veio a consolidar a vocao do Departamento para a pesquisa
e a formao de novos pesquisadores em filosofia. Nesta data, o Departamento de Filosofia
conta com dezenove 19 Projetos de Pesquisa, dois 2 Projetos de Ensino e um 1
Projeto de Extenso em andamento, com uma produo relevante que caminha a largos
passos.
Vrios Eventos Acadmicos de Extenso so realizados anualmente com a
participao da comunidade externa e com a vinda para Londrina de pesquisadores
nacionais e estrangeiro de renome e importncia. Com um esprito aguerrido foi realizado
no ano de 2013 o V Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL e II Encontro
de Dissertaes em Andamento de Filosofia e constituiu-se um espao de discusso, de
debate e de troca de saberes nas diversas mesas e salas de comunicaes. Alm do espao
para a disseminao das pesquisas e das prticas docentes, pretendeu-se reverenciar
aqueles que fizeram parte da construo do Departamento e lhes prestar uma homenagem,
singela, mas qui significativa. Pretendeu-se fazer aquilo que considerado a vocao da
Filosofia, isto , colocar interrogaes e partilhar um mundo comum com um pouco mais
de sabedoria, uma vez que se ousou querer amar o saber.
A temtica do V Encontro de Egressos e Estudantes de Filosofia da UEL e II
Encontro de Dissertaes em Andamento de Filosofia se concentraram na discusso sobre
o ensino de filosofia, o que se fez notar nas conferncias de professores convidados e no
Frum de Avaliao do Curso de Filosofia da UEL. O evento contou com a participao
de conferencistas da Universidade de So Paulo (USP), da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), da Pontifcia Universidade Catlica do Paran (PUCPR), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da prpria Universidade Estadual de
Londrina (UEL). Apesar da nfase sobre o ensino de filosofia, variados foram os temas
abordados nas sesses de comunicaes. Alm das conferncias, a programao colocou
em movimento dois minicursos. Os Anais ora apresentados esto divididos em duas partes:
8
I Resumos e II Textos Completos. Os Resumos totalizam quatorze 14 trabalhos
apresentados e os Textos Completos totalizam vinte 20 trabalhos apresentados.
Prof Dr Maria Cristina Mller
Departamento de Filosofia
9
RESUMOS
10
PRIMEIRAS IMPRESSES SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
PIBID DE FILOSOFIA DA UEL
Fernanda Scheel
Universidade Estadual de Londrina
fernanda_scheel@hotmail.com
Ao deparar-se com uma sala de aula, professores sempre encontraram uma diversidade de
enfrentamentos e desafios a serem superados, para desempenhar seu papel de educador
com domnio e maestria. Atualmente encontram um quadro em relao ao qual no esto
preparados para realizar tarefas e lidar com situaes que transformaram a sala de aula. O
professor assume mltiplas funes alm de educador, torna-se administrador, psiclogo,
socilogo. Trabalhando muitas vezes defronte condies adversas em relao
infraestrutura, materiais disponveis, diversidade sociocultural, socioeconmica. Este tem
de se reinventar a cada dia para tornar suas aulas atrativas aos olhos dos alunos e da
prpria instituio. Alcanar objetivos, traar metas, planejar, encaixar-se em todas as
diretrizes e leis educacionais, fomentar o interesse dos alunos, encontrar meios de atingi-
los, estimul-los, superando obstculos como a realidade em que cada aluno est inserido.
Ser professor implica em fazer uso de todas as ferramentas possveis, e da criao de novas
para realizar uma tarefa to nobre, que a de educar. Acredito que minha experincia no
PIBID, tem sido de extrema valia. Foi-me proposto que encontra-se uma maneira de
trabalhar com o ensino de filosofia de forma extracurricular, que chamasse ateno, que
atrasse, e estimulasse o interesse dos alunos pela matria, e pelos contedos que so
ministrados em sala. Iniciei o projeto com um grupo de alunos que prontificou-se a
trabalhar filosofia por meio da msica. Que aps algumas reunies com o supervisor,
opinamos por trabalhar com a msica achando que seria uma abordagem verstil, leve,
jovial, envolvente, de modo a aproximar-se da realidade dos alunos. Nosso objetivo
principal era o de tornar o ensino menos maante, espontneo, e que nos aproximasse dos
alunos. Em grupo, nos dividimos, para que fosse possvel trabalhar com todos os anos do
ensino mdio. Fiquei responsvel pelo segundo, que trataria dos temas relacionados tica
e Poltica. Dei incio pesquisa pelas msicas que pudessem estar relacionadas s aulas
previstas no planejamento, e para que esta procura se tornasse possvel tive que estudar,
pesquisar todo contedo a ser desenvolvido. Assim, me aprofundando em assuntos,
filsofos, que passam por ns sem certa profundidade, pois no podem ser relacionados
aos nossos interesses pessoais, sem interferir na linha que decidimos seguir dentro da
graduao. Utilizamo-nos da msica como facilitador do entendimento, esta tambm
ajudou-nos a simplificar os contedos que usualmente podem apresentar alguma
dificuldade na maneira de ser transmitido. Apesar da vaga experincia que tive, acredito
que o PIBID seja uma excelente forma de se conhecer a realidade encontrada hoje nas
escolas, no s pelo fato de poder adentrar a este ambiente mais cedo, e estarmos
respaldados por supervisores, mas tambm pelas trocas de experincias entre colegas, com
o supervisor. muito vlido e enriquecedor.
11
TEORIA CAUSAL: DA LIBERDADE E INDETERMINISMO EM HUME
Thas Poliana da Silva Ribeiro
Universidade Estadual de Londrina
poliana.rocknroll@hotmail.com
Procurou-se nesse trabalho mostrar um suposto indeterminismo na teoria de David Hume
atravs de sua obra: Investigao Sobre o Entendimento Humano (1973), o auxlio de
alguns comentadores ajudaram a entender melhor o ponto a ser esclarecido. Entre vrios
aspectos encontrados, nota-se que em relao aos processos naturais aparenta-se que esse
fenmeno ocorre de modo determinstico, em linhas gerais se entende por determinismo
aes onde o efeito se segue de uma causa, mas para Hume sobre tudo na teoria da
causalidade, observa-se que a possibilidade de um efeito ocorrer a mesma dele no
ocorrer, o individuo que sente a necessidade de fazer inferncias de um objeto a outro,
como pode-se notar no exemplo da bola de bilhar, posso perfeitamente conceber que se a
primeira bola tocar em uma outra ela se mova, mas tambm compreendo que a segunda
pode ser tocada pela primeira e est no se mover. Busca-se evidenciar nesse trabalho que
Hume no assume um forte compromisso com o determinismo, e buscando responder
como possvel liberdade sabendo o efeito determinado das aes. Logo uma concepo
causal de liberdade possui certo indeterminismo.
12
O SIGNIFICADO DO AGIR MORAL EM KANT
Kelly Cristina dos Santos
Universidade Estadual de Londrina
santoskelly149@yahoo.com.br
A filosofia moral de Kant tal como apresentada na Fundamentao da metafsica dos
costumes tem como propsito estabelecer o significado das aes com valor moral. Para
isso, Kant define que estas aes so praticadas por dever, por oposio s aes praticadas
por inclinao. Isto porque, de acordo com Kant, para seres racionais e finitos como o
homem a lei moral tem o carter de imperativo, de cuja observncia nenhum indivduo
pode estar totalmente seguro de si. Deste modo, uma vez que segundo Kant todo ser
racional capaz de evidenciar os princpios prticos que existem a priori na razo, mas
que por ser afetado constantemente por inclinaes no to facilmente dotado da fora
necessria para torn-los efetivos em seu comportamento, se faz necessrio uma Metafsica
dos Costumes que investigue e esclarea a fonte de tais princpios prticos, no apenas por
motivos especulativos, mas tambm por oferecer uma norma para o seu correto
julgamento, um critrio supremo de ajuizamento da moralidade, um padro de medida.
Assim, na I seo da Fundamentao, Kant pretende esclarecer a partir duma anlise do
senso moral comum o significado do agir moral oferecendo exemplos de aes que podem
ou no serem qualificadas como contendo valor moral, com o objetivo de tornar evidente a
noo de que as aes com genuno valor moral so aquelas praticadas por dever, por
oposio s aes que so determinadas por inclinaes. Da a distino entre aes de
acordo com o dever e aes por dever referidas no prefcio da Fundamentao: aquilo
que deve ser moralmente bom, no basta que seja conforme a lei moral (KANT, 2008,
p.16), sendo apenas morais aquelas aes que so praticadas pela lei moral. Sendo assim, o
foco deste trabalho expor em que consistem segundo Kant as aes qualificadas como
contendo valor moral, de acordo com a ideia de que para seres racionais e finitos como ns
a moral tem de ter o carter de imperativo, duma obrigao que o indivduo impe a si
mesmo de modo a ultrapassar suas inclinaes naturais, ressaltando a noo kantiana de
que o desafio e o esforo individual so aspectos indispensveis ao agir moral.
13
HUME E DELEUZE: DA IMAGINAO IMANNCIA
Diego de Souza Hirata
Universidade Estadual de Londrina
hiratadi@hotmail.com
O objetivo deste trabalho ser de esclarecer a relao da filosofia de Hume em parte de sua
teoria do conhecimento (impresso, ideia e imaginao) com o movimento do filsofo de
Deleuze. Para tanto, utilizarei a primeira Investigao e o Tratado da Natureza Humana de
Hume e a obra O que a Filosofia? de Deleuze e Guattari. A teoria do conhecimento
humano de Hume pode ser dividida em duas espcies de percepes da mente, a saber, as
impresses e as ideias, sendo a primeira todas as percepes mais vivas e presentes
sensibilidade do homem. J as ideias so as percepes despertadas pelo raciocnio, pelo
pensamento. Ou seja, as ideias nada mais so que cpias de nossas impresses. So as
cpias das sensaes que foram a ns proporcionadas pelo mundo dos sentidos. Portanto,
seguindo a tese de Hume sobre a diferena entre essas duas percepes pode-se afirmar
que jamais uma ideia surgir em nossa mente sem que antes tenha passado por nossas
impresses, isto , sem que antes as houvssemos experimentado em nosso mundo, seja
por nossos sentidos externos ou sentimentos internos. Seguindo o mesmo raciocnio, ainda
segundo Hume podemos associar ideias advindas de diferentes impresses. Podemos
facilmente imaginar um objeto que na realidade, no mundo propriamente dito, no exista.
Como exemplo um cavalo alado. E o motivo de nossa imaginao facilmente construir tal
objeto em nossa mente porque os objetos enquanto separados, cavalo e asas, so
conhecidos por ns. E apenas cabe imaginao uni-los e nos dar a ideia de cavalo alado.
A hiptese que pretendo defender de que Deleuze, conjuntamente com Guattari, faz uso
em sua filosofia desses trs pontos centrais do conhecimento humeano para elaborar uma
espcie de sntese sobre qual seria o pensamento filosfico, isto , qual o movimento
realizado pelo filsofo na construo e manipulao de seus pensamentos. Deleuze, na
obra O que a Filosofia? que escreve com Guattari, diz que o pensamento filosfico tem
como requisito trs movimentos: a criao de conceitos, a inveno de personagens
conceituais e a instaurao de um plano de imanncia. No entanto, a inveno de personagens
conceituais no ser objeto de minha pesquisa pela fraca ou, penso eu, nenhuma relao com meu
trabalho, portanto me limitarei criao de conceitos e ao plano de imanncia. Sendo assim,
apresento que Deleuze e Guattari seguem nesta obra, em certa medida, a mesma tese de
Hume quanto s impresses, como sendo as primeiras vias do conhecimento. E a criao
de conceitos nada mais que, dentro de certos limites, a manipulao racional e singular
desse conhecimento, ou em termos humeanos, a prpria ideia, cabendo imaginao, em
Hume, preencher a mente com este conhecimento. Ou ento, pode-se atribuir ao plano de
imanncia de Deleuze o mesmo papel da imaginao.
14
SE A ANGSTIA O PESO DO SOFRIMENTO O AMOR A REPARAO
Cleide Rosana Marquiori
Universidade Estadual de Londrina
annatexto@hotmail.com
Para o filsofo Kierkegaard, a angstia depe contra o homem, e o amor, a favor do
homem. Dentro do conceito de angstia em Kierkegaard, vive um homem com
sentimentos de culpa e tristeza; estes sentimentos esto impregnados dentro de seu esprito
e so as sobras da inquietude por quebrar a confiana em Deus, visto que o homem foi
criado para viver ao seu belprazer no paraso, um local sagrado contendo tudo que fosse
necessrio para uma vida harmnica e feliz. Mas Eva foi tentada pela serpente a comer a
ma, o nico fruto que Deus imps como regra e limite. Ado, ao experimentar a ma,
prova o gosto que, apesar de bom no primeiro momento, torna-se amargo quando se
conscientiza que descumpriu a ordem divina. Desta forma, a angstia surge como resultado
do primeiro pecado no mundo, uma inocente e curiosa mordida que leva o homem a
desobedecer a Deus. O peso do sofrimento se mostra quando Ado se arrepende, mas isso
no reduz o pecado cometido, apenas arrasta para sua existncia uma grande culpa que o
enlouquece e aterroriza, repassando a todos os homens. Porm, o amor de fato a outra
parte do homem, e segundo Kierkegaard, que menciona em As Obras do Amor, tal
sentimento est presente no homem antes da angstia. O amor um dever consciente que
foi determinado por Deus, o amor edifica, purifica, frutifica, tudo cr sem se iludir.
Podemos averiguar que quase em estado de resilincia, que o homem consegue
desenvolver a habilidade de persistir nos momentos difceis, fazendo-se forte e cheio de
esperana; ele passa do estgio de lamento e dor para o de reparao. Assim, o amor
explica por que consegue superar e cobrir a multido dos pecados, pois consegue dar
condies para enfrentar a dor e a tristeza. O amor obediente e no se entrega a
curiosidades ou tentaes, mas se fortalece e, portanto, tem o poder de cobrir a multido
dos pecados; mesmo vendo e ouvindo o que no deseja ver e ouvir, ele cobre tudo ao se
calar e propagar de forma concisa, oferecendo o perdo. E por maior que sejam as
dificuldades e o gosto amargo das perturbaes, o amor supera e produz frutos doces. Ai
do homem por quem o escndalo chega; feliz daquele que ama, e que, recusando-se a
fornecer ocasio, cobre a multido dos pecados! (Kierkegaard, 2005, p.337).
Palavras-chave: pecado; multido; culpa; reparao; amor; Kierkegaard.
15
O CUIDADO EM HEIDEGGER E EM WINNICOTT
Guilherme Devequi Quintilhano
Universidade Estadual de Londrina
guidevequi@hotmail.com
O presente trabalho tem o intuito de apresentar a questo sobre o cuidado em Martin
Heidegger, filsofo alemo e em Winnicott, psicanalista Britnico. Heidegger, em sua
principal obra, Ser e Tempo, fala de um ente que questiona sobre sua prpria existncia, o
Dasein. O cuidado unifica o Dasein na sua existncia, facticidade e decadncia. Ou seja,
Dasein cuidado, pois tudo que se realiza cuidado. Um fator determinante na questo
sobre o cuidado saber distinguir aquilo que me angustia daquilo que eu tenho medo. O
medo sempre um ente intramundano, por exemplo, um cachorro, pois possvel apontar
e dizer do que se tem medo, j a angstia, encontra-se em lugar nenhum. Outro ponto de
destaque que, o cuidado na teoria heideggeriana possibilita o querer, por preceder e
deixar a possibilidade do querer aberta. Toda esta investigao para o filsofo
contemporneo vista de modo originrio, ou seja, parte de sua fenomenologia
hermenutica. Tanto Heidegger quanto o psicanalista Winnicott, partem da ideia de que,
nascemos do nada e partimos para o nada. Mas onde vivemos tem uma diferena, a saber,
o ser-no-mundo em Heidegger e o ambiente em Winnicott. Para o psicanalista Britnico o
cuidado parte do no-ser para o ser onde o outro (no caso, a me) ajuda esse no-ser a se
constituir enquanto ser, at chegar ao ponto onde ele pode questionar sobre sua prpria
existncia. Aparentemente as teorias podem se relacionar muito bem, pois Winnicott parte
do nascimento (no-ser) para o ser e em Heidegger esse cuidado o constitui como tal. Mas
existe uma diferena entre as teorias, a saber, enquanto o filsofo alemo trata tal questo
no sentido ontolgico, por tratar do ser do ente, o psicanalista Britnico, ao partir do no-
ser, realiza uma investigao no sentido ntico. Ou seja, entre as duas teorias, existem
aproximaes e distanciamentos que vo ser tratados durante este trabalho.
16
ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MDIO E ALGUMAS CONTRIBUIES
POSSVEIS DA PESQUISA DO LTIMO FOUCAULT
Luiz Felipe Navas Podadeiras
Universidade estadual de Londrina
podadeiras@gmail.com
Foucault observou que as escolas produziam um tipo de sociedade disciplinada
formalmente e conforme um molde geral, onde quem foge do modelo imposto pelo
disciplinamento acaba sendo punido, percorrendo assim um caminho cuja formao
consiste, de fato, em conformao. Deste modo, ao indicar o disciplinamento como mtodo
de dominao da sociedade, desembocou no conceito de tecnologia poltica refletindo no
ensino escolar como forma de controlar o indivduo levando-o passividade, mas, por
outro lado, nos ofereceu instrumentos que nos ajudam a resistir a este estado de coisas.
Assim, o que Foucault parece nos recomendar em suas pesquisas sobre o tratamento de si
para consigo que as pessoas ousem construir para si uma vida bela, o que implica uma
ocupao na modificao e na transformao constante das pessoas, voltada para uma
tcnica do viver em que sejam possveis outras iniciativas, inclusive e principalmente a da
potencializao destas mesmas pessoas. Para Foucault a escola, como estratgia de
resistncia, seria um espao para perspectivas livres e criativas construdas no encontro dos
educandos com sua formao. De deste modo, o ensino de filosofia poderia consistir numa
iniciativa que se encaminhasse muito mais para a avaliao e problematizao dos modos
de existncia do que para os esforos adaptativos frente s recomendaes oficiais, que ao
tornar incuos os nossos esforos, bem como a nossa efetiva atuao na constituio de
outros modos de existncia, faz com que nos adaptemos passivamente ao fascismo
capitalista. O cuidado de si na escola seria uma forma de colocar os alunos frente a essas
questes. Portanto, recorrendo s certas contribuies presentes nas ltimas pesquisas de
Foucault, a presente comunicao que consiste em algumas leituras iniciais do pr-
projeto do PROIC Ensino de Filosofia no Ensino Mdio e as contribuies do ltimo
Foucault tem como objetivo pensar o ensino de filosofia como forma de resistncia aos
moldes escolares do disciplinamento e do controle apontando linhas de fuga aos modelos
escolares que nos so impostos atualmente.
17
SCHOPENHAUER E AUGUSTO DOS ANJOS: MONLOGO DE UMA
SOMBRA ACERCA DO MUNDO COMO VONTADE E COMO
REPRESENTAO
Camila Berehulka de Almeida
Universidade Estadual de Londrina
schopanjos@outlook.com
Este trabalho tem o intuito de apresentar uma leitura do poema Monlogo de uma Sombra
do poeta brasileiro Augusto dos Anjos luz da obra O Mundo como Vontade e como
Representao do filsofo Arthur Schopenhauer. A leitura buscar na poesia de Augusto
dos Anjos, as influncias da filosofia schopenhaueriana, como possvel constatar no
poema O Meu Nirvana em que Augusto dos Anjos relata o momento de criao artstica
no caso um relato do poeta onde a redeno temporria oferecida pela Arte descrita
como a manumisso de Schopenhauer. Alm das referncias de outros poemas do nico
livro do poeta intitulado Eu, que podem justificar essa apresentao, temos a citao do
crtico de arte Anatol Rosenfeld, de sua obra Texto/Contexto, onde dedicado um captulo
anlise da poesia de Augusto dos Anjos, dizendo que alguns poemas so inimaginveis
sem a assimilao do pensamento do filsofo alemo, devido a influncia do filsofo
sobre o poeta, que afigura-se mais profunda do que a de Haeckel e Spencer. Seguindo
essa linha de raciocnio foi escolhido o poema Monlogo de uma Sombra que se alia tese
de Schopenhauer sobre o conhecimento submetido ao princpio de razo, que no adentra
essncia dos fenmenos do mundo, mas percebe somente a fugacidade da existncia dos
objetos, bem como o prprio corpo; Vontade, que nos indivduos se manifesta como
mpeto, movimento do corpo, bem como a satisfao das necessidades e quereres
submetida ao princpio de razo suficiente, sempre interessada em conhecer o mundo para
satisfazer-se, e portanto, sobre o que escreve Schopenhauer no livro III de O Mundo...: a
Arte a possibilidade de por ela encontrar um alvio momentneo para a dor advinda da
roda dos quereres e necessidades que gira incessantemente.
18
RELATO DE EXPERINCIA: A FILOSOFIA COMO FATOR PARA
PENSAR A FUTURA PROFISSO
Bruno Vinicius Brandino
Universidade Estadual de Londrina
brunovini0014@gmail.com
O texto ir relatar as experincias desenvolvidas, nas atividades executadas no primeiro
ano do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciao Docncia (PIBID), institudo pelo
Ministrio da Educao e gerenciado pela Capes. O programa tem sido desenvolvido na
Universidade Estadual de Londrina desde agosto de 2010, junto ao subprojeto em
Filosofia, que tem por objetivo a insero dos discentes no Ensino Mdio, e uma melhor
qualificao dos mesmos. A experincia ocorre na instituio de ensino CEEP Professora
Maria do Rosrio Castaldi, na Semana de Humanidades do mesmo. O objetivo da semana
problematizar temas da atualidade por meio de oficinas pedaggicas e de atividades
culturais, para buscando ligar a compreenso crtica dessas temticas, devidamente
relacionadas, s dificuldades enfrentadas pela juventude na atualidade. Aos alunos foi
apresentado um questionrio com perguntas que haviam como proposta investigar a
escolha dos alunos referente suas futuras profisses. A filosofia entra nesse debate,
polmico para este pblico, quando se diz respeito das escolhas, visto que suas implicaes
so morais. Outro ponto que nos faz questionar a respeito da influncia que sofrem os
estudantes que determinam suas escolhas, sejam elas sociais, de aspecto escolar, familiar,
religioso, ou financeiro, visando um futuro ganho econmico afim de um melhor status
social, tambm podendo ser elas psicolgicas, caso a escolha da profisso se d por
afinidade dos mesmos com uma determinada rea de interesse. Assim temos com essas trs
prerrogativas um campo rico de estudo. Como resultado de tal esforo se tem a filosofia
aplicada aos alunos, o desenvolvimento de suas capacidades, como a de ser crtico,
segunda a capacidade de reflexo, ou seja, o pensar quais fatores exercem influncias sobre
suas escolhas e a terceira capacidade, conceber indivduos autnomos. No mbito
pedaggico e por sua vez tambm filosfico cabe filosofia desenvolver capacidades nos
educandos com o objetivo de os tornarem crticos frente ao mar de possiblidades que os
influenciam, sejam estas para bem ou para mal.
19
RELATO DE EXPERINCIA NO ENSINO DE FILOSOFIA E A CRTICA DE
HEIDEGGER METAFSICA PLATNICA
Vanessa dos Santos Oliveira
Universidade Estadual de Londrina
vane.riot@hotmail.com
O presente trabalho tem como objetivo, em um primeiro momento, relatar a experincia
vivida em sala de aula, como participante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciao
Docncia (PIBID). Acredito serem muitas as barreiras que precisam ser ultrapassadas
pelo professor para que com criatividade e muita fora de vontade se possa dar de maneira
proveitosa e criativa o ensino de Filosofia. A aula de esttica em Plato foi trabalhada com
os alunos do terceiro ano na Escola Estadual Benedita Rosa Rezende, na cidade de
Londrina, no Estado do Paran, visando promover uma reflexo do assunto da arte versus
conhecimento, utilizando como eixo central o filsofo platnico. O mtodo utilizado se
baseou no estudo de um artigo promovido pelo supervisor do projeto, Vanderson Ronaldo
Teixeira, mtodo esse que busca desenvolver um plano de aula e coloc-lo em prtica de
modo significativo e criativo, rompendo com os modelos transmissivos tradicionais. O
exemplo de plano de aula dirio possuir quatro passos, so eles: passo 1, mobilizao
(primeiras ideias); passo 2, problematizao (ideias provocativas); passo 3, investigao
(investigando ideias); e por ltimo, no passo 4, a criao conceitual (ampliando ideias).
Passado esse primeiro momento onde irei relatar essa experincia dentro do assunto artes
versus conhecimento em Plato, desenvolverei a crtica que Heidegger faz a Plato. A
partir da metafsica estabelecida por Plato h um afastamento entre o ser, a arte e a
verdade visto que, de acordo com o pensamento platnico, a arte passa a imitar aquilo que
seria a verdade, essa que por sua vez pode ser encontrada apenas no mundo das ideias. O
conceito de ideia estabelecido por Plato passa a considerar aquilo que se encontra no
mundo sensvel como errneo e contrrio verdade, com isso a arte passa tambm a ser
considerada uma iluso, chegando s ltimas consequncias com a teoria platnica, onde
deveria ocorrer a expulso dos poetas da plis. A histria da metafsica iniciada na Grcia
clssica promoveu um ocultamento do ser perante o ente, ou seja, o ser passa a se
confundir como ente, manifesta-se assim uma viso implcita do ser.
.
20
LUDWIG WITTGENSTEIN: OS JOGOS DE LINGUAGEM E A QUESTO DA
DVIDA
Leandro Sousa Costa
Pontifcia Universidade Catlica do Paran
Bortolo Valle
Pontifcia Universidade Catlica do Paran
leandro_kallas@hotmail.com
Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas consideraes sobre o papel da dvida
na filosofia tardia de Wittgenstein. Sua filosofia apresenta-se em dois momentos distintos.
O primeiro momento volta-se para uma orientao sinttico-semntica da linguagem j o
segundo momento volta-se para uma orientao pragmtica da linguagem onde, certeza e
duvida tero seus desdobramentos a partir dessa perspectiva. Nesse sentido, certeza,
linguagem e dvida estaro numa intrnseca relao. A certeza est inseparavelmente
ligada nossa condio de humanos pois forma uma estrutura conceitual que instala-se em
ns. Atravs dela, molda-se o nosso conjunto de crenas. Esse suporte cognitivo nos
permite aplicar as regras no jogo de linguagem. O contexto scio-cultural, por meio de
suas convenes primitivas e atuais nos permite organizar nosso sistema de crenas bsicas
que se tornaro fundamento da nossa cognio. Atravs delas habilitamos os nossos jogos
de linguagem e, com isso, podemos lanar mo das inmeras ferramentas disponveis em
nossa linguagem, entre elas a dvida. A dvida ocorrer somente quando houver elementos
suficientes para pressup-la. atravs do nosso conjunto de certezas que suscitaremos
questionamentos. A certeza o fator bsico para a construo de um sistema cognitivo de
crenas fundamentais, que se forma atravs da linguagem em um contexto. A dvida, para
Wittgenstein, traduzida por expresses caractersticas de: pensar, saber, crer, no ir
designar qualquer tipo de processo interior, pois o ato de duvidar s poder ser
compreendido na prxis cotidiana da linguagem. Ela, de fato, ter sentido apenas no jogo
de linguagem. Atravs disso, podemos aplicar a dvida que, em certos jogos de linguagem
ter sentido, em outros no. Para o filsofo, usar expresses que, em sua gnese, remetem-
se questo da dvida s ser possvel e permitido em alguns jogos de linguagem. Pois s
possvel haver conhecimento onde a dvida, de fato, tenha sentido. O que o filsofo quer
mostrar que a dvida torna-se legtima e ganha sentido, somente em uma estrutura em
que ela no objeto de dvida.
21
A SUBJETIVIDADE EM AUGUSTO COMTE
Sergio Tiski
Universidade Estadual de Londrina
sertis@uel.br
O objetivo deste trabalho proporcionar uma introduo questo da subjetividade em
Comte, propositor de uma moral cientfica, ao mesmo tempo terica ou moral
propriamente dita e prtica ou educao, fundador da sociologia cientfica e da filosofia
positiva ou positivismo, e fundador de uma religio anti-sobrenaturalista, a religio da
humanidade. Comte nasceu em Montpellier, a 19/1/1798, e faleceu em Paris, a 5/9/1857.
Passou por uma emancipao em relao ao catolicismo e ao monarquismo aos 14 anos;
por uma converso ao relativismo e consequente anti-absolutismo (e anti-
sobrenaturalismo) aos 19; por um perodo de loucura inclusive com tentativa de suicdio
entre os 28 e os 30; por uma converso artstica aos 40; por uma converso sentimental ou
moral aos 47; pela fundao da sua religio aos 50; pela afirmao da necessidade de
superar a prpria cincia e a prpria medicina aos 59. Com relao s suas obras, as
principais so as seguintes: Curso (6 volumes: 1830-1842); Discurso sobre o esprito
positivo (1844); Sistema de poltica positiva. (4 volumes: 1851-1854); Catecismo
positivista (1852); Apelo aos conservadores (1855); Sntese subjetiva Vol. 1: Sistema de
lgica positiva ou tratado de filosofia matemtica (1856). Ao contrrio do que
normalmente se pensa, o Comte definitivo no objetivista. A moral, que Comte afirma,
desde o final do Curso, dever ter a supremacia, e que ele elevou 7 e suprema cincia, a
partir de 12/1850-1/1851, j aparecia desde suas primeiras cartas contemplando, apesar de
que muito ambiguamente, tambm a subjetividade. O seu relativismo, desde 1817, j
continha o subjetivismo. Desde a primeira lio de biologia do Curso, escrita em 1836,
Comte j prometia a conciliao dos mtodos objetivo e subjetivo. A afirmao explcita
de que s possvel sntese subjetiva apareceu no Discurso, que resume o Curso. A
inflexo sentimentalista propiciada pela experincia de amor com Clotilde de Vaux (1844-
1846) acentuou essa explicitao. Na Introduo fundamental do Sistema I, Comte diz que
o quadro antropolgico que confeccionou a partir de 1846, e que a partir de 1854 se tornou
a "lei" para a moral e para a educao (assim como a lei dos 3 estados a lei para a
sociologia), subjetivo, uma teoria subjetiva do crebro ou alma; e que essa teoria
subjetiva j o guiou na confeco do Discurso preliminar (1848), no qual aparece pela
primeira vez a religio comtiana. Finalmente, o ltimo conjunto de tratados iniciado por
Comte, com o mtodo subjetivo tornado mtodo supremo, foi chamado justamente de
Sntese subjetiva (Segundo ele o Curso foi objetivo, o Sistema subjetivo e objetivo, e a
Sntese subjetiva, enfim, essencialmente subjetiva). Subjetivo, subjetividade,
subjetivismo, para Comte, quer dizer da interioridade dos indivduos e, sobretudo, da
perspectiva do sujeito, isto , do homem, da humanidade. Quer dizer que tudo relativo ao
homem, sujeito em relao realidade como objeto. Mesmo sendo objetivo, o
conhecimento humano sempre subjetivo. Ento, no conhecimento, para Comte,
objetivismo acento e anterioridade das coisas, e subjetivismo do humano.
Palavras-chave: subjetividade; Augusto Comte; filosofia positiva; educao
22
PRTICA DOCENTE NO ENSINO MDIO: A OLIMPADA DE FILOSOFIA
COMO EXPERINCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Anderson Souza Oliveira e Yuri Jos Victor Madalosso
Universidade Estadual de Londrina
andersonolly@live.com/joseph.requiem@gmail.com
O objetivo de nosso trabalho expor a experincia de campo proporcionada pelo grupo do
PIBID de 2011 em sua primeira organizao de uma Olimpada de Filosofia no Colgio
Estadual Benedita Rosa Rezende, em Londrina, Paran, onde so realizadas as prticas de
docncias de nosso grupo, no qual se tem como supervisor o professor Vanderson Ronaldo
Teixeira. Pretende-se, com efeito, elucidar e mostrar, alm de fundamentar com dados
estatsticos e relatos de experincia, as consequncias positivas da Olimpada para o ensino
de filosofia no ensino mdio. A olimpada, pois, foi voltada para os alunos do ensino
mdio (1, 2 e 3 anos do ensino mdio). Tal olimpada foi dividida em trs fases, a saber,
a primeira de perguntas objetivas sobre os temas filosficos de cada srie (no 1 ano: Mito
e filosofia e Teoria do conhecimento; no 2 ano: tica e Filosofia Poltica e no 3 ano:
Esttica e Filosofia da Cincia), a segunda uma prova dissertativa sobre estes mesmos
contedos estruturantes para a segunda fase, e por fim, na terceira fase, elaboramos uma
avaliao oral argumentativa sobre os j citados contedos. Antes, porm, da realizao da
Olimpada de Filosofia houve uma trajetria iniciada pelo grupo PIBID - 2011 para estudar
e diagnosticar as melhores prticas docentes e atividades para o contexto escolar em que
estamos inseridos. Isto foi efetivado atravs de uma pesquisa de campo de carter
quantitativo e qualitativo realizada em 2011. Dito isso, vale-se ressaltar os processos
institucionais e educacionais feitos para que a olimpada fosse realizada dentro dos prazos
estipulados pelo prprio estatuto que confeccionamos, segundo o calendrio escolar e a
disponibilidade de dias para os prprios alunos, a confeco de materiais de apoio, como
blogs interativos, disponibilizao de horrios para atendimento em monitoria, e apostilas
de apoio, como tambm o processo de escolha e autocrtica da forma de avaliao que j
trazamos de formao e que poderamos adquirir por experincia. Por fim, algo tambm
essencial a ser pontuado so as consequncias positivas e negativas do evento realizado
para a prtica e iniciao docncia, alm do prprio aprendizado dos organizadores, que
serve de balano para a realizao de outros eventos.
23
TEXTOS COMPLETOS
24
O ENSINO DE FILOSOFIA COMO QUESTO CLSSICA
NA TRADIO DO PENSAMENTO FILOSFICO
Filipe Ceppas
UFRJ (FE/PPGF)
filcepps@gmail.com
RESUMO
Ensinar e aprender filosofia so questes centrais e recorrentes para a tradio filosfica,
sobretudo se pensadas em termos da relao mestre-discpulo, ou seja, no que diz respeito
transmisso da prpria filosofia. Na tentativa de pensar essas questes para alm da
relao mestre-discpulo, apresento a questo fundamental do ajuizamento, partindo da
obra A vida do Esprito, de Hannah Arendt. Em seguida, procuro pensar o desafio do
ensino de filosofia na educao bsica para ns, hoje. Ao final deste percurso, retomo a
questo da importncia do ajuizamento, que simultaneamente pressupe o pensar e por
ele pressuposto, e sua relao com o ensino e o aprendizado. Defendo que o importante
no saber o que a filosofia pode ensinar s crianas e aos jovens, mas experimentar o que
a filosofia pode aprender com eles. O desafio no seria tanto o de ensinar filosofia ou a
filosofar, mas exercitar o pensamento filosfico com eles e pensar (aprender) o que advm
(ou com aquilo que advm) desse encontro.
Palavras-chave: Filosofia; Ensino de Filosofia; Ajuizamento; Hannah Arendt.
Em uma conversa com Gnter Gaus, exibida pela TV alem em 1964, Hannah
Arendt afirma que escrever, para ela, um ato de compreender. Quando estou
trabalhando, no estou interessada em como meu trabalho pode afetar outras pessoas.
1
Esse sentimento pode ser compartilhado por muitos filsofos e escritores. Estudar,
escrever, aprender, tentar compreender, pensar, enfim, no carregaria, necessariamente,
nenhum compromisso com o outro. Mas curioso que, na mesma entrevista, a autora
afirme no conseguir iniciar a escrita seno no momento em que as ideias j estejam
completamente claras em sua cabea. As duas afirmaes parecem contraditrias: escrevo
para pensar melhor, mas s consigo escrever quando j pensei o melhor que pude. certo
que ela acrescenta, ainda, que a escrita tem um papel basicamente mneumnico: se ela
tivesse uma boa memria, no se daria ao trabalho de escrever. Mas aquilo que escapa,
nestas breves consideraes feitas de improviso no contexto de uma entrevista, a questo
da publicao. Se no por algum interesse/compromisso com o outro, em um certo
dilogo com seus pares ou com o pblico em geral, por que se dar ao trabalho de publicar
uma obra?
1
ARENDT, 2003, p.5.
25
Gostaria de defender, aqui, que todo pensar, o trabalho filosfico sistemtico e o
que nos motiva a ele, envolve, de algum modo, intrinsecamente, ainda que no numa
relao direta, um compromisso com o outro, um dirigir-se a um outro; e que essa relao
sempre um processo simultneo de ensino e aprendizado. Essa uma tese mais geral, sobre
a estrutura mesma do pensar enquanto atividade filosfica, isto , como diz Arendt, uma
atividade que visa a compreenso dos fenmenos para alm de conhecer porque as coisas
se comportam assim ou assado (isto , para alm da cincia), mas que se d
fundamentalmente atravs de conceitos que respondem a problemas os mais diversos
(incluindo os da cincia). Esta atividade envolve sempre um compromisso com o outro e
esse compromisso sempre, tambm, um processo de ensino-aprendizado.
No toa, portanto, que comeo citando Hannah Arendt. Esta autora, embora
estabelea uma separao aparentemente bastante radical entre o pensar e o agir, conecta,
por assim dizer, essas duas pontas atravs da faculdade do juzo. Num determinado
momento dA Vida do Esprito, ela escreve:
o pensamento como tal traz bem poucos benefcios sociedade, muito menores
do que a sede de conhecimento, que usa o pensamento como um instrumento
para outros fins. Ele no cria valores; ele no encontrar o que o bem de uma
vez por todas; ele no confirma regras de conduta; ao contrrio, dissolve-as. E
ele no tem relevncia poltica a no ser em situaes de emergncia. A
considerao de que eu tenho que poder conviver comigo mesmo no tem
nenhum aspecto poltico, exceto em situaes limites (ARENDT, 1992, p.144).
O pensamento, fundamentalmente, reflete sobre aquilo que est por trs ou
alm da vida ordinria, das coisas no mundo, das condutas, e ele tem a ver, sempre, com
um compromisso do eu consigo mesmo. Segundo Arendt, ele lida, basicamente, com o
invisvel e, ao faz-lo, questiona, se afasta do e dissolve o visvel. Mas Arendt
complementa:
A faculdade de julgar particulares (tal como foi revelada por Kant), a habilidade de
dizer isto errado, isto belo, e por a afora, no igual faculdade de pensar. O
pensamento lida com invisveis, com representaes de coisas que esto ausentes. O juzo
sempre se ocupa com particulares e coisas ao alcance das mos. Mas as duas faculdades
esto inter-relacionadas (), o juzo, o derivado do efeito liberador do pensamento, realiza
o prprio pensamento, tornando-o manifesto no mundo das aparncias, onde eu nunca
estou s e estou sempre muito ocupado para poder pensar. A manifestao do vento do
26
pensamento no o conhecimento, a habilidade de distinguir o certo do errado, o belo do
feio. (idem)
Isso se comprova em qualquer pgina dos livros de Plato, onde o pensar e o ajuizar
caminham sempre juntos; isto , onde o pensar depende tanto do juzo quanto o inverso: o
pensar (ou, ao menos, o momento em que nos sentimos forados a enunciar esse
pensamento, a p-lo no papel, a comunic-lo)
2
inseparvel da habilidade de distinguir o
certo do errado, o belo do feio. E esta, me parece, seria uma maneira inequvoca de
reconhecer que a questo do ensino-aprendizado est, explicitamente, presente desde
sempre na histria da filosofia. Distinguir o que certo e o que errado, ou o que belo e
o que feio, sempre foi e ser uma questo pedaggica e poltica, pelo menos desde que
inventaram a democracia, isto : algo que fazem e fao em meio aos outros, em meio a
uma livre disputa sobre os particulares que contam ou que no deveriam contar, em funo
disto ou daquilo outro.
Vale dizer, quando a questo do ensino-aprendizado comparece nos pensamentos
de Herclito, Pitgoras, Scrates, Plato, Descartes, Locke, Rousseau, Kant, etc, ela no o
faz somente como um tema filosfico a ser pensado (a educao) ou apenas como
questo relativa transmisso da prpria filosofia (a relao mestre-discpulo). A questo
do ensino-aprendizado subjaz relao entre o pensar e o ajuizar, nesta tenso entre refletir
sobre o universal e julgar o particular, tal como essas atividades do esprito so
exercitadas por cada pensador, e ela ento se apresenta disposta de uma determinada
maneira, indica limites e alcances, maneiras distintas de relacionar o visvel e o invisvel,
como bem o mostra Arendt, exausto.
Assim, por exemplo, apesar de todo o peso que Plato d intuio e verdade do
nous, que no podem ser postas em palavras (isto , apesar de sua descrio da verdadeira
filosofia como radicalmente livre dos sentidos e dos assuntos ordinrios da plis),
inegvel tambm que, em sua obra (obviamente, composta de pensamentos postos em
palavras), toda a discusso sobre a verdade elaborada a partir do papel do legislador,
inseparvel, por sua vez, do papel do educador. O legislador o educador maior da
2
os pensamentos, para acontecer, no precisam ser comunicados; mas no podem ocorrer sem ser
falados silenciosa ou sonoramente, em um dilogo, conforme o caso. Como o pensar, embora sempre
proceda por palavras, no necessita de ouvintes, Hegel pde, de acordo com o testemunho da maioria dos
filsofos, dizer que a filosofia algo solitrio. E a razo - no porque o homem seja um ser pensante, mas
porque ele s existe no plural tambm quer a comunicao e tende a perder-se caso dela tenha que se
privar; pois a razo, como observou Kant, no de fato talhada para isolar-se, mas para comunicar-se.
Arendt, 1992, p.77.
27
sociedade, e a filosofia, como busca do saber, depende dessa atividade do mesmo modo
como, segundo Plato, o legislador deveria depender da filosofia. Isto , a questo de saber
o que o bem no separvel da questo de como se pode demonstrar (ensinar,
orientar) que este o bem para todos e para cada um na plis. Esta outra maneira de
dizer que o filosofar no existe sem o mtodo, e o mtodo inseparvel do exerccio do
ajuizamento. E isso porque, ao caminhar em direo s mais imponderveis das abstraes,
partimos sempre da percepo e de juzos particulares e, mesmo que nosso intuito seja o de
nos distanciar o mais possvel deles, ou mesmo que a divisa da volta s coisas mesmas
no nos mobilize, em nenhum momento escapamos da percepo e dos particulares, dada a
natureza metafrica da linguagem (o que pode ser constatado nesta mesma frase que acabo
de escrever, onde caminhar, partir de, distanciar-se, mobilizar e escapar so imagens
associadas ao mtodo, sendo impossvel prescindir delas ou de outras semelhantes).
Esta questo da relao intrnseca entre pensar, ajuizar, perceber, ensinar e aprender
j estava presente em Herclito, que, segundo Digenes Larcio, teria escrito: muito
aprendizado (polematin) no ensina (didaskei) saber (na traduo de Alexandre Costa; ou,
na traduo de Carneiro Leo: muito saber no ensina sabedoria), o que poderamos
interpretar como: no atravs de qualquer busca do saber que nos aproximamos do
(verdadeiro) pensar; o que deveria ser lido conjuntamente com os seus outros fragmentos
que falam sobre o didaskai, o ensinar, e a mathesis, o aprender, e que via de regra nos
remetem relao intrnseca entre o pensar e a percepo: o que prefiro o que aprende
a viso, a audio. E curioso perceber que todos os filsofos, quando falam do ensino e
do aprendizado da filosofia, nos seus mais diversos aspectos (e tambm quando falam da
prpria metafsica), costumam explicitar (ou, seria mais adequado dizer, costumam
escancarar) esse enraizamento metafrico da linguagem. Assim, Descartes, por exemplo,
ao falar sobre o aprendizado da filosofia, vai utilizar-se de uma metfora ocenica (de
resto, uma figura clssica da metafsica nos mais diversos filsofos) um mergulho no
mar que lhe permita chegar ao fundo e dar o impulso de volta superfcie, enquanto
Kant prefere as runas, os germes e os vermes, como imagens prprias incompletude e
fragilidade estrutural dos sistemas que herdamos, e a partir dos quais precisamos tentar
construir o nosso prprio pensamento, ou a filosofia enquanto uma cincia possvel.
Fao uma pausa nessas elucubraes e teses muito gerais sobre a relao entre o
pensar, o juzo e o ensino-aprendizado e retomo a simples constatao de que ensinar e
aprender filosofia so questes centrais e recorrentes para a tradio filosfica, sobretudo
28
pensadas em termos da relao mestre-discpulo, ou seja, no que diz respeito transmisso
da prpria filosofia. A partir de uma breve apresentao do tema, quero pensar o desafio do
ensino de filosofia na educao bsica para ns, hoje. Ao final deste percurso, retomarei a
questo da importncia do ajuizamento, que simultaneamente pressupe o pensar e por
ele pressuposto, e sua relao com o ensino e o aprendizado. O que eu gostaria de
defender, na mesma linha do que costuma defender meu colega e amigo Walter Kohan,
que o importante no saber o que a filosofia pode ensinar s crianas e aos jovens, mas
experimentar o que a filosofia pode aprender com eles. O desafio no seria tanto o de
ensinar filosofia ou a filosofar, mas exercitar o pensamento filosfico com eles e pensar
(aprender) o que advm (ou com aquilo que advm) desse encontro.
A filosofia pensa tradicionalmente a sua transmisso sob duas exigncias
simultneas e conflitantes: fidelidade ao mestre e autonomia do discpulo (mais amigo da
verdade do que de Plato). O transmitir sempre um convite a um pensamento autnomo,
um deixar passar mais alm, que o sentido etimolgico estrito da palavra transmitir.
Mas transmitir tambm uma certa fidelidade ao mestre, ou um simples convite para
pensar juntos a partir do que prope o mestre, com relao ao qual esse mais alm
encontra limites mais ou menos bem definidos (nem todo desvio produtivo, nem toda
tentativa de refutao bem vinda). A tenso entre autonomia e fidelidade, entretanto, no
se d apenas no discpulo com relao ao mestre. Ela implica, por vezes, um
embaralhamento dos papis de mestre e de discpulo, como acontece com Scrates e
Alcibades.
Neste caso clssico, o embaralhamento sutil, como demonstrou Lyotard (2012).
Alcibades reclama que, estando Scrates enamorado dele, ao final ele, Alcibades, que
acaba ficando escravo de Scrates, e isso porque Scrates aceita a troca proposta pelo
primeiro: os favores de Alcibades pela sabedoria do amante. Ao faz-lo, Scrates, que
desconfia do seu prprio saber, apenas deixa Alcibades na posio de compartilhamento
deste estado de inquietao, de indagao sobre a prpria possibilidade da troca proposta.
At a, Scrates aparentemente continua no seu lugar de mestre e Alcibades no de
discpulo, ainda que, ao acreditar no que diz o prprio Alcibades, a relao entre amado
e amante tenha se invertido. No que se refere ao saber, Scrates mostra a Alcibades que
isto, o saber, no uma coisa que possa ser trocada, nem transmitida. Mas
precisamente a que o discpulo pode ir mais alm do mestre, no sentido em que o estado
de agitao de Alcibades, o ter-se tornado escravo de Scrates, a atualizao ou o
29
compartilhamento de um tipo de desejo de saber que era antes exclusivo de Scrates. Aqui,
o nico saber do mestre, o s sei que nada sei, se confunde com o desejo de saber e o
desejo (possibilidade-necessidade) de compartilhar esse seu desejo de saber. E seria
preciso acrescentar que esse saber paradoxal do mestre (esse desejo de saber e desejo de
compartilhar esse desejo de saber, assim como a possibilidade mesma desse
compartilhamento), ao menos nesse exemplo, parece depender da ingenuidade do
discpulo, que cr que o saber seja uma coisa que possa ser transmitida. De modo mais
geral, em todos os dilogos platnicos, parece evidente que o pr-se em movimento do
desejo de saber depende invariavelmente do encontro com um interlocutor que o desafia.
Vimos acima que o fato do desejo de saber depender de um desejo de
compartilhamento relaciona-se com as tensas relaes entre o pensar e o juzo (e, em
Plato, essa dependncia se confunde com a forma do dilogo como paradigma da escrita).
Essa dependncia tem a ver com a ameaa que parece pairar sobre a filosofia desde que
Thales foi vtima da risada de uma escrava trcia: o risco de ser acusada e ridicularizada na
plis. Poder-se-ia objetar que esse retrato da filosofia por demais platnico ou grego, que
essa necessidade de compartilhamento, essa necessidade de ensino ou da orientao do
pensar alheio em benefcio do desenvolvimento do prprio pensamento advm do contexto
especfico do surgimento da figura do filsofo na Grcia Antiga, mas que no haveria nada
de estritamente necessrio nisso. E, tal como faz Hannah Arendt, poderamos identificar
uma ruptura radical e irremedivel com relao a esse modelo na concepo do eu
interior de Santo Agostinho.
Sem dvida, com Agostinho, Descartes, Rousseau ou Nietzsche, a filosofia poderia
ser caracterizada, com propriedade, como um mergulho nas profundezas do eu, um
revirar aquilo que se acredita saber, seguir um caminho de investigao que pessoal e
intransfervel, o dilogo do eu consigo mesmo; e este, aparentemente, no depende da
interlocuo com nenhum discpulo. Mas essa suposta independncia no parece razovel.
Apenas a forma da interlocuo transformada, porque muda o contexto poltico e se
diversificam os interlocutores: Deus, a tradio escolstica, a nobreza europeia, os
philosophes, o nihilismo. Em primeiro lugar, a obra desses filsofos tambm e sobretudo
uma escrita dirigida a um pblico leitor (e um pblico leitor que no est mais, como na
Grcia ou em Roma, fundamentalmente restrito s escolas, isto : a interlocuo parece
ampliar-se, ao invs de restringir-se); uma escrita, portanto, que nunca meramente
mneumnica, um armazm de mantimentos para quando a era do esquecimento chegar,
30
na frmula pejorativa de Plato (apud Arendt, p.88). Agostinho, Descartes, Rousseau ou
Nietzsche e todos mais no escrevem apenas para registrar seus pensamentos ou leg-los
posteridade. Suas obras esto envolvidas em disputas, do mesmo modo que estiveram as de
Plato ou de Aristteles. Apenas as disputas so diferentes (podendo se aproximar num ou
noutro aspecto), assim como o so seus interlocutores.
No contexto da interioridade (que se inicia com o cristianismo e sobrevive ainda
hoje na forma do mito), a questo clssica da tenso entre autonomia e fidelidade na
relao mestre-discpulo se apresenta em uma nova configurao. Em Descartes,
encontramos a nfase na natureza nica e intransfervel do filosofar. Descartes se dirige
aos seus contemporneos para convenc-los de que a busca da verdade depende de um
caminho que cada um deve encontrar por si mesmo. Por outro lado, paradoxalmente, a
verdade que Descartes encontra to radicalmente universal que todo leitor levado a uma
espcie de dilema: ou bem Descartes chegou a um resultado inquestionvel, e seria intil
procurar por outro, ou bem o que parece mais universal no o , e seria improvvel
encontrar outro com as nossas prprias pernas (qualquer ambulo ergo sum seria to
apofntico quanto o cogito ergo sum). Seria o caso, agora, ento, como faz Guroult, de
nos contentarmos com a investigao da ordem das razes, capaz de mensurar a
coerncia e a fora do cogito como um princpio absoluto, claro e distinto, incontornvel
para se chegar ao conhecimento verdadeiro? Tratar-se-ia, como pensa talvez a maioria dos
nossos pares, de que apenas a alguns gnios dado avanar num caminho verdadeiramente
prprio, restando a ns, comuns mortais, o comentrio cuidadoso do que produzido por
aqueles? Neste ponto, vale relembrar a fidelidade de Alqui s afirmaes de Descartes de
que o cogito a minha descoberta, a minha busca da verdade, e que cada um deve
buscar a sua, para destacar um aspecto paradoxal desta suposta tenso entre a
universalidade do filosofema e a singularidade do mtodo: ora, uma obra como a de
Guroult sobre Descartes no deixaria de ser um tipo pessoal de busca da verdade, na
medida em que o autor no se contenta em ler e repetir os raciocnios do filsofo, mas
procura dar um juzo slido sobre as questes propostas, como sugere o prprio Descartes
nas Regras para a direo do esprito. Ainda assim, Alqui parece ter razo em sugerir
que essa espcie de parasitismo trai o esprito do pensamento de Descartes, quando este
nos exorta a procurar por ns mesmos o nosso prprio caminho.
Guillermo Obiols, em Uma Introduo ao Ensino de Filosofia (2012), nos prope
uma perspectiva interessante para a leitura dessa passagem das Regras, em que Descartes
31
nos exorta a dar um juzo slido acerca das questes, ao invs de nos apegarmos ao que
disseram Plato ou Aristteles. A tenso entre autonomia e fidelidade na relao mestre-
discpulo aparece, talvez pela primeira vez, como uma clara oposio entre histria da
filosofia e filosofar. certo que esta oposio j aparece em outros autores, como
Montaigne, mas em termos ainda emprestados dos textos das escolas antigas. Descartes
parece ter sido o primeiro a formular uma oposio diante da histria da filosofia como
sendo tudo o que veio antes e que necessitaria passar pelo crivo de um questionamento o
mais radical possvel, bastante diferente do tipo de anlise a que antes Plato ou Aristteles
submetem o pensamento pr-socrtico. Referindo-se ao aprendizado da filosofia, Descartes
ope aprender cincia (filosofar como atividade rigorosa do pensamento) a aprender
histria. interessante perceber, como faz Obiols, que, para alm da falsa contenda entre
Kant e Hegel acerca do problema, este ser um topos fundamental de toda uma tradio
posterior, que identifica a fidelidade estril a doutrinas alheias com a histria da filosofia
e esta, por sua vez, com o ensino institucional da filosofia, reconhecendo na negao deste
ensino uma condio fundamental para a autonomia do pensamento. Filsofos como
Schopenhauer e Nietzsche iro ao extremo de dizer que a prpria natureza estatal das
instituies de ensino exclui, necessariamente, a possibilidade de uma filosofia autntica
nos ginsios e nas universidades. Obiols sugere, a meu ver um pouco apressadamente, que
este desprezo pelo ensino de filosofia nas escolas e nas universidades poderia ser
superado caso superssemos esta viso errnea de que o ensino de filosofia estar sempre
condicionado pela natureza estatal das instituies de ensino e, portanto, refm de uma
certa configurao da transmisso do saber adequada essa natureza, que seria a do mestre
que tem o domnio da histria da filosofia e se faz passar por sbio perante um auditrio. O
que me parece apressado crer que possamos superar to facilmente assim essa forma com
que Schopenhauer e Nietzsche apresentam a questo do ensino de filosofia nas instituies
de ensino. Talvez, como argumento em seguida, a questo no seja de superao, mas de
um eterno combate.
No bastassem as limitaes institucionais ao ensino-aprendizado da filosofia, a
perspectiva do ensino de filosofia na educao bsica conta ainda com outros obstculos
difceis, sendo a imaturidade ou o desinteresse de crianas e jovens pelo estudo em
geral, e pela filosofia em particular, o mais propalado. De fato, tudo, cada vez mais, parece
conspirar contra a ideia de que haja algum sentido em trabalhar com a filosofia dentro da
escola. Se a cultura na qual os jovens e crianas esto imersos em grande medida
32
refratria ao pensar, e se a prpria instituio universitria que forma os professores
desestimula o pensar em nome da utilidade, da erudio ou de critrios endgenos de
competncia e rigor, a filosofia dentro da escola estar sempre refm desta lgica,
comprimida entre os critrios acadmicos e os rudos da plis, do Estado, da cultura de
massas, etc.
Contudo, esse estado de coisas no deveria dar lugar a uma viso catastrofista e
elitista (que reafirma a suspeita de que o pensar para poucos). Esta viso no sobrevive s
nossas consideraes sobre as relaes entre o pensar e o juzo. A potncia do pensar est
em todos e em cada um. O que podemos considerar como sendo um conjunto de
obstculos para que possamos encontrar esse espao de distanciamento frente ao mundo
visvel e suas particularidades, suas contingncias sem rima ou razo, estabelecendo esse
paciente e cuidadoso dilogo de mim comigo mesmo, na verdade o horizonte onde este
dilogo pode torna-se significativo para alm de si mesmo. A escola no o lugar onde a
filosofia entra para ajudar em coisa alguma nem a quem quer que seja. O jovem no deve
ser convidado a pensar porque isso supostamente seria bom para ele ou para a sociedade. O
pensar no necessariamente bom para a sociedade, nem para ningum. A filosofia habita
na escola em um estado de combate entre esse desejo de saber e as particularidades do
mundo visvel, um dos poucos combates (os outros dois seriam a escrita e a arte) capazes
de tornar significativo este dilogo mudo e solitrio para alm do estreitssimo crculo
daqueles que nele (no) se reconhecem. Para a maioria da populao, na escola, mais do
que em qualquer outro lugar, neste espao nico ocupado, em cada turma, por um pequeno
grupo de pessoas ainda no totalmente tomadas pelas demandas do cotidiano, que o puro
apelo ao pensar tem a chance de se fazer ouvir e de se compreender a si mesmo, de
compreender o que nele, nesse dilogo mudo e solitrio, faz liga com as particularidades
do mundo. Ao lado da escrita e da arte, a filosofia na escola o espao privilegiado para o
exerccio da faculdade do juzo que d sentido filosofia.
REFERNCIAS
ARENDT, Hannah, What remains? The Language remains: A conversation with
Gnther Gauss, in The Portabel Hannah Arendt, ed. Peter Baehr, London: Penguin, 2003.
ARENDT, Hannah A vida do Esprito. Trad. Antonio Abranches, Rio de Janeiro: Ed.
UFRJ, 1992.
33
LYOTARD, Jean-Franois. Porquoi philosopher? Paris: PUF, 2012.
OBIOLS, Guillermo. Uma introduo ao ensino da filosofia, Iju: Ed. Uniju, 2002.
34
GORA VIRTUAL: A FILOSOFIA NA CIBERCULTURA
Vanderson Ronaldo Teixeira
USP/UEL/SEED-PR
osabiomadruga@gmail.com
Patrcia M. Weffort Teixeira
UEL/SEED-PR
patyweffort@hotmail.com
RESUMO
O presente ensaio trata de um tema contemporneo, ainda pouco explorado por ns
professores de filosofia do ensino mdio pblico do Paran, na cidade de Londrina, que a
instrumentalizao e o domnio de tcnicas e conhecimentos metodolgicos para a imerso
na Cibercultura para com isso tirar o maior proveito em benefcio da aprendizagem e do
ensino, mais especificamente, das possibilidades do desenvolvimento de um processo
educativo dentro do cyber-espao que se dedique exclusivamente Filosofia, constituindo-
se como um canal e/ou canais de ensino e de aprendizagem do estudante do ensino mdio.
Para essa discusso, ainda ensastica e romntica, trataremos inicialmente de maneira bem
elementar das peculiaridades e da instrumentalizao do professor de filosofia e seus
primeiros cliques dentro desse universo virtual. O pano de fundo que motiva essa imerso
a constatao bsica e que qualquer professor vivencia, qual seja, a relao direta dos
estudantes com a World Wide Web (teia mundial), atravs das redes sociais e demais
cyber-espaos. Na descrio do processo de instrumentalizao do professor,
demonstraremos como proceder nesse ambiente, explorando diversas ferramentas e
plataformas que permitiro ampliar o tempo do filosofar e rompero com o espao de sala
de aula, pois, uma das caractersticas bsicas do cyber-espao o rompimento com o
tempo e com o espao. Esta demonstrao servir para corroborarmos nossa premissa que
o ensino de filosofia, maneira grega. Mas, com um toque de contemporaneidade, ou
seja, o estilo ser aquele desenvolvido na gora grega, com a peculiaridade atual de que
para ns ser uma gora virtual. No cyber-espao, alm das nossas prprias plataformas,
destacaremos outras plataformas e apontaremos as nossas investidas e reflexes nesses
ambientes, em busca de contedos filosficos que permitam ser discutidos, pensando e
fomentando a interatividade dos estudantes, ponto fundamental para o sucesso e a
manuteno do dilogo reflexivo.
Palavras-chave: Ensaio; Filosofia; Cibercultura; Cyber-espao (gora Virtual); Blogue
Nosso ensaio, sem nenhuma pretenso de ser um artigo cientfico, portanto
impessoal e frio, contar uma breve histria que tencionamos esclarecer como o processo
de insero no cyber-espao pode ser simples e romntico. Vamos histria. Sugerimos
que para essa leitura, sente-se confortavelmente e lembre-se das histrias que lia quando
ainda era criana.
Sbado de manh, por volta das 09:37 o professor de filosofia se prepara para sair
de sua casa, ambiente aonde est bem servido de livros, de discos, de cds, de dvds e de
algumas obras de artes como pintura e esculturas, o mesmo deixar esse aconchegante
lugar definido no espao e altamente atraente para os eternos amantes da sabedoria, pois,
35
na segunda-feira (re)comeam as aulas e ele, como de costume, quer surpreender os seus
estudantes com aulas mais interativas, dinmicas e com um qu de contemporaneidade.
Para isso, necessrio ir em busca de algumas ferramentas que a atualidade disponibiliza
para todos sermos mais interativos, conectados, portanto, atuais e com o perdo da palavra,
contemporneos.
Durante todo o perodo destinado s frias, o professor leu e releu obras e mais
obras da filosofia, tanto os ditos filsofos clssicos quanto dos filsofos ditos menores, que
no temos aqui nenhuma pretenso de discutir e quem so os tais clssicos e os ditos
menores. E, a cada obra lida e digerida lentamente e ruminantemente, seus pensamentos
sobre quais seriam as melhores possibilidades de tornar esses pensamentos acessveis aos
estudantes, se tornavam um imperativo e, imergir no cyberespao e na cibercultura se
tornavam cada vez mais latentes, da a necessidade de compreender essa atualidade
hipertextual, conectada, miditica e socivel, para tirar dela o maior proveito em benefcio
da filosofia, de seu ensino e de sua aprendizagem.
Para a imerso nesse universo o professor tinha que buscar os instrumentos que lhe
permitisse o mergulho para criar e ou desenvolver as condies bsicas para a tarefa
filosfica-educacional que o professor acreditava serem necessria no ambiente escolar
contemporneo. Ento, aps horas e horas de completa imerso em seus pensamentos, num
dilogo profundo com os pensadores da cibercultura, percebe que deves fazer uma lista das
ferramentas que lhe permitro acessar ao universo ciberntico. Faz uma lista longa, depois
de muitas reflexes, exclu diversos itens, ficando com o que bsico e fundamental,
conclu. Feito isso se prope a adquiri-los no sbado pela manh. Eis os materiais
constantes na lista do nosso professor:
1 notebook (com programas de edio de vdeo e udio, alm dos editores de textos
e construtores de apresentaes);
1 cmera fotogrfica digital e/ou filmadora digital (com carto de memria de 4 Gb
e entrada USB)
1 aparelho gravador de udio (entrada USB);
1 projetor porttil (entrada USB);
1 lousa digital (entrada USB);
1 par de caixas de som (entrada USB);
36
3 pendrives de 32 Gb;
10 dvds regravveis;
Preparado, nosso professor sai de sua morada e se encaminha para o centro da
cidade para adquirir as ferramentas bsicas de que precisa para amplificar as condies de
seus ensinamentos e, por consequncias tambm, as condies de aprendizagens de seus
estudantes. As quantidades desses materiais disponveis no mercado e os custos so
relativamente acessveis ao professor, que, calculando bem, em quatro ou cinco parcelas,
consegue adquirir todos os produtos da lista e, j pode voltar para sua morada e comear a
planejar as futuras aulas, agora no universo ciberntico.
Em casa, o professor, que comeou a refletir sobre a cibercultura h muitas semanas,
j tem sua disposio acesso internet, pelo seu computador pessoal fixo que at ento
servia como uma mquina de datilografar um tanto quanto sofisticada. Durante esses dias
de conhecimento da cibercultura e do cyber espao, requeriu a instalao de um modem
para acesso internet por wireless, pois com o notebook que compraria, sabia ele que
poderia utilizar esse mecanismo. Ento, descarrega seu clssico carro, pede a ajuda de um
servial e carrega tudo o que de mais contemporneo podia existir (at aquele momento)
para sua morada. Tudo posto em seu escritrio, olha com um certo espanto, tpico de
filsofo, para aquilo tudo e divaga sem dar-se muito por isso. O tempo passa lentamente e
a, ele abre, primeiramente, a embalagem de seu notebook, pega o manual de instrues e o
l atentamente, item a item, linha a linha e conclu pela capacidade de saber utilizar a
mquina sem grandes problemas (coisa rara para filsofos). Em seguida, mantm
sistematicamente, a mesma atitude com relao aos demais produtos adquiridos, uma a um
e, e aps a compreenso de todos os mecanismos e funcionalidades de cada um deles, se
considera pronto para a tarefa seguinte, que ser a tarefa instal-los para, aquilo que sua
nsia cada vez maior, encontrar na rede (internet) as peas para serem trabalhadas em
conjunto com suas ferramentas, as quais lhe serviro de auxlio preparao de suas aulas
e possibilitaro filosofar no cyber espao.
O hbito ainda muito forte e, sem perceber, o professor volta-se para seu pc
querendo lig-lo para comear seus estudos, esquecendo-se que no necessita mais da
fixidez e do velho companheiro, mas, tenta se consolar, olhando para seus livros e discos,
imaginando que sempre estaro sua disposio e que serviro para suas aulas como
sempre, agora, s um pouco mais hightech e deixar um suspiro lhe trazer de volta ao
37
momento presente..
O professor liga o notebook, acessa a internet e digita no espao destinado s
buscas a seguinte frase:
- Como criar um blogue?
Em segundos surgem milhares de sugestes, e, como ele sabe que seus estudantes
utilizaro na escola, do material que ele disponibilizar no blogue, a partir de um programa
digital do governo, ele deve escolher um blogue que tenha extenso permitida pela
secretria de educao, ou seja, dever escolher uma plataforma que seja liberada para o
acesso dos estudantes de dentro da escola tambm. Em conversa com outros professores
que j esto navegando no cyberespao, se lembra vagamente de um endereo que poder
utilizar, chamado Blogger. Ante essa lembrana, seleciona o stio em nova busca, que o
leva para a pgina especfica, onde ele, passo-a-passo dever cadastrar-se e seguir os
demais parmetros para concluir a construo de seu blogue. Aps mais ou menos 7 (sete)
minutos, seu blogue est pronto, agora s comear a postar aquilo que lhe interessar,
desde textos simples at filmes completos.
O professor ento d uma breve pausa, antes de postar sua primeira matria. o
momento de acender um cigarro e ficar olhando para tela do notebook com aquele olhar de
espanto e admirao, caracterstico dos primeiros filsofos gregos. O cigarro consumido
com prazer e lentamente.
De volta ao blogue, o professor abre uma nova aba em seu notebook e visita alguns
blogues que se dedicam aos temas de filosofia e educao, buscando de encontrar as
primeiras postagens, para perceber qual a linguagem mais adequada para comunicar-se
com rigor filosfico, mas, sem perder a proximidade dialgica com os jovens internautas.
Novamente em seu blogue, escreve um pequeno texto de boas vindas, coloca
algumas imagens que lhe agrada e que remete ao universo filosfico, clica em publicar. A
ansiedade lhe consome, sente vontade de escrever, de escrever mais no seu blogue e assim
o faz. Alucinadamente escreve, comea ento a FILOSOFAR A CLIQUES DE MOUSE,
freneticamente, compulsivamente, como se o seu Daimon fosse um professor ditando as
verdades filosficas e ele o digitador incansvel.
So publicaes que algum tempo depois sero excludas, ocultadas ou editadas,
mas, nesse momento, tudo interessante, intenso, angustiante, prazeroso e merece ser
38
registrado.
Ele volta para a aba da pesquisa sobre os blogues e procura agora por clipes e
vdeos que lhe agrade e tenham um qu de reflexivos, copia seus endereos (URL) e
publica-os em seu blogue. Busca por imagens, por poesias, por textos interessantes e
reflexivos e vai publicando-os, de maneira aleatria, sem muitos critrios, um exerccio,
uma terapia. De repente, olha no canto inferior direito (de seu olhar) de seu notebook e
nota que j passam das 19:37. Ele percebe que o dia j se foi e, como sbado, tem que
sair para encontrar os amigos e discutir sobre sua nova empreitada, acompanhados de
vinhos, conversas e cigarros. Amanh ele comear a postar contedos para seus
estudantes.
Domingo, 07:58. Toca seu celular/despertador. O professor se levanta, prepara seu
caf da manh, vai para o escritrio, pega alguns livros de filosofia, outros de ensino de
filosofia, a Diretriz Curricular da disciplina, liga seu notebook, acende seu cigarro e se
senta confortavelmente em seu sof clssico e confortvel. Comea a ler as diretrizes, para
recuperar seus princpios filosficos-educativos. L um ou outro livro de ensino de
filosofia e se cansa um pouco. Levanta-se, vai buscar seu pendrive para checar seu
planejamento e saber at que ponto avanou no primeiro semestre de aula... Depois dessa
checagem j sabe por onde dever recomear suas atividades e quais os contedos ter para
trabalhar.
Pega sua cmera fotogrfica (ou filmadora) digital, faz um pequeno teste e v que a
mesma est em perfeitas condies de uso. Testa o gravador digital, testa as caixas de som
e deixa-as ligadas para reproduzirem algumas de suas msicas que estavam no pendrive.
Aps esse preldio se prope a comear a montar uma aula, que ir estar disponvel para
acesso de todos os seus estudantes no blogue, logo mais.
Ao reler as diretrizes conclu que l, embora, as aulas sendo ministradas mediante
quatro momentos distintos e interligados, estes podem ser muito bem explorados no
ambiente virtual e, ento, decide-se por manter aquela estrutura para ver como funcionar
no blogue. Com seu notebook no colo, abre a pgina de edio de texto do blogue e
regsistra os quatro momentos que as diretrizes sugerem:
- Mobilizao;
- Problematizao;
39
- Investigao;
- Criao conceitual:
Aps um bom tempo de reflexo, o professor redefine os conceitos e os
compreende da seguinte maneira:
MOBILIZAO = Primeira(s) Ideia(s): nesse procedimento incitamos os
estudantes, propiciamos o contato inicial com a ideia que iremos investigar, o momento
de baixar suas defesas, quebrar seus preconceitos e dogmas, etc., sem, no entanto, sufoc-
lo com os textos, sempre densos, conforme todo texto filosfico ;
PROBLEMATIZAO = Ideia(s) Provocativa(s): nesse procedimento
evidenciamos a ideia e o contedo que iremos estudar sempre os destacando de maneira
desafiadora e reflexiva, colocando o conhecimento do estudante em conflito, instaurando a
crise, colocando-o na posio em que o filsofo se ps para pensar o assunto;
INVESTIGAO = Investigando Ideia(s): aqui buscamos/ oferecemos as fontes
referenciais e os mtodos de pesquisa para aprender o contedo estudado, desde a
Primeira(s) Ideia(s) e a Ideia(s) Provocativa(s) at Ampliando Ideia(s);
CRIAO CONCEITUAL = Ampliando Ideia(s): nesse procedimento verificamos
continuamente o quanto o estudante se apropriou do contedo (mobilizado, problematizado
e investigado) estudado; atravs dos instrumentos de avaliao podemos checar e intervir
para que o aprendizado acontea efetivamente e o conceito seja criado significativamente.
Com essas novas definies mais claramente estabelecidas o professor parte para a
preparao de sua primeira aula no cyber-espao. O tema da aula o relativismo sofstico.
Como representante desse movimento o autor escolhido Protgoras de Abdera e o
professor confecciona o seguinte quadro:
TEMA: DA COSMOLOGIA PARA A ANTROPOLOGIA: OS SOFISTAS 1
PROFESSOR: VANDERSON R. TEIXEIRA
DATA:
SOFISTA: PROTGORAS
ASSUNTO: RELATIVISMO
40
Passo 1:
PRIMEIRAS IDEIAS (COLAGEM TAREFA -
DISCUSSO EM SALA);
Procedimento:
O melhor refrigerante: o pior:
O melhor shampoo: o pior:
O melhor sabo em p: o pior:
O melhor desodorante: o pior:
O melhor salgadinho: o pior:
A melhor cerveja: o pior:
Passo 2:
IDEIAS PROVOCATIVAS
Procedimento:
Voc concorda em Mentir e conseguir tudo o que quer, no
momento, ou falar a Verdade e no conseguir nada? Por qu? Qual a
maior mentira do mundo em sua opinio? Por qu? (RESPOSTA NOS
COMENTRIOS DO BLOGUE DISCUSSO EM SALA)
Passo 3:
INVESTIGANDO IDEIA(S)
Procedimento:
1. Pesquisar e registrar dois significados de cada verbete
(TAREFA REGISTRO NO CADERNO):
Relativismo:
Persuaso:
41
Verdade:
Mentira:
2. Discusso em grupo do fragmento: O homem a
medida de todas as coisas Protgoras (SALA);
3. Aps a discusso cada grupo deve criar uma nova frase
que explique o que o grupo entendeu sobre o fragmento (o professor
ir de grupo em grupo para tirar as dvidas e esclarecer as ideias
discutidas at agora) (SALA);
Passo 4: AMPLIANDO IDEIAS
Procedimento:
1. Qual a mentira que voc sempre conta e consegue
convencer as pessoas de que verdade? Como consegue fazer isso?
2. Voc j mentiu hoje? O que voc acredita ganhar
quando mente?
3. A verdade vale mais que a mentira para voc? Por qu?
4. As pessoas com quem convive, mentem? Por quais
motivos?
Como a proposta de nosso professor trabalhar com a internet, essa aula, ao ser
disponibilizada, exigir do estudante, que entre no blogue, e v no campo comentrio, se
identifique e responda as questes que foram propostas no momento das Ideias
Provocativas. Essa uma condio fundamental para que neste espao possa surgir o
mesmo dinamismo e intensidade que havia na velha praa grega.
Em sua pgina de texto offline, o professor explicita cada passo de sua aula, para
poder discutir a mesma na prxima reunio de professores:
- Nas Primeiras Ideias, cada estudante dever trazer em seu caderno as imagens dos
produtos colocados ali, para posterior discusso, pois, na sala o momento ser para as
anlises das ideias relativas s qualidades e intencionalidades dos discursos que sustentam
propaganda para vender determinado produto.
42
- No procedimento Investigando Ideias, os estudantes traro os verbetes j
registrados, pois, como esto na internet, facilmente encontraro dicionrios online;
Quando estiverem em sala com os grupos formados devero comparar suas pesquisas e
discutiro os fragmentos apresentados pelo professor, primeiramente com os membros do
grupo e na sequencia com os demais grupos e tambm defendero suas ideias perante os
argumentos do professor. Concluir-se- este procedimento de trs etapas em sala de aula
com a execuo da atividade j conhecida de todos (pois estava j disponvel online), mas,
sua realizao formal se efetivar momento presencial, para todos.
- Para a realizao da atividade final (Ampliando Ideias), o professor pedir para
que cada um grave suas respostas nos celulares e enviem para o seu e-mail (do professor),
que ir montar um vdeo clipe das mesmas para sociabilizar e discutir em sala quais as
implicaes da teoria sofstica sobre a relatividade de nossas proposies tanto particulares
quanto coletivas.
Aps essas anotaes metodolgicas, o professor salva o arquivo e volta para a
pgina do blogue, para continuar a editar sua aula ciberntica.
Chega o primeiro dia de volta s aulas, o professor avisa aos estudantes que as
atividades acontecero em lugares e momentos distintos e esclarece o que isso quer dizer,
parte na sala de aula e outra parte no cyber espao. Sugere como apoio aos estudantes
alguns links de texto
(http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/sofistas/protagoras.htm)
para leitura e de udio e vdeo (http://www.youtube.com/watch?v=sr2l7qQxRs4) para
apreciao, amplamente difundidos na internet, para aumentar a compreenso do assunto
que ser abordado na aula presencial, pois, traro enormes contribuies e mais dinamismo
e interatividade para dentro da sala de aula.
No dia da aula, o professor chama a todos para irem at o laboratrio de informtica,
pois, l podero acessar o contedo da aula, alm de poderem ampliar as discusses e
pesquisas sobre os assuntos que sero abordados no decorrer do bimestre e/ou semestre. L,
ele pede para que acessem o seguinte endereo: http://osabiomadruga.blogspot.com.br e
que vejam a estrutura da aula, os problemas e assuntos discutidos, pois, no precisaram
mais ficar registrando tudo. Somente as atividades que sero registradas no caderno. Um
certo entusiasmo invade a sala, os cochichos so generalizados. O professor pede ateno e
d um bom tempo para que eles observem as atividades, vejam os textos e se ambientem
43
com essa forma (um tanto nova) de aula.
As atividades vo sendo elaboradas, algumas discusses, algumas reclamaes, mas,
a aula flui. De repente o sinal...
O professor observa a sada dos estudantes. Uns diziam que fora muito rpido o
tempo, outros perguntam se vai ter tarefa e se voltaro na semana que vem... O professor se
sente bem...
Quando chega em sua casa, vai olhar para seu blogue e fica nessa meditao por
bastante tempo, at que de sbito lhe vem uma indagao:
-Ser que no h uma maneira de utilizar mais espaos e mais linguagens, para que
eles no apenas respondam as atividades. O professor entra na rede, digita
Filosofia+Histrias+em+ Quadrinhos... seleciona um endereo que promete gratuitamente
fornecer online- os meios para se produzir hq's, e eis que ele de fato pode produzir uma
hq de carter filosfico. Como nossa inteno a imerso no cyber-espao, segue o link
para visualizarem uma da produes do professor em um site gratuito:
(http://www.stripcreator.com/comics/osabiomadruga/495512). Basta um clique e voc
estar realizando parte do intento do professor.
Como o professor estava fascinado em busca de outros cyber-espaos, ele descobre
um site que lhe permite criar animaes, isso incrvel e para ver uma breve mostra de
uma animao que o professor fez com o tema sobre o imobilismo, mais uma vez, s
clicar em: (http://goanimate.com/videos/0EhV9Tr02Hh4).
As aulas ficam muito mais dinmicas e interessantes, pois, mesmo o estudante que
venha a perder a aula, poder recuperar o contedo e acompanhar as discusses e tirar as
dvidas nas prximas aulas. Bem, essa uma pequena amostra do que o cyber-espao e a
cibercultura pode oferecer ao professor. E, hoje o professor comea a utilizar um frum,
para tornar mais interativa a aula, para conhecer essa nova investida, entre na seguinte
URL: (http://agoravirtual.forumeiros.com/t3-cidade-perfeita).
Chegamos ao fim dessa pequena histria, baseada em fatos reais, pois, retrata
nossas mais recentes atividades. O que faremos a seguir ser inscrever os estudantes nesses
cyber-espaos para que os mesmos possam expressar seus pensamentos filosficos.
44
REFERNCIAS
ANTUNES, Celso. A linguagem do afeto: como ensinar virtudes e transmitir valores.
Campinas, SP: Papirus, 2005. 4 ed. 2008.
____. Professores e professauros: reflexes sobre a aula e prticas pedaggicas diversas.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2007.
CERLETTI, Alejandro. O ensino de filosofia como problema filosfico. Belo Horizonte:
Autntica, 2009.
KOHAN, Walter Omar. Filosofia: o paradoxo de aprender e ensinar. Belo Horizonte:
Autntica, 2009.
GALLO, Slvio. Metodologia do ensino de filosofia: uma didtica para o ensino mdio.
Campinas So Paulo: Papirus, 2012.
____. Ensinar filosofia: um livro para professores. So Paulo: Atta Mdia e Educao,
2009.
PORTA, Mrio A. G. A filosofia a partir de seus problemas: didtica e metodologia do
estudo filosfico. So Paulo: Edies Loyola, 2002.
RODRIGO, Ldia Maria. Filosofia em sala de aula: teoria e prtica para o ensino mdio.
Campinas SP: Autores Associados, 2009.
TELES. Maria Luiza Silveira. Filosofia para o Ensino Mdio. Petrpolis, RJ: Vozes, 2010.
VELLOSO, Renato. Lecionando filosofia para adolescentes: prticas pedaggicas para o
Ensino Mdio. Petrpolis, RJ: Vozes, 2012.
BARONE. Dante A. C. Sociedades Artificiais: a nova fronteira da inteligncia nas
mquinas.Porto Alegre: Bookman, 2003.
DOR, Jol. Introduo leitura de Lacan: o inconsciente estruturado como linguagem.
Trad. Carlos E. Reis. Porto Alegre: Artmed, 1989.
LEMOS, Andr. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contempornea. Porto
Alegre: Sulina, 4 ed., 2008.
LVY, Pierre. O que virtual. Trad. Paulo Neves. So Paulo: Ed. 34, 1996.
____. A inteligncia coletiva: por uma antropologia do ciberespao. Trad Luiz P. Rouanet.
So Paulo: Edies Loyola, 4 ed., 2003.
____. As tecnologias da inteligncia: o futuro do pensamento na era da informtica. Trad.
Carlos I. Costa. So Paulo: Ed. 34, 1993.
____. Cibercultura. Trad. Carlos I. Costa. So Paulo: Ed. 34, 1999.
RAMAL, Andrea C. Educao na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e
45
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002.
VALLE, Luiza E. L. R (et all). Educao digital: a tecnologia a favor da incluso. Porto
Alegre: Penso, 2013.
46
O GRUPO PRTICO DE DESLOCAMENTOS
E A CONSOLIDAO DAS ESTRUTURAS COGNITIVAS
Vicente Eduardo Ribeiro Maral
Universidade Federal de Rondnia
vicente.marcal@unir.br
RESUMO
No desenvolvimento do sujeito epistmico, conforme nos apresenta a Epistemologia
Gentica, o GPD Grupo Prtico de Deslocamentos desempenha papel fundamental na
consolidao das Estruturas Cognitivas. Primeiramente ao propor que a constituio do
GPD gradativa, iniciada desde o nascimento do sujeito, pois suas condutas se manifestam
j a partir do exerccio reflexo at a descoberta de novos meios por experimentao ativa
primeira quinta fase do perodo Sensrio-Motor, respectivamente formam um nico e
grande perodo homogneo do desenvolvimento do sujeito, com distines to sutis e
mudanas to rpidas de uma para outra que nos impede de separ-las rigidamente com o
risco de incorrermos em erros de avaliao. Assim, mediante o prolongamento das reaes
circulares secundrias surgem s reaes circulares tercirias, pois, diante de um novo
espetculo o sujeito poder buscar repetir as aes que deram tal resultado, caracterstica
da reao circular secundria, ou repeti-las com variaes e graduaes, por j ter
adquirido as condutas prprias das reaes circulares tercirias o surgimento de cada nova
fase no elimina, de forma alguma, as condutas das fases precedentes e que as novas
condutas se sobrepe simplesmente s anteriores. Contudo, na etapa final do perodo
Sensrio-Motor, temos uma acelerada mudana no comportamento do sujeito, que o levar
finalizao da constituio de suas estruturas cognitivas, prprias desse perodo, e o
preparar para a constituio das estruturas prprias do perodo ulterior. A velocidade se d
justamente porque a descoberta, conduta da fase imediatamente anterior, dirigida pelo
empirismo da explorao por tateio e a inveno, conduta prpria da ltima fase do
Sensrio-Motor, dirigida pela coordenao e combinao mental, ou seja, a forma
interiorizada dos esquemas de ao em jogo. Assim, a novidade da ltima fase, do perodo
Sensrio-Motor, consiste em que os esquemas necessrios para o xito sobre o problema
enfrentado esto latentes e so combinados reciprocamente antes de sua aplicao externa,
por isso as condutas dessa fase parecem sempre ser repentinas. Portanto, essas condutas
nada mais so que a reorganizao dos esquemas de ao, os quais se acomodam nova
situao por assimilao recproca, contudo tal acomodao se d mentalmente. Essa
acomodao mental nada mais do que o funcionamento, interior ao sujeito, dos esquemas
de ao, sem a necessidade dos mesmos serem aplicados um aps o outro externamente.
Essa interiorizao dos esquemas de ao permite a consolidao desse sistema que leva o
sujeito a elaborar o GPD. Essa elaborao necessria constituio das noes de objeto
permanente e de espao objetivo. O conceito de GPD refere-se compreenso do
comportamento do sujeito, referente aos deslocamentos realizados sobre si mesmo ou
sobre os objetos, os quais podem ser descritos por um grupo matemtico. a descrio
desses comportamentos, a partir de um grupo matemtico, que apresentamos nesse artigo.
Palavras Chave: Grupo Matemtico, Epistemologia Contempornea, Grupo Prtico de
Deslocamentos, Estrutura Cognitiva, Epistemologia Gentica.
O PROCESSO BIOLGICO-COGNITIVO
47
A partir da considerao de que a Epistemologia Gentica uma teoria do
conhecimento, em seu sentido pleno, e que realiza tambm uma crtica dos conhecimentos
(portanto Epistemologia) e de suas gneses (no indivduo e histrico-culturalmente),
nosso objetivo central, neste artigo, expor como o GPD Grupo Prtico de
Deslocamentos, enquanto Grupo Matemtico contribui para a consolidao das Estruturas
Cognitivas do Sujeito Epistmico.
Para a Epistemologia Gentica, o desenvolvimento do Sujeito Epistmico e a
constituio de suas estruturas cognitivas um processo biolgico-cognitivo de adaptao
e organizao que coloca a ao desse sujeito no mundo como eixo central de interpretao
dos postulados tericos da Epistemologia Gentica. O que [...] exprime esse fato
fundamental [] que todo conhecimento est ligado a uma ao e que conhecer um objeto
ou um evento utiliz-lo assimilando-o aos esquemas de ao [...]
3
(PIAGET, 1970, p.
14-15), assim compreender no consiste, simplesmente, em [...] copiar o real, mas agir
sobre ele e em transform-lo (em aparncia ou em realidade) [...] (PIAGET, 1970, p. 15).
Ao mencionarmos o fato do conhecimento estar diretamente ligado a ao do
sujeito no mundo no nos furtamos a compreenso de que o conhecimento faz parte de um
todo interligado, ou seja, a cognio
[...] uma atividade do indivduo, e o conhecimento uma construo no sentido
real da palavra. No entanto, isso no deve ser entendido como uma implicao de
que qualquer comportamento especfico, humano ou animal, considerado em sua
situao concreta, nada seno comportamento cognitivo. A atividade cognitiva,
apenas um aspecto parcial do todo, isto , o comportamento concreto do
organismo e existem outros aspectos que sempre fazem parte do todo, tais como
os aspectos motivacionais, os afetos e os valores (FURHT, 1974, p. 32)
Temos, ento, que para a Epistemologia Gentica a ao [...] toda e qualquer
conduta (observvel exteriormente, inclusive por interrogao clnica) visando um objetivo
do ponto de vista do sujeito considerado (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 43). Assim,
em teoria, podemos identificar dentre os movimentos executados pelo sujeito quais so
ao e quais so movimentos aleatrios. De tal forma que um movimento como balanar
os braos pode constituir uma ao se visar um objetivo do ponto de vista do sujeito
considerado ou simples movimentos aleatrios, sem qualquer finalidade.
3
Todos os textos mencionados em francs tem sua traduo feita por ns.
48
Contudo, tal distino tnue implicando a necessidade de um critrio que permita
ao observador saber o que ao e o que no . Assim, definio dada de ao segue-se o
critrio de se modificar certos [...] aspectos da situao, mantendo-os comparveis a
outros, e ver em que medida a conduta se modifica em vista de conservar constante a
probabilidade de alcanar o efeito (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 43). Logo, para
nos certificarmos de que o movimento observado , de fato, uma ao, o observador pode
interferir provocando modificaes no meio e mensurar at que ponto o sujeito busca se
reequilibrar diante das mudanas para manter o objetivo pretendido.
Destarte, a ao pode ser compreendida, ento, como a [...] modificao da
conduta em resposta a uma modificao da situao [...] [e] aparece como uma medida
compensatria (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 43), i. e., ao ter o meio alterado por
um evento natural ou pelo observador, o sujeito procurar compensar a alterao
provocada para manter o objetivo de sua ao, j que [...] o fim que persegue
subjetivamente a ao pode sempre se exprimir em termos de satisfao de uma
necessidade, quer dizer, outra vez de medida compensatria para preencher uma lacuna
momentnea [...] (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 43-44).
O foco na ao, que damos neste artigo, s tem importncia quando a
compreendemos com vistas lgica das aes, ou seja, quilo que a torna condio
necessria para o conhecimento, i. e., o que [...] em cada ao, transponvel ou
generalizvel [... ] (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 45-46) ou universalizvel.
Contudo a ao efmera, i. e., nica e situada no tempo e no espao, no podendo ser
universalizada e, assim, no pode ser condio necessria do conhecimento. Entretanto, ao
analisarmos um conjunto de aes observadas num sujeito, durante um perodo de tempo
determinado, podemos estabelecer as [...] classes de equivalncias cada vez mais amplas
entre essas aes [...] (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 46) e entendemos que duas
aes so equivalentes [...] quando o sujeito estabelece as mesmas relaes entre os
mesmos objetos ou entre objetos cada vez mais diferentes (inclusive as relaes entre esse
objetos e seu corpo) [...] (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p. 46), i. e., o que
transponvel e generalizvel, portanto, universalizvel, nas aes, so as estruturas das
aes que lhe permitem as mesmas relaes entre os objetos ou entre esses e seu corpo.
49
Assim, podemos falar de uma conceituao no nvel sensrio-motor, uma
conceituao prtica, i. e., o objeto conhecido no por seu nome ou conceito, mas sim
pela forma com a qual podemos agir sobre ele, pois, [...] em presena de um novo objeto,
ver-se- o beb incorpor-lo sucessivamente a cada um de seus esquemas de ao (agitar,
esfregar ou balanar o objeto) como se se tratasse de compreend-lo atravs do uso
(PIAGET, 2005, p. 20). Por exemplo, temos objetos que so para sugar, para preender,
para ver, para ouvir etc.
Em vista dessa equivalncia entre aes, podemos definir que o [...] esquema de
uma ao, com relao a uma classe de aes equivalentes do ponto de vista do sujeito, a
estrutura comum que caracteriza essa equivalncia (APOSTEL, MAYS, et al., 1957, p.
46). De modo que o esquema de ao essa estrutura comum que caracteriza a
equivalncia entre as aes e pode ser transponvel, generalizvel, universalizvel na
repetio da ao, i. e., um [...] esquema a estrutura ou a organizao das aes, as quais
se transferem ou generalizam no momento da repetio da ao, em circunstncias
semelhantes ou anlogas (PIAGET e INHELDER, 2003, p. 16).
O fato de se tratar de um sujeito faz com que o esquema seja entendido como uma
forma de funcionamento com bases orgnicas. Isso permite entender melhor por que o
esquema de ao no s a estrutura comum da ao, como tambm a condio sine qua
non para que a ao possa ser realizada, pois: o [...] esquema a condio primeira da
ao, ou seja, da troca do organismo com o meio (RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988, p.
34), i. e., sem o esquema de ao no h ao, pois compreendemos que [...] os esquemas
motores so a condio da ao do indivduo no meio; graas a eles que a criana
organiza ou estrutura sua experincia, atribuindo-lhe significado (RAMOZZI-
CHIAROTTINO, 1988, p. 11). , ento, somente pelos esquemas de ao que o sujeito
pode agir no mundo e, desse modo, conhec-lo.
O sistema de esquemas de ao a condio da ao do sujeito no mundo. As
aes, por sua vez, so interaes do sujeito com o meio que o cerca, de modo a
possibilitar que o mesmo se adapte. Com efeito, Piaget d uma definio da adaptao que
permite conciliar os aspectos epistemolgicos, psicolgicos e biolgicos. A adaptao
entendida como a transformao ativa desse sistema de esquemas de ao que
possibilitam maior interao entre o sujeito e o prprio meio que o cerca, i. e., [...] h
50
adaptao quando o organismo se transforma em funo do meio e essa [sua] variao tem
por efeito um aumento das interaes entre o meio e o prprio organismo que so
favorveis conservao deste (PIAGET, 1977, p. 11).
Assim, ao agir sobre o mundo, o sistema de esquemas de ao do sujeito assimila
dados do meio. Para Piaget (1970, p. 13), assimilao :
[...] a integrao s estruturas prvias, que podem permanecer inalteradas ou
serem mais ou menos modificadas por essa integrao, mas sem descontinuidade
com o estado precedente, ou seja, sem [as estruturas] serem destrudas e [com
estas] se acomodando simplesmente nova situao.
Ante essa integrao, o sistema de esquemas de ao pode ser mais ou menos
modificado por acomodao. A acomodao do sistema de esquemas de ao toda e
qualquer modificao na forma de agir do sujeito. Nas palavras de Piaget (1970, p. 18)
toda e qualquer [...] modificao dos esquemas de assimilao sob a influncia das
situaes exteriores (meio) s quais eles se aplicam. Notemos que essa modificao pode
ser imperceptvel, como no caso do incio de um novo esquema de ao. Desse modo, a
transformao do sujeito por acomodao uma transformao ativa em seu sistema de
esquemas de ao, a qual permite ampliar a troca entre esse sujeito e o meio que o
circunda, promovendo um acrscimo em suas condies de conservao.
A adaptao, em seus polos de assimilao e acomodao, se apresenta no
funcionamento do sistema de esquemas de ao se modificando (acomodao) para que
haja maior integrao de dados do meio (assimilao) e, assim, haja um aumento nas trocas
com o meio favorveis sua conservao, fator primordial que define a prpria adaptao.
Entendemos, ento, que h uma mudana na forma das aes, como a prpria definio de
esquema de ao nos diz, coordenando as aes utilizadas, pelo sujeito, para atuar sobre o
mundo. Ora, a adaptao algo prprio do sujeito e no externo a ele, portanto, tais
mudanas so ativas e no passivas, ou seja, as mudanas so reestruturaes por
coordenao no sistema de esquemas de ao do sujeito e no sofridas por esse devido a
uma interveno externa.
Vemos, nesse processo como o sujeito, ao integrar elementos do meio modifica as
prprias estruturas para ampliar as suas trocas com o meio, favorveis sua conservao.
Ora, tal estrutura um todo organizado que, ao se adaptar se reorganiza. Isso nos leva
funo de organizao que do ponto de vista biolgico entendida como inseparvel da
51
adaptao, pois so dois processos complementares de um mecanismo nico, sendo a
adaptao o aspecto interno e a organizao o aspecto externo.
O funcionamento do sistema de esquemas de ao leva a um aumento de sua
organizao e esse funcionamento, em termos de adaptao e organizao, leva
constituio das estruturas cognitivas do sujeito epistmico, ou ainda, como nos diz Piaget
(1977, p. 14):
O acordo do pensamento com as coisas e o acordo do pensamento consigo
mesmo exprimem esse invariante funcional duplo da adaptao e da
organizao. Ora, esses dois aspectos do pensamento so indissociveis: se
adaptando s coisas que o pensamento se organiza a si mesmo e se organizando
a si mesmo que ele estrutura as coisas.
Esse processo cognitivo-biolgico tem incio com o nascimento do sujeito, pois
suas condutas se manifestam j a partir do exerccio reflexo at a descoberta de novos
meios por experimentao ativa primeira quinta fase do perodo Sensrio-Motor,
respectivamente formando um nico e grande perodo homogneo do desenvolvimento
do sujeito, com distines to sutis e mudanas to rpidas de uma para outra que nos
impede de separ-las rigidamente com o risco de incorrermos em erros de avaliao.
Assim, mediante o prolongamento das reaes circulares secundrias surgem s
reaes circulares tercirias. De modo que diante de um novo espetculo o sujeito poder
buscar repetir as aes que deram tal resultado, caracterstica da reao circular secundria,
ou repeti-las com variaes e graduaes, por j ter adquirido as condutas prprias das
reaes circulares tercirias.
O surgimento de cada nova fase no elimina, de forma alguma, as condutas das
fases precedentes e que as novas condutas se sobrepem simplesmente s anteriores.
Contudo, na etapa final do perodo Sensrio-Motor, temos uma acelerada mudana no
comportamento do sujeito, que o levar finalizao da constituio de suas estruturas
cognitivas, prprias desse perodo, e o preparar para a constituio das estruturas prprias
do perodo ulterior. A velocidade se d justamente porque a descoberta, conduta da quinta
fase que dirigida pelo empirismo da explorao por tateio e a inveno, conduta prpria
da ltima fase do Sensrio-Motor que dirigida pela coordenao e combinao mental,
ou seja, a forma interiorizada dos esquemas de ao em jogo.
52
Assim, a novidade da ltima fase, do perodo Sensrio-Motor, consiste em que os
esquemas necessrios para o xito sobre o problema enfrentado esto latentes e so
combinados reciprocamente antes de sua aplicao externa, por isso as condutas dessa fase
parecem sempre ser repentinas.
Portanto, essas condutas nada mais so que a reorganizao dos esquemas de ao,
os quais se acomodam nova situao por assimilao recproca, contudo tal acomodao
se d internamente. Essa acomodao mental nada mais do que o funcionamento, interior
ao sujeito, dos esquemas de ao, sem a necessidade dos mesmos serem aplicados um aps
o outro externamente. Essa interiorizao dos esquemas de ao permite a consolidao
desse sistema que leva o sujeito a elaborar o GPD.
O GRUPO PRTICO DE DESLOCAMENTOS COMO GRUPO
MATEMTICO
At o presente momento apresentamos a constituio da estrutura cognitiva do
sujeito epistmico enquanto processo biolgico-cognitivo. A coordenao dos
deslocamentos em um sistema de esquemas de ao leva o sujeito a construir o que Piaget
(1967; 1977) denomina de Grupo Prtico de Deslocamentos (PIAGET e INHELDER,
2003, p. 22).
Estas relaes nos remetem, na sua formalizao, noo de Grupo Matemtico.
Ora, do ponto de vista matemtico (cf. HOWSON (1972, p. 25), THOPSON (2010, p. 71),
AYRES JR. (1965, p. 122)), um grupo um par ordenado no qual um conjunto
no vazio e uma operao binria definida sobre os elementos de . Lembremos que
uma operao binria em uma operao que satisfaz a propriedade de fechamento, i.
e., temos que . O par ordenado deve, tambm, satisfazer aos
seguintes axiomas:
1. Identidade ou Elemento Neutro:
2. Elemento Inverso: ,
sendo o elemento identidade ou elemento neutro.
3. Associatividade:
53
Para compreendermos como o GPD um grupo matemtico, usamos a seguinte
notao
4
: os pontos espaciais sero designados por letras latinas maisculas tais como
etc, e os deslocamentos entre tais pontos, pelos pares das letras latinas maisculas,
com a indicao vetorial do deslocamento, tais como
etc. De tal forma que
designa o deslocamento do ponto para o ponto . Com efeito, podemos considerar,
inicialmente, o conjunto de todos os esquemas de deslocamentos possveis (seja dos que
o sujeito pode realizar sobre si mesmo, seja os que realiza sobre os objetos) de um ponto a
outro do espao e uma operao binria que a composio de deslocamentos, i. e., a
coordenao dos esquemas de deslocamento. Nesse caso, podemos mostrar como o par
ordenado satisfaz as propriedades acima, como faremos a seguir. A operao binria
, de composio dos deslocamentos, ser definida de forma que:
. Essa
equao significa que a composio de um deslocamento de para (
) com um
deslocamento de para (
) resulta no deslocamento de para (
).
Vemos, ento, que o sistema de deslocamentos constitui uma estrutura de grupo
matemtico
5
, pois satisfaz as propriedades descritas anteriormente, como veremos a seguir:
Fechamento: Dados dois deslocamentos contguos
pertencentes ao conjunto
dos deslocamentos possveis, temos que o resultado
, obtido pela operao
de
composio dos deslocamentos, tambm pertence a .
Elemento Inverso: interpretemos, nesse caso, o que significa o elemento inverso. O
elemento inverso de um deslocamento
o deslocamento
, entendido como a Conduta
do Retorno ao ponto de partida; essa conduta se constitui da possibilidade do sujeito ser
capaz de compreender em ato, i. e., de forma prtica e no necessariamente conceitual, a
reversibilidade de um deslocamento, o que torna possvel o retorno ao ponto de partida.
Temos ento, que se um deslocamento
, ento
que seu inverso. Portanto
4
Ver mais detalhes dessa notao em Tassinari (2008).
5
Para evitarmos problemas na formalizao do Grupo de Deslocamentos, consideraremos aqui somente os
casos em que h contiguidade entre os deslocamentos, i. e.: o deslocamento
ter uma contiguidade com
deslocamentos
, mas no ter contigidade com deslocamentos
, nos quais . A contiguidade na
composio dos deslocamentos se d na exigncia do ponto espacial intermedirio entre os dois
deslocamentos que resultam no terceiro, ser o mesmo. Dessa forma, o par ordenado estabelece o que
denominamos de Grupo Parcial. Tal caracterstica no ser, porm, discutida neste trabalho, pois foge a seu
escopo.
54
o par ordenado , que estamos considerando, satisfaz a propriedade do elemento
inverso.
Elemento Identidade ou Nulo: Do que vimos no pargrafo anterior, temos que o par
ordenado satisfaz a propriedade do elemento identidade ou nulo. Com efeito, o
elemento identidade, ou nulo, significa, aqui, a capacidade do sujeito de compreender em
atos a reversibilidade de suas aes ou nulidade dos deslocamentos, ou seja, o sujeito
capaz de agir e de reverter sua ao. Assim, a composio de um deslocamento com seu
inverso resulta no elemento identidade ou nulo. Podemos representar o elemento
identidade ou nulo por
j que
. O resultado da anulao de um deslocamento
pode ser designado de Deslocamento Nulo, reforando a interpretao do elemento
inverso como a Conduta do Retorno. Outro fator importante dessa conduta que o sujeito
organismo capaz de compreender em atos que uma composio de deslocamentos que
envolva o deslocamento nulo no afetar o deslocamento resultante, pois um deslocamento
que saia de retorne a e termine em ser igual a um deslocamento
, independente
de quantos intermedirios existiram at finalizar em e que pode ser representado pela
equao
.
Associatividade: Por fim, quanto associatividade, notemos a existncia de
equivalncia entre a equao
, que a define, e a equao
e que ambas resultam em
. A associatividade tem o significado de que
o sujeito capaz de chegar a um ponto qualquer seguindo por dois caminhos distintos:
um passando pelo ponto e outro pelo ponto . Essa capacidade chamada de Conduta
do Desvio, pois ao ser capaz de chegar a um ponto qualquer por caminhos diferentes, o
sujeito capaz de desviar de obstculos que lhe impeam de atingir o objetivo.
Um fato importante a ser observado que, na medida em que os deslocamentos
realizados pelo sujeito constituem uma estrutura de grupo instaura-se um campo espacial
homogneo, j que todas essas aes de deslocamento esto integradas numa estrutura
nica.
Observamos, ainda, que as relaes espaciais estabelecidas entre os objetos tambm
o so em relao ao prprio sujeito, que passa a considerar seus deslocamentos nesse
55
espao homogneo que construiu. Contudo, Piaget (1967, p. 171) deixa claro que tal
capacidade ainda no nos permite dizer que o sujeito situa-se a si mesmo no espao em
relao aos outros objetos, apenas que capaz de se deslocar na direo dos objetivos a
serem alcanados. Dessa forma,
claro que a possibilidade de se deslocar, assim, sozinho de maneira consciente
e de formar os grupos por suas idas e vindas completa, necessariamente, os
grupos elaborados por meio das relaes dos objetos uns com os outros. Em
suma, a criana chega, assim, em todos os domnios, construo de grupos
realmente objetivos (PIAGET, 1967, p. 173)
Ao ser capaz de representar o conjunto total dos deslocamentos, o sujeito constitui
sua estrutura cognitiva. De agora em diante, o sujeito tem condies de representar
reapresentar, mentalmente, a si o que no est presente tanto o objeto como os
deslocamentos no percebidos, de forma que esses no necessitam estar presentes durante
a execuo da ao.
Assim, graas a possibilidade de representao das relaes espaciais entre os
objetos e a si prprio e a capacidade de elaborar os grupos prticos de deslocamentos que o
sujeito consolida sua estrutura cognitiva.
CONSIDERAES FINAIS
O estudo da continuidade entre o biolgico e o psicolgico um tema caro e central
na Epistemologia Gentica. Vimos, no decorrer do artigo, que a estrutura necessria ao
conhecimento construda pelo sujeito, no processo biolgico-cognitivo de adaptao-
organizao. Processo que complexifica, cada vez mais, o sistema de esquemas de ao do
sujeito e consolida-se com a constituio do Grupo Prtico de Deslocamentos.
Temos que a funo da Epistemologia Gentica, enquanto Teoria do
Conhecimento, no buscar os fundamentos ontolgicos do conhecimento, mas, sim,
buscar compreender a construo, pelo sujeito, das estruturas cognitivas que nos permite
no s conhecer, mas tambm passar de um conhecimento insuficiente para um mais
aprimorado dos fatos da realidade. nesse sentido que entendemos, a partir de nossa
pesquisa, que o sujeito, mediante suas aes no mundo e pelo processo biolgico-cognitivo
de adaptao-organizao, constitui-se enquanto sujeito do conhecimento, mas no s: a
partir dessa construo que o prprio mundo se constitui como exterior a esse sujeito e
como passvel de ser conhecido.
56
A complexificao do sistema de esquemas, devido a esse processo de adaptao-
organizao, culminar em estruturas mais elaboradas, com reversibilidade das aes,
como no caso do Grupo Prtico de Deslocamentos, fundamental para a consolidao da
estrutura cognitiva. De modo que o sujeito no est limitado a responder por estmulos do
meio, mas ele mesmo atuar na busca de compreenso desse meio.
57
REFERNCIAS
Apostel, L., Mays, W., Piaget, J., Morf, A., & Matalon, B. (1957). Les Liaisons Analytiques et
Synthtiques dans les Comportements du Sujet. Paris: Presses Universitaires de France.
Ayres, F. J. (1965). lgebra moderna. So Paulo: McGraw-Hill.
Furht, H. G. (1974). Piaget e o conhecimento. (V. Rumjanek, Trad.) Rio de Janeiro: Forense
Universitria.
Howson, A. G. (1972). A handbook of terms used in algebra and analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.
Piaget, J. (1970). Biologie et connaissance: Essai sur les relations entre les rgulations organiques
et les processus cognitifs. Paris: ditions Gallimard.
Piaget, J. (1967). La construction du rel chez lenfant (4 Ed. ed.). Neuchtel: Delachaux et Niestl.
Piaget, J. (1977). La naissance de lintelligence chez lenfant. Paris: Delachaux et Niestl.
Piaget, J. (2005). Seis estudos de psicologia (24 ed.). (M. A. DAmorim, & P. S. Silva, Trads.) Rio
deJaneiro: Forense Universitria.
Piaget, J., & Inhelder, B. (2003). Psicologia da Criana. (O. M. Cajado, Trad.) Rio de Janeiro:
Difel.
Ramozzi-Chiarottino, Z. (1988). Psicologia e epistemolgia gentica de Jean Piaget. So Paulo:
EPU.
Tassinari, R. P. (2008). Sobre a realidade-totalidade como saber vivo e a auto-organizao do
espao fsico. In: E. B. Filho et. al., Auto-organizao: estudos interdisciplinares (Vol. 52, pp. 59-
108). Campinas: Centro de Lgica, Epistemologia e Histria da Cincia.
Thompson, R. (2010). A comprehensive dictionary of mathematicas. Chandigarh: Abhishek
Publications.
58
CONCEPES SOBRE O CONCEITO DE INTENCIONALIDADE NO MBITO
ESCOLSTICO E FENOMENOLGICO
Edsel Pamplona Diebe
Universidade Federal de Santa Maria
E-mail: edsel_diebe@yahoo.com.br
RESUMO
O propsito do nosso trabalho mostrar o conceito de intencionalidade a partir da
perspectiva escolstica e da perspectiva fenomenolgica. No perodo escolstico, a
intencionalidade esteve presente na doutrina da espcie, no ato cognitivo que se
concretizava na relao entre o intelecto e o objeto: o objeto passa a ser conhecido
intencionalmente e o que o intelecto retm apenas a imagem desse objeto, no o objeto
em si mesmo. Nesta perspectiva, o que se conhecia do objeto era apenas um aspecto, uma
qualidade, que nada mais do que a coisa significada na mente, uma substituio do
objeto. O conceito de intencionalidade na fenomenologia, aplicado ao conhecimento, se
mostra no movimento da conscincia que se volta para o objeto, e o objeto que se
apresenta conscincia. Portanto, a intencionalidade se caracteriza sempre na conscincia
de algo. Um objeto pode ser um simples objeto; o que faz com que o objeto seja o que ele
, o movimento intencional. Segundo Sokolowski (2004, p. 21): A mente e o mundo so
correlatos entre si. Coisas aparecem para ns, coisas verdadeiramente descobertas, e ns,
de nossa parte, revelamos, para ns mesmos e para os outros, o modo como as coisas so..
Na filosofia contempornea, temos, desde Brentano (1838-1917), o conceito de
intencionalidade visto a partir da psicologia descritiva, transposto para os fenmenos
psquicos. Os objetos da intencionalidade sero reais e, assim como na esfera psquica, um
juzo pode ser negado ou afirmado, na esfera afetiva o objeto ser para a conscincia
amado ou odiado. Buscou-se em Brentano uma conexo dos fenmenos mentais que no
devem ser considerados no mbito fsico-qumico. Nas vivncias psquicas, existe uma
racionalidade envolvida que no se reduz s vivncias empricas. A partir dessa
perspectiva, chega-se a certos componentes a priori que possuem validade universal. Em
Husserl (1859-1938), o conceito de intencionalidade ser tomado do mbito da
fenomenologia pura, que ir se caracterizar no movimento de transcendncia da
conscincia em direo ao objeto. Este, pela via da reduo eidtica (poche), poder se
apresentar conscincia enquanto tal. As crenas e as opinies so colocadas de lado e o
objeto se revela a conscincia de modo imediato.
Palavras-Chave: Intencionalidade; Abstrao; Escolstica; Fenomenologia; Pedro
Abelardo (1079-1142).
***
A escolstica medieval
6
, compreendida entre os sculos XI e XIV, se
caracterizou em um modo peculiar de filosofar, atravs das disputas entre as autoridades da
Igreja. Seu incio ocorreu principalmente com Pedro Abelardo (1079-1142) no sculo XII,
6
Utilizaremos como autor de referncia as concepes de Pedro Abelardo.
59
e se prolongou nas Universidades a partir do sculo XIII entre os religiosos. Por trs das
querelas estava a filosofia e o filosofar, uma tentativa de refletir sobre os problemas, de dar
sentido a uma filosofia que, embora se justificasse na f crist, buscava tambm,
principalmente pela via aristotlica, fundamentar racionalmente seus problemas. Segundo
Muralt (1998, p. 190):
Sem dvida o carter escolar do debate pode mascarar seu verdadeiro alcance.
Permanece o fato, pelo menos para aquele que tenta observ-lo de perto, de que
o problema das distines implicava o prprio estatuto da filosofia e que o que
estava em jogo nele no era seno a possibilidade do ato de pensar humano.
Os temas filosficos, abordados no perodo escolstico, principalmente os
de cunho aristotlico, sero em partes retomados na modernidade. Como exemplo de temas
aristotlicos, podemos destacar: a natureza dos objetos, a querela dos Universais, a ao do
conhecimento entre o sujeito enquanto potncia de conhecer e o objeto enquanto potncia
de ser conhecido, entre outros (MURALT, 1998).
Entre os temas em destaque, salientamos a relao de conhecer entre o
sujeito e o objeto. O sujeito conhece o objeto quando alguma propriedade deste o afeta. O
objeto em si mesmo composto de vrios aspectos, vrias qualidades que formam uma
unidade
7
. Quando dizemos que Pedro um animal racional, conclumos que as extenses
animal e racional so ambas as qualidades que predicam o sujeito Pedro. Muitas
outras qualidades seguem predicando o sujeito em questo, podendo ser tambm
contingente como Pedro branco ou Pedro bom. Cada uma dessas qualidades so
distintas entre si, porm, em Pedro formam uma unidade. Conforme Muralt (1998, p.
195): Os aspectos objetivos que Pedro contm so, portanto, no somente distintos de
uma certa forma, mas idnticos no sujeito que eles afetam segundo a ordem de sua
composio prpria..
Para Pedro Abelardo
8
, toda predicao deve necessariamente estar em
conformidade com o estado da coisa (status rei). Isso significa que o sujeito Pedro deve
7
[...] Aristteles mostra que a unidade real de uma coisa numrica e existencialmente idntica no impede
de nenhum modo uma pluralidade de aspectos distintos desta coisa. (MURALT, 1998, p. 194).
8
Este tema ser desenvolvido em Pedro Abelardo no opsculo Glossulae super porphyrium (primeira parte
da Logica ingredientibus), trabalho em que Abelardo tentar conduzir uma soluo s questes deixadas por
60
predicar uma realidade. Se afirmarmos que Pedro um animal racional, o predicado est
em conformidade com o que Pedro . Se afirmarmos que Pedro uma pedra, no
estamos em conformidade com a natureza de Pedro, que ser homem e, por extenso,
animal racional. O mesmo vale para os objetos: inclusive os predicados contingentes
devem estar em conformidade com a natureza do mesmo (ABELARDO, 1994).
Quando conhecemos Pedro, apenas alguns desses aspectos ou qualidades
se manifestaro ns; nunca reteremos Pedro por inteiro, em si mesmo. Quando
conhecemos algum objeto, a operao cognitiva ser a mesma: apenas conheceremos
alguns de seus aspectos. A intencionalidade dessas operaes mentais so denominadas de
processo abstrativo. Encontramos sua definio em Abelardo como um processo
intelectivo: Assim, deve-se saber que a matria e a forma sempre existem misturadas ao
mesmo tempo, mas a razo, pertencente alma, tem o poder que ora considerar a matria
por si mesma, ora dirigir a ateno s para a forma, ora conceber as duas misturadas.
(ABELARDO, 1994, p. 207).
A abstrao , portanto, um processo racional que no dirige a ateno a
unidade do objeto. O que se conhece so alguns aspectos ou qualidades que sero
inteligidos ou representados na mente de forma confusa. Muralt (1998) ressalta que o
conhecimento tomado a partir da abstrao, revela uma imperfeio da inteligncia:
[...] uma pluralidade de aspectos objetivos que so (existem) idnticos nele
[objeto] e que, por isso mesmo, s podem ser apreendidos de maneira imperfeita
e confusa no primeiro olhar da inteligncia. [...] a imperfeio da inteligncia
humana que a impede de apreender num s golpe, segundo uma viso clara e
distinta, a pluralidade dos aspectos objetivos que a coisa concreta engloba [...]
A abstrao manifesta uma enfermidade, jamais uma perfeio da inteligncia.
(MURALT, 1998, p. 203).
Na viso crist de Pedro Abelardo, existe uma justificao em Deus para a
confuso do conhecimento gerado pela abstrao. Somente Deus, o criador de tudo, poder
ter inteleces diretas e perfeitas das coisas. O conhecimento do homem, tanto de coisas
particulares como de coisas universais, permeiam no campo da sensao e,
Porfrio (sculo III) acerca do estatuto ontolgico dos Universais. No portugus, o opsculo foi traduzido por
Lgica para Principiantes.
61
consequentemente, da simples opinio. O conhecimento intelectivo e verdadeiro
dificilmente acontece. Bertelloni (1998, p. 12-13) salienta que, na perspectiva de Abelardo:
Deus conhece de antemo tudo o que cria e no necessita da abstrao, pois
conhece diretamente. [...] Somente esse conhecimento divino perfeito [...] o
uso da abstrao por parte do homem s oferece um conhecimento deficiente [...]
posto que conhecemos mediante os sentidos no podemos pretender conhecer
bem mediante qualquer outra faculdade que seja estranha ao modo propriamente
humano de conhecer.
9
A filosofia contempornea, em sua forma fenomenolgica
10
, eliminar o
conceito de conhecimento por abstrao, assim como a ideia de Deus onipotente. Segundo
Muralt (1998, p. 220):
A hiptese teolgica dos medievais torna-se para os modernos fato metafsico, e
est a a caracterstica fundamental, paradoxal para uma filosofia pretensamente
preocupada em se desligar da teologia, de atribuir a Deus um papel to exclusivo
em todas as formas de atividade humana.
A fenomenologia
11
, enquanto busca autntica da verdade, volta-se para o
sujeito e no para Deus. Nesse sentido, a ideia de sujeito ser desenvolvido a partir do
conceito de ego transcendental, que responsvel pelo que faz e diz. Segundo
Sokolowski (2004, p. 216):
9
Dios conoce de antemano todo lo que crea y no necesita de la abstraccin, pues conoce directamente. [...]
Slo ese conocimiento divino es perfecto. [] el uso de la abstraccin por parte del hombre slo ofrece un
conocimiento deficiente [] puesto que conocemos mediante los sentidos no podemos pretender conocer
bien mediante cualquier otra facultad que sea extraa al modo propiamente humano de conocer..
10
Na fenomenologia, a filosofia vista como cincia, mas se diferencia das demais cincias. Ela no
privilegia uma vertente em particular, mas busca a verdade tal como ela , na realizao racional do ser
humano. Sokolowski (2004, p. 167) afirma que: A filosofia um esforo cientfico, mas diferente da
matemtica e das cincias sociais e da natureza; ela no concernente a uma regio particular do ser, mas
veracidade enquanto tal: s relaes humanas, tentativa humana de descobrir o modo como as coisas so e
habilidade humana de agir de acordo com a natureza das coisas; por fim, concernente ao ser enquanto ele
manifesta em si mesmo para ns..
11
A fenomenologia, enquanto cincia das essncias: [...] reconhece a realidade e a verdade dos fenmenos,
as coisas que aparecem. [...] As coisas no apenas existem; elas tambm manifestam a si mesmas como o que
elas so. [...] Quando fazemos juzos ns enunciamos a apresentao de partes do mundo; ns no
organizamos simplesmente ideias ou conceitos em nossas mentes. (SOKOLOWSKI, 2004, p, 23).
62
Ela [a fenomenologia] introduz o papel do ego, mostrando que o conhecimento
humano no o trabalho de um intelecto agente separado dos seres humanos,
mas a realizao e posse de algum que pode dizer Eu e que pode assumir
responsabilidade pelo que diz.
A compreenso, a partir da fenomenologia, est em analisar o pensamento
propriamente dito. A viso de buscar na histria a compreenso para a filosofia desaparece.
As outras formas de filosofia so compreendidas, segundo Muralt (1998, p. 234), a partir
de outras filosofias: Elas se fecham assim autntica compreenso filosfica,
contentando-se em aproximar e excluir por acidente, num sincretismo histrico mal
fundamentado.. Ao fazer a anlise histrica da filosofia a partir de outras filosofias, corre-
se o risco de reduzir a filosofia em descries histricas e com isso pode-se perder seu
verdadeiro valor.
A abordagem fenomenolgica considera na poque o movimento entre o
ato de pensar, de perceber (nosis) e o objeto da conscincia, da percepo (noma), que
atravs da intencionalidade, se revela a conscincia enquanto tal. Esse movimento entre
conscincia e objeto no fruto da abstrao. No se conhece o objeto dirigindo a ateno
para algum aspecto ou qualidade deste. Dotada de uma estrutura formal, pura e a priori, a
conscincia no apreende o seu objeto desassociado da sua unidade, mas o apreende
inteiro, em uma intuio imediata.
A filosofia na escolstica desenrolou-se no campo da f e da Revelao. A
razo, na maior parte do tempo, era concebida e justificada apenas como instrumento da
teologia. No perodo escolstico, a filosofia era concebida nas artes liberais como
disciplina do trivium
12
. Ela se caracterizava como instrumento racional de validao dos
problemas tanto de cunho filosfico quanto de cunho teolgico. Leite Junior (2001, p. 43)
afirma que:
O estudo da dialtica, no sistema educativo medieval, adquiriu pleno destaque
frente s demais reas de pesquisa. Tornou-se um domnio do saber que
assegurava ao homem, de um modo racional, a possibilidade de discernir o
discurso verdadeiro do falso. [...] A dialtica era empregada para uma anlise
racional de problemas, inclusive os do mbito da teologia.
12
Antes do advento das Universidades, a atividade filosfica estava ligada ao ensino das artes liberais nas
escolas monsticas. Elas se dividiam em trivium (gramtica, dialtica e retrica) e quadrivium (msica,
aritmtica, geometria e astronomia).
63
A TICA NO MBITO DA INTENCIONALIDADE
Em Abelardo, o conceito de intencionalidade se revela no mbito da moral
da intenso enquanto inclinao para o pecado. O intelecto, dotado de razo, de forma
consciente e deliberada intenciona uma ao que pode tanto consentir uma ao boa como
uma ao ruim. Reconhece-se em Deus a nica instncia capaz de decidir sobre a
existncia do pecado ou do mrito. O pecado nasce de uma inteno consciente e
deliberadamente ruim, que se caracteriza em desacordo com os desgnios de Deus.
Segundo Chaves-Tanns (1996), Abelardo tem um modo diferente de conceber tica que
se diferencia dos demais filsofos cristos que viveram em seu tempo: a inclinao do mal
vai alm do costume, sendo uma intenso racional, consciente e deliberada:
Aceitando no s a possibilidade de existncia de usos e costumes que podem
produzir em nosso esprito caracteres que nos inclinam para o mal, mas ainda a
possibilidade objetiva de decidir sempre se as aes a que nos conduzem so
boas ou ruins, exercendo, nessa medida, sobre eles, um controle a partir da razo.
Abelardo abre espao de fato crtica e transformao como instncias
possveis e realidades eventualmente desejveis. (CHAVES-TANNS, 1996, p.
47)
Dessa forma, o pecado torna-se objeto de investigao filosfica: liga-se,
portanto, ao consentimento e no simplesmente a satisfao de desejos. Existe a
possibilidade de administrar nossas inclinaes pela via racional, pois ela nos torna
responsveis pelas nossas aes. Conforme Chaves-Tanns (1996, p. 68): [...] A culpa, ou
seja, o pecado propriamente dito, s pode existir onde h uma razo em atividade, capaz de
discernir, com pleno conhecimento de causa, pelo desprezo a Deus. [...].
Um desdobramentos do conhecer fenomenolgico concebido tambm no
mbito da tica. Consideramos aqui os contedos ticos no movimento da intencionalidade
prtica levado para o campo formal (formalizao da tica). Ferrer (1991, p. 457), salienta
em Husserl: A busca de paralelismo com a esfera das proposies e leis lgicas [ ..]
13
. O
bem, o mal, os atos volitivos, a emoo, o prazer, o bom, a dor, etc. que em sua
13
La bsqueda del paralelismo con la esfera de las proposiciones y leyes lgicas [].
64
normalidade so considerados no campo da emoo, a partir de uma anlise tico-
fenomenolgica, sero expressos e valorados a partir da razo:
A razo encontra aqueles dados intencionais e suas conexes que esto
implcitos na capacidade de sentir prazer, de inclinar-se, de desejar [...] O desejar
intencional no um mero fato sobre a qual a razo julga imediatamente, mas
um certo <<julgar>>, uma tomada de posio, um avaliar, porm a vontade em si
mesma no pode express-lo, necessita dos atos lgicos.
14
(FERRER, 1991, p.
459).
Quando, por exemplo, um desses sentimentos nos dominam, h implcito
um assentimento, uma valorao objetiva e universal. Todos os sentimentos devem estar
fundamentados em uma valorao, sujeita correo se necessrio. Se nos alegramos, por
exemplo, h implcito uma ao, que alegra-se e, consequentemente, uma valorao foi
concebida: O desejar os meios motivado pelo desejar os fins, analogamente, como
julgar a concluso luz das premissas vem motivada pelo assentimento destas. Alegrar-se
e entristecer-se so atos motivados racionalmente pelo prazer e o desprazer.
15
(FERRER,
1991, p. 459-460).
Em Husserl, a tica ser tratada no mbito formal. Os contedos ticos
possuem valor objetivo e universal. A intencionalidade existe no valorar, no ajuizar e no
no valor em si mesmo. Algum s pode querer algo se j valorou sobre isso de forma
racional. E o querer no est atrelado f ou ao pecado como em Abelardo.
A tica , ento, tratada com o mesmo rigor objetivo da lgica: compreende-
se uma situao subjetiva dentro de uma perspectiva formal. A ao, neste sentido, no
est desvinculada da racionalidade prtica; ela explicitada em uma perspectiva objetiva.
As vivncias subjetivas como o desejar, o querer e o sentir no so apenas
vivncias subjetivas, mas modos intencionais que se dirigem aos contedos objetivos. A
intencionalidade racional nos atos emotivos, se dispe a priori segundo as normas de
14
La razn encuentra aquellos datos intencionales y sus conexiones que estn implcitos en la capa del
sentir agrado, del tender, del querer [] El querer intencional no es un mero factum sobre el cual la razn
juzgue luego sino que es un cierto <<juzgar>>, una toma de posicin, un valorar, pero la voluntad misma no
puede expresarlo, necesita de los actos lgicos..
15
El querer los medios es motivado por el querer los fines, anlogamente a como juzgar la conclusin a la
luz de las premisas viene motivado por el asentimiento a stas. Alegrarse y entristecerse son actos motivados
racionalmente por el agrade y el desagrado..
65
correo. Quando a intencionalidade transferida para as vivncias de uma pessoa, temos
que cada um participa de um mundo circundante e se relaciona com as mesmas realidades
objetivadas de outras pessoas (experincia intersubjetiva).
REFERNCIAS
ABBAGNANO, N. Dicionrio de Filosofia. Traduo de Alfredo Bosi e Ivone Castilho
Benedetti. 4 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 575-577, 437-439.
ABELARDO, P. Lgica Para Principiantes. Traduo de Ruy Afonso da Costa Nunes.
So Paulo: Nova Cultural, 1988. (Coleo Os Pensadores).
BERTELLONI, C. F. Pars Construens. La solucin de Abelardo al problema del Universal
la 1 parte de la Logica ingredientibus. In: Patristica et Mediaevalia. Buenos Aires, 1987,
VIII, p. 39-60; 1998, IX, p. 3-25.
CHAVES-TANNS, M. A tica de Pedro Abelardo: um modelo medieval de aplicao
da lgica Moral. Uberlndia: EDUFU, 1996.
FERRER, U. La Etica en Husserl. in: Revista de Filosofia, vol. IV, n. 6, Madrid: Editorial
Complutense, 1991. p. 457-467.
LEITE JUNIOR, P. O Problema dos Universais: a perspectiva de Bocio, Abelardo e
Ockham. Porto Alegre: Edipucrs, 2001.
MURALT, A. de. A Metafsica do Fenmeno: as origens medievais e a elaborao do
pensamento fenomenolgico. Traduo de Paula Martins. So Paulo: Ed. 34, 1998.
SOKOLOWSKI, R. Introduo Fenomenologia. Traduo de Alfredo de Oliveira
Monaes. So Paulo: Loyola, 2004.
66
A JUSTIA DISTRIBUTIVA DE ARISTTELES: PRTICA, CARTER E O
MRITO
Leonardo Cosme Formaio
Universidade Estadual de Londrina
formaio@gregorioeformaio.adv.br
RESUMO
A anlise dos conceitos de justia ou do que justo, tratados desde o perodo clssico da
filosofia, quase nunca gozou de um consenso unnime dentre os pensadores ticos. Deste
modo, o presente trabalho ir tratar do conceito de justia ou do que justo, preconizado
pelo pensador clssico do sculo IV, Aristteles, em sua obra tica a Nicmaco. A justia,
como ser tratada, tem o seu campo de vigncia a prtica das aes humanas e est ligada
diretamente ao carter de cada indivduo, o qual, por sua vez, formado pela educao e
pela prtica reiterada dos atos do homem. Ser demonstrada tambm a importncia desta
virtude ou da justa medida para o indivduo e para a polis, sendo considerada a excelncia
mxima, completa e desejada por todos. A justia, para Aristteles se divide em duas
vertentes, a justia distributiva e a justia corretiva. No entanto, o presente trabalho se
limitar ao desenvolvimento da justia distributiva, com fulcro no princpio da distribuio
de acordo com o mrito individual, baseada em quatro relaes, existentes entre duas
pessoas e outras duas coisas. Tambm ser desenvolvido, diante do campo de aplicao da
justia, o papel da educao e das leis para o direcionamento do homem para o
desenvolvimento de seu carter constante. Ser apresentado tambm, a anlise de outros
pensadores a respeito da justia distributiva de Aristteles, inclusive se seu crtico
contemporneo, John Rawls, o qual prescreve pela justia distributiva, pautada na
equidade, na distribuio equnime dos bens para todos, sem distino de mrito ou
qualquer outro fator.
Palavras-chave: Justia; Mrito; Distribuio de Bens.
INTRODUO
O direito possui como uma das suas principais finalidades, a organizao social e
a consequente obteno da justia, a qual propicia a realizao dos preceitos tutelados por
nosso estado democrtico de direito, conforme disposto no texto preambular da
constituio federal brasileira.
Contudo, a conceituao, contextualizao, objetivos e meios para a obteno da
justia se demonstra dinmica, ganhando novos contornos, conforme a evoluo da histria
do direito e da filosofia poltica (esta, entendida como a rea do conhecimento responsvel
pela realizao de um exame rigoroso do uso que se faz dos termos do vocabulrio
poltico).
67
O que justo um tema discutido desde o perodo clssico da filosofia ocidental,
sendo assunto corrente na gora ateniense e objeto de estudo por grandes pensadores como
Plato e Aristteles.
Para o fundador do Liceu, a justia se trata da virtude mais completa, pois alm de
propiciar a boa vida ao homem, ela diz respeito ao bem de outrem, transcendendo,
portanto, a ao pautada no prprio ego e no benefcio singular.
Outrossim, a justia aristotlica se divide em duas formas: quanto a diviso dos
bens e honrarias, a chamada justia distributiva (objeto deste trabalho), pautada no
princpio da distribuio de acordo com o mrito individual; e a corretiva, concernente as
relaes de transies entre os homens, podendo ser voluntria ou involuntria.
No perodo medieval, em razo da forte influncia clerical, a justia (ou o que
justo) ganha revestimentos divinos, entendimento o qual, em virtude do fortalecimento do
estado, da evoluo do movimento iluminista e advento da nova classe burguesa,
superado pelo pensamento moderno jurdico; a justia passa ser a mera consequncia da
correta aplicao da norma universal e abstrata do direito positivado, possuindo na obra
teoria pura do direito (1934), a qual prega o jus positivismo estrito do jurista Hans Kelsen,
a sua principal manifestao.
Contemporaneamente, a justia distributiva formulada por Aristteles ganhou
contornos distintos com John Rawls, o qual prescreve pela equidade entre os cidados na
diviso dos bens comerciais e no comerciais, cabendo s instituies sociais a sua
distribuio igualitria, sem distines de mrito ou outras questes particulares.
No Brasil, diante das polticas afirmativas, como por exemplo, as quotas
aplicveis na seleo do ingresso nas universidades e concursos pblicos; nas polticas
sociais, distribuio de renda e nas questes tributrias (alquotas progressivas, conforme o
valor do bem tributado), nota-se forte influncia do pensador Norte-Americano.
Contudo, diante de nosso atual cenrio poltico, diretamente influenciado pelos
interesses partidrios, a formulao de justia raleseana, parece ser utilizada com moeda de
barganha, ou seja, a distribuio realizada com interesses particulares, qual seja, a
perpetuao do poder.
Diante de tal cenrio, o estudo da filosofia meritocrata de Aristteles ressurge
como mecanismo importante de anlise.
68
A PRTICA E O CARTER: OS CAMPOS DE ATUAO DA JUSTIA
ARISTOTLICA
A discusso acerca da justia pode se dar em vrios campos distintos: na filosofia,
na poltica, no mbito social e judicirio.
Na filosofia, o conceito de justia se d no campo da tica, vertente preocupada na
reflexo com o modo de ser, com o carter, com o costume e com o comportamento dos
homens. Ou seja, a reflexo tica-filosfica se d eminentemente na prtica, na ao do
homem em suas relaes particulares ou polticas.
Para Aristteles, como prescrito na obra tica a Nicmaco (livro II), o homem,
conforme possibilidade de ao de sua natureza, encontra na eudaimonia (boa vida ou
felicidade), o telos (a finalidade) de sua vida.
Por sua vez, a boa vida/felicidade se d com a prxis (prtica) das excelncias ou
virtudes, entendidas como aquelas aes ideais, resultantes do meio termo ou da justa
medida entre os excessos e da falta.
Para o pai do Liceu, a justa medida fundamental para a formao do bom carter
do homem, o qual, por sua vez formado diante das prticas reiteradas. Ou seja, o bom ou
o mal carter resultante das aes contnuas de cada homem. As excelncias, acredita o
pensador, se d na prtica, na aprendizagem, no fazer constante, como se conclui as leitura
da citao abaixo:
Por exemplo, os construtores de casas fazem-se construtores de casa
construindo-as e os tocadores de ctara tornam-se tocadores de ctara, tocando-a.
Do mesmo modo tambm nos tornamos justos praticando aes justas,
temperados, agindo com temperana e, finalmente, tornamo-nos corajosos
realizando atos de coragem. (ARISTTELES, 2009, p. 42).
Nesse sentido, a dificuldade maior est na direo da ao pelo homem, pois o
horizonte ou a possibilidade para o sucesso ou insucesso exatamente o mesmo. O carter
s poder ser definido quando houver a possibilidade de resultados opostos:
tambm ao agir em face de situaes terrveis, que sentimos sempre medo ou
conseguimos ganhar confiana, isto , que podemos ficar cobardes ou tornamo-
nos corajosos. De modo idntico a respeito das coisas que fazem nascer em ns
desejo e ira. Uns conseguem tornar-se temperados e gentis, outros, porm,
tornam-se devassos e irascveis. Resulta, ento, destas consideraes que a
respeito das mesmas, que se definem em comportamentos contrrios, ou seja,
que possvel portarmo-nos de modos diferentes. Assim, numa palavra, as
disposies permanentes do carter constituem-se atravs de aes levadas
69
prtica em situaes que podem ter resultados opostos. Por isso que as aes
praticadas tm de restituir disposies constitutivas de uma mesma qualidade,
quer dizer, as disposies do carter fazem depender de si as diferenas
existentes nas aes levadas prtica. Com efeito, no uma diferena de
somemos o habituarmos-nos logo desde novos a praticar aes deste ou daquele
modo. Isso faz grande diferena. Melhor, faz toda a diferena (ARISTTELES,
2009, P. 234).
Conclui-se, portanto, que as respectivas virtudes esto ligadas necessariamente a
as prprias aes. Ou seja, o corajoso assim considerado, pois pratica atos corajosos, o
bondoso considerado bom, pois pratica atos bons, assim por diante.
Aristteles, diante deste horizonte de possibilidades, acredita que a educao,
propiciada pela famlia e pelo Estado, possui papel fundamental para a construo do
carter permanente do homem:
A lei obriga, portanto, a viver de acordo com cada excelncia em particular e
probe agir segundo cada forma particular de perverso. Quer dizer, os
dispositivos legais produtores da excelncia universal foram legislados com vista
a uma educao que possibilite a vida em sociedade. Saber que a educao que
torna cada indivduo bom em sentido absoluto, resulta da percia poltica ou de
algumas outras cincias (ARISTTELES, 2009. p. 41).
Assim, a educao possui papel fundamental para o desenvolvimento do carter
permanente do homem, devendo estar presente desde a sua infncia, habituando-o no
exerccio das virtudes.
Em decorrncia destas afirmaes, o Estado, por intermdio de sua Constituio
deve legislar com o fim um fim direcionador, fomentando no homem a prtica das aes
virtuosas e corrigindo as suas transgresses:
A lei prescreve, pois aes a realizar: ao corajoso, como, por exemplo, no
abandonar o seu posto, nem fugir ou deitar as armas fora; ao temperado, como
por exemplo, no cometer adultrio nem ser insolente; ao gentil, como, por
exemplo, no bater, nem falar mal de algum, e ao mesmo a respeito das outras
excelncias e perverses, na medida em que exorta a umas e probe outras
(ARISTTELES, 2009. p 41).
Com efeito, verifica-se que Aristteles atribuiu as aes reiteradas o campo de
realizaes das virtudes humanas, responsvel pelo desenvolvimento e pela estabilidade do
carter permanente do homem.
Diante disto, o homem s chegar a sua virtuosidade pela prtica constante das
virtudes constantemente, ao ponto de formar o seu carter. Assim, a justia, a mais
70
completa das virtudes, como ser tratada a seguir, ser alcanada pela prtica reiterada das
aes justas as quais fazem parte do carter do homem justo.
A JUSTIA: A MELHOR DAS VIRTUDES
Assim como as demais virtudes (coragem, temperana, dentre outras), a justia
encontra-se presente nas aes humanas, em seu carter permanente: Vejamos, ento, o
que todos anseiam como justia aquela disposio do carter a partir da qual os homens
agem justamente, ou seja, o fundamento das aes justas e o que faz ansiar pelo que
justo. (ARISTTELES, 2009, p. 41)
Segundo Aristteles, como exposto at aqui, o homem possui por telos a boa vida,
a qual se d pela prxis virtuosa. Dentre as virtudes existentes, destaca-se a justia, como a
virtude a ser perseguida por todos:
A justia a nica das excelncias que parece tambm ser um bem que pertence
a outrem, porque, efetivamente, envolve uma relao com outrem, seja esse
algum superior ou um igual. O pior de todos , ento, o que mau para si
prprio, e tambm para outrem. O melhor de todos, por outro lado, o que
aciona a excelncia tanto para si prprio como para outrem. (ARISTTELES,
2009. p 103)
Continua mais a frente
A prpria justia , ento, uma excelncia completa, no de uma forma absoluta,
mas na relao com outrem. por esse motivo que frequentemente a justia
aparece com a mais poderosa das excelncias, e nem a estrela da tarde nem a
estrela da manha so to maravilhosas. (ARISTTELES, 2009, p. 104)
Essa importncia demasiada atribuda por Aristteles justia, principalmente no
que tange da sua importncia em relao a outrem, deve ser analisada diante do alicerce do
seu pensamento, baseada na natureza poltica do homem, o qual se apresenta como um
animal poltico.
Para ele, a cidade uma consequncia natural da estrutura do homem, a qual
possibilita a este realizao de seu fim ltimo, a eudaimonia.
O homem incapaz de se auto realizar sozinho. A sua coexistncia com outrem
demasiadamente importante para a sua preservao e plenitude. Assim, o bem do outrem,
dada essa coexistncia poltica, se apresenta como algo necessrio para o nosso prprio
71
bem. Da resulta importncia extrema dada a justia, a qual, mesmo advinda de um ato
individual, comunica e reflete na vida de outrem, e vice-versa.
A importncia da justia perante outrem clarificada na transcrio abaixo:
A justia concentra em si todas as excelncias. , assim, de modo supremo a
mais completa das excelncias. , na verdade, o uso da excelncia completa.
completa, porque quem a possuir tem o poder de a usar no apenas s para si,
mas tambm com outem.
Alm conclui: Assim entendemos por justo num certo sentido o que produz e
salvaguarda a felicidade bem como as partes componentes para si e para toda a
comunidade.
Deste modo, visto que a ao justa propicia a felicidade prpria e alheia o seu o
reflexo benfico a outrem e a coletividade como o todo, a justia se apresenta como a
virtude mxima a ser buscada pelo homem.
A JUSTIA DISTRIBUTIVA EM ARISTTELES
A justia em Aristteles pode ser tanto distributiva, a qual diz respeito
distribuio de bens e honrarias, bem como a corretiva, concernente s relaes de
transies entre os homens, podendo ser voluntria ou involuntria.
No que se refere distribuio dos bens esta regida pelo Princpio da
Distribuio de acordo com o mrito individual. Ou seja, a justia consiste a cada um
proporcionalmente sua contribuio, ao seu mrito, nada alm e nada aqum, como
ensinou o pensador:
Uma vez que o injusto o que quer ter mais do que devido, ele assim
definido a respeito dos bens. E, na verdade, no a respeito de todos os bens, mas
apenas a respeito daqueles que dependem da boa e da m sorte. Estes so bens
em sentido absoluto, mas nem sempre so bens por relao com cada um
individualmente. Os humanos pedem-nos em preces e perseguem-nos. Mas no
deviam. Deviam era antes pedir que os bem em sentido absoluto fossem tambm
bens relativos ao prprios, e assim escolher o bem absoluto em si como um bem
relativo para si. (ARISTTELES, 2009, p. 104/105)
Conforme dito pelo prprio Filsofo, na tica:
Uma das espcies de justia em sentido estrito e do que justo na acepo que
lhe corresponde, a que se manifesta na distribuio de funes elevadas de
72
governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre os
cidados que compartilham dos benefcios outorgados pela constituio da
cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter participao desigual ou igual
de outra pessoa. (ARISTTELES, 1996, p. 197)
Nesse sentido, o que existe como critrio de distribuio dos bens no uma
diviso equnime, e sim a proporcionalidade, conforme interpretou France Farago:
Na justia que se aplica as distribuies, a pessoa apreendida sob o ngulo dos
mritos, segundo critrios que variaro conforme a apreciao dos governantes.
O justo ser com efeito na parte que volta a cada um para recompens-lo pelo
seu mrito, e envolve uma relao de proporcionalidade entre a coisa devida e o
resultado, socialmente controlvel, na obra individual ou do trabalho fornecido.
O justo sempre supe uma condio com quatro relaes: duas coisas, duas
pessoas medir-se- assim, paralelamente, a remunerao do arquiteto e aquele
do construtor em proporo aos seus respectivos trabalhos. (ARISTTELES,
2009, p. 234)
Nesse sentido, clarifica Michael J. Sandel
Para Aristteles, justia significa dar s pessoas o que elas merecem, dando a
cada um o que lhe devido. Mas o que uma pessoa merece? Quais so as
justificativas relevantes para o mrito? Isso depende do que est sendo
distribudo. A justia envolve dois fatores: as coisas e as pessoas a quem elas so
destinadas. E geralmente dizemos que pessoas iguais devem receber coisas
tambm iguais. (ARISTTELES, 2009, p. 234)
Portanto, para auferir o que justo, ser necessrio a anlise dos critrios acima
elencados: duas pessoas e duas coisas. Assim, a distribuio, diante desta formulao de
Aristteles no pode ser idealizada ou normatizada pelo Estado. A distribuio depender
do mrito de cada indivduo em relao a importncia da sua ao, ou seja, o justo
varivel, dependendo da anlise do caso concreto.
Outrossim, a distribuio dos bens dever levar em conta critrios relevantes as
virtudes que se pretende bonificar, como escreveu Sandel ao tecer crticas a Aristteles:
A justia discrimina de acordo com o mrito, de acordo com a excelncia
relevante. E, no caso das flautas, o mrito relevante a aptido para tocar bem.
Seria injusto basear a discriminao em qualquer outro fator, como riqueza,
bero, beleza fsica ou sorte (como na loteria) (FARAGO, 2004, p. 75).
Assim sendo, a Polis dever considerar o que pertinente a cada excelncia para
melhor distribuir os bens e as honrarias.
73
Tambm, o individuo, sob pena de se configurar a injustia, no poder ter o que
no lhe devido conforme seu mrito, a absteno do bem alheio, como nos ensina John
Rawls, o qual acredita que caber as instituies sociais a interpretao de tal direito:
O sentido mais especfico que Aristteles atribui a justia, e do qual provm as
formulaes mais conhecidas , o abster-se da pleonexia, isto , tomando o que
pertence a outrem, sua propriedade, suas recompensas, etc., ou de negar a
algum o que lhe devido, o cumprimento de uma promessa, o pagamento de
uma dvida, a demonstrao do devido respeito, e assim por diante. evidente
que essa definio est estruturada para aplicar-se a aes e que as pessoas so
consideradas justas medida que tenham, como elementos permanentes do seu
carter, um desejo firme e eficaz de agir com justia. A definio de Aristteles
pressupe claramente, porm, uma interpretao do que pertence pessoa e do
que lhe devido. Ora, esses direitos quase sempre provem, acredito, das
instituies sociais e das expectativas legtimas que suscitam. (RAWLS, 2008 p.
13)
Portanto, a justia distributiva de Aristteles consiste na justa distribuio dos
bens pelo Estado, conforme os mritos de cada indivduo.
CONCLUSO
Diante de nosso contexto poltico e social, o conceito de justia distributiva
apresentado por Aristteles nos parece distante e de difcil aplicao pelo Estado em sua
atual formulao.
O que temos hoje, diante do nosso contexto assistencialista, a distribuio
equnime dos bens pelo Estado, ou seja, a distribuio tem por critrio primordial a diviso
dos bens entre todos, no levando em considerao os mritos de cada indivduo.
Para Aristteles, este atual contexto no representaria a correta distribuio dos
bens, pois no se leva em considerao o carter e a ao de cada indivduo, contudo,
atualmente, a sua possibilidade de aplicao se torna litigiosa.
Contudo, o que torna incontestvel a valorizao das aes e do carter do
indivduo na justia distributiva Aristotlica.
Tal valorao e disposies acerca do que justo, certamente fomenta o indivduo
na busca pelos seus fins. A valorao individual e o fomento do Estado pelas prticas das
aes justas, tambm possibilitam ao indivduo grande incentivo no desenvolvimento de
seus potenciais e do seu fim ltimo, o seu bem viver, e, consequentemente, diante de seu
74
campo de atuao, os benefcios dos atos justos sero comungados entre todo o Estado,
motivo pelo qual, a justia considerada a mxima das virtudes.
REFERNCIAS
ARISTTELES, tica a Nicmaco. Traduo do grego de Antnio de Castro Caeiro. So
Paulo: Atlas, 2009.
FARAGO, France. A Justia. So Paulo: Manole, 2004.
RAWLS, John. Uma Teoria da Justia. Traduo de lvaro de Vita. So Paulo: Martins
Fontes, 2008.
SANDEL, Michael J. Justia: O que fazer a coisa certa. Traduo de Helosa Matias.
Rio de Janeiro: Editora Civilizao Brasileira, 2013.
75
FILOSOFIA EM EDUCAO DAS SRIES INICIAIS:
RETORNO AO ESPANTO E CRIATIVIDADE
Fernanda Martins de Oliveira
Universidade Estadual de Londrina
nand_amar@hotmail.com
RESUMO
O presente trabalho consiste na tentativa de demonstrar a possibilidade de a Filosofia ser
apresentada como uma metodologia a ser utilizada pelos educadores, com a funo de
despertar na criana a disposio de um pensar que se encontra latente, espera de algo
que o manifeste, como condio de sujeito criativo que se atenta ao mundo de uma maneira
a espantar-se com ele. Espanto esse que se perdeu em algum momento deste mundo
moderno, no qual o homem tem criado movimentos de artifcios facilitadores como se
fosse um alongamento de seu ser, tornando-se aptico e sem criatividade e com a sensao
de que o mundo no digno de ser vivido e de que no h chance de sobreviver sem a
retomada deste evento que est em sua natureza. Reiniciar a construo do processo
ensino/aprendizagem abordando a relao que h entre esses eventos e com a manifestao
desta disposio oculta em nosso ser, pode auxiliar nossa natureza a alcanar o
desenvolvimento autnomo que o acompanhar durante sua vida. A partir da aplicao
deste processo metodolgico, visamos que possa haver uma emancipao social, por
intermdio da qual o sujeito participe conscientemente da sociedade. A inteno aqui foi no
sentido de tentar argumentar que a filosofia possa ajudar na construo do pensar e refletir,
estruturando desde a infncia de forma criativa e autnoma, trilhando-se assim para uma
cidadania responsvel. E para que isso transcorra, visa tambm, o acompanhamento
docente que ser corresponsvel para que tal mtodo seja possvel. Para isso deve estar
bem preparado, para que no ocorra nenhum acidente, tendo por tanto que se verificar a
necessidade de reviso do mtodo docente. Vilm Flusser faz uma crtica modernidade
no sentido de que estamos caminhando rumo a um mundo tedioso sem espanto, de
natureza morta e sem criatividade, necessitamos retomar o espanto para que se possa criar
e ser criado. Sendo assim, a concluso a que queremos chegar de que a disciplina de
Filosofia, muito alm de uma simples orientao, seria a que despertaria e incentivaria a
disposio criativa e crtica, que se encontra latente a manifestar-se e demonstra que a vida
possa ser digna de ser vivida segunda a nossa natureza misteriosa.
Palavras-chave: Filosofia com crianas, educao infantil, anos iniciais, conhecimento,
espanto.
A INFNCIA E A FILOSOFIA
Vrias so as discusses em torno da educao desde h muito tempo atrs, at os
dias de hoje. Os temas discutidos so muitos: analfabetos funcionais, incluso, cotas,
ensino/aprendizagem, dentre outros; no entanto, atentar-me-ei neste trabalho em uma
proposta de discusso sobre filosofia para crianas, e no mtodo de ensino na viso
docente, e assim s questes que sero colocadas aqui tem como propsito a tentativa de
76
entender um pouco mais desse mundo filosfico com crianas, que muitos dizem no ter
condies de acontecer, pois o pensamento que se tem ; j difcil ensinar filosofia para
adolescentes e adultos imagine-se ento ensinar filosofia na educao infantil e em anos
iniciais. "Mas todos aqueles que esto diretamente relacionados com crianas pequenas
sabem que as mesmas pensam e verbalizam o que pensam; s vezes, inclusive, de forma
demasiadamente enftica." (KOHAN; Leal, 2001, p. 365). A partir disso surgem os
primeiros questionamentos: como ensinar filosofia? E de que forma aconteceria o
aprendizado filosfico na fase infantil? Como tornar criativas as crianas em meio a tantas
coisas imediatas?
na infncia que o ser humano absorve boa parte daquilo que vive em seu
ambiente, e das pessoas com as quais ele convive ou so responsveis por ele. E nesta troca
de experincias, e absoro de vivncia ambiental, que se definem os parmetros mentais
socialmente alimentados, de tal modo que esses acmulos de vivncia vo formando o
alicerce que vai garantir a construo de sua vida. A criana comea ento sua relao com
o mundo e com as pessoas que a cercam, assim como os valores ticos que essa carregar
durante toda a sua vida. Portanto remete-nos a pensar na falta de criatividade que rodeia a
humanidade perante as coisas imediatas das tecnologias avanadas das quais temos tanta
dependncia atualmente. O espanto um evento necessariamente indispensvel ao sujeito
criativo, e que tem sido prejudicado e vem se perdendo na era da modernidade, e em
consequncia disto, a criatividade que essencial ao sujeito fica prejudicada ou quase nula.
Com o acumulo do processo de coisas imediatas que o mundo moderno criou, necessrio
que possamos rever e identificar nos conceitos, caminhos que levaram a um olhar mais
detalhado do problema. E assim analisar em que sentido isso possa contribuir para uma
possvel sada. Ou seja, para no perder a "subjetividade" criativa, visto que essa
desconstruo parece nos tirar do espanto que natural ao sujeito em sua natureza. E que
se no h espanto no pode haver criatividade e assim o mundo parece no ter sentido para
vida. Vilm Flusser coloca neste caminho uma questo que a primeira vista parece ser
drstica: Por que no me mato? j que estamos caminhando para tal mundo tedioso, a
soluo parece que seria matar-se j que esse mundo vem massacrando com suas coisas
que se precipitam sobre ele e que cada vez mais nos tornam dependentes e alienados. A
idealizao de uma educao no pode estar pautada em uma educao domesticada e
alienada, deve acima de tudo ter conscincia do ser como construtor desta caminhada rumo
autonomia, e no apenas reprodutores de algo que j est colocado, ao mesmo tempo tem
77
por dever ser constituinte dessa sociedade segundo as leis que a rege. Assim sendo no
apenas aprender sem o devido entendimento.
EDUCAO FILOSFICA PARA CRIANAS
A criana quando no mbito escolar precisa, alm de conhecimento das disciplinas,
aprender a pensar tais disciplinas. Este pensar, como j colocado acima, encontra-se latente
a espera de um evento que o apresente para este ser e o lance no mundo, contudo h uma
necessidade interna que precisa ser despertada, de uma maneira que haja um incentivo para
que tal manifestao acontea. Incentivo esse, que viria atravs da filosofia com o espanto.
A criana um corpo sem rgos conceito de Deleuze em sua obra Mil Plats, e como a
criana em sua pureza de pensamento faz varias conexes que se cruzam na busca de
novas informaes que lhe so inquietas, que as instigam para o conhecimento criativo,
seria desta forma com o espanto que as levaria a criar e ser criadas, assim este corpo sem
rgos viria a ser tornar o que chamaria de ser criativo e com isso iniciaria sua caminhada
rumo a autonomia.
O espanto desde Plato posto como raiz da filosofia que auxilia na busca de
respostas para o entendimento das coisas. Sendo assim, no se trata de simplesmente
aprender o contedo e sim pensar sobre o instrumento de aprendizado. Portanto a
disciplina de filosofia como instrumento de aprendizagem se faz necessria desde a
educao infantil, pois, atravs do ensino filosfico desde os primeiros anos escolares, a
criana estaria alicerando um caminho a ser trilhando rumo autonomia, que aconteceria
de forma consciente e responsvel. Os questionamentos de como e de que forma algo
acontece fazem com que a criana pense muito alm de que aprendi algo; e mais: ela
passa a pensar sobre aquilo que se est aprendendo e o propsito daquilo que se investiga.
EDUCAO E FILOSOFIA
No Brasil o sistema educacional precrio e deixa a desejar em muitos sentidos: as
escolas, com pouca estrutura, formam jovens e adultos que mal sabem ler e escrever, e que,
sem um ensino adequado que os preparem para uma vida universitria, chegam aos bancos
das faculdades totalmente perdidos, e devido a isso, aparecem ento as dificuldades no
ensino superior; a falta de ler e interpretar corretamente o que lhes so propostos uma das
78
dificuldades encontradas: no permite que se d continuidade em muitas disciplinas sem
rever partes importantes que se perderam em algum lugar l atrs. O que fazer ento?
Como mudar isso? Por onde comear? Essas so apenas algumas perguntas que j
incomodam, e mais: sem muitas respostas vista (ou melhor dizendo, sem muitos
interessados em resolv-las, seja de imediato ou a longo prazo).
O que se v so programas criados que incluem a filosofia para tentar melhorar a
educao; no entanto, de nada adiantam, ou no so suficientes para que essa melhoria
acontea. Na realidade, muito pouco se tem feito, e esse pouco caminha a passos de
tartaruga, ficando assim longe de ser modelo de educao.
Hoje infelizmente as pesquisas na rea de educao, e sobre desempenho dos
alunos desde a Educao Infantil, at terminarem o ensino mdio, simplesmente um
desastre, longe de ser uma satisfao como aponta o Sistema de Avaliao da Educao
Bsica (Saeb). E ainda, que uma grande parte das pessoas que chega faculdade no est
capacitada para tal: o que presenciamos so muitos analfabetos funcionais, que mal sabem
ler e escrever, muito menos entender o que est acontecendo sua volta no entendem,
nem conseguem pensar no que, como, e por que fazer.
A nosso ver, no apenas um olhar sobre Filosofia para crianas em fases iniciais
seria parte de uma possvel soluo nesse caminho como tambm uma mudana nos
mtodos de ensino que necessitam de cursos que preparem melhor os professores que
trataro com tal crianas, pois no adianta pensar que o problema esta exclusivamente nas
crianas e adolescentes e sim que no h suporte para preparar melhor os profissionais da
rea de educao. Assim esse tema vai muito alm de ensinar filosofia e sim de como os
docentes tambm so preparados para tal problema. O professor deveria ser o primeira a
buscar sua criatividade de forma espantosa e somente assim poder iniciar um processo de
ensino\aprendizagem que fosse ao encontro dessa criatividade que aos poucos foi perdendo
fora, romper as correntes e deste modo, buscar resolues para tais problemas aqui
colocado, e com isso buscar verdadeiramente a emancipao de uma sociedade que esta se
formando.
como lanar uma luz na escurido, em se tratando de evoluo da educao. E
para isso necessrio que o ser humano busque em primeiro lugar o conhecimento de si
79
mesmo, e nisso em que a filosofia pode ajudar, despertando esse ser para uma nova
realidade, um mundo onde as possibilidades se multiplicam de acordo com seus
conhecimentos. "A busca mais importante de todos os seres humanos a busca de si
mesmos, que a essa busca se remetem todas as outras buscas." (KOHAN, 2009; p.131).
A educao infantil uma porta aberta para explorar a aprendizagem, e para que o
conhecimento acontea, necessrio mudana. "No modo tradicional de pensar a educao
filosfica da infncia, levamos a filosofia escola para formar crianas que sejam, no
futuro, adultos mais democrticos, tolerantes e responsveis." (Walter Omar KOHAN,
2006; p.132). Nesta fase, as crianas buscam o conhecimento e necessitam saber de tudo
que se mostra no mundo ao seu redor, querem desvendar os mistrios que lhes vo sendo
apresentados naturalmente pela vida e convvio com outras crianas, e isto no deve ser to
e somente feito de forma mecanizada, e sim de modo desafiador e interessante, para que se
desenvolva em um ambiente onde o aprendizado possa se tornar instrumento de autonomia
e democratizao social. Neste ponto miro um olhar em Rousseau e sua obra Emlio, ser
que o autor estaria correto ao criar o seu personagem Emilio, em meio a natureza para que
este no perdesse a criatividade, e tornar o espanto algo to natural que no se perderia
nem mesmo envolto a modernidade com seus instrumentos facilitadores? Pois ele teria
sempre um olhar voltado a sua infncia j que nela que construmos a nossa vida?
As crianas em fase escolar inicial esto sedentas pelo saber, pelo aprendizado;
essas so curiosas incansveis, no se satisfazem com apenas meias respostas, esto
sempre prontas a perguntar os porqus dos porqus. "As crianas pequenas e a filosofia so
aliados naturais, pois ambos comeam com o assombro." (KOHAN; WUENSCH, 1999, p.
24). Desse modo, as crianas nesta fase esto abertas ao conhecimento que lhes estranho
e esperam respostas que possam satisfaz-las, de forma a compreender esse mundo novo e
cheio de novidades, e ao inquietarem-se com as respostas, passam a explorar novas coisas
que se tornam novamente interessantes, e desta forma ficam gravadas na memria. Esse
interesse maravilhado pelo mundo o que motiva as crianas a buscarem sempre novos
conhecimentos e serem criativas, e o espanto das coisas que as movem para o saber; por
isto, exploram de forma intensa tudo aquilo que est presente nos acontecimentos de suas
vidas, e deste interesse surge um armazenamento de aprendizado que fica gravado na
memria. Percebem, por fim, prontamente que so capazes de trilhar novos caminhos por
80
conta prpria, acontecendo neste momento a apreenso do saber.
A filosofia permite, sobretudo, pensar a nossa prtica, a pensarmos uma outra
vez; a pensarmos e voltarmos a pensar; repetimos o gesto de pensar
filosoficamente a prtica e, nesse gesto, nos pensamos e voltamos a pensar ns
mesmos. Trata-se de um gesto do pensamento que se repete para no repetir-se,
que desdobra uma repetio complexa, repetio do diferente e no do mesmo.
(KOHAN, 2006, p. 133).
A filosofia como uma ponte no qual possa refletir e pensar novamente, pois, seria
um repetir diferente do anterior, pois o tempo no o mesmo que a um segundo atrs, ou
seja, cada movimento do repensar de uma nova forma.A filosofia faz-se necessria no
para induzir, mas com a inteno de conduzir a criana rumo ao conhecimento,
conhecimento este no apenas externo: vai alm disso, vai em direo tambm busca de
seu entendimento interno, podendo conduzir questes como: De onde viemos? Para onde
vamos? Qual o propsito da vida? Aprendendo, assim, a perceber suas potencialidades e
seus prprios caminhos, buscar novas conquistas, novas descobertas, podendo inferir
acerca desses novos caminhos, e que isto no seja de forma mecanizada, e sim de forma
que se pense no que se est apreendendo. "A experincia interna separada da experincia
externa um lugar de demnios o mundo interno sem sentido. O que une esses dois
mundos a imaginao comum ou o esprito criativo." (Kohan e Leal, 2001, p.65).
Portanto, a repetio uma tcnica ultrapassada e que necessita de ser substituda
pela forma pela qual se possa pensar filosoficamente, de modo que esta prtica seja um
pensar por si e pelos outros, e assim, no apenas mecnica e de avanos tecnolgicos. No
que o avano tecnolgico no cumpra seu papel, pois este serve para resolver muitos
problemas prticos de nvel superficial da vida. A filosofia, porm, a nosso ver, exerce um
papel muito mais relevante e fundamental no desenvolvimento do ser humano, e que desde
o incio da educao deve ser explorado, porm de forma responsvel e coerente, fazendo
com que se descubra a prpria natureza de ser e de estar, e por que estar, mostrando assim
que se devem respeitar as diferentes formas de pensamento, garantindo-se assim as
individualidades, e caminhando para que no futuro haja uma cidadania autnoma e
democrtica. A democracia no um lado da vida em comum dos homens, mas uma tarefa
do pensamento. (KOHAN E LEAL, 2001, p.77).
Nesse sentido percebemos que a tcnica mecanizada na educao no funciona para
que isto acontea, pois para que se chegue autonomia e democracia, necessrio
81
desenvolver o autoconhecimento, e para isto, por sua vez, necessrio muito mais do que
repetio. O que foi explanado at aqui no tem a pretenso de que isto seja trabalhado de
forma imediata, e sim visa que se deva comear o quanto antes; ou seja, desde a Educao
Infantil, para que quando se chegar ao ensino mdio ou faculdade j se tenha como expor
criticamente pensamentos e prticas.
PROPOSTAS DE PRTICAS FILOSFICAS PARA CRIANAS
Conforme colocado em questo no inicio deste texto, como ensinar Filosofia? E de
que forma aconteceria o aprendizado filosfico na fase infantil? A Professora do Instituto
de Pesquisa sobre Ensino de Filosofia (IREF), em Barcelona, na Espanha, Anglica Satiro,
que impulsora de Filosofia para Crianas na rede de ensino Pitgoras (MG), sugere: "O
que proposto utilizar prticas habituais que j ocorrem nas escolas, mas enfocadas de
maneira diferente reflexiva que a principal contribuio que a filosofia pode
oferecer." (KOHAN E LEAL, 2001; p.365). A partir disto, podemos ento sugerir uma
srie de exemplos, a saber, as brincadeiras infantis praticadas nas escolas; poderia ser
colocada aps essas brincadeiras uma reflexo voltada para elas, que foi desenvolvida;
assim a professora e os alunos podem comear uma atividade que parte de uma
investigao concreta.
Depois de brincar de cabra cega, podemos nos assentar em crculo com as
crianas envolvidas e conversar sobre a experincia vivenciada na brincadeira.
Uma conversa reflexiva sobre ela pode comear em torno da questo Como foi
possvel adivinhar quem era essa pessoa enquanto se estava de olhos vendados?
(KOHAN e LEAL, 2001, p.366).
Assim, as brincadeiras, e as atividades desenvolvidas a partir delas, so um
caminho para o ensino de filosofia, e com isso, o professor de educao infantil e anos
iniciais passa a sistematizar as experincias vivenciadas pelas crianas, e desse modo
propor as brincadeiras de acordo com o tema filosfico a ser trabalhado, a fim de que a
criana possa futuramente pensar melhor por si mesma, praticando desse modo os
questionamentos comuns s crianas: o qu, como e porqu.
Portanto, para que no futuro possamos compartilhar um lugar em que cidados
saibam muito alm do seu mundo exterior, e j tenham o poder de conhecer suas
82
potencialidades e seu interior, necessrio, no nosso entender, alm de um simples ensino
mecanizado, um sistema com base em autoconhecimento, o qual possa despertar interesse
tico e democrtico, podendo ento haver mutuamente a compreenso daquilo que
melhor para um convvio em sociedade, e assim assumir verdadeiramente o cidado seu
papel na sociedade.
REFERNCIAS
FLUSSER, Vilm. - Da religiosidade: A Literatura e o Senso de Realidade. So Paulo -
2002: Escrituras Editora, coleo ensaios transversais.
DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. - Mil Plats Capitalismo e Esquizofrenia. So
Paulo-1995. traduo de Aurlio Guerra Neto e Clia Pinto Costa. 1 edio. Editora 34.
ROUSSEAU, J.J, - Emilio ou da Educao. 3. Ed. So Paulo: Martins Fontes, 2004.
HEIDEGGER. Martin. Quest-ce Que la philosophie?. In. Col. Os Pensadores. Trad.
Ernildo Stein, Rio de Janeiro: Nova Cultural, 2005.
KOHAN, Walter Omar. e WUENSCH, Ana Miriam. Filosofia para crianas, volume I,
editora Vozes 1999.
KOHAN, Walter Omar.e LEAL, Bernadina. Filosofia para crianas, volume IV, editora
Vozes 2001.
83
O SENTIMENTO DO MUNDO: FICHTE E O PROBLEMA DA AFECO
Glauber Cesar Klein
glaubercklein@gmail.com
RESUMO
A comunicao delineia a importncia do conceito de sentimento no pensamento de Fichte
nos anos de 1793 a 1797. Abordaremos o tema do sentimento, em Fichte, por dois
caminhos: 1. A concepo moderna do sentimento, em divergncia noo grega de
; 2. A funo que o sentimento exerce na resposta que Fichte d ao problema da
coisa-em-si, particularmente s discusses em torno desta tpica por parte dos primeiros
leitores kantianos, entre os quais: Garve, Jacobi, e Heinhold.
Palavras-chave: Sentimento, afeco, coisa-em-si, idealismo alemo.
NOTAS PARA UMA GNESE DO SENTIMENTO
16
O conceito de sentimento (Gefhl), mais precisamente, de sentimento originrio
(ursprngliche Gefhl), surge na terceira parte da GWL. Convm introduzirmos o tema do
sentimento a partir da sua especificao ao tradicional conceito de paixo. Em termos
estritos filosofia crtica, trata-se de entender que h um progressivo distanciamento, ou
distino conceitual, do sentimento em relao sensao. Como notrio, tanto as
sensaes, afeces dos sentidos, determinao corporal em sua exterioridade, quanto os
afetos, afeces da alma, determinao psicolgica, foram reunidas pela antiguidade greco-
latina sob a generalidade do conceito de paixo. Caracterstica essencial da paixo a
passividade, a dependncia de uma ao externa ao que movido pelas paixes. Neste
sentindo, J.-P. Camus explica:
No preciso consultar longamente seu lxico para encontrar a partiendo, posto
que a alma sofre como que distores quando pressionada e solicitada um
pouco alm da medida, de algum desses movimentos, o que poderia convir com
a opinio daquele filsofo antigo que chamava as paixes de doenas da alma.
Poder-se-ia alegar, ao contrrio, que esse nome parece imprprio para a coisa
qual se quer uni-lo, parecendo ter mais afinidade com o corpo do que com a
alma, que por sua natureza parece impassvel, como uma forma viva e
vivificante, nascida mais para agir do que para sofrer a ao, se no se quisesse
dizer que nessa matria passio tirasse sua origem do verbo grego , que
16
Inspiramo-nos, para o tema, com a leitura do artigo do professor Rivera de Rosales: La relevancia
ontolgica del sentimiento en Fichte (Lpez-Domnguez, 1996, pp. 245-74). A nossa abordagem da questo
pressupe e por isso no repete os esclarecimentos presentes no artigo. Esta comunicao parte de
pesquisa por ns desenvolvida ao longo do curso de mestrado em filosofia pela UFPR, concludo em maro
de 2013.
84
significa fazer, de onde teria procedido a palavra , de onde vem o termo
paixo. E, de fato, quem quiser considerar de perto as paixes em seu ser
especfico encontrar que elas so antes movimentos da alma agindo do que
suportando: o amor, o dio, a clera e as outras parecem agir contra ou a favor de
seus objetos, mais do que serem atingidas por estes. (DESCARTES, 1998, p.
XXXVI)
Ainda que o grego enfatize a ao, essa pensada como um momento do
fenmeno geral de ao de uma realidade externa (DESCARTES, 1998, p. XXXVI). A
modernidade, enquanto fundao da subjetividade, romper com a noo clssica de
paixo, esforando-se por compreender parte da vida afetiva como originria ou, pelo
menos, condicionada pela natureza do sujeito. Precisamente, o sensualismo moderno que
critica a distino substancial entre corpo e esprito encarregar-se- de distinguir os afetos
das afeces dos sentidos, para ento, com o romantismo e suas origens, distinguir os
afetos dos sentimentos. que o advento da subjetividade forar o pensamento a pensar
uma instncia anterior, ou pelo menos rigidamente distinta, da conscincia em relao
exterioridade fsica. Em termos kantianos, especialmente, isso pode ser traduzido pelo
esforo de pensar um a priori como condio de aparecimento de todo conhecimento,
inclusive do psquico. Se em Kant, porm, ainda conserva-se a irredutibilidade da
sensibilidade em relao ao entendimento, comea a se delinear uma transcendentalizao
dos sentimentos; presena ocasional do sentimento-de-si na primeira Crtica, passando pela
importncia notria do sentimento de respeito na segunda, para ento na terceira ocupar
lugar central os sentimentos de prazer e desprazer, para explicao dos juzos estticos.
Contudo, como veremos, ainda em Kant os sentimentos exceo, talvez, ao de respeito
na filosofia prtica so pensados como estritamente ligados s sensaes: o sentimento
depende da sensao. Em Fichte, a sensao depende do sentimento.
O termo sentimento uma traduo do latino sntre (pres. at.; o infinitivo:
senti
17
). A primeira coisa que chama a ateno, na etimologia da palavra, que ela no
uma traduo de um termo grego; a se confiar nos dicionrios etimolgicos, o termo parece
ter uma origem espria. Fato que ele j aparece na literatura latina, seguramente em
textos literrios da baixa idade mdia. O latim da idade mdia (especificamente, sc. XV)
consagrou a forma que hoje conhecemos: sentmentum. Para isso, entretanto, seu
significado passou do primordial conjecturar mas no no sentido moderno de especular,
17
Cf. Sed ne me putes improbasse schedium Luciliane humilitatis, quod sentio et ipse carmine effingam
(PETRNIO, 2004, p. 16).
85
antes mais prximo do termo, tambm moderno, pressentir, isto , entrever para o de ser
senciente. Com efeito, o ser senciente deriva do latim (sc. XIII) sentiens, como adjetivo
de segundo grau: que sente
18
. Na romanizao do latim, o francs a lngua que parece ter
dado mais interesse ao vocbulo, pois dela que data sc. XVIII a apropriao da
forma latina mais acabada (sentmentum), a saber, sentimental, e dele derivaram as
variaes hoje usuais inclusive no portugus: sentimentalismo, etc.
Em termos de histria da filosofia, por outro lado, parece no haver consenso
sobre seu aparecimento. O termo aparece, claramente distinto da sensao e assim
tematizado, no Trait des sensations (CONDILLAC, 1754, p. 28), de Condillac O
sentimento (sentiment) capaz de ser mais vivo que a sensao (sensation) (traduo livre
nossa). Mais importante que a mera distino de denominao ou grau, a ideia do
sentimento como um estado passvel de existir sem uma relao causal direta pelos
sentidos, isto , sem uma relao do corpo com algo externo a ele:
Como j distinguimos duas atenes, que esto na esttua, uma pelo olfato, a
outra pela memria, podemos agora perceber uma terceira, que d imaginao,
e cuja caracterstica fixar as impresses dos sentidos, para substituir um
sentimento independente da ao dos objetos externos (CONDILLAC, 1754, p.
57).
Porm, ainda que o conceito de sentimento, em Condillac, seja distinguido do de
sensao, seja pelo seu possvel nvel de vivacidade, seja por sua independncia em relao
atualidade de objetos, permanece todavia secundrio, dependente da existncia, primeira,
daquela.
Philippe Desan, em seu Dictionnaire de Michel de Montaigne (DESAN, 2007, pp.
1059-60), verbete Sentiment, aponta a ocorrncia do termo nos Ensaios (primeira
publicao: 1580; segunda: 1588; terceira, pstuma, de acrscimos 1595): Os usos da
palavra 'sentimento', nos Ensaios, so to variados quanto os nossos, se no mais
(traduo livre nossa). De um modo geral, segundo Desan, o sentimento est ligado
opinio, crena e conscincia, assim como sensibilidade, afetividade e s paixes,
porm sua polissemia no puro caos e, na complexidade do sentir, Montaigne liga em
18
Assim, o termo j aparece no Dolce stil novo, notadamente nos poemas de Vita nuova, de Dante Alighieri,
por exemplo, n dentro i sento tanto di valore (poema L), poi tanto furo, che cio che sentire (poema LI),
sentiron pena de laltrui dolore (poema LVIII), ch quella bella donna che tu senti (poema LXXIX),
(ALIGHIERI, 1996).
86
uma sntese indissoluvelmente psicolgica e moral, o sentimento como afeto e o
sentimento como conscincia (DESAN, 2007, p. 1059). Enquanto afeto, o sentimento no
nada mais que o modo como somos afetados pelas coisas:
...a crtica dos sentidos que encerra a Apologia de Raimond Sebon denuncia o
carter enganador: alterando a forma das coisas. Por isso, a sensibilidade no
pode estabelecer um conhecimento objetivo do mundo (II.12.601). Mas quando
atenta-se maneira como ela nos afeta (que o sentimento mesmo), sem
acreditar ingenuamente que deste modo nos so dadas as caractersticas das
coisas que nos afetam, acerta-se. Isto quer dizer que da sensibilidade Montaigne
retm apenas o sentimento, dando a ele a presidncia. No h cincia seno do e
pelo sentimento (DESAN, 2007, p. 1060).
Por outro lado, Desan julga que, aps uma crtica aos doutos que pretendem
conhecer a natureza, mas nada mais fazem do que reduzir suas regras sua fantasia
(II.12.526), projetando sobre a natureza esquemas mecnicos que lhe so estrangeiros
(II.12536), portanto, uma crtica a um realismo ingnuo, Montaigne reivindica um
conhecimento que procede inteiramente do sentimento (DESAN, 2007, pp. 1059-60);
para tanto, ele cita o ltimo dos ensaios, o Da experincia: Nessa universalidade, deixo-
me ignorantemente e negligentemente manejar pela lei geral do mundo. Conhec-la-ei o
suficiente quanto a sentir (III.13.1073) (MONTAIGNE, 2001, p. 434), o que se esclarece
ainda pela frase anterior de Montaigne: Estudo a mim mesmo mais do que a outro
assunto. Essa a minha metafsica, essa a minha fsica (MONTAIGNE, 2001, p. 434).
Ademais, continua o comentador, a ignorncia representa o fundamento de uma cincia
genuna, que acessa a pureza do sentir por ter rompido com as construes artificiais da
opinio (DESAN, 2007, p. 1059), referenciando: "S me julgo por sensao real (vray
sentiment), no por raciocnio (III.13.1095) (MONTAIGNE, 2001, p. 469). Neste
sentindo, como consequncia da aproximao que o comentador faz (a partir das passagens
em que Montaigne emprega a palavra sentimento e suas flexes, da crtica dos sentidos e
da cincia) com a leitura dos Ensaios como experincia, vivida em primeira pessoa, e
como anlise, o sentimento ganha uma segunda direo, nas palavras do comentador, a
dupla dimenso do sentimento. Trata-se da efetividade do sentir e a conscincia que esta
experincia implica por si mesma (DESAN, 2007, p. 1060). A conscincia do sentimento
, para Desan, uma chave para o que ele chama de tica sutil de Montaigne.
87
Independentemente da correo das teses de Desan
19
, o que importa aqui a presena que
ele aponta do sentiment cremos ns, irredutvel ao pthos antigo nos Ensaios. De resto,
segundo entendemos, essa recorrncia do termo, nas passagens invocadas por Desan, no
permitem por si s, sem pouca controversa, postular uma teoria do sentimento
suficientemente desenvolvida, em especial uma determinao fixa do termo, em distino
s paixes em seu sentido lato. esta a tarefa que Fichte pretende levar a cabo.
O SENTIMENTO ORIGINRIO E A RESPOSTA AO PROBLEMA DA COISA-EM-
SI
Sumariamente, podemos apontar como ponto nevrlgico da crtica de Jacobi a Kant
na segunda das objees por ele formuladas em seu David Hume sobre a crena, ou
idealismo e realismo, um dilogo (JACOBI, 1812-1825, JACOBI, 2006). A tese de que a
atividade de nossas faculdades de conhecimento depende da afeco de objetos externos
inconsequente com outra tese fundamental de Kant, a saber, que s temos acesso a
fenmenos, pois coisas em si so incognoscveis.
Na Introduo Crtica da razo Pura (KANT, 2001, B1), entre outras
passagens
20
, Kant afirma que todo o nosso conhecimento depende de objetos que afetem
21
nossos sentidos, apenas a partir do que temos representaes e atividade de nossa
faculdade intelectual. Essa tese kantiana, contudo, parece contradizer outras passagens da
mesma obra, nomeadamente os resultados da Analtica Transcendental, segundo os quais
as categorias entre elas, a de causalidade s tm validade quando limitadas esfera
19
EVA (2007, p. 489), oferece um estudo mais demorado e pontual sobre o tema da subjetividade na obra de
Montaigne. Na concluso de seu livro, ele nos diz: Essa variedade [no emprego do termo faculdade para
designar capacidades especficas da alma] aliada ao modo como as faculdades particulares se apresentam,
como vimos, sem que se possa definir exatamente seus limites parece contribuir para caracterizar uma trao
recorrentemente detectado como problemtico pelos comentadores: a fluidez e a aparente vagueza com
que, a despeito de suas diversas nuances, surgem tais conceitos. Por esse ngulo, certamente nos afastamos
das arquiteturas do sujeito cognoscente que sero produzidas por Descartes ou Kant.
20
Cf. tambm KANT, 2001, B235, A190: Com efeito, temos que nos haver apenas com as nossas
representaes; quanto ao saber como podem ser as coisas em si mesmas (sem considerarmos as
representaes pelas quais nos afetam), est completamente fora da nossa esfera de conhecimento.
21
Neste ponto, KANT, 2001, B 1, o termo usado tocar ou mover [...die unsere Sinne rhren und teils von
selbst Vorstellungen bewirken...]. No 1 da Esttica Transcendental, aparece o termo afetar [Diese findet
aber nur statt, so fern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiederum, uns Menschen wenigstens,
nur dadurch mglich, da er das Gemt auf gewisse Weise affiziere () Die Fhigkeit (Rezeptivitt),
Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenstnden affiziert werden, zu bekommen, heit Sinnlichkeit]
Na Segunda Analogia, B 235 [...wie Dinge an sich selbst (ohne Rcksicht auf Vorstellungen, dadurch sie uns
affizieren) sein mgen...] e no captulo Do princpio da distino de todos os objectos em geral em
fenmenos e nmenos, B 309 [denn durch bloe Anschauung wird gar nichts gedacht, und, da diese
Affektion der Sinnlichkeit in mir ist], novamente aparece o termo afeco. A consulta ao original alemo
em KANT, 1910.
88
fenomnica, o que vale dizer que as categorias no tm um uso vlido quando se pretende
conhecer as coisas-em-si-mesmas e o suposto papel delas no comeo do conhecimento
sensvel.
Jacobi alega (JACOBI, 2006, pp. 301-2)
22
ento que, para no sucumbir s
consequncias de um fenomenalismo fechado, portanto, acusao de idealismo no
sentido dogmtico, Kant acaba por aceitar uma tese realista que, por sua vez, contradiz
momentos fundamentais de sua teoria. Contudo, a despeito de uma aparente contradio,
Kant tem de partir da postulao de objetos que provocam impresses, dando lugar desse
modo s representaes (KANT, 2001, B1), pois do contrrio no possvel explicar
como temos representaes, caso no se queira, como o caso de Kant, deriv-las do
prprio sujeito; assim, sem este ponto de partida o idealismo transcendental no poderia se
auto sustentar:
Pergunto, como possvel conciliar a suposio de objetos que impressionam
nossos sentidos e que, deste modo, suscitam representaes, com uma doutrina
que pretende reduzir a nada todos os fundamentos que apoiam esta mesma
suposio? (JACOBI, 2006, p. 307)
Se por um lado a tese da incognoscibilidade das coisas-em-si nos condena s meras
representaes, por outro lado as representaes nos levam a admitir coisas-em-si sendo
causas das mesmas, o que contradiz a tese da incognoscibilidade das coisas-em-mesmas,
uma vez que admitir esta afeco externa supe conhecimento, a saber, pressupe saber
que coisas existem fora das representaes que provocam. Esta postulao, no entanto,
parece se valer de um procedimento que o prprio Kant acusa de ser o erro da metafsica
dogmtica, qual seja, aceitar a existncia de objetos independentes do sujeito.
22
Cf., loc. cit., Creio que isto o suficiente para provar que a filosofia Kantiana abandona (verlt)
completamente o esprito de seu sistema quando diz dos objetos que estes impressionam (Eindrcke) os
sentidos, em virtude do que provocam sensaes (dadurch Empfindungen erregen) e assim suscitam
representaes (Weise Vorstellungen zuwege bringen): pois, segundo a doutrina kantiana, o objeto emprico,
que sempre apenas fenmeno, no pode existir fora de ns, e no pode ser outra coisa que uma
representao; do objeto transcendental, no entanto, no sabemos sequer o mnimo (von dem
transcendentalen Gegenstande aber wissen wir nach diesem Lehrbegriffe nicht das geringste); e no se trata
dele, em absoluto, ao se considerar os objetos (wenn Gegenstnde in Betrachtung kommen); seu conceito ,
ademais, um conceito problemtico, o qual repousa (beruht) sobre a forma do nosso pensamento,
completamente subjetivo correspondente (zugehrigen) sensibilidade que nos caracterstica (unserer
eigenthmlichen); a experincia no lhe d nada, e no pode, de forma alguma, dar-lhe alguma coisa, posto
que aquilo que no fenmeno, nunca pode ser um objeto da experincia; o fenmeno, no entanto, e esta ou
aquela afeco da sensibilidade em mim (und da diese oder jener Affection der Sinnlichkei in mir ist), no
constitui (ausmacht) qualquer referncia (Beziehung) de tais representaes a um objeto qualquer (auf irgend
ein Object).
89
Tambm sumariamente, podemos entender do seguinte modo a rplica a Jacobi por
parte de Reinhold: As coisas-em-si no podem ser conhecidas, podem, porm, ser
pensadas. Mais, devem ser pensadas:
...tal como os prprios objectos representveis, as coisas em si tambm no
podem ser negadas. Elas so esses mesmos objectos, na medida em que estes no
so representveis. Constituem esse algo que o fundamento, exterior
representao, da matria de uma representao... (REINHOLD, 1992, p. 194)
Com isso, saliente a posio reinholdiana sobre a inutilidade da coisa-em-si para o
conhecimento positivo, determinante, a necessidade do conceito numnico de coisa-em-si
para a reflexo transcendental, reflexionante. Se estivermos corretos, o argumento de
Reinhold funda-se na considerao da unidade do objeto tomado ora como fenmeno, ora
como coisa-em-si; trata-se sempre de atermo-nos s nossas representaes; mas estas
mesmas representaes so do ponto de vista oposto ainda assim um objeto numnico
da nossa considerao reflexionante sobre o objeto do conhecimento. Negar que s temos a
ver com representaes, seria o dogmatismo dos realistas transcendentais; negar que o
conceito de coisa-em-si seja necessrio enquanto conceito-limite da possibilidade de todo
conhecimento humano, seria o dogmatismo dos idealistas empricos. A lio kantiana, na
voz de Reinhold, diz: No possvel ser realista, tampouco idealista, mas preciso ser
ambos: ideal-realismo, real-idealismo filosofia transcendental. E, como ser real-idealista
e ideal-realista, em suma, filsofo transcendental, sem ser contraditrio? Tomando a
distino entre fenmenos e coisas-em-si em sua verdadeira significao: S temos a ver
com representaes (idealismo transcendental/realismo emprico), mas dentro da anlise
das representaes possvel distinguir as representaes em classes (conceito, intuio) e
tipos (ideia da razo, categoria do entendimento, conceito emprico, conceito lgico, etc.;
intuio formal, forma da intuio, intuio sensvel, intuio intelectual, etc.), e assim
distinguir as representaes objetivas (conceitos e intuies) das meramente subjetivas
(conceito vazio, intuio cega); mas estas mesmas representaes, se so representaes,
so representao de algo, que, no entanto, no objeto externo s representaes (no
sentido de algo toto genere diverso, embora seja exterior representao na medida que s
pode ser pensado a partir da abstrao das condies transcendentais subjetivas do
conhecimento humano), mas o mesmo objeto que aparece na representao agora tomado
em outra significao, a de ser uma coisa-em-si, enquanto conceito necessrio da razo
90
para dar acabamento sistemtico ao edifcio do nosso conhecimento emprico, admitindo
assim o conceito problemtico de nmeno.
A nosso ver, este argumento reinholdiano impecvel, mas limitado. Impecvel,
para responder objeo de Garve: se s temos a ver com nossas representaes, a
filosofia transcendental um idealismo superior
23
, isto , emprico, como o de Berkeley, e
o conceito de coisa-em-si arbitrrio e contraditrio. Limitado para responder, pelo menos,
a uma questo de Jacobi: Kant precisa admitir e admite claramente que coisas-em-si
afetam os nossos sentidos e, assim, proporcionam a matria das nossas sensaes, que
sero formalizadas pelas intuies e pelos conceitos, para construir o conhecimento
objetivo, mas, ao mesmo tempo, se admite isso, nega outra tese capital da filosofia
transcendental e da distino entre fenmeno e coisa-em-si: as categorias do entendimento,
que Kant justificou a validade necessria e universal na Deduo das categorias do
entendimento, por isso mesmo s tem validade quando aplicadas nica e exclusivamente s
representaes sensveis. Kant aqui, afirma Jacobi, no apenas circular, tambm e
sobretudo contraditrio.
Em outras palavras, segundo Jacobi e seu problema da coisa-em-si (que tem uma
estrutura tripla, mas cuja tese forte a do problema da afeco), ainda que Kant no seja
nem ctico nem idealista emprico (eis as outras duas objees da trplice objeo
jacobiana), ele continua a ser algo bem pior, contraditrio. Da a concluso de Jacobi, o
idealista transcendental tem que negar as coisas-em-si e afirmar o idealismo mais forte
que j existiu (JACOBI, 1812-1825, p. 310, JACOBI, 2006, p. 223).
Disso, chegaremos seguinte constatao: a contra objeo reinholdiana responde
perfeitamente objeo de Garve, mas nem arranha a objeo das afeces de Jacobi. E,
seguinte proposta de tese de leitura da soluo fichtiana ao problema da coisa-em-si: Para
Fichte, a soluo ao problema de Jacobi, que ao mesmo tempo muda a contra objeo a
Garve, : No temos a ver apenas com representaes ideias, intuies e conceitos , o
temos apenas do ponto de vista terico; temos a ver tambm com sentimentos, isto do
ponto de vista prtico; e do ponto de vista prtico que o problema de Jacobi o problema
das afeces resolvido: no somos afetados pelas coisas-em-si, pois sem dvida
23
Cf. citao de KANT (1987, p. 175, Ak. 204): Esta obra um sistema do idealismo transcendente (ou,
como ele traduz, superior). Acusao que Kant interpreta do seguinte modo: todo o conhecimento a partir
dos sentidos e da experincia nada mais do que iluso, e a verdade unicamente existe nas ideias do
entendimento puro e da razo pura (idem, p. 176, Ak. 205), opondo a seguinte sentena como sendo a
expresso de seu idealismo: todo o conhecimento das coisas a partir unicamente do entendimento puro ou
da razo pura no mais do que iluso, e a verdade existe apenas na experincia (idem, ibidem).
91
afeco um termo emprico e s pode ser tomado nesta significao, somos sim
tocados, atravs de um sentimento, por algo que, feita a reflexo, determinados os
conceitos, aplicados pelo poder fundamental da imaginao os conceitos s sensaes,
chamamos de coisas-em-si, mas j desde este ponto de vista emprico; do ponto de vista
transcendental, reflexionante, subjetivo, este sentimento s um sentimento, isto , algo
simplesmente subjetivo, que remete a um No-Eu, que representamos como o limite da
ao prtica no mundo.
Quando Kant fala de coisas-em-si do ponto de vista filosfico, o sentido do
conceito distingue-se daquele no sentido emprico. Nesse, coisas-em-si so objetos que
existem prontos independente e anteriormente ao sujeito; naquele, fala-se apenas de
nmenos, de objetos pensados, no de uma existncia objetiva (que s diz respeito ao
ponto de vista emprico). O nmeno o objeto posto pelas leis necessrias de nossa razo,
que acrescentamos aos fenmenos para dar-lhes objetividade. Fichte mantm este sentido,
pois com ele podemos explicar como objetos parecem independentes de nossas
representaes e ainda assim no so entidades transcendentes.
Desta forma, a rejeio de Fichte se refere ao conceito de algo que no pode ser
conhecido, pois indica uma entidade que transcende o mbito de acesso e legislao do Eu.
Mas o conceito mantido no segundo sentido exposto: o de um pensamento necessrio de
objetos que no podem ser identificados ao Eu, mas que, ao contrrio, devem ser pensados
como limite de sua atividade, sendo para o Eu um No-Eu. A oposio entre Eu e No-Eu,
diz Fichte, conditio sine qua non para o conhecimento do Eu, posto que conhecer
determinar, portanto, distinguir precisamente que algo diferente de algo outro. Esse No-
Eu , pois, o pensamento necessrio (nmeno) de algo que se ope absolutamente ao Eu,
mas, enquanto tal, ainda um pensamento do Eu. O limite ou choque (Anstoss) atividade
do Eu, posta pelo Eu como a existncia de um No-Eu, no se d por nenhum
conhecimento propriamente dito, mas por sentimento (Gefhl). Algo externo ao Eu, que o
limita, um pensamento necessrio para explicar a limitao sentida pela atividade prtica
do Eu, ou melhor, da percepo imediata da mesma (FICHTE, 1984, p. 353).
O termo sentimento aparece justamente como uma alterao do termo usado por
Kant nos trechos que fomentaram a polmica em torno da coisa-em-si, a saber, sensao
(Empfindung). A sensao, enquanto tal, s existe na relao com um objeto; o sentimento,
a contrario, no remete a nada, em sua origem, alm do Eu, por isso Fichte chama-o
sentimento original (ursprngliche Gefhl). No entender este sentimento como
92
absolutamente originrio, isto , postular algo anterior a ele, que o causa, o prton
pseuds de cticos e dogmticos:
Pretender explicar este sentimento original a partir da operao de um algo o
dogmatismo dos kantianos, (...) e que eles bem gostariam de atribuir a Kant. Este
seu algo necessariamente a enfadonha coisa em si. Toda explicao
transcendental tem um fim no sentimento imediato (FICHTE, 1984, p. 353).
O que ainda vale ser mencionado aqui, : a soluo fichtiana, isto , a volta aos
sentimentos, pela reflexo, para resolver o problema da coisa-em-si tal como ele foi
elaborado por Jacobi, sem contudo deixar de responder, de outro modo, ao problema de
Garve e a outros tantos problemas livremente admitidos por Kant, esta soluo, dizamos,
aproxima Fichte de Rousseau, concretamente do Discurso sobre a origem da desigualdade
entre os homens, o que trataremos a seguir.
REFERNCIAS
ALIGHIERI, D. Lrica, trad. Jorge Wanderley, Rio de Janeiro: Topbooks, 1996.
BONACCINI, J. A. Kant e o problema da coisa em si no Idealismo Alemo. 1. ed. Rio de
Janeiro: Relume-Dumar, 2003.
CONDILLAC, E. B. Trait des sensations, Tome II, Londres: Bure Lan, 1754.
Disponvel em:
<http://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_des_sensations/Premi%C3%A8re_partie>.
Acesso em 10/10/2010.
DESAN, P., Dictionnaire de Michel de Montaigne, nouvelle dition revue, corrige et
augmente, Paris: Honor Champion diteur, 2007.
DESCARTES, R., As paixes da alma, int., notas, bibliografia e cronologia por Pascale
D'Arcy, trad. bras. Rosemary Costhek Ablio, So Paulo: Martins Fontes. 1998.
DRUMMOND, C. de A. A noite dissolve os homens; Sentimento do mundo; Poesia
Completa, Editora Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 2006.
EVA, L., A figura do filsofo, Ceticismo e subjetividade em Montaigne, So Paulo: Edies
Loyola, 2007.
FICHTE, J. G. Smmtliche Werke. Berlim: Walter de Gruyter, 1965. (Ed. I. H. Fichte).
93
_____________. A Doutrina-da-Cincia de 1794. Traduo: Rubens R. Torres Filho. In:
Os Pensadores. 2. ed. So Paulo: Abril Cultural, 1984.
GIL, F. Recepo da crtica da razo pura: antologia de escritos sobre Kant 1786-1844.
Coordenao: Gil, Fernando. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, Servio de
Educao, 1992.
KANT, I. Kants gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Kniglich Preuichen
Akademie der Wissenschaften (in 23 Bnden). Berlin: Georg Reimer, 1910.
____________. Crtica da razo pura. Traduo: Manuela Pinto dos Santos e Alexandre
Fradique Morujo. Lisboa: Edio da Fundao Calouste Gulbekian: 2001.
____________. Prolegmenos a toda metafsica futura que queira apresentar-se como
cincia. Trad. Artur Mouro. Lisboa: Ed. 70, 1987.
JACOBI, F. H. Friedrich Heinrich Jacobis Werke. Herausgegeben von Friedrich Roth.
Leipzig: Fleischer, 1812-1825.
____________. David Hume acerca de la creencia, o idealismo y realismo, un dilogo.
Traduccin, Introduccin y notas: Hugo Renato Ochoa Disselkoen. In: Revista
observaciones Filosficas, Traducciones, 2006. Director: Adolfo Vasquez Rocca.
Disponvel em: <http://www.observacionesfilosoficas.net/jacobi.html>. Acesso em
10/10/2010.
LPEZ-DOMNGUEZ, V. Fichte, 200 aos despus. Madrid, Editorial Complutense,
1996.
MONTAIGNE, M., Os ensaios: livro III, trad. de Rosemary Costhek Ablio, So Paulo:
Martins Fontes, 2001
REINHOLD, K. L. Beytrge zur Berichtigung bisheriger Missverstndnisse der
Philosophen. v. 1. Jena: Mauke, 1790. (Re-edio: Fabbianelli (ed.). Hamburg: Meiner,
2004).
_______________. ber die Mglichkeit der Philosophie als strenge Wissenschaft.
Hamburg: Meiner, 1978.
_________________. Sobre a possibilidade da filosofia como cincia rigorosa. Trad.
bras.: Ricardo Barbosa. In: Analytica, Rio de Janeiro, vol 13 n 1, 2009, p. 291-306.
_________________. Cartas sobre a filosofia kantiana (excertos) e Ensaio sobre uma
nova teoria da faculdade humana de representao (excertos). Trad. port.: Irene Borges
94
Duarte, 1992. In: GIL, F., Recepo da crtica da razo pura: antologia de escritos sobre
Kant 1786-1844. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, Servio de Educao, 1992.
PETRNIO, Satyricon (edio bilnge), trad. Sandra M. G. Braga Bianchet, Belo
Horizonte: Crislidas, 2004.
95
O CULTIVO DE SI EM HUMANO DEMASI ADO HUMANO
Jordan Pagani
Universidade Estadual de Londrina
paganijordan@yahoo.com.br
RESUMO
Nietzsche, em Humano Demasiado Humano, concebe a moral como um comportamento
de rebanho no qual tanto o pastor como por exemplo um sacerdote bem como a ovelha
tal como o cristo como sendo mutuamente dependentes. O pastor apesar de guiar as
ovelhas, de certo modo depende de determinadas nuances impostas pelas ovelhas, ou seja,
no age autonomamente. As ovelhas, por sua vez, agem segundo os mandamentos do
pastor, portanto no so livres, em um movimento de desprezo de si no qual sua fora
reside no seu poder de contgio paralisante na compaixo. Este comportamento observado
atravs do filosofar histrico parece produzir um ressentimento causado pelo agir no caso
de no se agir de acordo com a moral ou mesmo faze-lo quando esta no se configura de
acordo com a prpria vontade. Alm disso o comportamento de rebanho parece ser nocivo
ao prprio pensamento e cultura visto que, por se basear na reproduo do mesmo
(moral), faz com que permaneamos paralisados. Ora, nota-se nas obras analisadas o devir
do ser humano, de onde se segue que devemos viver nossa vida atravs da perspectiva das
coisas humanas demasiadas humanas. Alm disso, para superar esse tipo de
comportamento, parece ser de fundamental importncia a radicalizao, pois a moral bem
como todas as concepes de verdade metafsica, deve ser levada at s ltimas
consequncias pois, tal como defende Nietzsche, para se superar qualquer concepo deve-
se conhecer com profundidade aquilo que se quer superar, afim de que no passe
desapercebido nenhum erro, ou seja, se inserir de modo radical, bem como compreendendo
todo o horizonte que fundamenta uma dada perspectiva. O autor nos sugere ento um
modo dspar de agir: o caminhar por si. Com efeito, somente a partir dessa perspectiva
Nietzsche parece estabelecer um modo de afirmar a vida e mesmo de alivi-la. O presente
trabalho tem como objetivo demonstrar, a partir da reconstruo dos argumentos presentes
em Humano Demasiado Humano, Opinies e Sentenas Diversas bem como em O
andarilho e Sua Sombra, como se d o aliviamento da vida proposto no final do segundo
texto de Humano, bem como a afirmao da vida, atravs da libertao do esprito no
mbito da construo e cultivo de si.
Palavras-chave: Nietzsche; Cultivo de si; Humano.
INTRODUO
O autor alemo, Friedrich Wilhelm Nietzsche no seu livro Humano Demasiado
Humano, trabalha a filosofia na perspectiva estrita do humano onde visa atingir a
libertao do esprito vendo a necessidade de buscar o domnio de si, percebendo os
valores embutidos nas coisas, tomando conscincia da injustia do julgar, indissocivel da
vida.
96
O ser humano tem construdo historicamente a pretenso de basear seus
conhecimentos em verdades universais e metafsicas. Nietzsche, apesar de considerar a
hiptese da existncia de um mundo eterno e imutvel, alerta que toda e qualquer crena
em semelhantes concepes foram sempre embasadas em erros da razo, imersas no hbito
de mentir para si mesmo por um longo perodo de tempo, at que se conceba como verdade
atravs da fora do hbito e finalmente adquiram seu valor. Apesar de no podermos
afirmar consistentemente a inexistncia dessas vises de mundo, nada podemos dizer seno
que o ser-outro, mesmo que se tivesse provado, na esfera do ser humano de nada serviria
uma vez que aquilo que faz com que afirmemos e mesmo aliviemos nossa existncia
composto de concepes humanas.
Humano Demasiado Humano finalizado tendo como base duas promessas, quais
sejam: o aliviamento da vida e a afirmao da vida por meio de uma libertao. O presente
trabalho pretende demonstrar como seria possvel atingir estas metas por meio do cultivo
de si.
O PROBLEMA DO MAL
Nietzsche nos sugere que no sonho ocorre algo semelhante ao que ocorre quando se
criam mitos. No sonho o homem tem acesso retalhos imperfeitos do que vivencia, no
mito o homem tenta fundamentar uma concepo de verdade que explique tudo ou uma
parcela daquilo que o faz sofrer. Nos dois casos imperam eros, com efeito o mito muitas
vezes criado atravs de sonhos ditos revelaes ou mesmo de iluses provocadas
quando ocasionalmente o (s) individuo (s) no est (o) em seu estado perfeito da razo em
alucinaes.
Mas qual o motivo pelo qual recorremos instituies metafsicas? Isso se deve ao
fato de que, ao duplicarmos a realidade segundo a qual temos acesso ns a transferimos
para um plano no qual tudo perfeito, ento sentimos algo de belo frente nossos olhos
visto que atribumos sentido todo o mundo, sem nos preocuparmos pelas causas de tal, de
modo que nos tornamos menos responsveis, transferindo para essa esfera o mbile de
nossas aes.
Diante desse modo de pensar o ser humano adquiriu historicamente o hbito de
estabelecer uma lgica na natureza, sem dvida um grande erro, pois, devido necessidade
97
que criamos para satisfazer nossa vaidade, ns a foramos a se enquadrar em nossas leis,
estas ultimas no existem, mas ns a criamos.
Na filosofia, consequentemente pretende-se acessar o ser das coisas, observando a
repetio de fenmenos, observao esta considerada como correta. Desse modo comete o
erro de no considerar o movimento das coisas, o vir a ser destas. Tal o modo com que
concebe a moral, estabelecendo, atravs do efeito que uma determinada ao possui em um
determinado momento, atravs do hbito estabelecendo-a como boa ou m. Contudo, o
contraste entre uma ao boa e uma ao m, isto , moral e imoral, consiste na capacidade
em sentir dor com o que considerado uma ignomnia e em sentir prazer com o que
considerado uma virtude pela cultura vigente: entre as boas e as ms aes no h uma
diferena de espcie, mas de grau, quando muito. Boas aes so ms aes sublimadas;
ms aes so boas aes embrutecidas, bestificadas. (HDH 107 p.76). Entretanto, com o
passar do tempo formulamos juzos sobre essas aes que, por sua vez, baseiam-se em
sensaes de prazer ou de dor. Dessas duas camadas, consequentemente, obtemos um
estado no qual nos estagnamos, cessamos de sentir e apenas repetimos esse modo de viver.
Com efeito, estes valores se alteram com o passar do tempo, tal o caso, por exemplo, da
vingana vista como virtude na poca dos gregos e concebida como vcio pela sociedade
crist.
Mencionado o movimento moral atravs de uma anlise histrica dos sentimentos
morais, por que razo agimos moralmente? Agimos segundo a moral devido s aes
estabelecidas ter se mostrado anteriormente de modo edificante de maneira a no exigir
grande empenho, por se basear num mecanismo de repetio e ainda dar a sensao de
atingir a verdade absoluta.
desse modelo que surge o julgamento moral que, por sua vez, se baseia no
conceito de livre-arbtrio no levando em conta que o indivduo o faz segundo a
intelectualidade que possui ou seja, ele no poderia agir de outro modo seno do modo
como age.
Toda espcie de moralidade denominada por Nietzsche como um comportamento
de rebanho, desse modo, estabelece duas maneiras de agir, quais sejam: sendo pastor,
como aquele que vai frente da massa e aquele que conduz a massa; mas tambm como
ovelha a massa, esta reproduz a doutrina. Nas duas castas o autor nos chama a ateno
98
para a relao de escravido recproca, j que aquele caminha frente da massa depende
inteiramente da massa para determinar sua conduta. Na massa ocorre o mesmo movimento,
sendo que esta depende do pastor para agir.
Uma vez que so mutuamente dependentes, o pastor e a ovelha, no agem
completamente por si, mas pela doutrina:
Enquanto algum conhece muito bem a fora e a fraqueza de sua doutrina, de sua
arte, de sua religio, a fora delas ainda pequena. O discpulo e o apstolo que,
cegado pelo prestgio do mestre e pelo respeito a ele devido, no enxerga a
fraqueza da doutrina, da religio e assim por diante, geralmente tem, graas a
isso, mais poder do que o mestre. Sem os discpulos cegos a influncia de um
homem e de sua obra nunca se tornou grande. Ajudar no triunfo de um
conhecimento significa muitas vezes isto: irman-lo estupidez de modo tal que
o peso desta consiga tambm a vitria daquele (HDH I 122 p. 90)
Dado os dois comportamentos no mbito do rebanho, Nietzsche nos apresenta uma
maneira alternativa a estes, o caminhar por si, independente dos costumes e de qualquer
circunstncia moral que nos sugere a filosofia da relha do arado, que remeche os solos da
metafsica. Aspectos presentes em toda a sua filosofia a partir da conscincia de todos os
valores vigentes, bem como, as concepes de verdades como sendo algo construdo
historicamente que, portanto, no se configura efetivamente como uma verdade:
Um sbito horror e suspeita daquilo que amava, um claro de desprezo pelo que
chamava dever, um rebelde, arbitrrio, vulcnico anseio de viagem, de exlio,
afastamento, esfriamento, enregelamento, sobriedade, um dio ao amor, talvez
um gesto profanador para trs, para onde at ento amava e adorava, talvez um
rubor de vergonha pelo que acabava de fazer, e ao mesmo tempo uma alegria por
faz-lo, um brio, ntimo, alegre tremor, no qual se revela uma vitria uma
vitria? Sobre o que? Sobre quem? Enigmtica, plena de questes, questionvel,
mas a primeira vitria tais coisas ruins e penosas pertencem histria da
grande liberao. (HDH I pr3 p. 9).
Assim o comportamento de rebanho apoia sua crena no escopo de tornar aquele
que no se enquadra nessa relao, parte integrante deste movimento de desprezo de si, sua
nica fora se configura no seu poder de contgio paralisante no se fundamentando em
uma autofluio, mas no entorpecer das pulses.
Nota-se na filosofia do esprito-livre o desprezo por toda e qualquer compaixo, um
dos sentimentos mais nocivos ao esprito. Com efeito, todas as formas de compaixo so
nocivas, tanto em sua espcie ativa, onde somos paralisados por algum que sofre e
deixamos de viver nossa prpria vida, como na espcie passiva, onde por no possuirmos
99
mais nenhuma fora, seno a de contagiarmos o outro com nossa dor. Efetivamente o
escravo, em oposio ao indivduo nobre que, por sua vez, tem no cultivo de si o
pensamento autnomo, sente a necessidade de se tornar doente e ento suscitar compaixo
pois, assim exibe sua nica fora, o seu poder paralisante. A maldade ento retrata uma
vingana que tem por conta da sua mediocridade em relao ao outro, afim de prejudica-lo
de algum modo.
Por isso, os indivduos religiosos vivem em uma mentira astuta por somente agirem
moralmente onde rege a dor e esporadicamente experimentam momentos de dvida que,
por no se permitirem pensar nada alm do que se segue na doutrina, atribuem algum
inimigo fantasioso como um demnio. Num exerccio de mentir para si mesmos por um
longo perodo onde finalmente terminam acreditando e as mscaras com as quais cobrem
seus rostos tornam-se por fim partes dos seus.
Devido ao do cristianismo o ser humano se tornou ressentido do agir por
virtude da imobilizao causada pela moral. Tudo aquilo que pressupe uma doutrina
nocivo ao ser humano justamente pelo ressentimento causado frente a tudo aquilo que no
condiz com o conjunto de valores adotado e sendo que nada que se refere vontade no h
nada que se possa fazer visto que no temos controle sobre esta, sofremos apenas com o
fato de senti-la, mesmo que no ajamos segundo a mesma. O livre-arbtrio, por sua vez, o
elemento que mais torna o indivduo dependente da concepo metafsica do cristianismo.
Pois as pessoas criam a necessidade de se sentirem livres no intuito de aliviar o peso
necessrio de novas amarras - da a necessidade de buscarmos um horizonte de vida
desapegado qualquer moral uma vez que somente mediante isto podemos aliviar nossa
existncia.
Isso se d atravs da radicalizao, para Nietzsche somente atravs da
radicalizao que se supera algo, tal acontece com o cristianismo pois, na medida em que
se leva at as ltimas consequncias mais se entende seus erros fundamentais, o que se d
somente atravs do intelecto. Tal o caso da bblia que, deveria se tornar intil mas,
devido desonestidade dos cristos, ela cada vez mais indispensvel visto que os cristo
no seguem aquilo que defendem.
Toda doutrina primeiro inventa uma doena para depois oferecer o remdio. Com
efeito importante aos indivduos fortes adoecerem as vezes, pois assim podem produzir
100
antdotos permanentes s mesmas. O problema est em que existe a possibilidade da
doutrina oferecer veneno como antdoto que, apesar de geralmente no matar, dependendo
da espcie do veneno, pode degenerar o indivduo em vcio como, por exemplo, o caso do
cristianismo que, ao demonizar o corpo, ofereceu a onipotncia de Deus e seus
mandamentos para a salvao da alma. Assim a cultura finalmente criou o hbito de
demonizar tudo o que humano. Da o pensamento nietzschiano de que preciso termos
nascido para o nosso mdico, seno perecemos por causa dele. (HDH I 573 p. 249) Pois
todo indivduo fraco age de modo agressivo e inquo para parecer forte e todo aquele que
se constitui na escravido e fraqueza, ao se deparar com o esprito-livre tentar aniquilar ou
mesmo prejudicar sua fora.
Sendo assim, a filosofia nietzschiana nos sugere um novo renascimento da cultura
por meio da autofluio individual, necessrio potencializar-se em meio doena, este
antdoto produzido individualmente pelo esfriamento espiritual; preciso tornar-se frio
frente as concepes de verdade, afim de compreender o que h de fbula em cada
valorao.
Alm disso, a filosofia de Nietzsche pretende o aliviamento da vida, parte de
extrema importncia de sua obra pois, como ocorre na arte, no h outra funo seno a de
aliviamento da vida, por isso o poeta assim como o filsofo, pelo fato de sofrer com sua
prpria existncia procura em sua arte (no caso do poeta) e em sua filosofia (no caso do
filsofo) um refgio, um horizonte de vida palpvel visto que impossvel viver sem um
horizonte que o oriente - um meio de auto-conservar-se de si mesmo e dos outros, para
libertar-se de toda moral vigente. O esprito-livre investe sua fora na autofluio;
pensamento autnomo que se distingue pela criao, afirmando sua vontade e
consequentemente a sua vida.
No conhecimento da verdade o que importa possui-la, e no o impulso que nos
fez busca-la nem o caminho pelo qual foi achada. [...] De resto, no prprio da
essncia do esprito-livre ter opinies mais corretas, mas sim ter se libertado da
tradio, com felicidade ou com um fracasso. Normalmente, porm, ele ter ao
seu lado a verdade, ou pelo menos o esprito da busca da verdade: ele exige
razes, os outros f. (HDH I 225 p. 144)
Apesar de pretender superar a metafsica, Nietzsche nos recomenda prevenirmo-nos
dado que corremos o perigo de no empreendermos projetos a longo prazo, trabalhando em
101
projetos em que pode-se obter resultados a curto prazo vivendo-se em fragmentos de
experincias, negando a prpria vida.
A LIBERTAO DO ESPRITO
O processo de libertao do esprito proposto em Humano Demasiado Humano faz
parte de um experimento filosfico. De fato, toda espcie de movimento filosfico deve ser
parte de um experimento de vida pois, uma vez que no temos acesso verdade absoluta,
de onde se segue a possibilidade de jamais podermos acessa-la, todavia se mostrar
fundamentada em erros da razo j que estabelecida pelo seu carter de utilidade em um
determinado momento e, mediante o hbito este ltimo esquecido e ento concebe-se
uma verdade universal. A vida como um experimento filosfico concebe-se mediante a
busca de um horizonte fecundo e a radicalizao deste. Este solo fecundo, para ser
concebido como tal, deve levar em conta aquilo que h de perspectivista em cada ao,
ambientado em uma esfera puramente humana visto que, pelo fato de o indivduo estar em
constante devir, deve-se concebe-lo como um jogo de pulses. A filosofia, portanto, no
deve possuir uma pretenso exorbitante justamente pelo movimento, de onde se segue que,
para o filosofar se dar de modo efetivo necessita-se da anlise histrica, afim de que se
conscientizar-se do vir-a-ser das coisas e desse modo no renovar os mesmos erros, tal
como o esgotamento do conhecimento, considerando a impossibilidade de acessar a
totalidade das coisas mas, meramente recortes das mesmas. Da a indispensabilidade da
criao no esprito-livre.
Assim, na filosofia do esprito-livre, parte-se por um imoderado apreo pelo ente e um
desprezo para com o ser. Para Nietzsche somente nos acessvel o ente das coisas
entrementes somente no campo da representao constitui-se o humano, portanto nesta
que devemos investir a construo da nossa perspectiva de vida.
A radicalizao na filosofia de fundamental importncia para superar os
experimentos, levando-os at as ltimas consequncias, desse modo uma teoria pouco
consistente logo sucumbir em seu prprio absurdo.
Com os gregos tudo avana rapidamente, mas tambm declina rapidamente; o
movimento da mquina to intensificado, que uma nica pedra no movimento
das engrenagens a faz explodir. Uma tal pedra foi Scrates, por exemplo; numa a
102
evoluo da cincia filosfica, at ento maravilhosamente regular, mas sem
dvida acelerada demais, foi destruda. [...] O perodo dos tiranos do esprito
passou. Pois em geral a doutrina oposta e o ceticismo falam agora com muito
mais fora, e com voz bastante alta. Nas esferas da cultura superior sempre
haver um predomnio, sem dvida mas esse predomnio est, de ora em
diante, nas mos dos oligarcas do esprito. Apesar da separao espacial e
poltica, eles foram uma sociedade coesa, cujos membros se conhecem e se
reconhecem, seja qual for a avaliao favorvel ou desfavorvel disseminada
pela opinio pblica e pelos julgamentos de jornalistas e folhetinistas influentes
na massa. [...] Os oligarcas so necessrios uns aos outros, tm um no outro a sua
maior alegria, conhecem seus emblemas mas apesar disso cada um deles
livre, combate e vence no eu oposto e prefere sucumbir a sujeitar-se. (HDH I 261
p. 163 166)
Como se pode notar, a radicalizao, apesar de ser de extrema importncia para a
filosofia, deve ser efetuada de modo lento pois, inversamente, num movimento
demasiadamente rpido corre-se o risco de entrar em declnio; como no caso da cultura
grega que, apesar de toda a sua potncia, por se efetivar de modo impulsivo, com um
movimento brusco de uma fora contrria (Scrates) entrou em declnio acelerado com a
tirania da razo. Isso se deve ao fato de no ser estruturada de modo efetivo nos
pormenores, pois assim poderia evitar tal catstrofe, consequentemente todo pensamento
deve ser maturado lentamente, uma vez que, caso contrrio pela fragilidade de sua
estrutura se torna facilmente vicioso.
Dito isto, Nietzsche parece nos sugerir que todo homem de esprito elevado tm o
domnio de si como objetivo indissocivel da vida, consciente de que o bem e o mal no
difere seno em proporo de prazer e de dor em relao ao conjunto de valores em que se
est inserido.
Por essa razo, o esprito superior deve dedicar a maior parte do seu tempo ao cio
que, na concepo do Humano, consiste em um cio produtivo, a dedicao de seu tempo
para si, mas no preguia. Assim sendo, os negcios que, inevitavelmente o ser humano
se dedica para a nutrio e a sobrevivncia de modo geral, devem ser efetuados somente
quando irremediavelmente for necessrio. Em consequncia disso, deve-se ter cuidado com
o convvio com os outros, para no se confundir e viver pelos mesmos em detrimento de si
aniquilando-se.
A atividade superior, portanto, se caracteriza em um caminhar por si, buscando
sempre a criao, onde objetiva estabelecer conhecimentos simplificadamente objetivos,
aceitando pragmaticamente a impossibilidade de esgotar o saber e disso deriva sua fora.
103
Inversamente toda a inteligncia inferior concentra sua energia na representao do que lhe
imposto culturalmente, pensando o mesmo, do mesmo modo. Por conseguinte, no que se
refere educao, o esprito-livre aspira ser um exemplo de superao de si, expondo os
erros fundamentais da moral, remexendo os campos da metafsica, contudo, sem doutrinar
uma vez que, as opinies, tal como as crenas ideais se caracterizam como um movimento,
sempre se alterando e, alm disso, parece importante para Nietzsche que as opinies no
nasam prontas e, em algum momento, mudem de direo j que, contrariamente, o
esprito pode se tornar inerte e preguioso o que faz com que formule verdades universais
que, atravs da anlise histrica jamais alguma se mostrou passvel de demonstrao,
portanto deve-se falar apenas em probabilidade; todo educador, por conseguinte, uma
agresso ao pensamento elevado. Ora, todo indivduo que aspira nobreza deve ter
conscincia de sua prpria imperfeio e no buscar, evidentemente, algo completamente
perfeito pois, se assim for, acabar ruindo em proposies universais de maneira que se faz
necessrio, para viver, possuir vontade de viver, sem este estado de esprito no h
filosofia, no h cincia e no h arte que substitua uma inevitvel tendncia ao nada.
O ser humano tende a criar sistemas onde se juiz, acusado, promotor e vtima
manipulando a verdade - caracterstica da vaidade humana. Isso se d pela falta de
probidade que geralmente as pessoas agem em suas empresas. Por isso, deve-se recear este
tipo de comportamento. Para Nietzsche vida e obra, mediante um experimento corroboram
e efetivam-se nesta ltima.
Desse modo, mais interessante ao saber trabalhar com a matria bruta do que com
coisas consumadas, a fim de possibilitar a criao da prpria perspectiva de vida,
afirmando-a e aliviando-a. Assim a relao de um filsofo por excelncia com a tradio
somente ser interessante na medida em que este seleciona o que lhe parece pertinente para
a construo de si, descartando o que lhe parece nocivo para o mesmo fim.
A matria bruta apoia-se no que lhe prximo, de onde entende-se que o indivduo
que nega o que lhe prximo, acaba negando a prpria vida, afim de acessar mundos
ideais. da busca destes mundos ideais que surgem as enfermidades do esprito, uma vez
que, o ser humano se ressente com a condio imperfeita segundo a qual constitui-se,
fundamentando uma moral e uma realidade metafsica. O que faz com que Nietzsche
afirme a frmula de Epicuro no existem deuses ou, se existem, estes no se ocupam de
ns (AS 7 p. 167).
104
CONCLUSO
Para Nietzsche, fundamental para o ser humano conscientizar-se de que no h
necessidade de possuirmos perspectivas e metas distantes para vivermos, estas por
basearem-se pelo seu carter de incerteza e pelo idealismo suscitados por uma crena,
parecem ser nocivas vida pelo fato de serem fundamentadas atravs do erro metafsico,
visto que so estabelecidas arbitrariamente atravs de uma aparncia melhorada do que se
vivido. A crena religiosa encontra-se tambm na cincia que tenta estabelecer verdades
essncias acerca do mundo e das coisas atravs da induo, no entanto, Nietzsche
considera isto benfico na medida em que til.
Todos esses erros das explicaes de realidade so provenientes da ambio e da
vaidade humana, o que faz com que os cientistas, religiosos e artistas manipulem a
natureza para se encaixar em suas teorias, razo pela qual neguem o movimento das coisas.
Em virtude disso, Nietzsche nos sugere uma autoafirmao atravs de uma
construo individual e interna de si, a fim de buscarmos um horizonte tangvel, atravs da
aceitao das coisas prximas que o compe tal como o corpo.
Somente por meio da delineao de semelhante horizonte que ser possvel o
aliviamento da vida desconsiderando as concepes metafsicas e a moral (relao de
escravido) - e consolidar um modo prprio de pensar e de viver, maneira de viver
saudvel para anlogo indivduo. Cria-se portanto os valores segundo os quais parecem
pertinentes para semelhante vida, o que benfico para um pode ser nocivo ao outro.
REFERNCIAS
NIETZSCHE, Friedrich. Humano Demasiado Humano: um livro para espritos. Vol. I
Traduo, notas e posfcio Paulo Cezar de Souza So Paulo: Companhia das Letras,
2000.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano Demasiado Humano: um livro para espritos. Vol. II.
Traduo, notas e posfcio Paulo Cezar de Souza So Paulo: Companhia das Letras,
2008.
GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche: o humano como memria e como promessa.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2013.
105
BIOPODER E RACISMO DE ESTADO EM FOUCAULT
Fabio Batista
Universidade Estadual de Londrina
fabiobatist1985@bol.com.br
RESUMO
Vamos apresentar aqui dois conceitos de Foucault: biopoder e racismo de Estado. E para
tal dois textos seus foram estudados: o ltimo captulo de Histria da Sexualidade Vol. I e
a ltima aula de Em defesa da sociedade. De acordo com Foucault o soberano ao ser
ameaado por inimigos externos poderia dispor da vida de seus sditos para defender-se,
expondo-os assim a morte de forma indireta. E se atacado por algum sdito poderia ento
exercer seu direito de matar de forma direta. O direito de vida e morte do soberano era,
portanto, um direito de defender-se que ele possua contra as ameaas de fora e de dentro.
O que Foucault chamou de direito de fazer morrer e deixar viver. Temos a o poder
soberano. A partir do sculo XVII o poder no s mais se exercer sobre a vida de uma
forma negativa, com o fim de retir-la de cena; mas sobre a vida se exercer para torn-la
cada vez mais saudvel, melhor, com o fim de talvez aperfeio-la. O poder exerce desse
modo uma positividade sobre a vida, propicia seus meios de longevidade, natalidade. Mas
no nos deixemos nos ludibriar, se isto feito a expensas da prpria vida. Poder que a
torna calculvel, passvel de ser manipulada, que a normaliza; atravs de prticas
higienistas e eugnicas. a tomada de poder sobre a vida; expressado no conceito de
biopoder, o qual pe sob si: poder disciplinar e biopoltca. Ora, se a biopoltica, e por que
no dizermos biopoder, tem por objetivo fazer viver, como explicarmos os massacres na
modernidade? A sada de um biopoder para esse impasse se d com a formulao e uso de
um racismo, um racismo de Estado. Racismo de Estado na medida em que o Estado
moderno enquanto aquele que se utiliza dos procedimentos biopolticos s poder matar se
justificar a morte em termos de racismo.
Palavras-chave: Foucault; Biopoder; Poder disciplinar; Biopoltica; Racismo de Estado.
BIOPOLTICA E PODER DISCIPLINAR
O conceito de biopoder em Foucault indicar dois tipos de poder que se
complementam em seus modos de exerccios. O primeiro Foucault denominou de poder
disciplinar e o segundo de biopoltica. Veremos aqui suas dimenses e suas articulaes. E,
por fim, aquilo que Foucault chamou de racismo de Estado.
Foi em 1976 que Foucault exps de forma evidente o tema da biopoltica. O qual se
encontra no ltimo captulo de um pequeno livro. O livro em questo Histria da
sexualidade: a vontade de saber Vol. I; e o captulo: Direito de morte e poder sobre a
vida.
Ele foi publicado a pouco mais de um ano aps Vigiar e punir. So dois livros com
um forte tom combativo como observou Defert:
106
Dezembro, publicao de vontade de saber, primeiro volume da Histria da
sexualidade. Este livro, Foucault o concebeu como um manifesto com o qual se
deve marcar um encontro. Como Vigiar e punir, ele vai na contramo da
expectativa do pblico, por sua crtica hiptese repressiva, cara aos
movimentos de liberao. (DEFERT, 1999, p. 45-46)
Ambos alteraram as perspectivas reinantes at ento sobre o poder: poder pautado
no modelo jurdico enquanto lei e proibio; poder que se encontra nas relaes de
produo; poder que se encontra no Estado; enfim, poder enquanto represso. Foucault no
refuta por inteiro essas perspectivas, mas provoca um deslocamento. Ao demonstrar que o
poder tambm mais que negar e proibir; mas que tambm encerra em si uma
positividade na medida em que cria, fabrica o prprio indivduo moderno; o qual em
ltima instncia nada mais seria que produto do poder disciplinar. O poder tambm no se
encontra no Estado. Mas, ao lado, abaixo do Estado. Em vrias instituies. Em vrias
formas de poder-saber.
Mas voltemos a biopoltica. Muitos estudiosos disseram que ele foi um tema pouco
explorado por muitos anos aps vir a lume. Foi somente a partir da dcada de 1990 que ele
parece tomar importncia, como observou Duarte. (Cf. 2008, p.2) O prprio Foucault uns
dois anos aps a publicao de A vontade de saber reconhecia isso com um certo tom de
decepo: A.G.: Em relao a ltima parte de seu livro...
M.F.: Sim, ningum fala desta ltima parte. Entretanto, o livro pequeno, mas desconfio
que as pessoas nunca chegaram a este captulo. E contudo o essencial do livro.
(FOUCAULT, 2004, 27)
E alm de o encontrarmos em tal livro tambm o encontramos no curso ministrado
no Collge de France no incio de 1976: Em defesa da sociedade. E aqui exploraremos,
sobretudo, a aula de 17 de maro de 1976. Que entre o tema da biopoltica e poder
disciplinar, trs tambm o do racismo de Estado.
Vamos agora passar a anlise da biopolitica e sua caracterizao. E ver como
Foucault o introduz em sobreposio ao poder soberano.
Uma forma de poder a muito conhecida no ocidente e anterior a biopoltica foi o
poder soberano o qual se exercia sobre a vida atravs do direito de matar. O direito de vida
e morte. Ou seja, na medida em que o soberano detinha o direito de vida e morte sobre seus
sditos, ele exercia um poder sobre suas vidas de forma negativa: exercia um poder sobre
suas vidas atravs da morte. Porque parece que na perspectiva de Foucault no havia at
ento uma tomada da vida pelo poder no sentido de torn-la melhor, prolong-la. Por isso o
poder sobre ela tinha esse carter negativo, na medida em que se exercia sobre ela para
107
usurp-la.
O soberano ao ser ameaado por inimigos externos poderia dispr da vida de seus
sditos para defender-se, expondo-os assim a morte de forma indireta. E se atacado por
algum sdito poderia ento exercer seu direito de matar de forma direta. O direito de vida e
morte do soberano era, portanto, um direito de defender-se que ele possua contra as
ameaas de fora e de dentro. O que Foucault chamou de direito de fazer morrer e deixar
viver. Portanto, o soberano s exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo seu
direito de matar ou contendo-o; s marca seu poder sobre a vida pela morte que tem
condies de exigir. (FOUCAULT, 2007, p. 148) Contudo, a partir do momento em que a
vida biolgica, a vida do homem enquanto espcie tomada pela poltica, inverte-se a
perspectiva: no mais fazer morrer e deixar viver, mas fazer viver e deixar morrer. No se
exerce mais o poder sobre a vida atravs da morte, mas atravs da regulamentao dos
processos vitais.
De modo que a biopoltica nasceu ao lado do poder soberano, e , assim, uma
outra face, uma outra modalidade de poder; que no embarga o exerccio do poder
soberano, contudo, tem outros objetos de aplicao. E que passo a passo o torna menor,
sem muita funcionalidade. A biopoltica, afirma Duarte, pode ser assim compreendida:
com tal conceito, visa-se a explicar o aparecimento, ao longo da segunda metade do
sculo XVIII, de um poder disciplinador e normalizador que j no se exercia sobre os
corpos individuais, mas sobre o corpo da espcie ou da populao. (DUARTE, 2010, p.
221).
Doravante o poder no mais se exercer sobre a vida de uma forma negativa, com o
fim de retir-la de cena; mas sobre a vida se exercer para torn-la cada vez mais saudvel,
melhor, com o fim de talvez aperfeio-la. O poder exerce desse modo uma positividade
sobre a vida, propicia seus meios de longevidade, natalidade. Mas no nos deixemos nos
ludibriar, se isto feito a expensas da prpria vida. Poder que a torna calculvel, passvel
de ser manipulada, que a normaliza; atravs de prticas higienistas e eugnicas
24
. a
tomada de poder sobre a vida; expressado no conceito de biopoder
25
, o qual pe sob si:
24 Ele (Foucault) compreendeu que, a partir do momento em que a vida passou a se constituir no
elemento poltico por excelncia, o qual tem de ser administrado, calculado, gerido, regrado e normalizado, o
que se observa no um decrscimo da violncia. Muito pelo contrrio, pois tal cuidado da vida trouxe
consigo a exigncia contnua e crescente da morte em massa, visto que no contraponto da violncia
depuradora que se podem garantir mais e melhores meios de vida e sobrevivncia a uma dada populao.
(DUARTE, 2010, 226-227)
25 A velha potncia da morte em que se simbolizava o poder soberano agora, cuidadosamente,
recoberta pela administrao dos corpos e pela gesto calculista da vida. Abre-se, assim, a era de um 'bio-
108
poder disciplinar e biopoltca. o momento e que Foucault realiza o desdobramento do
primeiro para o segundo. O qual pode ser assim compreendido:
Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do sculo XVII,
em duas formas principais; que no so antitticas e constituem, ao contrrio
dois plos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermedirio de
relaes. Um dos plos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no
corpo como mquina: no seu adestramento, na ampliao de suas aptides - tudo
isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas:
antomo-poltica do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco mais
tarde, por volta da metade do sculo XVIII, centrou-se no corpo-espcie, no
corpo transpassado pela mecnica do ser vivo e como suporte dos processos
biolgicos: a proliferao, os nascimentos e a mortalidade, o nvel de sade, tais
processos so assumidos mediante uma srie de intervenes e controles
reguladores: uma bio-poltica da populao. As disciplinas do corpo e as
regulaes da populao constituem os dois plos em torno dos quais se
desenvolveu a organizao do poder sobre a vida. (FOUCAULT, 2007, 151-152)
O poder disciplinar se desenvolveu a partir de tcnicas especficas com o fim de
adestramento do corpo do indivduo. Seu exerccio se deu nas instituies disciplinares -
(famlia, escolas, fbricas, hospitais, prises, etc) - nas quais os homens modernos passam
a maior parte de suas vidas. Mas, em meados do sculo XVIII vemos aparecer um outro
tipo de poder que , de acordo com Foucault, a biopoltica cujo fim gerir a vida da
populao. Esboa-se assim tal quadro: nas tcnicas do poder disciplinar o que importa
fabricar o corpo individual, localizado nas instituies, j [...] para a biopoltica, o que
importa passa a ser temas como a fecundidade, a morbidade, a higiene ou sade pblica, a
segurana social, etc". (BRANCO, 2008, p.85). Trata-se de um conjunto de processos com
o apoio da estatstica, demografia e medicina. A biopoltica se ocupara da fecundidade, mas
tambm da morbidade, e daquilo que pode fazer morrer uma populao. Cuidar-se- de
saber e combater a endemias. Pois, se nos sculos passados o que preocupava eram as
epidemias, aquela exploso de uma doena que atingia e matava rapidamente uma dada
populao como a peste. Agora importava acima de tudo aquilo que se chamava de
endemias, (...) ou seja, a forma, a natureza, a extenso, a durao, a intensidade das
doenas reinantes na populao. (FOUCAULT, 1999, p. 290) Foucault falara na
instaurao de um tipo de poder que regulamenta e visa previdncia. E a medicina foi um
dois maiores aliados dessa forma de poder. Com aes higienistas e eugnicas no decorrer
do sculo XIX e XX e talvez at hoje. Na procura de uma populao limpa, pura, sadia e
bonita. Tambm procurara se ocupar da velhice: o que fazer com aquele que no mais
poder'. (FOUCAULT, 2007, p. 152) E vale observar que no curso Em defesa da sociedade Foucault no
parece marcar uma diferena entre biopoder e biopoltica de forma efetiva. J em A vontade de saber sim. O
termo biopoder ser usado aqui para se referir aos dois polos de poder que tomaram a vida com objeto: poder
disciplinar e biopoltica.
109
serve para o trabalhar; com aquele que envelheceu e no pode ser utilizado. Espera-se,
como Foucault disse alhures: que morra rpido e em silncio de um infarto. E por outro
lado se ocupara com (), os acidentes, as enfermidades, as anomalias diversas.
(FOUCAULT, 1999, p. 291) E tambm nascera uma constante preocupao com as
relaes entre a espcie humana e seu meio os efeitos de seu meio geogrfico, climtico,
hidrogrfico sobre os seres humanos. Por exemplo: o problema dos pntanos e da
epidemiais ligados a eles. (Cf. FOUCAULT, 1999, p. 292) disto tudo que biopoltica vai
se ocupar. Da fecundidade, da morbidade, dos acidentes, da velhice, do meio. E o
denominador comum, o pano de fundo a tomada de poder sobre a vida. A vida de uma
dada populao. Vai se ocupar de fenmenos coletivos. Entra em cena aquilo que Foucault
chamou de homem-espcie, ou corpo-espcie. Enquanto a disciplina se ocupara do corpo
do indivduo do corpo-mquina, do corpo-organismo. Era o treinamento do indivduo, o
processo de individualizao que importara a disciplina. A biopoltica lida com a
populao, e a populao como problema poltico, como problema a um s tempo
cientfico e poltico, como problema biolgico e como problema de poder, ().
(FOUCAULT, 1999, p. 292-293)
E ambos os mecanismos disciplinares e biopolticos por caminhos diferentes se
complementaram. Duas tecnologias de poder que se sobrepuseram. H uma passagem
longa em Em defesa da sociedade que Foucault dedica a esta comparao da qual vale
citar a seguinte parte:
uma tecnologia que mesmo, em ambos os casos, tecnologia do corpo, mas,
num caso, trata-se de uma tecnologia em que o corpo individualizado como
organismo dotado de capacidades e, no outro, de uma tecnologia em que os
corpos so recolocados nos processos biolgicos de conjunto. (): tudo sucedeu
como se o poder, que tinha como modalidade, como esquema organizador, a
soberania, tivesse ficado inoperante para reger o corpo econmico e poltico de
um sociedade em via, a um s tempo, de exploso demogrfica e de
industrializao. De modo que velha mecnica do poder de soberania
escapavam muitas coisas, tanto por baixo quanto por cima, no nvel do detalhe e
no nvel da massa. Foi para recuperar o detalhe que se deu a primeira
acomodao: acomodao dos mecanismos de poder sobre o corpo individual,
com vigilncia e treinamento isso foi a disciplina. (). E, depois, vocs tem
em seguida, no final do sculo XVIII, uma segunda acomodao, sobre os
fenmenos globais, sobre os fenmenos de populao, com os processos
biolgicos e bio-sociolgicos das massas humanas. (FOUCAULT, 1999, p. 297-
298)
Ambos, de acordo com Foucault, poder disciplinar e biopoltica tiveram uma
importncia enorme para o desenvolvimento do capitalismo. Foram os procedimentos de
organizao do espao, controle do tempo, aumento e uso das foras do corpo, por um
lado, que permitiram ligar o corpo dos indivduos ao aparelho de produo. Pois, ao
110
sucesso do capitalismo eram imprescindveis corpos dceis e teis na mesma proporo. E
por outro lado os controles reguladores da populao permitiram ajustar o crescimento
demogrfico ao crescimento econmico.
Os rudimentos de antomo e de bio-poltica, inventados no sculo XVIII como
tcnicas de poder presentes em todos os nveis do corpo social e utilizadas por
instituies bem diversas (a famlia, o Exrcito, a escola, a polcia, a medicina
individual ou a administrao das coletividades), agiram no nvel dos processos
econmicos, do seu desenrolar, das foras que esto em ao em tais processos e
os sustentaram; o ajustamento da acumulao dos homens do capital, a
articulao do crescimento dos grupos humanos expanso das foras
produtivas e a repartio diferencial do lucro, foram, em parte, tornados
possveis pelo exerccio do bio-poder com suas formas e procedimentos
mltiplos. (FOUCAULT, 2007, p. 153- 154)
Vale dizer que bio-poder compreendido como um conjunto de tcnicas de poder
disciplinar e biopoltica parece ser um conceito de importante valia para pensarmos a
tomada do corpo do indivduo e do corpo espcie como objetos de poder. Isto , para
pensarmos a investida do poder sobre a vida. Para torn-la mais saudvel e til. Para faz-
la crescer na medida em que este crescimento tambm majore o desenvolvimento do
capitalismo. Existiu, portanto, uma necessidade por parte do capitalismo de se apropriar do
bio-poder e seus procedimentos para que ele viesse a se desenvolver nas sociedades
ocidentais.
RACISMO DE ESTADO: OU COMO JUSTIFICAR O PARADOXO DOS
MASSACRES NO MBITO DO PODER QUE TEM COMO FOCO FAZER VIVER
Ora, se a biopoltica uma forma de poder que tem como alvo a vida de uma dada
populao. uma srie de conjunto de procedimentos de poder-saber que se articulam na
procura de controlar, melhorar a vida da espcie. Como podemos compreender a existncia
dos inmeros massacres que desde o sculo XIX no deixaram de crescer. Vide as atuaes
do imperialismo de fins do sculo XIX e XX na Africa; a Primeira e Segunda Guerras
Mundiais; confrontos blicos nos Balcs na de dcada de 1990, e assim por diante. No
seria um paradoxo um poder que tem por fim fazer viver tambm faze morrer? Pois, se
[] estamos num poder que se incumbiu tanto do corpo quanto da vida, ou que
se incumbiu, se vocs preferirem, da vida em geral, com o plo do corpo e o plo
da populao. Biopoder, por seguinte, do qual logo podemos localizar os
paradoxos que aparecem no prprio limite de seu exerccio. (), como vai se
exercer o direito de matar e a funo do assassnio, se verdade que o poder de
soberania recua cada vez mais e que, ao contrrio, avana cada vez mais o
biopoder disciplinar ou regulamentador? (). Como, nessas condies,
possvel, para um poder poltico, matar, reclamar a morte, pedir a morte,
mandar matar, dar a ordem de matar, expor morte no s seus inimigos mas
mesmo seus prprios cidados? (FOUCAULT, 1999, 302-303-304. Itlico
111
nosso)
A sada de um biopoder, ou melhor, da biopoltica para esse impasse se d com a
formulao e uso de um racismo, um racismo de Estado. Racismo de Estado na medida em
que o Estado moderno enquanto aquele que se utiliza dos procedimentos biopolticos s
poder matar se justificar a morte em termos de racismo.
Sobre o racismo forram criados muitos discursos e prticas no decorre da
modernidade. Arendt alm de Foucault tambm o pensara. Para ela haveria um pensamento
de raa, o racismo do sculo XIX e o racismo nazista. E entre estas formas uma
descontinuidade. A tese de Arendt que antes do fim do sculo XIX o pensamento de
raa no estava vinculado a uma prtica racista assassina. (). A ligao entre uma teoria
racista e uma prtica racista e homicida possibilitada pelo imperialismo. (ORTEGA,
2001, p. 72) J para Foucault haveria uma continuidade entre essas prticas e discursos.
Inclusive Foucault evocaria em suas anlises a conquista da Amrica pelos espanhis.
Retrocedendo para bem antes do pensamento de raa e do Imperialismo analisados por
Arendt. Contudo, no importa aqui esclarecer as teses de Arendt acerca desse tema. Mas
to somente mencionar a existncia de uma outra posio acerca dele.
Mas, na tica de Foucault, o que o racismo, o qual permite a biopoltica matar?
, primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domnio da vida de que o poder se
incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver eu que deve morrer. (FOUCAULT,
1999, p. 304) Assim, a partir do momento em que o discurso e prtica polticos se
apropriaram das teorias raciais fora possvel no interior mesmo daquilo que chamamos de
espcie humana divises e cortes. Eles puderam matar na medida em que as teorias raciais
afirmaram a existir de raas superiores e inferiores. Que as inferiores devem ser
aniquiladas para que as superiores possam prosperar. E isto no s em relao a um outro
pas, mas num grupo da prpria sociedade. O caso do nazismo o exemplo maior desse
tipo de biopoltica em que a morte de milhares justificada em funo de sua
inferioridade; judeus; ciganos; eslavos; pessoas com problemas fsicos e mentais, etc. No
cerne da relao da biopoltica com o racismo reside essa posio:
a morte do outro no simplesmente a minha vida, na medida em que seria
minha segurana; a morte do outro, a morte da raa ruim, raa inferior (ou
degenerado, ou do anormal), o que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais
sadia e mais pura. (). Em outras palavras, tirar a vida, o imperativo da morte,
s admissvel, no sistema de biopoder, se tende no vitria sobre os
adversrios polticos, mas eliminao do perigo biolgico e ao fortalecimento,
diretamente ligado a essa eliminao, da prpria espcie ou da raa.
(FOUCAULT, 1999, p. 305-306)
112
A meta eliminar os perigos externos e internos em relao a populao e para a
populao. Populao que em certa medida composta por raas. Mas na qual deve
prevalecer aquela que apresentar traos de superioridade. Obviamente que Foucault aqui
no estava fazendo apologia a teorias raciais. Mas, procedendo a um diagnstico da
modernidade: em que poltica e princpios das teorias da biologia esto se entrecruzando
(sobretudo a partir do sculo XIX quando a biologia tende-se a adquirir o estatuto de
cincia). Estamos novamente no terreno da tese central de Foucault: poder-saber, um
imbricamento.
Foucault encerra a aula de 17 de maro de 1976 discutindo o Estado nazista e as
relaes entre poder soberano, disciplinar e biopoltica. E se indagando se essa mesma
relao no estaria presente tambm em todos Estados modernos, ainda que em medidas
menores. Seja ele socialista ou capitalista.
E para encerrar perguntamos: como justificar a pena de morte hoje? A entrada da
polcia nas favelas e a morte daqueles que l vivem, por vezes indiscriminadamente? Por
que armas qumicas so usadas em Estados do Oriente Mdio? Acreditamos que a
perspectiva foucaultiana do biopoder seja uma importante ferramenta para podermos
pensar e compreender tais questes.
REFERNCIAS
BRANCO, Guilherme Castelo. Ontologia do presente, racismo, lutas de resistncia. In.:
PASSOS, Izabel C. Friche (org.). Poder, normalizao e violncia: incurses foucaultianas
para a atualidade. Belo Horizonte: Autntica, 2008. p. 83-89.
CANDIOTTO, Cesar; D'ESPNDULA, Thereza Salom. Biopoder e racismo poltico: uma
anlise a partir de Michel Foucault. Revista Internacional Interdisciplinar - INTERthesis.
Florianpolis, SC. UFSC. Vol. 09, n 2, Jul. Dez. 2012. p. 20-38
DEFERT, Daniel. Cronologia. In.: FOCAULT, Michel. Ditos e escritos: psicologia,
psiquiatria, psicanlise. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1999. Vol. I
DUARTE, Andr. De Michel Foucault a Giorgio Agamben: a trajetria do conceito de
biopoltica. Em http://.bepress.com/andre_duarte/17 Acessado em abril de 2012
113
_____. Vidas em Risco: crtica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 2010.
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade I: A vontade de saber. Trad.
ALBUQUERQUE, Maria Thereza da Costa; ALBUQUERQUE J. A. Guilhon. 18 ed. Rio
de Janeiro: Graal, 2007.
____. Em defesa da sociedade: curso do Collge de France (1975-1976). Trad. Maria
Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1999,
____. Microfsica do poder. Trad. Roberto Machado. Ed. 19. Rio de Janeiro: Edies
Graal. 2004.
ORTEGA, Francisco. Racismo e biopoltica. In.: AGUIAR, Odlio Alves (org. et al.).
Origens do Totalitarismo: 50 anos depois. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2001.
114
SARTRE: RELAO ENTRE FILOSOFIA E LITERATURA
Ester da Silva Gomes
Unesp FCL de Assis.
esters.gomes@hotmail.com
RESUMO
Esta comunicao consiste em falar do escritor filsofo Jean-Paul Sartre (1905-1980),
um dos grandes pensadores do sculo XX pertencente corrente filosfica existencialista.
Sartre atrela tanto questes filosficas como literrias dentro de suas obras, logo, existe
uma relao muito prxima da sua filosofia com a literatura, ou seja, o filsofo se dedica
aproximao das duas reas. Por isso, aqui ser exposto tal relao de alguns pontos da
filosofia de Sartre com a literatura, deixando claro que para este escritor-filsofo, a
literatura em si j pode ser problematizada dentro de parmetros especficos e singulares
concernentes a ela. Um desses problemas refere-se prpria conceituao do termo
literatura, pois esta, para Sartre, no se distancia da experincia vital, por isso o autor aqui
em questo direcionou a literatura de acordo com seu pensamento e suas experincias (O
que a literatura?). Na obra o autor relata esse universo da escrita e, ao colocar no ttulo
uma interrogao, observamos que sero levantadas questes para serem refletidas sobre
esse assunto e uma viso do que se pensa. Percebemos que nas suas obras h um tom
engajador, principalmente na sua segunda fase, perodo que corresponde Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). Diferente de outros escritores Sartre coloca a obra como um fator
social, ele utilizava elementos da histria para situar o espao e relatar algo daquele
perodo histrico. Assim, a comunicao tem como objetivo levantar pontos da literatura
compreendida pelo pensamento filosfico sartriano, lembrando que estes so apenas
aspectos da sua filosofia, assim, mostraremos como a filosofia no se restringe a si mesma,
possibilitando uma viso de diferentes reas. A literatura, vista como uma arte, faz parte de
nossa histria, em que diversas pessoas leem e escutam a respeito. Sartre, possui uma
maneira de escrever, de modo que est entrelaado com sua viso filosfica, pois, para ele
o que se escreve deve falar de alguma coisa a respeito do mundo, e essa coisa ser percebida
por quem l. Com isso, a comunicao somente uma exposio da relao entre filosofia
e literatura, a inteno levantar alguns pontos e relacionar essas duas reas, alm de
comentar alguns pontos do pensamento filosfico sartriano.
Palavras-chaves: Literatura; Filosofia; Sartre; Engajamento.
O escritor-filsofo Jean-Paul Sartre entrelaa seu pensamento filosfico
existencialista com sua literatura. Ao iniciar sua fase engajada, que est ligada ao perodo
da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Sartre evoluiu seu conceito de liberdade,
percebeu que ela s teria sentido se fosse comprometida numa causa e ao escolher escrever,
j est agindo. Sua literatura se torna uma maneira de agir, alm da escrita ser direcionada,
ou seja, possui um papel importante na sociedade, ela foi influenciada diretamente pelo
contexto histrico, de forma que a literatura para ele deve se comprometer com a sociedade,
mostrando suas mazelas.
Sartre atrela tanto questes filosficas quanto literrias dentro de suas obras, logo
115
existe uma relao muito prxima da sua filosofia com a literatura, e aqui sero expostas
ideias com base no seu livro O que literatura?, no qual o escritor acaba orientando a
literatura por um caminho, um caminho engajado. Aqui tambm sero expostos alguns
aspectos da filosofia do autor que estar ligada com sua fase engajada.
Neste livro, O que literatura? Sartre levanta algumas questes acerca do termo,
ele encaminhou a literatura de acordo com seu pensamento e suas experincias, o livro
relata o mundo da escrita, e ao colocar no ttulo uma interrogao, observamos que sero
colocadas questes para serem refletidas. O livro formado pelas seguintes perguntas: O
que escrever? Por que se escreve? Para quem se escreve?, perguntas que so de certo
modo para pensar na criao literria e de como essa atividade pode transformar e refletir
na realidade.
Uma das reflexes que Sartre aborda [...] que aspecto do mundo voc quer
desvendar, que mudanas quer trazer ao mundo por esse desvendamento? O escritor
engajado sabe que a palavra ao: sabe que desvendar mudar e que no se pode
desvendar seno tencionando mudar (SARTRE, 2004, p. 20). Esta citao refere-se ao
escritor e sua criao literria, o texto em si, alm de colocar que a palavra importante na
reflexo acerca do mundo, que ela faz parte de ns, [...] a linguagem : nossa carapaa e
nossas antenas, protege-nos contra os outros e informa-nos a respeito deles, um
prolongamento de nossos sentidos (SARTRE, 2004, p.19), ou seja, a linguagem a
comunicao.
Para o escritor o objeto literrio existe somente em movimento, para que ele seja
essencial preciso o ato da leitura para completar o que o autor comeou, a existncia do
livro permanece viva enquanto durar a leitura, existe uma relao de dependncia, o que
escrevemos na maioria para que os outros leiam, assim a obra s existe por meio da
leitura. Para Sartre, tanto o escritor se engaja ao escrever o livro, como o leitor tambm se
engaja ao ler o livro, os dois partem de sua liberdade para tal ao, tanto da criao como
da leitura.
Sartre comenta que ao escolher o tema do livro, o escritor escolhe seu pblico,
primeiro que ele (autor) no escreve para eternizar na histria o seu livro, mas escreve para
sujeitos que esto situados naquele momento histrico. Um exemplo o prprio Sartre,
que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Frana foi invadida por tropas alems,
perodo conhecido como Governo de Vichy, escreveu e encenou As Moscas, 1943, uma
pea de teatro que faz aluso ao que estava acontecendo naquele perodo, de forma que o
116
escritor prope ao pblico daquela poca que assistiu pea, resistir s foras externas,
neste caso s tropas alems, e no aceitar de forma pacfica o problema vivido naquela
poca, que tirava a prpria liberdade de viver, a submisso. Assim, essa a maneira de um
escritor se engajar, ele tem conscincia do seu momento histrico, das suas mazelas e com
isto ele passa de si para os outros, essa conscincia, esse modo de engajar do ponto de
vista de Sartre.
O escritor possui um ponto de vista em relao literatura, de modo que ele cria
esse conceito para si e estabelece uma separao em relao a ela, o que literatura para
ele, Sartre, no favor da literatura de Proust, o modo como ele escreve, primeiro que as
obras do Proust no esto ligadas a um comprometimento com a sociedade, o modo como
ele escreve totalmente distinto de como escreve Sartre, o primeiro possui uma escrita de
estilo, ele recorre ao uso das figuras de linguagem, a metfora, por exemplo, que bastante
trabalhada pelos escritores e particularmente por esse, j Sartre objetivo nos seus livros,
ele no trabalha com a intensificao da palavra e sua pluralidade, ele direto e preciso no
que escreve.
Podemos pensar que essa divergncia vem de que Sartre possui um outro estilo de
escrita, pautada na objetividade, suas frases so claras, sem o uso, por exemplo, das figuras
de linguagem, ele se apropria das palavras concretas, ou seja, que no se desprendem da
nossa realidade. Sartre possui essa diferena em escrever porque ele filsofo, suas
palavras no sero palavras poticas, pois seu principal aliado a razo, e ele passa essa
escrita objetiva dos seus livros filosficos para suas obras literrias, ele continua com o
mesmo emprego da palavra, da sua racionalidade, comentando brevemente, por meio da
razo que investiga e questiona o homem e o mundo, o filsofo est inserido no campo da
conceituao, sua linguagem totalmente racional, sua preocupao outra, diferente de
Proust, de forma que Sartre leva esse modo de escrita para suas obras literrias, como nas
obras literrias ele incorpora sua filosofia em que preciso usar a linguagem objetiva.
O pensamento filosfico um dos elementos mais importantes que compe no s
as obras do escritor, mas tambm sua vida, ele pertence corrente filosfica existencialista.
O existencialismo tem como princpio: a existncia precede a essncia, e assim "[...] o
homem s adquire uma essncia depois de existir, a posteriori (MACIEL, 1970, p. 123,
2), entretanto, esta definio s vlida para os humanos, pois para os objetos
justamente o contrrio, primeiro pensa-se na essncia do objeto, depois ele passa a existir,
ele definido antes de existir. Esta segunda definio cabvel ao livro, pois sua essncia
117
vem primeiro e quando ela escrita e lida ela passa a existir.
Com a Segunda Guerra Mundial foi possvel, no meio de tantos desastres (poltico,
social, econmico, moral, financeiro etc), o surgimento de novos ideais, novas formas de
pensar, e nesse meio que surge o existencialismo, uma doutrina que trata diretamente da
existncia humana, e a literatura de Sartre representou esse momento histrico, de modo
que [...] a funo do escritor fazer com que ningum possa ignorar o mundo e
considerar-se inocente diante dele (SARTRE, 2004, p.21).
Sartre poderia somente discutir a filosofia, mas preferiu partir para a literatura, e
essas duas reas possuem uma relao muito prxima, ambas tratam da realidade humana,
ou seja, da existncia humana, contudo cada uma a apresenta de uma maneira distinta, elas
abordam o assunto de acordo com o plano em que cada uma est. A literatura sai do plano
conceitual ao qual a filosofia pertence e cria uma representao do mundo (narraes),
baseado em uma realidade concreta. Uma complementa a outra, e as duas so necessrias
para a compreenso da realidade humana. Sendo assim, possvel dentro da literatura uma
realidade paralela, ou seja, uma realidade criada por meio de uma fico e que parte da
liberdade criativa do escritor.
Assim, no podemos pensar que as obras literrias de Sartre so uma simplificao
de sua filosofia, pois nas palavras de seus livros atribudo seu pensamento filosfico, e
ainda, a literatura no um acessrio da filosofia, mas com o direcionamento de Sartre, um
engajamento em si. Por isso, cada qual possui um papel diverso de compreender o ser
humano e o mundo, alm de possuir uma linguagem prpria criando dois modos de ver sob
um mesmo assunto.
O encontro da literatura e filosofia, constri-se de acordo com cada escritor e
filsofo. O termo literatura j complicado, pois como definir ou padronizar obras que no
seguem um modelo, j que cada obra literria nica, ela cria seus personagens, o meio, o
tema e nunca ser igual um livro com o outro por mais que tratem do mesmo assunto, cada
autor atribui um sentido no seu livro de acordo com suas experincias, o que sugerimos a
respeito da literatura so alguns aspectos dela, alguns. Sartre se apropria da literatura
justamente por ter a liberdade de criar um outro mundo paralelo ao nosso, construindo
personagens que ganham vida na leitura, como dito, o escritor trata da literatura em prol da
sociedade, em que livros tem uma funo no meio onde vivem as pessoas.
A pea de teatro em Sartre muito importante na poca na qual ele presenciou, pois
elucidava melhor o que ele queria, representava os problemas vvidos, colocava em prtica
118
o termo engajar. A pea de teatro regida pelo momento da escolha, de criar os prprios
valores por meio desta, assim que a liberdade do indivduo se constri, mas esta
liberdade "pura" no existe, pois ela limitada pelos valores j instaurados, ela uma
vontade do ser humano colocado em ao e assim Sartre levanta a questo da ao livre e
suas implicaes. Com o teatro, o pblico est interagindo com os personagens que
ganham vida para falar, diferentemente do monlogo do leitor, uma maneira eficaz de
aproximar a plateia da encenao, como se fosse verdadeira a representao.
O escritor percebeu que o teatro era uma maneira de falar diretamente ao povo, com
as falas dos personagens passava sua filosofia de que o homem livre, que atravs de suas
escolhas ele se define, e que ao escolher deve aceitar as consequncias. Segue um trecho da
pea As Moscas que elucida tal afirmao No voltarei tua natureza: mil caminhos nela
esto traados que conduzem a ti, mas no posso seguir seno o meu caminho. Pois eu sou
um homem, Jpiter, e cada homem deve inventar seu caminho (SARTRE, 2005, p. 105).
Nesta frase, a fala de um personagem principal (Orestes) para o deus Jpiter, Orestes diz
que ele livre, nem a religio e nem a sociedade vai ditar suas escolhas, este personagem
quer a libertao do homem em relao aos valores instaurados pela religio que inibe
muitas vezes o indivduo de tomar atitudes, ou acaba justificando seus atos pelos valores
religiosos.
O teatro do escritor tem uma nfase e prossegue a partir da sua segunda fase
engajada, (perodo da Segunda Guerra), o uso delas foi a melhor maneira naquele tempo
que Sartre encontrou para descrever e colocar em prtica a sua filosofia, alm de incitar o
pblico no ser pacfico com aquela realidade, ele mesmo se engaja ao escrever as peas e
encen-las, para ele [...] a cada palavra que digo, engajo-me um pouco mais no mundo e,
ao mesmo tempo, passo a emergir dele um pouco mais, j que o ultrapasso na direo do
porvir (SARTRE, 2004, p.20).
Assim como Sartre crtica outros escritores a partir do seu ponto vista, ele tambm
criticado, e Adorno um deles, este crtica o teatro sartriano, pois para ele o conceito de
engajamento segue uma outra linha, para ele o engajar est na forma e no no contedo
como faz Sartre em suas peas, para Adorno as obras sartrianas so apresentadas ao
pblico prontas, o contedo s passado, no prope nada de novo, apenas representa.
Para Adorno as peas de Brecht so engajadas, justamente porque ele trabalha com a forma
no teatro, ele rompe com o modelo teatral, e revela uma maneira diferente de representar o
teatro, por exemplo, os personagens interagem com a plateia, conversam com a ela, fazem
119
comentrios, eles criam uma reflexo do que est acontecendo na pea, isto acontece
quando ela est sendo encenada. Essas caractersticas marcam a divergncia entre o teatro
de Sartre e de Brecht, mas um ponto extremamente importante de Sartre o seu contexto
histrico, ele criou de acordo com sua viso um modo de denunciar as barbries de seu
tempo. Este breve comentrio entre Sartre e Adorno foi somente para mostrar que cada
filsofo ou escritor vai trabalhar com um direcionamento no seu texto, e como um assunto
nunca se restringe a ele mesmo, temos vrios posicionamentos, como no engajamento.
Adorno tomou uma postura oposta a de Sartre, o que faz enriquecer e ganhar novos pontos
de vista atravs de um mesmo tema.
Sartre crtica, por exemplo, o teatro do absurdo, que est desligado da histria, a
questo histrica para o escritor crucial, pois a poca que viveu estava dilacerada pela
Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria, a Crise Financeira, e o homem perdido nesse
caos, alm do teatro do absurdo no retratar a realidade, justamente o oposto, ela
desconstri essa realidade, como dito anteriormente Sartre coloca nos seus livros e peas
teatrais, a racionalidade das palavras e a prpria palavra absurdo se afasta do que ele
trabalha.
REFERNCIAS
MACIEL, Luiz Carlos. Sartre: vida e obra. Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra. 1970.
SARTRE, J. P. As Moscas. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira. 2005.
___________. O que literatura? So Paulo. Ed. tica. 2004.
___________ O existencialismo um humanismo. Os pensadores. So Paulo. Ed. Abril
Cultura. 1973.
120
MICHEL FOUCAULT E A BIOPOLTICA: UMA ANLISE REFLEXIVA
Fernanda Ramos Leo
Universidade Estadual de Londrina
mrs.leao@gmail.com
RESUMO
A presente comunicao possui, como objetivo principal, a anlise crtico-reflexiva da
concepo foucaltiana de biopoltica, tal como foi articulada pelo autor, j que este tema,
alm de importante elemento das investigaes filosficas de Michel Foucault, o que
propicia um avano no conhecimento de sua obra, constitui-se de ferramenta terica
necessria na compreenso e interpretao da nossa realidade, estudo este que certamente
viabiliza o debate em torno de questes das mais variadas e dos problemas dos mais atuais,
alm, claro, de contribuir nas pesquisas do projeto maior ao qual este trabalho se vincula.
Para isso, faremos uma reconstruo de alguns pontos-chave sobre este assunto na obra de
Foucault, a saber: o caminho genealgico das variadas formas e mecanismos de poder
articulados historicamente, desde o poder soberano, em que o rei detinha o direito absoluto
de matar seus sditos, at sua inverso completa, definida como biopoder, que se
caracteriza, em termos gerais, pelo domnio poltico em torno da vida humana, em seu
sentido biolgico. Trata-se da regulamentao poltica da populao, que pretende garantir-
lhe e proteger-lhe a vida, utilizando para este fim tecnologias e estratgias cada vez mais
sutis, refinadas e eficazes. O embasamento terico dessa empreitada encontra-se
especialmente nos textos que Foucault escreveu em 1976, em forma de curso e de livro:
Em defesa da sociedade e Histria da Sexualidade I: A vontade de saber, respectivamente,
com o auxlio de outros recursos como artigos e entrevistas sobre o tema. Os dados e
informaes contidas nesta pesquisa possuem carter clarificador das idias acerca do tema
da biopoltica desenvolvidas pelo filsofo francs, na medida em que permitem, por meio
do conhecimento de tais mecanismos, aprofundarmos tambm o conhecimento sobre o
nosso contexto atual, que ainda se insere apesar de suas constantes e inerentes mutaes
dentro desse esquema de poder, ou melhor, de biopoder.
Palavras-chave: Foucault; biopoltica; poder.
Eu espero ainda que um mdico filosfico, no sentido excepcional do termo
algum que persiga o problema da sade geral de um povo, uma poca, de uma
raa, da humanidade tenha futuramente a coragem de levar ao cmulo a
minha suspeita e de arriscar a seguinte afirmao: em todo o filosofar, at o
momento, a questo no foi absolutamente a verdade, mas algo diferente,
como sade, futuro, poder, crescimento, vida...
(NIETZSCHE, F. A Gaia Cincia. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.)
comum entre os comentadores da obra de Michel Foucault classific-la em trs
fases, de acordo com certa ordem cronolgica e temtica que seus textos possuem. A
primeira, chamada de fase arqueolgica, inicia-se com a publicao de sua tese de
doutorado, intitulada Histria da Loucura, em 1961 e abrange os demais livros escritos na
121
dcada de 1960: O nascimento da clnica (1963), As palavras e as coisas (1966) e A
arqueologia do saber (1969). Nesse perodo, destacam-se os temas relacionados
constituio dos saberes acerca do homem, as chamadas cincias humanas. O momento
seguinte o da genealogia, em que Foucault concentra sua ateno na anlise do poder e
seus mecanismos. Compreende os textos da dcada de 1970: Vigiar e punir (1975) e o
primeiro volume da Histria da sexualidade, cujo ttulo A vontade de saber (1976). Por
fim, o terceiro perodo abarca as suas ltimas publicaes, os volumes II e III da Histria
da sexualidade, que se intitulam respectivamente O uso dos prazeres e O cuidado de si,
ambos de 1984 e tratam dos processos de subjetivao, em uma anlise da relao sujeito-
verdade.
Assim, optamos como primeiro passo na caminhada de apresentao deste trabalho,
situ-lo no referido esquema, para que se possa, com isso, avistar os primeiros contornos
do nosso universo de interesse, ou seja, do recorte temtico de nosso estudo. Importa-nos,
ento, o segundo eixo das pesquisas foucaultianas, no qual se destaca a famosa analtica do
poder. Durante esse perodo (anos 1970), conforme os registros de sua obra livros,
artigos, entrevistas e cursos nosso autor procura, ao traar essa genealogia do como do
poder, vislumbrar suas estratgias e mecanismos, assim como seus efeitos e o modo como
eles agem e reagem no indivduo, na sociedade, na populao. Dentro desse contexto,
buscamos especialmente compreender a noo de biopoltica, tal como foi descrita e
trabalhada pelo filsofo francs, no intuito de obter a apreenso necessria a uma posterior
anlise crtico-reflexiva do tema.
Para empreender tal objetivo, tomamos como ponto de partida terico as primeiras
abordagens sistematizadas sobre o assunto, que encontram-se simultaneamente em dois
textos, ambos de 1976, a saber: na aula de 17 de maro, a ltima do curso proferido
naquele ano no Collge de France, e que recebeu o ttulo de Em defesa da sociedade e no
ltimo captulo do primeiro volume de Histria da Sexualidade, intitulado A vontade de
saber.
Logo no incio do primeiro dos textos, j podemos identificar um esboo de
definio para um biopoder:
Parece-me que um dos fenmenos fundamentais do sculo XIX foi, o que se
poderia denominar a assuno da vida pelo poder: se vocs preferirem, uma
tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espcie de estatizao
do biolgico ou, pelo menos, uma certa inclinao que conduz ao que se poderia
chamar de estatizao do biolgico (FOUCAULT, 2005, p. 285 - 286).
122
J no texto de A vontade de saber, os primeiros traos desse mesmo movimento de
demarcao do biopoder so assim expressos:
Ora, a partir da poca clssica, o Ocidente conheceu uma transformao muito
profunda desses mecanismos de poder. O confisco tendeu a no ser mais sua
forma principal, mas somente uma pea, entre outras com funes de incitao,
de reforo, de controle, de vigilncia, de majorao e de organizao das foras
que lhe so submetidas: um poder destinado a produzir foras, a faz-las crescer
e a orden-las mais do que a barr-las, dobr-las ou destru-las (FOUCAULT,
1999, p. 128).
Mas afinal, a que espcie de poder se refere Foucault? Qual sua concepo de
poder? Responder a essa pergunta, ao menos em linhas gerais, nosso segundo passo,
antes de aprofundarmos a reflexo sobre a biopoltica, j que justamente da que parte o
prprio filsofo.
Para Foucault, o poder no algo que se possa simplesmente definir, por meio de
uma determinao clara e precisa do seu conceito. Assim, no existe o Poder. Ele antes
uma relao, ou melhor, uma multiplicidade de correlaes de fora (FOUCAULT,
1999, p. 88) e seu significado encontra-se na prpria analtica dessas relaes, dessas
prticas de poder. No h, portanto, uma teoria sobre o poder, ou ainda um sistema geral e
fechado de postulados que o delimite. Alm disso, o poder no deve ser identificado
somente com o Estado, com instituies ou qualquer outra forma de dominao ainda
que dominar, subjugar ou reprimir faam parte do repertrio de inmeras possibilidades e
recursos variados de que o poder pode dispor. Em suma, o poder onipresente e circula
por todos os modos de ao humanos e cotidianos, em espcies de micro-poderes que se
desenvolvem em todos os lugares, em todos os sentidos e direes, num jogo assimtrico e
constante de oposies, conflitos e enfrentamentos, que por sua vez, tambm esto em
constante mutao, alterao, inverso ou reforo.
A condio de possibilidade do poder, em todo caso, o ponto de vista que
permite tornar seu exerccio inteligvel at em seus efeitos mais perifricos e,
tambm, enseja empregar seus mecanismos como chave de inteligibilidade do
campo social, no deve ser procurada na existncia primeira de um ponto central,
num foco nico de soberania de onde partiriam formas derivadas e descendentes;
o suporte mvel das correlaes de fora que, devido a sua desigualdade,
induzem continuamente estados de poder, mas sempre localizados e instveis
(FOUCAULT, 1999, p. 89).
Um ltimo ponto a ser destacado na concepo foucaultiana de poder o seu
vnculo inerente produo de saberes. Foucault (assim como Nietzsche) no acredita na
existncia de verdades eternas ou de conhecimentos absolutos, a priori. Fica bastante
123
evidente, a partir da intimidade progressiva que se cria com a leitura dos textos e apreenso
das idias de Foucault, que ele sabe e reconhece que a capacidade humana esteve, est e
sempre estar presa a uma complexa rede de influncias histricas, culturais, religiosas e
polticas que interferem radicalmente em seu agir, pensar e conceber o verdadeiro e o
falso, ou ainda o certo e o errado. Dito de outra forma: a verdade produzida
historicamente e pelas relaes de fora que atuam num dado contexto. O que importa, em
ltima instncia, a efetividade dos discursos considerados verdadeiros, que
constantemente retroalimentam as relaes de poder.
Produz-se verdade. Essas produes de verdades no podem ser dissociadas do
poder e dos mecanismos do poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos
de poder tornam possveis, induzem essas produes de verdade, e porque essas
produes de verdade tm, elas prprias, efeitos de poder que nos unem, que nos
atam (FOUCAULT, 2006, p. 229).
Partindo dessas informaes, podemos ento compreender como o poder se
manifestou e se articulou historicamente, desde a teoria clssica da soberania, onde o poder
estava representado e concentrado na figura do rei, at sua forma mais refinada,
tecnolgica e sutil, a biopoltica.
O princpio de soberania, que marcou o perodo entre a Idade Mdia at o incio do
sculo XVII, tinha como uma de suas caractersticas principais, o direito de vida e de
morte sobre os sditos. Contudo, constata Foucault, h um desequilbrio nessa dualidade
vida-morte, pois na prtica, dizer que o soberano pode matar ou deixar viver, significa que
ele pode efetivamente tirar a vida, ou seja, matar. Pode parecer redundante, mas um olhar
mais atento permite identificar que o poder soberano antes um poder sobre a morte, e
dele que decorre o poder sobre a vida.
O direito de vida e de morte s se exerce de uma forma desequilibrada, e sempre
do lado da morte. O efeito do poder soberano sobre a vida s se exerce a partir
do momento em que o soberano pode matar. Em ltima anlise, o direito de
matar que detm efetivamente em si a prpria essncia desse direito de vida e
de morte: porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a
vida. essencialmente um direito de espada. [...] No o direito de fazer morrer
ou de fazer viver. No tampouco o direito de deixar viver e de deixar morrer.
o direito de fazer morrer ou de deixar viver (FOUCAULT, 2005, p. 286 - 287).
Eis o paradoxo da teoria clssica da soberania: no para preservar a vida que se
constitui um soberano? Como justificar o fato, ento, de que seu poder se exera sobretudo
do lado da morte? Foucault observa que a histria nos fornece dados e fatos que
124
demonstram como se deu a passagem do poder soberano ao poder disciplinar e
biopoltica. Esse processo no se deu de forma abrupta. Pouco a pouco a vida foi sendo
valorizada, ascendendo em destaque e importncia perante estratgias polticas. O que
ocorre a inverso do poder soberano, o que no significa seu abandono, mas o resultado
de sua adequao, transformao e integrao.
Uma das mais macias transformaes do direito poltico do sculo XIX
consistiu, no digo exatamente em substituir, mas em contemplar esse velho
direito de soberania fazer morrer ou deixar viver com outro direito novo, que
no vai apagar o primeiro, mas vai penetr-lo, perpass-lo, modific-lo, e que vai
ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de fazer viver e
de deixar morrer. O direito de soberania , portanto, o de fazer morrer ou de
deixar viver. E depois, este novo direito que se instala: o direito de fazer viver
e de deixar morrer (FOUCAULT, 2005, p. 287).
Nesse contexto, o que de fato interessa ao filsofo, como j foi dito anteriormente,
o como do poder: seus mecanismos, seu funcionamento, suas tcnicas. Assim, ele
constata essa mudana no comportamento do poder, que foi ocorrendo conforme as
transformaes da prpria sociedade, em conjunto com sua economia, poltica e
estratgias. Passou-se a investir na vigilncia e punio dos corpos individuais.
[...] nos sculos XVII e XVIII, viram-se aparecer tcnicas de poder que eram
essencialmente centradas no corpo, no corpo individual. Eram todos aqueles
procedimentos pelos quais se assegurava a distribuio espacial dos corpos
individuais (sua separao, seu alinhamento, sua colocao em srie e em
vigilncia) e a organizao, em torno desses corpos individuais, de todo um
campo de visibilidade. Eram tambm as tcnicas pelas quais se incumbiam
desses corpos, tentavam aumentar-lhes a fora til atravs do exerccio, do
treinamento etc. Eram igualmente tcnicas de racionalizao e de economia
estrita de um poder que devia se exercer, da maneira menos onerosa possvel,
mediante todo um sistema de vigilncia, de hierarquias, de inspees, de
escrituraes, de relatrios (...) (FOUCAULT, 2005, p. 288).
Eis a uma das formulaes, por meio da qual Foucault nos apresenta o poder
disciplinar em sua obra, que descrita pormenorizadamente em um de seus mais famosos e
polmicos livros: Vigiar e Punir, publicado em 1975. Como visto, a funo da disciplina
administrar a vida em seus mnimos detalhes. Ela age sobre o corpo, adestrando e
condicionando os indivduos, atravs do controle do tempo e do espao, s para citar
alguns exemplos, e atravs de instituies como a priso, a escola, o hospital. A disciplina
tenta reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve
redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados,
eventualmente punidos (FOUCAULT, 2005, p. 289).
125
Por fim, um novo movimento toma forma, no final do sculo XVIII, e novamente
h um processo de modificao, de assimilao, de digesto do poder disciplinar. Trata-
se do poder em outro nvel, em outra escala; trata-se do biopoder, que no abandona por
completo nem mesmo o poder do tipo soberano, podendo servir-se inclusive dele, se assim
for necessrio ao seu exerccio (uma espcie de contradio da biopoltica, sendo este um
assunto que necessita maior aprofundamento e investigao, o que seria invivel perante os
objetivos da presente pesquisa). A novidade introduzida aqui que essa nova tecnologia de
poder no se aplica ao homem-corpo, como faz a disciplina, mas age sobre o homem-
espcie. Nas palavras do prprio Foucault:
[...] a nova tecnologia que se instala se dirige multiplicidade dos homens, no
na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma,
ao contrrio, uma massa global, afetada por processos de conjunto que so
prprios da vida, que so processos como o nascimento, a morte, a produo, a
doena etc. [...] Depois da antomo-poltica do corpo humano, instaurada no
decorrer do sculo XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo sculo, algo que j
no uma da antomo-poltica do corpo humano, mas que eu chamaria de uma
biopoltica da espcie humana (FOUCAULT, 2005, p. 289).
Podemos dizer que a biopoltica uma aproximao entre a biologia e o Estado.
Um olhar poltico sobre a vida, que rene em si um conjunto de estratgias
governamentais, visando administrar a vida da populao com fins polticos e econmicos.
So mecanismos contnuos, reguladores, corretivos e principalmente preventivos. Para
tanto, a biopoltica se apia na estatstica, que lhe permite mapear os fenmenos prprios
da vida humana enquanto populao, como taxas de nascimento, de fecundidade, de bitos.
O objetivo conquistar uma espcie de homeostase social, ou seja, um equilbrio geral que
garante a segurana do todo pelo controle e pela preveno dos perigos e acidentes
internos a esse sistema poltico. H ainda diversos outros pontos em que incidir a
biopoltica: higiene pblica, velhice, acidentes, enfermidades, anomalias e sexualidade,
enfim, os problemas que envolvem seres humanos (como seres vivos, portanto, biolgicos)
e seu meio, como questes ecolgicas e urbanas.
No campo de domnio instalado pela biopoltica, Foucault destaca trs aspectos
importantes, conforme sua anlise. So eles: a) a noo de populao; b) os fenmenos
considerados pela biopoltica e c) a natureza dos mecanismos biopolticos.
A populao , para Foucault, o novo personagem sobre o qual incidir o biopoder.
Personagem at ento desconhecido pela teoria do direito e pela disciplina, que lidavam
126
com indivduos. E assim, ele nos apresenta esse novo elemento poltico, objeto essencial e
alvo do biopoder:
um novo corpo: corpo mltiplo, corpo com inmeras cabeas, se no infinito
pelo menos necessariamente numervel. a noo de populao. A biopoltica
lida com a populao, e a populao como problema poltico, como problema a
um s tempo cientfico e poltico, como problema biolgico e como problema de
poder, acho que aparece nesse momento (FOUCAULT, 2005, p.292 - 293).
O segundo aspecto considerado por Foucault, diz respeito natureza dos
fenmenos biopolticos. So eventos coletivos com implicaes no campo poltico e
econmico, conforme o filsofo observa:
So fenmenos aleatrios e imprevisveis, se os tomarmos neles mesmos,
individualmente, mas que apresentam, no plano coletivo, constantes que fcil,
ou em todo caso possvel, estabelecer. E, enfim, so fenmenos que se
desenvolvem essencialmente na durao, que devem ser considerados num certo
limite de tempo relativamente longo; so fenmenos de srie. A biopoltica vai
se dirigir, em suma, aos acontecimentos aleatrios que ocorrem numa populao
considerada em sua durao (FOUCAULT, 2005, p. 293).
Quanto aos mecanismos implantados pela biopoltica, sua natureza tambm se
difere da disciplina. A biopoltica trabalha com dados estatsticos, globais e no nvel da
populao, enquanto o poder disciplinar age sempre no corpo individual. O prprio
Foucault esclarece:
Pois a no se trata, diferentemente das disciplinas, de um treinamento individual
realizado por um trabalho no prprio corpo. No se trata absolutamente de ficar
ligado a um corpo individual, como faz a disciplina. No se trata, por
conseguinte, em absoluto, de considerar o indivduo no nvel do detalhe, mas,
pelo contrrio, mediante mecanismos globais, de agir de tal maneira que se
obtenham estados globais de equilbrio, de regularidade; em resumo, de levar em
conta a vida, os processos biolgicos do homem-espcie e de assegurar sobre
eles no uma disciplina, mas uma regulamentao (FOUCAULT, 2005, p. 294).
Apesar dessas distines que muito bem explicam as caractersticas gerais do poder
disciplinar e do biopoder, Foucault volta a frisar que este um campo complexo, uma
trama onde modos diferentes de poder se enveredam:
Por outro lado, esses dois conjuntos de mecanismos, um disciplinar, o outro
regulamentador, no esto no mesmo nvel. Isso lhes permite, precisamente, no
se exclurem e poderem articular-se um com o outro. Pode-se mesmo dizer que,
na maioria dos casos, os mecanismos disciplinares de poder e os mecanismos
regulamentadores de poder, os mecanismos disciplinares do corpo e os
mecanismos regulamentadores da populao, so articulados um com o outro
(FOUCAULT, 2005, p. 299).
127
na esteira dessa anlise de coexistncia do poder disciplinar com o poder
regulamentador que Foucault desliza ao descrever a idia de sociedade de normalizao,
na qual se inscreve a biopoltica.
A sociedade de normalizao uma sociedade em que se cruzam, conforme uma
articulao ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentao. [...]
Dizer que o poder, no sculo XIX, tomou posse da vida, dizer pelo menos que o
poder, no sculo XIX, incumbiu-se da vida, dizer que ele conseguiu cobrir toda
a superfcie que se estende do orgnico ao biolgico, do corpo populao,
mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das
tecnologias de regulamentao, de outra (FOUCAULT, 2005, p. 302).
Diante do cenrio montado a partir da reconstruo de alguns dos pontos e aspectos
mais relevantes do pensamento desenvolvido por Foucault nos textos aqui analisados,
possvel entender como se apresenta, atua e reativa-se constantemente a biopoltica. Enfim,
podemos lanar um olhar para o caminho traado pelo filsofo que para o presente
trabalho foi guia e mapa e seguir-lhe pela mesma trilha, levantando algumas questes,
talvez alguns apontamentos, sobre as formas modernas, refinadas e sutis das tecnologias de
poder de nossa atual realidade.
Pois bem, de que nos serve esse diagnstico oferecido por Foucault para o
entendimento da sociedade, da comunidade ou do meio em que vivemos? A resposta
parece simples: a posse de tal conhecimento, por si s, j constitui-se de um rico
instrumento de saber, de poder, de ao. O papel da teoria, hoje, parece-me ser justamente
este: no formular a sistemtica global que repe tudo no lugar, mas analisar a
especificidade dos mecanismos de poder, balizar as ligaes, as extenses, edificar pouco a
pouco um saber estratgico (FOUCAULT, 2006, p. 251).
Outra questo que podemos levantar sobre as consequncias de tal regime
biopoltico em nosso presente, em nosso cotidiano. Porm, no h respostas exatas,
definitivas ou maniquestas. A questo complexa, no linear ou passvel de uma
interpretao nica. Assim, nossa anlise deve sempre partir de diferentes perspectivas.
No se trata de apontar, por exemplo, apenas os aspectos negativos de um poder que,
acima de tudo, trabalharia apenas em favor de um Estado que nos submeteria de acordo
com sua racionalidade prpria e segundo seus interesses de automanuteno. Essa apenas
uma de suas caractersticas, um dos pontos possveis de sua inteligibilidade e compreenso.
necessrio, seguindo o mesmo procedimento, verificar em que medida esses mesmos
mecanismos nos so teis ou at desejveis, visto que podem decorrer justamente das
128
prprias necessidades humanas. H uma passagem de uma entrevista, de 1978, em que
Foucault explicita muito bem esse carter ambguo dos sistemas de poder, assim como
compara o poder disciplinar e a biopoltica naquele contexto, numa avaliao crtica que,
por sinal, continua em plenamente vlida nos dias atuais:
Hoje, o controle menos severo e mais refinado, sem contudo ser menos
aterrorizador. Durante todo o percurso de nossa vida, todos ns somos
capturados em diversos sistemas autoritrios; logo no incio na escola, depois em
nosso trabalho e at em nosso lazer. (...) Em nossa sociedade, estamos chegando
a refinamentos de poder os quais aqueles que manipulavam o terror sequer
haviam sonhado. [...] O ponto em que chegamos est alm de qualquer
possibilidade de retificao, porque o encadeamento desses sistemas continuou a
impor esse esquema, at faz-lo ser aceito pela gerao atual como uma forma da
normalidade. No obstante, no dito que isso seja um grande mal. O controle
contnuo dos indivduos conduz a uma ampliao do saber sobre eles, que produz
hbitos de vida refinados e superiores. Se o mundo est a ponto de se tornar uma
priso, para satisfazer as exigncias humanas (FOUCAULT, 2006, p. 307).
REFERNCIAS
ABBAGNANO, N. Dicionrio de Filosofia. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
CASTRO, E. Vocabulrio de Foucault Um percurso pelos seus temas, conceitos e
autores. Belo Horizonte: Autntica, 2009.
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
____________. Histria da Sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal,
1999.
____________. Segurana, territrio, populao. So Paulo: Martins Fontes, 2008.
____________. Estratgia, poder-saber. Coleo Ditos e escritos IV. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 2006.
MUCHAIL, S. Foucault, simplesmente. So Paulo: Loyola, 2004.
RABINOW, P.; DREYFUS, H. Michel Foucault, uma trajetria filosfica: para alm do
estruturalismo e da hermenutica. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2010.
129
ANALTICA DO PODER EM MICHEL FOUCAULT: DO PODER
BIOPOLTICA
Franco Pereira Leite
Universidade Estadual de Londrina
francopereiraleite@hotmail.com
RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade reconstruir a Analtica do Poder de Michel
Foucault, desde sua concepo sobre o poder, at o que ele denominou de Biopoltica da
populao, uma modalidade de exerccio do poder que surge como complemento do poder
disciplinar. O limiar da modernidade biolgica para Foucault quando a vida, com todos
os seus processos, entra nos clculos polticos, ou seja, quando todas as aes polticas
esto voltadas para a promoo da vida, de modo que todas as estratgias do poder iro
centrar-se em garantir uma homeostase da populao. No processo de garantia da vida, as
estratgias podem ter de operar paradoxalmente ao levar a morte queles que de alguma
forma representam um perigo populao; nas palavras de Foucault, so mortos
legitimamente aqueles que de alguma forma representam um perigo para espcie, isto
porque a morte no algo separado da vida, pelo contrrio, algo que faz parte da vida.
Portanto, a morte no algo que deva ser evitado, mas gerido num nvel aceitvel, fazendo
assim da biopoltica, talvez, uma tanatopoltica.
Palavras-chave: Foucault; Poder; Biopoltica; Morte; Vida.
INTRODUO
O pensamento de Michel Foucault pode ser divido em trs momentos diferentes,
diviso que aceita pelo prprio filsofo, desde que atenda meros fins metodolgicos. Em
um primeiro momento Foucault se voltou para a constituio dos saberes, que ficou
conhecida como a Fase Arqueolgica, que compreende o perodo de 1961, com o
lanamento de Histria da Loucura, at o final da dcada de sessenta com a publicao de
Arqueologia do Saber. A partir do incio da dcada de setenta, Foucault se pergunta pelo
como do poder, esse perodo ficou conhecido como a Fase Genealgica, que sua fase
poltica marcada por livros como Vigiar e Punir e Histria da Sexualidade I: a vontade de
saber. E por fim, do comeo dos anos oitenta at 1984, ano de sua morte, o filsofo se
voltou para aquilo que constituiria sua terceira fase, uma analtica tica, buscando na
Grcia Antigas e no pensamento romano a bases da nossa moral, naquilo que ficou
conhecida como a Fase da Esttica da Existncia.
na sua Fase Genealgica que Foucault se interessar, com maior nfase, pela
questo poltica. De suas pesquisas histricas, o filsofo props uma nova maneira de
130
conceber o poder, que consistiu e afirma que o mundo ocidental conheceu trs maneiras
de se exercer o poder: O Soberano; O Disciplinar; O Biopoltico.
Como dissemos, as divises do pensamento de Foucault devem ser encaradas para
meros fins metodolgicos, pois o filsofo, em entrevista a Rabinow e Dreyfus, diz que sua
obra constitui um todo que tem por mote a questo do sujeito, ou seja, que suas
investigaes no tm essa cesura to clara. Portanto, o pensamento de Foucault no algo
que pode ser divido to facilmente, de modo que para estudar um assunto, por exemplo, da
Esttica da Existncia, talvez seja necessrio recorrer a temas da Arqueologia e da
Genealogia.
Em nossa empreitada sobre a biopoltca tivemos que fazer algo semelhante, mas
sempre tentando nos ater a Genealogia foucaultiana, de modo que fizemos um percurso
desde as produes do incio dessa fase at os ltimos textos que a encerram.
Passamos pelos conceitos de poder, poder soberano, poder disciplinar, para
finalmente chegarmos ao cerne de nosso trabalho: as teses Foucaultianas sobre os
conceitos de biopoder e biopoltica. Para mostrarmos como, no final do sculo XVIII e
incio do sculo XIX, vemos emergir um poder que vai agir de forma positiva sobre a vida,
mas no a vida individual, e sim da populao, que aparece como um corpo mltiplo cuja
sobrevivncia, deve ser assegurada.
Porm, esse formidvel poder de fazer viver mostrar sua outra face, se
transformando em um poder que pode reclamar a morte daqueles indivduos que de alguma
maneira representam um perigo biolgico para espcie humana, sendo assim autorizada
sua eliminao. Esse reclamo da vida ser impetrado mediante o racismo de Estado, cujo
exemplo mais alto o do Estado nazista.
A biopolitica uma forma de exercer o poder, que, segundo Foucault, tem seu incio
no sculo XVIII, e substitui a Sociedade Disciplinar. A biopoltica tem como funo
garantir a sobrevivncia da populao, para isso ela criar estratgias - o biopoder - que
incita vida, que a majora, porm, paradoxalmente, cria tambm estratgias que assimilam
e at tornam at desejvel a morte de alguns indivduos para garantir a vida da populao.
Para entendermos o que a biopolitica, como ela se exerce, seus efeitos sobre a
populao, se faz necessrio uma breve exposio dos seguintes conceitos: Poder, Poder
131
Soberano, Poder Disciplinar. Isso, pois Foucault, em sua Analtica do Poder analisou como
o poder foi exercido desde a Idade Clssica a Idade Moderna
26
.
PODER
, sobretudo, em um segundo momento de suas formulaes tericas, que o filsofo
ir se voltar questo do poder com todo seu rigor argumentativo. No entanto, ele no
mais abordar o poder como fora antes, ou seja, o poder como algo ontolgico, que possui
uma realidade efetiva, algo que alguns possuem e outros no.
Portanto: como podemos entender o poder em Michel Foucault?
O prprio Foucault reconhece que ele no apresentou uma teoria unitria e global do
poder, procurando uma legitimidade para o poder; o que ele fez foi uma analtica do poder,
tentando entender como o poder funciona, pois mais importante que entender a
legitimidade do poder, entender que ele se exerce, sendo legtimo ou no, isso, a
legitimidade do poder, para Foucault, so as formas terminais do poder. O que est em
jogo nas investigaes que viro a seguir dirigirmo-nos menos para uma teoria do que
para uma analtica do poder... Ora, parece-me que essa analtica s poder ser constituda
fazendo tabula rasa e libertando-se de uma certa representao do poder, que eu chamaria
... de jurdico-discursiva (FOUCAULT, 1988, p. 92).
Para Foucault no h uma sinonmia entre Estado e poder. No foi o Estado quem
criou os mecanismos de poder, tampouco o Estado os utiliza na represso dos indivduos.
O poder no um bem que o Estado possua e o utiliza na dominao e sujeio dos
indivduos pela violncia a partir dos aparelhos de Estado. Sendo assim o filsofo
abandona aquela interpretao do poder relacionado soberania, que remonta a figura do
rei que tinha por direito, atravs do pacto social, exercer um poder sobre seus sditos.
Outra interpretao que Foucault rejeitar aquela que toma o poder de uma forma
negativa, que o concebe como represso. O poder, para Foucault, tambm no ser algo
que reprime, que diz no, que interdita, que veda, ao contrario, a caracterstica do poder
no reprimir e sim produzir. Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em
termos negativos: ele exclui, reprime, recalca, censura, abstrai, mascara, esconde.
26
Foucault chamou de Idade Clssica o perodo que compreende os sculos XVII e XVIII, enquanto a Idade
Moderna compreende os sculos XIX e XX.
132
Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos rituais de verdade
(FOUCAULT, 2010c, p.185).
Para Foucault, o poder um gnero de relao. No uma coisa esttica, ele circula,
um exerccio, um enfrentamento, onde ambos os lados so dotados de poder, lgico, de
uma forma assimtrica, em suma o poder funciona. E ele funciona nessa rede complexa
que a sociedade, de modo que qualquer indivduo pode exercer o poder ou ser submetido
a ele. E sendo o poder um exerccio, sempre est posta a possibilidade de resistncia, de
modo que os indivduos que esto submetidos s relaes de poder podem mold-las,
tornado-as mais desiguais.
O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou melhor,
como uma coisa que s funciona em cadeia. Jamais ele est localizado aqui ou
ali, jamais est entre as mos de alguns, jamais apossado como uma riqueza ou
um bem. O poder funciona. O poder se exerce em rede e, nessa rede, no s os
indivduos circulam, mas esto sempre em posio de ser submetidos a esse
poder e tambm de exerc-lo. Jamais eles so eles so o alvo inerte ou
consentidor do poder, so sempre seus intermedirios. Em outras palavras, o
poder transita pelos indivduos, no se aplica a eles (FOUCAULT, 2010a, p.26).
Da o propsito de se fazer uma microfsica do poder. No analisar as relaes de
poder de modo global, mas sim em suas pequenas manifestaes na sociedade, no
procurar um ponto central de onde o poder emana, mas sim reconhec-lo nos pontos dessa
trama que a sociedade. o poder no uma instituio, nem uma estrutura, nem uma
certa potncia da qual alguns seriam dotados: o nome que damos a uma situao
estratgica complexa numa sociedade dada (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 205).
Trata-se de entender que o poder vem de baixo.
Sendo o poder um exerccio que perpassa toda sociedade, que a apia, que a incita,
que a modifica. No tem como escapar das relaes de poder, no porque elas nos
dominam, mas sim porque o poder est em toda parte; no porque englobe tudo e sim
porque provem de todos os lugares (FOUCAULT, 1988, p. 103). E, alm disso, no h
poder que se exera sem uma srie de miras e objetivos (FOUCAULT, 1988, p. 105), e
nos modos de exerccio do poder analisados por Foucault, o que se tinha como objetivos
era o individuo ou a populao.
Desde o nascimento dos Estados Nacionais Modernos, foram desenvolvidas artes de
governar. Ora se preocupando com o individuo isoladamente, ora com o gerenciamento da
populao. Da Idade Clssica Idade Moderna, Foucault identificou trs formas de
exerccio do poder: Poder Soberano, Poder Disciplinar e a Biopoltica. Sendo que os dois
133
primeiros tm como objetivo o indivduo isoladamente e, no ltimo, o indivduo,
isoladamente, dispensado, pois o que est em jogo a sobrevivncia da populao e no
a do indivduo separado desta. O Poder Soberano atua de forma a posteriori, ou seja, tendo
um determinado fenmeno ocorrido, digamos um crime, ele s ir atuar depois que tal
delito for deflagrado. J o Poder Disciplinar ter tanto um carter a posteriori quanto a
priori, pois ele tanto tentar impedir que um crime ocorra, como punir os que forem
efetivamente consumados. A biopoltca, por seu lado, tem um carter puramente a priori,
ela sempre tentar impedir que algum mal assole a populao, independente dos meios que
usar. Mas analisemos cada um separadamente.
Quando Foucault fez suas analises sobre a punio, em Vigiar e Punir, dois modelos
logo lhe saltaram aos olhos: o suplicio e a priso. Cada um correspondia a um tipo de
exerccio do poder de punir. Enquanto a priso surge com o advento da sociedade
disciplinar, o suplicio caracterizado pelo Poder soberano. Este poder caracterizado pelo
direito de vida e morte que o soberano tem sobre seus sditos, e est amalgamado com o
direito, com a lei e tem seu surgimento quando so institudas as primeiras monarquias
nacionais.
O Poder soberano tende ao confisco: do tempo, dos bens e da vida. Este poder era,
antes de tudo,... direito de apreenso das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da
vida; culminava com o privilegio de se apoderar da vida para suprimi-la (Foucault, 1988,
p. 148). Este privilgio, o de vida e morte, deriva-se da patria potestas, que se reporta ao
direito romano, que concedia ao pai de famlia o direito de dispor da vida de seus filhos e
escravos: j que ele lhes deu a vida tem o direito de retir-l. Para Foucault o direito de
vida e morte uma forma bem atenuada da patria potestas, que no pode ser exercido de
forma absoluta, mas condicionado proteo do soberano, ele pode usar esse direito,
para se proteger, quando sua pessoa est em perigo, podendo dispor da vida de seus sditos
de duas maneiras, uma indireta e outra direta: a primeira, quando o soberano ameaado
por um inimigo externo, nesta situao pode ele pedir para seus sditos pegarem armas
para defend-lo, enviando-lhes guerra, neste sentido, exerce sobre ele um direito
indireto de vida e morte (FOUCAULT, 1988, p.147), a segunda, quando um sdito do
soberano se levanta contra ele, neste caso pode exercer um poder direto sobre sua vida:
mat-lo a ttulo de castigo (FOUCAULT, 1988, p. 147). O direito que o soberano tem
sobre a vida de seus sditos condicionado sua defesa e s exercido se ele contiver seu
direito de matar. No entanto Foucault ver nisso uma forma de direito que surge com esse
134
novo ser jurdico, o de soberania, ou seja, um direito de causar a morte ou deixar viver.
O soberano s exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo seu direito de matar ou
contendo-o; s marca seu poder sobre a vida pela morte que tem condies de exigir. O
direito que formulado como de vida e morte , de fato, o direito de causar a morte ou
de deixar viver (FOUCAULT, 1988, p. 148).
Mais adiante veremos que esse direito de soberania ser invertido pela biopoltica,
de um direito de deixar viver fazer morrer, veremos surgir, ao contrrio, um direito fazer
viver deixar morrer.
PODER DISCIPLINAR
Como dissemos anteriormente, Foucault tece suas consideraes sobre o Poder
Disciplinar fazendo uma genealogia da priso. No estudo sobre o surgimento da priso o
filsofo viu delinear-se uma poro de mecanismos de poder, que ao contrrio do Poder
Soberano, se apossar dos corpos, mas no mais para marc-los, fer-los e extrair a vida,
mas um poder destinado a produzir foras, a faz-las crescer e a orden-las mais do que a
barr-las, dobr-las ou destru-las (Foucault, 1988, p.148). A disciplina tende a produzir
corpos dceis, para isso exerce sobre eles um poder contnuo e vigilante, que se apodera do
corpo, por exemplo, do preso, para corrigir-lo, reeducar-lo, de uma forma eficiente para
que a partir desse processo ele possa ser reintegrado na sociedade. Essa disciplina se opera
em todos os mbitos possveis. Vejamos o exemplo do Panopticon de Jeremy Bentham,
que nada mais que um modelo arquitetnico de priso onde o preso vigiado e, alm
disso, ele tem a conscincia de que vigiado, de forma que ele evitar alguns gestos, os
indesejados pela disciplina, e incitar outros, os desejados pela disciplina. A priso, com
essa disciplinada generalizada, tomando o indivduo isoladamente, produzir saber.
Organiza-se todo um saber individualizante que toma como campo de referncia no tanto
o crime cometido... mas a virtualidade de perigos contido num indivduo e que se
manifesta no comportamento observado cotidianamente. A priso funciona a como um
aparelho de saber (FOUCAULT, 2010a, p.122).
Essa Disciplina, que na priso se evidencia em seus limites e em seus elementos
constituintes de modo mais contundente e pleno, fez dela um aparelho de saber, de modo
que a disciplina no vai ficar encerrada atrs do muro da priso, ela vai atuar em outros
campos da sociedade: escolas, quartis, hospitais. Fazendo deles aparelhos de saber.
135
Como bem disse Foucault, fbricas, escolas, hospitais e outros segmentos da sociedade tm
um carter extremamente disciplinar, de modo que um se parea com o outro.
O poder disciplinar, que surge na Idade Clssica, aparece concomitantemente com o
desenvolvimento do capitalismo, pois O principal objetivo do poder disciplinar era
produzir um corpo dcil. Este corpo dcil tambm deveria ser um corpo produtivo. E o
capitalismo precisava dos chamados corpos dceis que a disciplina produz, de modo que
o controle disciplinar e a criao dos corpos dceis esto incontestavelmente ligados ao
surgimento do capitalismo (DREYFUS; RABINOW, 1995, p.149).
Por outro lado, as tcnicas disciplinares no eliminaram o princpio da soberania,
pelo contrrio, a sociedade disciplinar, fez uso dele para poder se incrustar e se mascarar
na sociedade. A disciplina fez uso do direito, que uma encomenda rgia
27
, mas no mais
tendo em vista a proteo do soberano, porm da sociedade.
No entanto, a partir dos sculos XVII e XVIII, surgiu uma nova forma de poder,
a disciplina. Se, nessa reorganizao do poder, a teoria da soberania sobreviveu,
foi porque permitiu o desenvolvimento das disciplinas como mecanismo de
dominao e permitiu ocultar efetivamente o exerccio do poder. Contudo,
apesar de a teoria da soberania ter servido para formao histrica do poder
disciplinar, claro que se trata de duas formas diferentes de poder e que as
podemos opor como se segue. A soberania uma forma que se exerce sobre os
bens, a terra e seus produtos... A disciplina, no entanto, orienta-se para os corpos
e o que eles fazem, seu objetivo extrair deles tempo e trabalho. Exerce-se de
maneira contnua mediante a vigilncia (CASTRO, 2009, p. 404-405).
A tcnica disciplinar, que se instalou no final do sculo XVII, e perdurou at meados
do sculo XVIII, vai ser substituda por outra tecnologia do poder, que far uso dos saberes
que a Sociedade Disciplinar produz; portanto no uma tecnologia que exclua a
Sociedade Disciplinar, mas que faz uso dela para melhor gerenciar a Populao.
BIOPOLTICA
No dia 17 de maro de 1976, Foucault encerrava mais um de seus cursos no Collge
de France intitulado Em Defesa da Sociedade, nove meses depois, sai o primeiro volume
de sua Histria da Sexualidade. Tanto o ltimo captulo do livro, como a ltima aula
pronunciada, tratam do mesmo tema: o conceito de biopoder.
27
Sobre a questo do poder ser uma encomenda rgia Cf. Em Defesa da Sociedade, aula de 14 de janeiro.
136
O conceito de biopoder vai ser descrito pelo filsofo como o complemento de um
poder que durou at o final do sculo XVIII: O Poder Disciplinar. Mas ao contrrio deste,
o biopoder no vai mais centrar-se no corpo do individuo que deve ser adestrado,
disciplinado, mas sim no nvel da populao, que deve ser gerida e sustentada. Para tanto,
o biopoder ir criar mecanismos que incitam a vida, porm paradoxalmente criar tambm
mecanismos que assimila e, at torna desejvel, a morte para garantir a vida da populao.
Essa nova tecnologia de poder que vemos surgir no final do sculo XVIII que vai
substituir a tcnica disciplinar de poder , segundo o autor, uma tecnologia de poder que
no dispensar a disciplina, pelo contrrio, assim como fez a disciplina, quando seu
instalou no sculo XVII, em relao ao Poder Soberano, o biopoder far o mesmo, ou seja,
se apoiar nas disciplinas para implantar-se na sociedade.
Agora no mais atravs da sociedade disciplinar que seremos governados, no
seremos mais esquadrinhados, nossos gestos no sero mais vigiados e moldados,
tampouco seremos classificados em normais e anormais. Agora as tcnicas de poder iro
centrar-se nos processos de natalidade, de longevidade, de mortalidade, em questes
econmicas ente outros pontos.
Logo, depois de uma primeira tomada do poder sobre o corpo que se fez
consoante o modo da individualizao, temos uma segunda tomada de poder que,
por sua vez, no individualizante, mas que massificante, se vocs quiserem,
que se fez no em direo ao homem-corpo, mas do homem-espcie. Depois da
antomo-poltica do corpo humano, instaurada no decorrer do sculo XVIII,
vemos aparecer, no fim do mesmo sculo, algo que j no uma antomo-
poltica do corpo humano, mas que eu chamaria de uma biopoltica da espcie
humana (FOUCAULT, 2010a, p.204).
As decises que sero tomadas a partir do momento do aparecimento da biopoltica,
tero em vista este novo ser poltico que entra em cena: a populao. Todos os
mecanismos, todas as aes, tero como escopo gerir a vida, mas no simplesmente a vida
individual e sim da populao. Assim sendo, no mais o individuo como na sociedade
disciplinar, ou o soberano, como na teoria da soberania, que est em questo, mas sim a
vida da populao. O que vemos surgir com isso a entrada da vida no jogo poltico.
Mas, que se poderia chamar de limiar da modernidade biolgica de uma
sociedade se situa no momento em que a espcie entra como algo em jogo em
suas prprias estratgias polticas. O homem, durante milnios, permaneceu o
que era para Aristteles: um animal vivo e, alm disso, capaz de existncia
poltica; o homem moderno um animal, em cuja poltica, sua vida de ser vivo
est em questo (FOUCAULT, 1988, p. 156).
Como dissemos anteriormente, a biopoltica far a inverso do chamado princpio
de soberania. Daquele fazer morrer ou deixar viver, veremos surgir um fazer viver ou
137
deixar morrer. Porm enquanto o primeiro se dirige ao indivduo o segundo se atm a
populao. O que vemos com essa nova tecnologia de poder uma investida sobre a vida,
a vida da populao, a vida do homem-espcie.
um novo corpo: corpo mltiplo, corpo com inmeras cabeas, se no infinito pelo menos
necessariamente numervel. a noo de populao. A biopoltica lida com a populao, e a
populao como problema poltico, como problema a um s tempo cientfico e poltico, como
problema biolgico e como problema de poder (FOUCAULt, 2010a, p. 206).
Se o poder soberano agia sobre a vida dos sditos na forma de confisco - de bens,
riquezas, e por fim sobre a vida para suprimi-la ou seja, de uma forma negativa, a
biopoltica incidir sobre a vida para aumentar sua longevidade: um poder que age de
forma positiva sobre a vida. Para isso a biopoltica levar em contra processos que giram
em torno da populao: Taxa de natalidade, nmero de bitos, o nvel de sade, e tudo
aquilo que est ligado a longevidade da populao. Haver tambm uma preocupao
especial com as epidemias, porm, no mais como a morte que se abate brutalmente sobre
a vida... mas como a morte permanente, que se introduz sorrateiramente na vida, a corri
perpetuamente, a diminui e a enfraquece (FOUCAULT, 2010a, p. 205), a doena como
fenmeno da populao. No mais a peste que vai tirar o sono dos governos, pois ela foi
suprimida em boa parte com o surgimento da disciplina, atravs de um processo de
segregao e vigilncia. O que se tem com o advento da biopoltica uma preocupao
com as epidemias, que pode causar um grande corte na populao, por isso todas as
investidas dos governos para afastar as doenas que podem enfraquecer a populao
diminuindo seu contingente.
a vida, mais do que o corpo, que est em jogo agora, e tudo o que a cerca desde o
nascimento at a morte, isto que a biopoltica gerenciar.
O segundo - a Biopoltica que se formou um pouco mais tarde, por volta da
metade do sculo XVIII, centrou-se no corpo-espcie, no corpo transplantado
pela mecnica do ser vivo e como suporte dos processos biolgicos: a
proliferao, os nascimentos e a mortalidade, o nvel de sade, a durao da vida,
a longevidade, com todas as condies que pode faz-los variar; tais processos
so assumidos mediante toda uma srie de intervenes e controle reguladores:
uma bio-poltica da populao (FOUCAULT, 1988, p. 151-152).
Como nos claro, a biopoltica faz uma inverso do princpio de soberania, vimos
como ele age de forma positiva sobre a populao, agora nos resta entender como ele pode
agir de forma negativa, criando mecanismos que no incitam a vida, mas a morte.
BIOPOLTICA OU TANATOPOLTICA?
O paradoxo que biopoltica instaura :
138
Como um poder como este pode matar, se verdade que se trata essencialmente
de aumentar a vida, de prolongar sua durao, de multiplicar suas possibilidades,
de desviar seus acidentes, ou ento de compensar suas deficincias? Como,
nessas condies, possvel, para um poder poltico, matar, reclamar a morte,
pedir a morte, mandar matar, dar ordem de matar, expor morte no s seus
inimigos mas mesmo seus prprios cidados? Como esse poder que tem
essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? Como exercer o
poder de morte, como exercer a funo da morte, num sistema poltico centrado
no biopoder (FOUCAULT, 2010a, p. 214).
A morte na biopoltica no visto como algo que deva ser evitado, mas sim gerenciado,
isso porque a morte no mais um uma coisa extrnseca vida, mas sim, intrnseca a ela.
Em suma, a morte no mais o negativo extremo da vida, mas o cume de todo um
processo vital do qual lhe imanente. Jocosamente falando: tambm faz parte da vida
morrer (NALLI, 2012, p.168-169). Para manter a populao viva ser necessrio extirpar
tudo aquilo que representa um perigo para ela, tudo aquilo que enfraquea a populao,
pois, se essa nova modalidade de exerccio do poder tem como escopo garantir a
sobrevivncia dos ditos dignos de viver, se faz necessrio que os proteja. Porm, como
proteg-los? Como dissemos, eliminando tudo aquilo que prejudicial populao, como
fez o Estado Nazista, quando era de seu intuito proteger a raa ariana, eliminando os
judeus, que representava um perigo para o povo alemo.
Quanto mais as espcies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivduos
anormais forem eliminados, menos degenerados haver em relao espcie, mais eu
no enquanto individuo mas enquanto espcie viverei, mais forte serei, mais vigoroso
serei, mais poderei proliferar (FOUCAULT, 2010a, p. 215).
O poder de matar do soberano ficou cada vez mais difcil de ser exercido quando
aparece essa nova tecnologia de poder no final do sculo XVIII, porm ele no ser
eliminado, mas tambm s poder ser invocado quando se trata de eliminar um perigo
biolgico, ou quando visa o fortalecimento da dita raa superior, digna de prevalecer sobre
outra.
So mortos legitimamente aqueles que representam uma espcie de perigo
biolgico para os outros... Em outras palavras, tirar a vida,o imperativo da morte,
s admissvel, no sistema de biopoder, se tende no a vitria sobre os
adversrios polticos, mas eliminao do perigo biolgico e ao fortalecimento,
diretamente ligado a essa eliminao, da prpria espcie ou da prpria raa
(FOUCAULT, 2010a, p. 215).
139
As lutas a partir de agora no se travam mais em relao figura do soberano que deve
ser protegido, nem da sociedade, mas visando a populao. em nome da existncia de
todos que sero autorizados os holocausto que assistimos no sculo XX, foi por uma
necessidade de viver que os regimes mataram tanto, que categorias inteiras forem levadas
destruio, no por uma irracionalidade do poder, mas, e a que nos vem o choque, por
uma racionalidade levado ao paroxismo. Se no sculo passado os Estados totalitrios
fizeram grandes holocaustos em suas populaes, no foi por que ali reinava um poder que
tinha por finalidade suprimir a vida, mas pelo contrrio, ali atuava um poder que tinha
como escopo aumentar a vida da raa dita digna de viver.
Contudo, jamais as guerras foram to sangrentas como a partir do sculo XIX e
nunca, guardada as propores, os regimes haviam, at ento, praticado tais
holocaustos em suas prprias populaes. Mas esse formidvel poder de
morte...apresenta-se agora como complemento de um poder que se exerce,
positivamente, sobre a vida que empreende sua gesto, sua majorao, sua
multiplicao, o exerccio, sobre ela, de controles precisos e regulaes de
conjunto (FOUCAULT, 1988, p. 149).
Esse efeito mortfero da bipolitica assegurado pelo dito princpio de soberania, que
dava ao rei o direito de matar quando sua pessoa era ameaada. A figura do rei j no
mais o que se deve protegido, mas graa a um direito advindo dela que ultimamente se
tem praticado o direito de matar, que pode ser aplicado de duas formas:
A morte pode ser incitada e produzida biopoliticamente, basicamente, de dois
modos: (a) numa estratgia no sacrificial pela qual os indivduos cuja vida fora
julgada perniciosa e, portanto, podem ser dispensada com as dos doentes
mentais franceses, poca do regime de Vichy, que foram abandonados sua
prpria sorte, de modo que milhares morreram desesperadamente de fome... ou
ento aquelas mortes administrativamente aceitveis diante de um quadro
estatisticamente benfazejo de proteo maioria da populao; (b) ou por meio
de estratgias evidente e diretamente genocidas, como os campos de
concentrao ou nos Gulags, que introduziram tcnicas de morte, seja pelo
trabalho forado, seja pelas cmaras de gs... Mas at que ponto o homicdio de
Estado impetrado por diversos Estados norte-americanos, sob a gide legal da
pena de morte, pertence a uma economia poltica distinta? No de certo modo a
eliminao de uma vida perniciosa para garantir a vida qualitativamente
desejvel e boa da maioria? (NALLI, 2012, p.73).
Para poder reclamar a morte, alm do princpio de soberania, o biopoder precisa do
Racismo de Estado, faz uso dele para reclamar esse ponto secreto que agora faz parte da
140
vida, para poder retirar a vida dos indivduos que so tidos como perniciosas espcie o
racismo se torna indispensvel em um horizonte biopoltico.
Quanto mais racista um Estado for, mais assassino ele ser, por exemplo, o Estado
nazista, que se caracteriza por ser um Estado extremamente racista, s matou inmeras
pessoas por ter levado o biopoder aos seus limites mais extremos, ou seja, o biopoder, s
pode atuar graas ao Racismo de Estado, que antes mesmo de Hitler assumir o poder em
1933, j havia enraizado no povo alemo um sentimento anti-semita, de modo que a
palavra alemo tornava-se para eles, na verdade, uma noo tica, que opunha de modo
taxativo a tudo que lhes era estranho... Constituram-se sobretudo de ideologias
defensivistas na base do nacionalismo e do racismo, que se apresentavam como doutrinas
salvadoras de um mundo em perigo (FEST, 1991, p. 27).
REFERNCIAS
CASTRO, Edgardo. Vocabulrio de Foucault- um percurso por seus temas, conceitos e
autores. (trad. Ingrid Mller Xavier). Belo Horizonte: Autntica Editora, 2009.
DREYFUS, Hubert L. RABINOW, Paul: Michel Foucault, uma trajetria: para alm do
estruturalismo e da hermenutica. (trad. Vera Porto Carrero). Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 1995.
ERIBON, Didier. Michel Foucault, 1926-1984. (trad. Hildegard Feist). So Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
FEST, Joachim. Hitler. (trad. Analcia Teixeira Ribeiro). Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1991.
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade I: A vontade de saber. (trad. Maria Thereza
da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque). Rio de Janeiro: Graal, 1988.
__________. Em defesa da sociedade: curso no collge de France (1975-1976). (trad. Maria
Ermantina Galvo). So Paulo: Martins Fontes, 2010a.
__________. Os anormais: curso no collge de France (1974-1975). (trad. Eduardo Brando).
So Paulo: Martins Fontes, 2010b.
__________. Vigiar e Punir: nascimento da priso. (trad. Raquel Ramalhete). Rio de Janeiro:
Vozes, 2010c.
__________. Microfsica do poder. (tad. Roberto machado). Rio de Janeiro: Edies Graal,
1979.
141
NALLI, Marcos. A imanncia normativa da vida (e da morte) na anlise foucaultina da
biopoltica: uma resposta a Roberto Esposito. In. Muricy, Katia (org). O que nos faz pensar.
Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012 p. 149-174.
142
A EMANCIPAO POLTICA E OS DIREITOS DO HOMEM EGOSTA: MARX E A
SOCIEDADE MODERNA.
Andr Ferreira.
Universidade Estadual de Londrina
andresilvaferreira@gmail.com
RESUMO
Nesta comunicao, temos como objetivo, apresentar a crtica que Karl Marx faz
emancipao poltica, nos textos de incios dos anos quarenta do sculo dezenove. J em
1843, Marx havia chegado concluso de que a demanda por livrar o Estado das suas
deficincias, se analisada por completo, resulta na demanda pela dissoluo deste
(ARTHUR, 1974 apud MARX, ENGELS, 1974, p. 5). Este o ponto de culminncia da
discusso que apresentamos neste trabalho. Desde os anos da sua formao, na
universidade de Berlim, Marx esteve envolvido na discusso acerca da emancipao
poltica. Nos crculos que o filsofo de Trier frequentou durante a juventude, a idia da
emancipao poltica, tornada efetiva em outras naes, era palavra de ordem. Marx, no
entanto, logo comea a divergir dos companheiros que estavam lutando pela emancipao
poltica, pelo Estado moderno. Em uma polmica contra um dos principais nomes da sua
gerao, dos frequentadores dos clubes aos quais se associou, Marx comea a mostrar a
limitao, o significado limitado, da emancipao poltica. O filsofo de Trier torna
explcita a relao existente entre a constituio do Estado moderno e o dilaceramento do
gnero humano em tantos indivduos, egostas, fechados em si mesmo, na esfera privada,
quantos forem os homens determinados, vivos, concretos. A emancipao poltica, no
limite, mostra-se como o acabamento, a forma acabada, da separao entre gnero, ser
genrico, social, e o indivduo determinado. Nesta discusso Marx torna explcita a relao
existente entre a sociedade civil e a emancipao poltica. Esta ltima no nada mais do
que a emancipao dos elementos que compe a sociedade civil, os homens egostas e sua
propriedade. Isto fica expresso no fato de que os direitos naturais do homem que orientam
o Estado so, em ltima instncia, os direitos do homem egosta, tal como ele aparece na
sociedade civil.
Palavras-chave: Emancipao Poltica; Sociedade civil; Homem egosta; Propriedade
privada.
O texto a seguir a apresentao dos resultados parciais da pesquisa realizada para
nossa dissertao de mestrado. Neste texto, o objeto que orienta a argumentao a crtica
que Karl Marx dedica emancipao poltica. Em um primeiro momento rascunhamos
uma caricatura do ambiente em que Marx se envolve com a discusso. O ponto seguinte
dedicado a uma caracterizao da emancipao poltica. O objetivo chamar ateno para
as relaes entre a emancipao poltica e a sociedade civil. No prximo passo procuramos
explicitar que os direitos do homem, o alvo da emancipao poltica, esto intimamente
ligados com as demandas da sociedade civil. Por todo o texto podemos observar a sombra
143
da emancipao humana, que Marx contrape emancipao poltica. Infelizmente, o
espao desta comunicao no nos permite definir esta ltima de maneira positiva, no texto
ela sempre aparece negativamente, sabe-se o que ela no . No entanto a falta de definio
do que seja emancipao humana, neste momento, no significa prejuzo nenhum para a
compreenso do tpico.
A sociedade feudal foi dissolvida no seu fundamento [...], no homem egosta (MARX).
1. Emancipao poltica? Emancipao humana!
O tema da emancipao poltica encarnada na figura do estado moderno, da
sociedade liberal, fruto das conquistas das revolues burguesas que tiveram lugar desde o
sculo dezessete aparece de maneira muito clara, no ambiente cultural em que Karl Marx
(1818 1883) viveu. Desde os anos de sua formao, do seu amadurecimento intelectual,
este pensador esteve em contato com esta problemtica. Em incios da dcada de trinta do
sculo dezenove o jovem de Trier muda-se de Bonn para Berlim. Na universidade de
Berlim este se aproxima de um grupo de jovens estudantes da filosofia de Hegel,
conhecidos como os jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda. Marx comea a
participar das discusses do grupo de estudos destes, chamado Doktor Klub. E toma parte
no debate a respeito da sociedade alem do seu tempo.
Neste perodo, a situao do pas que viu Marx, Feuerbach, Bruno Bauer, Strauss, e
outros companheiros do clube dos doutores nascerem, era descrita como miservel. O
estado de coisas era tal que de fato o termo misria alem empregado para se referir
situao da confederao germnica naquele momento. No prlogo escrito para a edio
brasileira de Para questo judaica, de Marx, Jos Paulo Netto nos adverte que no se
tratava apenas da penria material da massa da populao: tratava-se, antes, da situao
sociopoltica alem [...]. O mais importante dado da misria alem era o atraso das suas
instituies sociopolticas. (NETTO, 2009 apud MARX, 2009, p. 10).
Os rumos que pases como Frana e Inglaterra haviam tomado, em direo
modernizao, ao estado laico, a sociedade liberal, seduziam os associados do Doktor
Klub. O ponto que os une a crtica das instituies da sociedade alem, instituies estas
que como o prprio Marx salienta na introduo, que escreve para a sua Crtica da
filosofia do direito de Hegel, produzida em finais de 1843 incios de 1844 representavam
a resistncia, a existncia prolongada, e em certa medida j anacrnica, do ancien rgime.
144
A confederao germnica, em flagrante oposio aos Estados modernos, era
formada por um conjunto de Estados com sistemas de representao poltica
diversificados e restritivos, inexistncia de laicizao de fato, burocracias de raiz feudal, e
uma inequvoca dominao da nobreza fundiria. (NETTO, 2009 apud MARX, 2009, p.
11 12). A batalha que se desenrolava, no ambiente cultural em que Marx viveu sua
juventude, era entre os ideais liberais de emancipao poltica e social e as instituies do
mundo feudal, que, em certa medida, ainda persistiam.
Marx, no entanto, logo comea a se distanciar, em aspectos fundamentais, destes
colegas de estudos. justamente em uma polmica contra um ex-companheiro do clube
dos doutores que este filsofo encontra a oportunidade para marcar sua posio em
relao ao Estado moderno e emancipao poltica. O ano 1843, o texto, Para a
questo judaica um comentrio de Die Judenfrage de Bruno Bauer.
O texto de Bauer parte de um debate com limites regionais, a contenda entre os
Judeus alemes e o Estado da Rennia, envolvendo a emancipao dos primeiros, a
reivindicao por liberdade de culto. So Bruno para lembramos o modo sarcstico
com que Marx ir se referir a ele da a algum tempo nA sagrada famlia comea sua
interveno na discusso, rejeitando a possibilidade de que o Estado Cristo emancipe
quem quer que seja, e vai alm, dizendo que ao invs de exigir junto a este Estado a
emancipao, o que, tanto Judeus como Cristos, deveriam fazer renunciar a religio, e
demandar um Estado Laico. A argumentao marxiana, na crtica do texto de Bauer, segue
rumo a um problema que extrapola os limites regionais desta querela entre os judeus
alemes e o Estado. O ponto de culminncia do desenvolvimento argumentativo de Marx
a definio dos limites da emancipao poltica reclamada por Bauer e pelos outros
doutores e a diferenciao desta em relao emancipao humana.
Na apresentao escrita para a edio inglesa de A Ideologia alem, Christopher
John Arthur chama ateno para o fato de que j em 1843, Marx havia chegado
concluso de que a demanda por livrar o Estado das suas deficincias, se analisada por
completo, resulta na demanda pela dissoluo deste. (ARTHUR, 1974 apud MARX,
ENGELS, 1974, p. 5). Mesmo o Estado na sua forma acabada, na figura do Estado
Moderno, Laico, no capaz de emancipar o gnero humano, permitir que ele experimente
a liberdade gravada na sua essncia. A emancipao poltica, palavra de ordem entre os
jovens hegelianos, a reduo do homem, por um lado, a membro da sociedade civil, a
indivduo egosta independente; por outro, a cidado, a pessoa moral. (MARX, 2009, p.
145
71), abstrato. Nesta medida, ela apenas o acabamento, a forma acabada, da separao
entre indivduo e gnero.
Neste comentrio ao texto de Bauer, Marx encontra o ensejo para, assim como faria
tambm na Introduo da sua Crtica da filosofia do direito, colocar a questo do
estranhamento da essncia humana tornado efetivo nas relaes entre Estado moderno e
sociedade civil, e ainda, mesmo que de maneira tmida, exclamar a necessidade da
supresso das determinaes que esferas da existncia humana experimentam neste status
quo. Aqui Marx j est abrindo a trilha que o levar em direo teoria da emancipao do
gnero humano, a se realizar, segundo o corifeu da filosofia da prxis, na forma do
Comunismo.
2. A conjurao dos egostas.
A revoluo liberal, a liberao do homem egosta, a garantia dos direitos deste
assegurada pela universalizao da esfera poltica, marcas do Estado moderno, de
imediato, mostram-se como avanos, histricos; necessrios para trazer a Alemanha ao
menos praticamente, j que teoricamente ela estava pari passu com as naes modernas
ao mundo contemporneo. No entanto, esta emancipao , conforme lemos na Introduo
da Crtica de 1843, uma revoluo parcial, meramente poltica, revoluo que deixa de p
os pilares do edifcio (MARX, 2010, p. 154). Marx ope essa revoluo parcial
revoluo radical, a emancipao humana universal (MARX, 2010, p. 154), que
pressupe a supresso dos elementos que sustentam o Estado moderno.
Neste momento, o filsofo eleva-se da discusso sobre os rumos que a
confederao germnica poderia tomar at quela sobre os limites e deficincias da
experincia, atual, concreta, das sociedades mais avanadas do mundo moderno, cujas
caractersticas fundamentais estavam destinadas como o prprio Manifesto Comunista
nos adverte a se espalharem por toda a face da Terra. A discusso deslocada do futuro
da Alemanha, atrasada em relao s revolues burguesas, para o futuro do gnero
humano.
J na epgrafe que aparece no frontispcio deste texto est expressa, em forma
sinttica, a concluso que Marx tira do fato da emancipao poltica. Na sociedade
moderna o filsofo encontra sustentao para a tese de que a sociedade feudal foi
dissolvida no seu fundamento [...], no homem egosta. (MARX, 2009, p. 69). A
emancipao poltica, o filsofo escreve, , simultaneamente, a dissoluo da velha
146
sociedade sobre que repousa o sistema de Estado alienado do povo, o poder do soberano. A
revoluo poltica a revoluo da sociedade civil. (MARX, 2009, p. 68). Em outras
palavras, a liberao da sociedade civil do significado poltico, que as corporaes de
ofcio e os privilgios caractersticos do mundo feudal conferiam-lhe.
A revoluo poltica, conforme vemos na letra do filsofo: suprimiu... o carter
poltico da sociedade civil. (MARX, 2009, p. 69). Em The Young Karl Marx, David
Leopold nos adverte que isto o mesmo que dizer que eles (os elementos que compe a
sociedade civil) foram liberados at mesmo da aparncia de preocupao com o bem
comum. (LEOPOLD, 2007, p. 136). Com a transformao do Estado moderno no
elemento mediador, com um carter universal, abstrato, distanciado da vida concreta, a
atividade de vida determinada e a situao de vida determinada decaram para um
significado apenas individual. (MARX, 2009, p. 69). O indivduo deixa de estar em
oposio s outras corporaes e instituies feudais, por meio da corporao a que
pertence, para se colocar individualmente, de forma privada, em oposio ao gnero
humano, a todos os outros indivduos tomados de forma privada. O homem aparece como
um indivduo remetido a si, ao seu interesse privado. (MARX, 2009, p. 66).
Neste ponto o futuro crtico da economia poltica lana luz sobre o movimento
dialtico existente entre a emancipao poltica e o acabamento da esfera dos assuntos
privados do homem egosta. No Estado moderno a poltica diz respeito a todo indivduo,
os assuntos pblicos, como tais, tornaram-se antes assunto universal de cada indivduo
(MARX, 2009, p. 69). No entanto, no se pode perder de vista que, em ltima instncia,
so os interesses do homem egosta, que esta esfera universal defende. Marx observa que o
citoyen, ou seja, o homem poltico, um servidor do homme egosta. O Estado
moderno nada mais do que a garantia dos direitos do homme, i.e., do membro da
sociedade civil. -A segurana, observa o filsofo, o supremo conceito social da
sociedade civil, o conceito da polcia, porque a sociedade toda apenas existe para garantir a
cada um dos seus membros a conservao da sua pessoa, dos seus direitos e da sua
propriedade. (MARX, 2009, p. 65).
3. Os direitos do homem.
A emancipao poltica que concretamente significa: a subverso de um status
quo em que a nobreza, o clero da igreja catlica, e a monarquia absolutista, impunham-se,
ou, os seus interesses, quela esfera que vai constituir a sociedade civil suprime a
147
alienao da esfera poltica em relao sociedade civil, na medida em que transforma as
demandas desta ltima em princpios universais que passam a orientar a primeira. Quando
Marx exclama que a revoluo poltica a liberao da sociedade civil da poltica, o que
ele est fazendo no outra coisa seno nos lembrar que: os privilgios, as supersties, e
a autoridade, as marcas tpicas e fundamentais do mundo feudal, que se emaranhavam com
a vida concreta, e determinavam as possibilidades da ao, foram retiradas do caminho da
sociedade civil, dos produtores, particulares, pelas prprias mos, tornadas to hbeis pela
prtica, destes sujeitos. No s a poltica deixa de determinar a vida da sociedade civil,
como, em um movimento inversamente proporcional, a sociedade civil passa a determinar
a esfera poltica. David Leopold pe a questo nos seguintes termos: A constituio do
estado poltico e a dissoluo da sociedade civil nos indivduos independentes [] so
realizadas em um s ato. (LEOPOLD, 2007, p. 138).
Os ideais que o Estado moderno torna efetivo no so a expresso da vontade, da
sabedoria, da iluminao, provindas do carter divino, de um homem, do Soberano,
colocado em uma esfera fora do domnio pblico. Pelo contrrio, este Estado , justamente,
a retirada da poltica das mos particulares deste Soberano e a transferncia desta para as
mos dos membros da sociedade civil. O que este Estado esta encarregado de efetivar da
em diante so os direitos naturais do homem. A baliza que serve de referncia a
generalizao do homem tal como ele aparece na sociedade civil. O homem, natural, o
burgus, e os direitos naturais e imprescritveis deste so: a igualdade, a liberdade, a
segurana, a propriedade. (MARX, 2009, p. 63). Em Para a questo judaica Marx
observa que nenhum dos chamados direitos do homem vai [...] alm do homem egosta,
alm do homem tal como ele membro da sociedade civil, a saber: [um] indivduo
remetido a si, ao seu interesse privado e ao seu arbtrio privado. (MARX, 2009, p. 65
66).
Antes de tudo, adverte Marx, constatemos o fato de que os chamados direitos do
homem [...], no so outra coisa seno os direitos do membro da sociedade civil [burguesa]
i.e., do homem egosta, do homem separado do homem e da comunidade. (MARX, 2009,
p. 63). O sentido que o direito liberdade sob o qual o Estado moderno se funda tem,
limita-se pelas demandas da vida prtica na sociedade civil. - A liberdade, afirma o
filsofo, , portanto, o direito de fazer e empreender tudo o que no prejudique nenhum
outro. (MARX, 2009, p. 63). Para aqueles produtores que se livraram das guildas, e se
isolaram, trancados na esfera privada, a liberdade significa: o direito desse isolamento, o
148
direito do indivduo limitado, limitado a si (MARX, 2009, p. 64). Em suma, podemos
dizer que, aqui, trata-se da liberdade do homem como mnada isolada, virada sobre si
prpria. (MARX, 2009, p. 64).
Neste reino do egosmo, a propriedade privada o elemento que media as relaes
que os homens estabelecem entre si. A aplicao prtica do direito humano liberdade,
Marx escreve, o direito humano propriedade privada. (MARX, 2009, p. 64). Em
ltima instncia, o objeto que est no centro, em foco neste quadro em que a liberdade
humana pintada com as cores e os traos tpicos da burguesia o direito de,
arbitrariamente, sem referncia a outros homens, independentemente da sociedade gozar
a sua fortuna e dispor dela; o direito do interesse prprio. (MARX, 2009, p. 64).
Estes direitos naturais do homem expressam as caractersticas fundamentais do
mundo moderno, burgus. Marx salienta que aquela liberdade individual, assim como esta
aplicao dela, formam a base da sociedade civil. (MARX, 2009, p. 64). Atravs do
direito fundamental liberdade a sociedade civil v sancionado o estado de coisas que ela
produz: o homem egosta, isolado do gnero humano, sentado em cima da sua propriedade
privada. A galit, Marx afirma por fim, no seno a igualdade da libert acima
descrita, a saber: que cada homem seja, de igual modo considerado como essa mnada que
repousa sobre si [prpria]. (MARX, 2009, p. 64 - 65). Os direitos do homme, no limite,
dispem sobre contedo da vida da sociedade civil, tendo como axioma o homem egosta,
isolado do, e mesmo oposto ao gnero humano.
4. Concluso.
A emancipao poltica a institucionalizao da idiossincrasia do homem egosta.
A liberdade do homem egosta e o reconhecimento dessa liberdade Marx escreve, [...]
o reconhecimento do movimento desenfreado dos elementos espirituais e materiais que
formam o seu contedo de vida. (MARX, 2009, p. 70). Esta representa o ltimo passo, a
forma acabada, do homem estranhado de si. Neste momento o homem no foi [...]
libertado da religio; recebeu a liberdade de religio. No foi libertado da propriedade.
Recebeu a liberdade de propriedade. No foi libertado do egosmo do ofcio, recebeu a
liberdade de ofcio. (MARX, 2009, p. 70). A limitao da emancipao poltica mostra-se
no fato de que esta no liberta o ser humano, no torna o homem consciente de si mesmo,
enquanto um ser genrico, social, mas antes, afunda de vez os indivduos na sua
particularidade, egosta, finita, limitada.
149
REFERNCIAS
LEOPOLD, D. The young Karl Marx: German philosophy, modern politics, and human
flourishing. New York: Cambridge University Press, 2007.
MARX, K. ENGELS, F. The German ideology. 2. ed. London: Lawrence & Wishart, 1974.
MARX, K. Crtica da filosofia do direito de Hegel. Trad. Rubens Enderle, Leonardo de
Deus. 2. ed. So Paulo: Boitempo, 2010.
_________ Para a questo judaica. Trad. Jos Barata-Moura. So Paulo, Expresso
Popular, 2009.
150
CONSIDERAES FREUDIANAS ACERCA DA FELICIDADE
Weisell Gomes Neves
Universidade Estadual de Londrina
weisellgn@hotmail.com
RESUMO
A Proposta que aqui ser apresentada v o potencial dessa discusso em um autor pouco
lembrado em seus feitos filosficos, a saber, Sigmund Freud. Com base nos textos Totem e Tabu
(1913-14) e O Futuro de uma Iluso (1927), passaremos a buscar apontamentos que nos levem a
entender como o psicanalista compreeende a felicidade e como esse conceito to complexo pode
ser visto em uma civilizao ou uma cultura, compreendendo a cultura ou civilizao como
srios complicantes ao indivduo que busca sua felicidade, j que em uma sociedade sempre
determinante limitar os direitos indivduais em vista de um bem maior e coletivo, alm do fato de
haver uma parcela de coercividade nas civilizaes contemporneas. Sempre ao longo do
pensamento filosfico discute-se sobre qual seria o sentido ou a finalidade da vida, e com
algumas respostas chega-se ideia de que a finalidade da vida a vida feliz, porm muitas
divergncias se formam quando o objetivo definir de modo claro o que a felicidade enquanto
o conceito fundamental da existncia humana. Esta discusso de suma importncia para a
filosofia estende-se desde a antiguidade e podemos lembrar aqui de Aristteles como um
representante dessa discusso, passando ainda por vrios outros pensadores clssicos como
Agostinho, Immanuel Kant, e ainda alguns filsofos contemporneos, como Habermas,
Heidegger, e muitos outros que ainda poderiam ser lembrados. A perspectiva freudiana de
felicidade uma proposta que analisa do ponto de vista libidinal o ponto em questo, ou seja, a
felicidade dos indivduos estaria segundo o autor, estritamente ligada sexualidade e sendo
assim o indivduo compreendendo sua sexualidade conseguiria ter uma vida mais prxima do
que se possa chamar feliz, j que Freud no v a possibilidade de felicidade plena. ento a
partir desse grupo de ideias freudianas que desenvolver-se- a pesquisa a seguir tendo por foco
sempre a anlise feita por Freud nos textos acima citados, porm sem desconsiderar outros textos
de suma importncia em sua estupenda obra literria.
Palavras-chave: Freud; Felicidade; Cultura; Civilizaes; Libidinal.
RELAO ENTRE A FELICIDADE E O AMOR SEXUAL, EM UMA CIVILIZAO
ORGANIZADA
A pesquisa que ser apresentada aqui ter por base duas questes a respeito do tema
de como Sigmund Freud analisa a relao da civilizao com a felicidade humana; primeira
questo como pode a cultura ou civilizao interferir na busca por felicidade? E segunda ser
que nem ao menos possvel alcana-la em um contexto civilizado? De acordo com a tese de
Freud a felicidade humana teria sua gnese no amor sexual e assim os indivduos
conseguiriam experimentar a mais prxima da felicidade plena possvel, quando
determinarem para si objetos sexuais e os alcanarem satisfatoriamente. Essa ideia de Freud
151
sobre a felicidade traz consigo uma interdependncia entre o sujeito e o objeto sexual
escolhido (FREUD, 2011, p. 46). Devemos nesse instante nos pr a entender melhor essa
relao entre o amor e a felicidade e a respeito disso que nos ocuparemos a seguir.
A civilizao original segundo o autor uma evoluo da famlia originria, sendo
que o macho que tinha como foco final de sua existncia a busca por satisfao sexual, sendo
assim optou por manter seu objeto libidinal prximo de si (a famlia original no
necessariamente monogmica, porm mesmo que houvesse a eleio de vrias fmeas o
mesmo processo seria possvel), a fmea
28
por sua vez necessitava de proteo, pois estava
em meio a vrios machos e outras fmeas que fossem mais fortes do que ela e poderiam lhe
fazer mal e at mesmo mata-la, portanto escolheu eleger um macho que lhe desse um
sentimento de proteo; por ultimo os filhotes que so provavelmente o ponto mais delicado
da teoria freudiana, eles alimentavam um amor sexual por suas mes e por isso deveriam ficar
prximos a elas a fim de alcanar satisfao.
A explicao que foi feita acima definiu a formao da famlia original como a
gnese da civilizao original, j que apresentamos de modo razoavelmente simplista acho
interessante observarmos nas palavras de Freud: Assim o macho teve um motivo para
conservar junto a si a mulher ou, de modo mais geral os objetos sexuais; as fmeas, que no
queriam separar-se de seus filhotes desamparados, tambm no interesse deles tinham que ficar
junto ao macho forte. (Idem, p. 44).
Quando buscamos um modo de apresentar as possibilidades da felicidade em uma
civilizao nos deparamos com a definio de amor, assim como tambm na definio de
famlia, segundo Freud o amor que antes compunha a famlia est ainda presente na
civilizao, o autor parece dividir esse amor em trs tipos, amor genital, amor inibido na
meta e uma forma de amor em que ele no separa claramente mais que pode ser
compreendido como amizade. Salvando as representativas medidas uma civilizao
composta dos trs tipos de amor em relao contnua entre si, com isso devemos agora
entender cada definio de amor separadamente.
O amor genital representa o centro das aes dos indivduos , portanto o mais forte
dentre os trs, funcionada do seguinte modo, aps ter determinado para si o objeto sexual de
28
Freud ao descrever a famlia utiliza-se da unio entre um macho e uma fmea, porm por uma questo
histrica e cultural e no por homofobia, alm do fato que caso houvesse uma unio homossexual o processo
seria o mesmo, sendo que em grande parte dos casos h ainda uma figura de macho e fmea.
152
desejo o indivduo apresenta determinadas aes com a finalidade de alcanar e satisfazer esse
amor genital, ou seja, essas aes so movidas por uma fora psquica originada na libido dos
indivduos, mas que no restritamente sexual como se todas as aes tivessem como plano
de fundo a libido sendo elas aes sexuais ou no. O amor inibido na meta definido por
Freud como um amor que sofreu recalque na instituio familiar e civilizatria, isso por que
segundo o autor a natureza dos homens tem uma vontade sexual insacivel que
impossibilitaria a vida em famlia e em sociedade, portanto na instituio familiar primeira ele
inibido por uma problemtica maior que da sobrevivncia facilitada em sociedade e em
famlia, troca-se a facilidade alcanada pelo direito de agir com livre sexualidade. Por ltimo
a amizade que por sua vez produto do amor inibido na meta, sendo que ele apresenta vrias
caractersticas que o amor genital no permitiria entre eles a exclusividade, por exemplo,, o
amor genital mesmo que inconscientemente prev uma exclusividade e isso pode ser visto nos
cimes ou em outras aes do tipo, enquanto a amizade apesar de ainda no estar
completamente livre desses cimes, tem uma menor exigncia de exclusividade (Idem, p. 46)
e paralelo ao amor inibido na meta j que quando se restringe o direito de exercer livremente
a sexualidade os indivduos encontram outras formas de satisfao dentre elas est atividades
que possam ser feitas entre amigos, assim a amizade pode ser vista como um escape de
energia libidinal.
A partir desses trs tipos de amor a sociedade se ergue comeando pela famlia e
posteriormente com a unio de vrias famlias a civilizao maior, porm essa ideia de
unidade das vrias famlias traz um problema crucial para esta pesquisa, qual seja, para que as
famlias possam unir-se em uma sociedade tambm devem sofrer restries e segundo Freud
quanto mais famlias comporem essa unio maior o nmero de restries a cada uma delas,
ento onde reside em grande parte a dificuldade de ser feliz em comunidade, ou seja, h
sempre uma necessidade de renncia cada vez mais perturbadora ou haver conflito.
Essa tese com relao aos filhotes elegerem a me como objeto sexual alvo de
grande resistncia de outros tericos entre eles citarei apenas Gilles Deleuze, esse filsofo
francs do sculo XX um grande crtico do pensamento freudiano; e em seu texto
denominado O Anti-dipo juntamente com Felix Guatarri, o autor demonstra grande
insatisfao pela tese psicanaltica. Porm antes de entendermos a crtica de Deleuze vamos
apresentar rapidamente a tese freudiana do Complexo de dipo. Primeiramente o termo
derivado da tragdia de Sfocles chamada de dipo Rei (427 a.C.), na tragdia grega de modo
153
bem resumido aps alguns acontecimentos um heri chamado dipo assassina seu pai e casa-
se com sua me e mantem essa relao incestuosa sem saber, porm ao descobrir que seu
objeto sexual era a prpria me ele acaba por arrancar seus olhos. Mesmo que seja breve essa
sntese j servir para entendermos do que se trata a tese de Freud, o autor acredita que a
criana retira de sua me o primeiro objeto de desejo libidinal a partir do seio dela, j que na
infncia primeira a criana tem dificuldades em discernir aquilo que deseja e aquilo que
necessita, ou seja, o alimento (leite materno) do desejo (seio materno). Com isso a criana
alimenta um amor sexual pela me e com o passar do tempo e das observaes feitas por essa
criana ele cria uma averso figura do pai j que este representa o macho que consegue
extrair o prazer dela, mesmo a criana no compreendendo ao certo o que seja o prazer, ele
parte da observao do espao de convvio percebe que tem de dividir aquilo que mais deseja
com outro indivduo, ento com isso a criana se v na mesma situao de dipo, porm sem
que possa concretizar seu desejo que matar o pai e casar-se com a me, e aqui se instala o
primeiro grande recalque.
A crtica de Deleuze no estritamente com relao ao complexo de dipo, mas sim
com relao ao inconsciente como um todo, o filsofo acredita que as aes humanas devem
ser observadas a partir de um plano inconsciente criativo, diferente do que dizia Freud, os
homens agem de acordo com sua vontade, e esse o ponto crucial dessa crtica, segundo
Deleuze o modo como a psicanlise freudiana compreende o inconsciente seria um modo de
tentar analisar algo que no passvel de compreenso que um impulso criativo, esse
impulso o que move o homem em suas aes e sua produtividade, e quando se tenta
quantificar ou cientificar essa criatividade estabelece-se o erro, e isso que ele acredita fazer
a psicanlise. Nas palavras de Deleuze e Guatarri:
Como que a psicanlise consegue reduzir o neurtico a uma pobre criatura que
consome eternamente o pap-mam, e nada mais? Como que se pde reduzir a
sntese conjuntiva do Afinal era isto! , do Afinal sou eu, eterna e triste
descoberta do dipo, Afinal o meu pai, afinal a minha me... No podemos
ainda responder a estas questes. Para j, vemos apenas como o consumo de
intensidades puras estranho s figuras familiares, como o tecido conjuntivo do
Afinal! estranho ao tecido edipiano. (2004, p. 24-25)
A linguagem de Deleuze e Guatarri dificulta um pouco a compreenso, porm
possvel interpretarmos esse trecho de acordo com a tese deles em que equipara os homens a
Mquinas Desejantes, desse modo o foco de movimento de um indivduo so seus desejos
sejam eles de qualquer origem possvel, com isso percebemos que tentar analisar ou
quantificar isso atravs de um estudo do inconsciente incabvel para os autores.
154
Voltando a compreenso da vida feliz e da sociedade nos chegamos ideia de que
alm de um constante conflito de interesses individuais h ainda outro grande problema na
vida em uma civilizao, a falta de fora psquica suficiente nos indivduos. Isso deve ser
observado da seguinte forma, o macho que vive em sociedade submetido a vrias tarefas
que sublimam em parte suas atividades instintivas mais bsicas, com isso h uma regulao
dos instintos e grande parte do poder libidinal que compe o sujeito acaba se dissipando
fazendo com que lhe falte energia psquica para gastar com a atividade que o aproxima da
felicidade que a atividade plenamente libidinal com seu objeto sexual. Essa falta de energia
psquica tambm reflete uma insatisfao na fmea que compe o contexto familiar, fazendo
com que os conflitos existentes na civilizao maior venham a existir tambm em sua famlia
e isso gera ainda mais restries para o macho e para a fmea, cito Freud:
Depois so as mulheres que contrariam a corrente da civilizao e exercem a sua
influncia refreadora e retardadora, elas, que no incio estabeleceram o fundamento
da civilizao atravs das exigncias de seu amor. As mulheres representam os
interesses da famlia e da vida sexual. [...] Como o indivduo no dispe de
quantidades ilimitadas de energia psquicas, tem que dar conta de suas tarefas
mediante uma adequada distribuio da libido. Aquilo que gasta para fins culturais,
retira na maior parte das mulheres e da vida sexual: a assdua convivncia com
homens, a sua dependncia das reaes com eles o alienam inclusive de seus deveres
como marido e pai. (Idem, p. 48-49).
Freud ao fazer esses apontamentos mostra que a felicidade mesmo que seja parcial e
imperfeita em grande medida difcil de se alcanar tanto no estado pr-civil como em uma
civilizao ou at mesmo em uma famlia. Essa proposta faz-se ainda mais clara quando
recorremos s definies de Ego e Id, por exemplo, o Ego pode ser definido inicialmente
como a parte racional do indivduo, isso j traz consigo a ideia de uma instncia que restringe
o Id quando necessrio, sabendo que o Id o inconsciente primitivo nos homens e apresenta-
se nas aes mais primitivas como vontade sexual ou desejo de morte por exemplo. O
indivduo que hipoteticamente alcana-se a felicidade plena j teria em si toda restrio que
fosse necessria e ento a civilizao representa um excesso de restrio, com relao a isso
Theodor Reik apresenta a seguinte tese:
Sob a ao do conhecimento, sses impulsos em partes so aproveitados em
finalidades mais altas. O desenvolvimento cultural subjulga-os rapidamente e
aproveita sua energia em seu prprio benefcio. Esta formao mental, altamente
organizada, que conhecemos com o ego rejeita a poro restante do mesmo
impulso elementar como intil, ou porque sses impulsos no se acomodam
unidade orgnica do indivduo, ou porque entram em conflito com suas finalidades
culturais. (REIK in NELSON , 1959, p.34)
155
A tese de Reik mostra a fragilidade do sistema cognitivo humana, trazendo uma
grande dificuldade em conciliar as exigncias culturais e os impulsos individuais.
Havendo encontrado tantas dificuldades no que diz respeito vida feliz interessante
analisar uma das possibilidades de encontrar a satisfao necessria para a felicidade, segundo
a observao que vem sendo feita at aqui os indivduos que buscam a vida feliz podem
apoiar-se no amor que reside na constituio familiar. A satisfao do amor genital no
contexto familiar e ainda a existncia das amizades parece ser algo muito prximo da
felicidade para quem vive em sociedade segundo Freud, cabe saber se o homem que
submetido a essas restries ficaria satisfeito com tal parcela de prazer que proporcionada
por sua famlia e amigos.
imprescindvel discutir a felicidade humana sem que entremos na questo sobre a
finalidade da vida; nesse ponto deve-se lembrar de que Freud rejeitava a teoria religiosa, e
quando observarmos Totem e Tabu o autor admite que a civilizao instalou-se sobre um
molde religioso primitivo e por muito mantem-se at os dias atuais. Uma questo que pode ser
pertinente nesse momento a seguinte: em uma sociedade que segue firmemente bases
religiosas no seria mais fcil encontrar a felicidade? Se Freud concordasse com isso seria
realmente mais fcil de concluirmos nossa pesquisa, porm receio que a resposta para tal
questo no. Segundo o autor a religio repousa sobre uma iluso e como tal no passaria de
uma medida que estaria restringindo a satisfao dos fortes prazeres sem trazer nada real
em troca, em outras palavras a religio dificultaria ainda mais a busca por felicidade e
alimentaria o nmero de cerceamentos da libido por visa-los como pecados.
Para Freud o que deve estar no centro terico de uma civilizao a cincia, sendo
que esta proporcionaria respostas reais dos fatos que nos cercam e no traz nenhuma
militncia contra a satisfao libidinal.
Em O Futuro de Uma Iluso Freud mostra-se otimista em mostrar que a cincia em
correspondncia mtua com a educao cientifica e no mais religiosa pode vir a ser base da
sociedade deixando assim de lado a religio, porm ele mesmo percebe a dificuldade disso e
mostra-se modesto quanto a discusso do tema, cito Freud:
Ao agir assim, impe-se a ele a idia de que a religio comparvel a uma neurose
da infncia, e otimista bastante para imaginar que a humanidade superar essa fase
neurtica, tal como muitas crianas evolvem de suas neuroses semelhantes. Essas
descobertas derivadas da psicologia individual podem ser insuficientes, injustificada
156
sua aplicao raa humana, e infundado otimismo o dele. Concedo-lhes todas essas
incertezas. Mas freqentemente no podemos impedir-nos de dizer o que pensamos,
e nos desculpamos disso com o fundamento de que s o dizemos pelo que vale.
(FREUD, [1927] 2006, p. 29)
A felicidade estaria mais prxima nessa civilizao hipottica em que a razo supera
a religio e seu conjunto de crenas, isso por que o indivduo teria em si prprio quilo que
necessrio para alcanar a felicidade, ou seja, quando o indivduo deposita a felicidade em
uma instncia superior ele fica limitado a agir de acordo com a vontade de outro (Deus), e
quando a razo o princpio da felicidade ele contm em si as limitaes que acha necessrias
sem precisar apoiar-se em outra figura. Segundo Freud nessa civilizao hipottica o homem
estabelecer para si os mesmos objetos que aqueles cuja realizao voc espera de Deus [...]
a saber, o amor do homem e a diminuio do sofrimento (Idem, p.29). evidente que caso
fosse possvel o homem conhecer cientificamente a origem dos mais fortes prazeres e dos
mais temidos sofrimentos elevaria a possibilidade de se encontrar a felicidade, mesmo que
no plena
29
.
Para o autor a civilizao do modo como se segue concluir-se- em uma
predominncia da razo e mesmo os ideias e dogmas religiosos um dia ho de ceder cincia
isso por que segundo ele os indivduos cansar-se-o de esperar por uma soluo to distante
como a oferecida pela religio enquanto sofre o peso da angustiante
30
vida, esse homem
perceber que a razo uma sada muito mais palpvel e merece ser observada com
ateno.
A felicidade segundo o que foi estabelecido at aqui, est ento relacionada cincia,
no pensada como forma de estudo que formaliza as situaes para compreend-las, mas a
cincia no sentido de razo, mesmo com as implicaes encontradas nos instintos mais
poderosos e incontrolveis a razo que traz o entendimento possvel para esses instintos se
for preciso admoesta-los assim a razo nos instruir a fazer. Desse modo a relao de
momentos prazerosos e a fuga das frustraes tambm podem ser administradas pela razo,
em outras palavras com o bom uso da razo o desfrute dos prazeres mais prximo e o
afastamento das frustraes mais provvel.
29
Freud no se utiliza dessas hipteses aqui lanadas como exemplos, porm partindo da leitura de O Futuro
de Uma Iluso totalmente possvel usar o texto para perceber as implicaes que ele traz no caso de ser
aceito como tese vigente da sociedade e a isso que estas hipteses referem-se.
30
interessante observar que o sculo XX repleto de autores que compreendem a vida como um fardo, e a
angustia um tema extremamente recorrente durante esse perodo.
157
A administrao da vida atravs da razo deve ser a base para alcanar aquilo que se
pode chamar felicidade, atravs de escolhas que nos aproxime dos objetivos sexuais e afaste-
nos das frustraes de qualquer espcie. O fato que o centro da felicidade possvel o Ego
enquanto instncia necessria para a sobrevivncia em uma determinada civilizao e at
mesmo em famlia.
No fcil concluir com razovel certeza qual o molde de vida que possibilitaria
alcanar a felicidade, talvez isso nem seja possvel devido liberdade nas escolhas de objetos
sexuais dos mais variados existentes, porm com base em nossa pesquisa at aqui possvel
estabelecer algumas coisas que dificultariam chegar aos objetivos estabelecidos, sendo que a
religio enquanto iluso restringente dos prazeres um dos maiores restringentes da
felicidade e a sociedade que exerce excessiva coero tambm um dos grandes empecilhos.
De modo simplista e conclusivo pode se dizer que aquilo que aceitamos como verdade ltima
(dogma) e que nos gera limitaes sexuais ou libidinais so os afastadores da vida feliz por
mais trivial que seja, portanto no apenas a religio ou a sociedade so empecilhos para a
felicidade, mas ainda qualquer coisa que elegemos para nos mesmos como verdades ltimas
refreadoras.
REFERNCIAS
DELEUZE & GUATARRI, Gilles e Felix. O Anti-dipus: Capitalismo e Esquizofrenia 1.
Trad. Joana Moraes Varela e Manuel Maria Carrilho. Ed. Assrio & Alvin, Lisboa, Portugual,
2004.
FREUD, S. Obras Psicolgicas completas de Sigmund Freud Standard Brasileira vol. XXI. O
Futuro de uma Iluso (1927). Rio de Janeiro: Ed. Imago, 2006.
_____. O Mal-Estar na Civilizao. Trad. Paulo Csar Souza. 1 Ed. So Paulo: Penguim
Classics Companhia das Letras, 2011.
_____. Obras Psicolgicas completas de Sigmund Freud Standard Brasileira vol. XIII. Totem
e o Tabu E Outros Trabalhos (1913-1914). Rio de Janeiro: Ed. Imago, 2006.
NELSON, Benjamin. Vrios autores. O Sculo de Freud. Trad. Maslowa Gomes Venturi e Dr.
Caetano Trap. Ed. IBRASA, So Paulo, 1959.
158
FACTICIDADE E DIFERENA: ELEMENTOS DE FILOSOFIA DA
LINGUAGEM E FILOSOFIA DO DIREITO EM HABERMAS E DERRIDA
Lucas Antonio Saran
Universidade Estadual de Londrina
lucasasaran@gmail.com
Rogrio Cangussu Dantas Cachichi
Universidade Estadual de Londrina
rogeriocangussu@gmail.com
RESUMO
Dutra (2013) chama ateno para o fato de que h um claro ponto de discordncia entre
Habermas e Derrida. Com certeza, Dutra possui razo em sua postura, e, muito
provavelmente, uma consulta direta a Habermas acabaria por confirmar a discordncia do
filsofo alemo com relao ao filsofo francs (Derrida). Apesar disso, esta comunicao
possui a pretenso de realizar um esboo de aproximao entre Habermas e Derrida.
Deveras, analisadas separadamente a estrutura das reflexes gerais de ambos os autores,
observar-se- que, ao final, a despeito das discordncias, o filsofo da ao comunicativa e
o filsofo da diffrance possuem, inexoravelmente, pontos de similaridade. Este modesto
projeto de correlao entre Habermas e Derrida nasce delimitado pelos campos da filosofia
do direito e da filosofia da linguagem. Nessa toada, o texto encontra-se dividido em trs
momentos centrais: primeiro, alguns elementos do pensamento de Habermas (filosofia da
linguagem, facticidade, validade etc) so consignados, especialmente a configurao da
modernidade a partir da dualidade entre os sistemas e o mundo da vida, apresentando-se o
direito como importante elementos de mediao. Na sequncia, focam-se Derrida e suas
reflexes sobre a filosofia da linguagem e a filosofia do direito, sobretudo na particular
crtica metafsica da presena levada a efeito em duas importantes obras desse autor, a
saber, Gramatologia e Fora de lei. Ao final, os dois autores so objeto de aproximao e,
como prometido, so apresentadas certas relaes entre ambos. Pedimos que nossos
leitores entendam que o objetivo nesse desenvolvimento no desconsiderar as
idiossincrasias dos dois autores estudados, mas mostrar que, por assim dizer, no deixa,
tambm, de existir consenso entre eles. Acreditamos que esse tipo de trabalho lcito e
importante: por vezes, tanto os filsofos, quando seus admiradores tomam uma postura
demasiado combativa e destrutiva; acreditamos ser uma possvel funo do historiador da
filosofia mostrar at que ponto tal postura (combativa) razovel e lcita.
Palavras-chave: Habermas; Derrida; linguagem; direito.
INTRODUO
Dutra (2013) chama ateno para o fato de que h um claro ponto de discordncia
entre Habermas e Derrida. Com certeza, Dutra possui razo em sua postura, e, muito
provavelmente, uma consulta direta a Habermas acabaria por confirmar a discordncia do
filosofo alemo com relao ao filsofo francs (Derrida).
159
Apesar disso, esta comunicao possui a pretenso de realizar um esboo de
aproximao entre Habermas e Derrida. Deveras, analisadas separadamente a estrutura das
reflexes gerais de ambos os autores, observar-se- que, ao final, a despeito das
discordncias, o filsofo da ao comunicativa e o filsofo da diffrance possuem,
inexoravelmente, pontos de similaridade.
Este modesto projeto de correlao entre Habermas e Derrida nasce delimitado
pelos campos da filosofia do direito e da filosofia da linguagem. Nessa toada, o texto
encontra-se dividido em trs momentos centrais: primeiro, alguns elementos do
pensamento de Habermas (filosofia da linguagem, facticidade, validade etc) so
consignados; depois, focam-se Derrida e suas reflexes sobre a filosofia da linguagem e a
filosofia do direito; ao final, os dois autores so objeto de aproximao e, como prometido,
so apresentadas certas relaes entre ambos.
Pedimos que nossos leitores entendam que o objetivo nesse desenvolvimento no
desconsiderar as idiossincrasias dos dois autores estudados, mas mostrar que, por assim
dizer, no deixa, tambm, de existir consenso entre eles. Acreditamos que esse tipo de
trabalho lcito e importante: por vezes, tanto os filsofos, quando seus admiradores
tomam uma postura demasiado combativa e destrutiva; acreditamos ser uma possvel
funo do historiador da filosofia mostrar at que ponto tal postura (combativa) razovel
e lcita.
MODERNIDADE, RACIONALIZAO, FACTICIDADE E VALIDADE:
BREVE INTERCURSO PELO PENSAMENTO DE HABERMAS
Na condio de assistente de Adorno, Habermas leu a Dialtica do Esclarecimento
de Adorno e Horkheimer j em 1953. Nesta obra de 1947, que teve uma grande influncia,
os dois autores tinham como objetivo, entre outros, mostrar como o Esclarecimento,
entendido como filosofia da razo, se tinha transformado no seu contrrio, isto , em
irracionalidade e autodestruio (PINZANI, 2009, p.19). Como reconheceram Adorno e
Horkheimer, o prprio esclarecimento no deixou de ser um mito na modernidade
(BANNWART JNIOR, 2008, p.72).
Diante disso, viu-se Habermas motivado a repensar a modernidade. Para tanto,
partiu do diagnstico de Max Weber para quem o que caracteriza a modernidade foi um
processo de desacoplamento entre mundo da vida e sistemas. Para Weber a modernidade
160
est caracterizada por um processo de racionalizao. A modernidade veio ao lume com
uma promessa: libertar os homens do julgo da religio. Essa a promessa (no cumprida)
da modernidade. O ethos substitudo pela razo e a teleologia pela imparcialidade. A
tica baseada pelo sujeito, com pretenso de universalidade. Diz Habermas:
Max Weber introduziu o conceito de racionalidade para definir a forma da
atividade econmica capitalista, do trfego social regido pelo direito privado
burgus e da dominao burocrtica. Racionalizao significa, em primeiro
lugar, a ampliao das esferas sociais, que ficam submetidas aos critrios de
deciso racional. (HABERMAS, 1968, p.45)
Essa racionalizao incide no quadro institucional que no perodo medieval era
composto de elementos: cultura, sociedade, personalidade, tudo sob a base da religio.
Com a racionalizao, sai de cena a religio; os saberes (direito, cincia, tcnica, tica,
moral, poltica, economia, estado) miram para fora do quadro institucional (mundo da
vida), inaugurando racionalidades prprias.
Houve uma perda de sentido no mundo da vida. A razo se partiu em vrias razes.
Esse desacoplamento entre sistemas e mundo da vida o que caracteriza a modernidade.
Com efeito, nesse processo de racionalizar as esferas de produo do saber migraram de
dentro do mundo da vida (onde se encontravam fundadas na religio) para fora, criando
sistemas dotados de racionalidade prpria.
Dentro do mundo da vida, houve um processo de racionalizao da cultura, da
sociedade e da personalidade, que deixaram de ser fulcrados na religio. Habermas chamou
esse processo de descentralizao, e no de desacoplamento. O conceito de
descentralizao tomado por Habermas a partir de Piaget (BANNWART JNIOR, 2008,
p. 54).
Como se v, Habermas enxerga a sociedade de modo dual: de um lado as esferas
ligadas produo do saber; de outro, as esferas ligadas ao modo pelo qual os indivduos
do sentido sua existncia. Essa ltima o mundo da vida propriamente dito, que possui
trs elementos: cultura, sociedade e personalidade agora sem base na religio. Os sistemas,
externos ao mundo da vida, passam a ter racionalidades prprias. O problema, como
destacou Pinzani, que "na sociedade atual (...) o mundo da vida corre o risco de ser
'colonizado' pelos sistemas da economia e da administrao - e isso leva a uma corroso
dos mbitos de ao estruturados em termos comunicativos" (2009, p.98). As interaes
161
sociais perpassam prioritariamente no por valores ou normas, mas por dinheiro e poder
administrativo:
Sociedades modernas so integradas no somente atravs de valores, normas e
processos de entendimento, mas tambm sistemicamente, atravs de mercados e
do poder administrativo. Dinheiro e poder administrativo constituem
mecanismos da integrao social, formadores de sistema, que coordenam as
aes de forma objetiva, como que por trs das costas dos participantes da
interao, portanto no necessariamente atravs da sua conscincia intencional
ou comunicativa. (HABERMAS, 1997, p.61)
Pe-se em questo como a moral secularizada poder subsistir (PINZANI, 2009,
p.107). Nessa empresa, Habermas no v alternativa seno a necessidade de reabilitar a
razo prtica, a fim de que a razo comunicativa, no a instrumental, assuma sua funo de
governar as relaes entre seres humanos, produzindo agir comunicativo, no instrumental.
O agir comunicativo difere do agir instrumental na medida em que o primeiro orienta-se
pelo entendimento; o segundo pela manipulao dentro do binmio meio-fim. "Somente
essa racionalidade comunicativa permite, porm, uma resistncia eficaz contra a
colonizao do mundo da vida por parte dos subsistemas" (PINZANI, 2009, p.111).
Habermas escreveu: "O conceito do agir comunicativo atribui as foras ilocucionrias da
linguagem orientada ao entendimento a funo importante da coordenao da ao" (1997,
p.25).
Isso implica a rejeio de solues monologicamente estabelecidas, mas "exigem
esforo de cooperao", porquanto, "ao entrarem numa argumentao moral, os
participantes prosseguem seu agir comunicativo numa atitude reflexiva co o objetivo de
restaurar um consenso perturbado" (HABERMAS, 2003, p.87). Diversamente das aes
estratgicas - direcionadas a um fim -, a ao comunicativa so orientadas pelo consenso,
de modo que a moral agora secularizada - antes baseada na religio - obtm arrimo no
entendimento, na linguagem.
A relao entre facticidade e validade aps a guinada lingustica apresenta-se
mergulhada na linguagem e em seu uso pela comunidade de falantes (linguagem ordinria
do mundo da vida). Segundo Habermas, "...a tenso entre ideia e realidade irrompe na
prpria facticidade de formas de vida estruturadas liguisticamente" (1997, p.21), de tal
modo que "a teoria do agir comunicativo tenta assimilar a tenso que existe entre
facticidade e validade"(1997, p.25).
162
Nesse quadro, o direito assume papel importante, cabendo-lhe tripla funo.
Pinzani nos ensina:
Ele , em primeiro lugar, um espao de mediao entre facticidade e
validade(...). Em segundo lugar, ele meio de integrao social que ameaada
pela mediao entre mundo da vida e sistemas parciais. Finalmente, ele meio
de uma integrao social que j no pode ser alcanada por foras morais. Deste
ltimo ponto de vista, o direito contempla ou at substitui a moral. (2009, p.145)
E de fato, logo nos captulos iniciais de Direito e Democracia, Habermas deixa
claro que procura "atingir um duplo fim: esclarecer por que a teoria do agir comunicativo
concede um valor posicional central categoria do direito e por que ela mesma forma, por
seu turno, um contexto apropriado para uma teoria do direito apoiada no princpio do
discurso" (1997, p.24). E, de fato, como acentuou Duro:
...o direito funciona como transformador lingustico, traduzindo a linguagem
estratgica dos sistemas para a linguagem comunicativa do mundo da vida e
vice-versa, o que possibilidade, por exemplo, que as reivindicaes do mundo da
vida, expressas comunicativamente, como a proteo da esfera privada contra
disfunes ocasionadas pelos sistemas sociais ou a preservao do meio
ambiente, possam ser promulgadas na forma de leis que os agentes envolvidos
com os sistemas sociais tm que levar em considerao para realizar a escolha
racional da melhor estratgia de ao a partir da lgica prpria de cada sistema.
(2006, p.105)
Interessa frisar, entretanto, que, mesmo estando o direito na condio de
intermediador entre os subsistemas e o mundo da vida, "o terico do direito no pode
reclamar para si nenhuma posio privilegiada" (PINZANI, 2009, p.143), porque no deixa
de estar na posio de participante do mundo da vida devendo a isso sua posio
hermenutica. Isso, evidncia, aplica-se ao cientista social:
O agir social recebe seu sentido, ento, do mundo da vida, no qual se encontram
os atores assim como o observador, isto , o cientista social. As cincias sociais
enquanto cincias interpretativas esto presas em um crculo hermenutico: elas
no podem fugir do mundo da vida na qual o prprio observador se encontra. O
mundo da vida constitui o horizonte no qual no somente se d o objeto de tais
cincias, a saber, o agir social, mas tambm acontecem as anlises delas.
(PINZANI, 2009, p.108)
JUSTIA E DIFERENA: ELEMENTOS DE LINGUAGEM E FILOSOFIA DO
DIREITO EM DERRIDA
A nosso ver, seria muito pretensioso de nossa parte sintetizar as linhas mestras do
pensamento de Derrida nas poucas pginas que se seguem. Com efeito, iremos nos
163
circunscrever a dois trabalhos especficos: 1- a Gramatologia
31
que nos permitir trabalhar
questes de filosofia da linguagem; 2- a coletnea Fora de lei (DERRIDA, 2010) que
usaremos, principalmente, para trabalhar questes de filosofia do direito.
Comeando, pois, pela filosofia da linguagem, devemos de sada afirmar que um
dos principais (seno o principal) objetivo do pensamento de Derrida (naquilo que
concerne linguagem) consiste em estabelecer uma crtica quilo que o filosofo francs
denomina a metafsica da presena (cf DERRIDA, 2011, p.368-369); essa noo, longe
de remeter diretamente a alguma das definies mais clssicas de metafsica, almeja, antes
de qualquer coisa, remeter a uma iluso que, vinda de uma m compreenso da linguagem,
infiltrou-se em boa parte do pensamento ocidental.
Em sua busca por combater essa m compreenso da linguagem, Derrida na
Gramatologia faz rigoroso estudo crtico de um tratado pstumo de Rosseau em que este
tentaria refletir a respeito da linguagem. Analisando Rosseau, Derrida procura demonstrar
os problemas nos quais o filsofo suo, sem perceber, incide por pensar a linguagem sob a
gide da metafsica da presena.
32
Mas o que seria essa metafsica da presena? Para Derrida, a metafsica da presena
seria um tipo de pensamento que cai nas armadilhas de uma dualidade inexorvel: a
dualidade significado-significante. De onde viria essa dualidade? A dualidade viria de um
fato bvio, porm, nem sempre percebido: ao se representar o mundo por intermdio da
linguagem, pressuposta, desde j, est a distncia entre a linguagem e o mundo. Noutros
termos, apenas se pode dizer que se representa o mundo quando aberta est a possibilidade
para que a representao possa ser ruim (falsa, imprpria etc) ou boa (bela, correta,
31
Recentemente, devido aos acontecimentos do famoso caso Sokal, muitas obras de autores ps-
estruturalistas (como Derrida) tm sido desacreditadas por, muitas vezes, apresentarem uma linguagem, por
assim dizer, abstrusa, beirando falta de sentido. Esse tipo de caracterstica abstrusa, a nosso ver, no
est na Gramatologia, porquanto, ainda que admitssemos ser o primeiro grande movimento dessa obra
demasiado complexo e quase ininteligvel, temos de admitir que, no segundo grande movimento, o autor
repete boa parte das idias postas no incio sob a perspectiva de um claro e rigoroso trabalho historiogrfico
sobre as obras de Rosseau. Inclusive, para gerar o mnimo de polmica, procuraremos nos ater a esse segundo
movimento da obra.
32
Ao dirigir esse tipo de crtica, Derrida pretende que Rosseau deva ser visto como sendo apenas um
exemplo de uma srie de erros que, ao longo de boa parte da histria da filosofia (pelo menos, at
Heidegger), estariam presentes. No iremos, aqui, desenvolver essa postura de Derrida, tampouco expor o
tipo de justificativa que, implcita ou explicitamente, o filosofo francs utiliza para eleger Rosseau como foco
de sua percuciente anlise.Essa nossa deciso deve-se tanto brevidade do espao deste artigo, quanto ao
fato de que o objetivo deste trabalho antes estabelecer um dilogo entre dois autores (Habermas e Derrida),
do que tomar um posicionamento a respeito da validade, ou no, do pensamento desses autores.
164
verdadeira etc), e, por outro lado, s conseguimos distinguir os objetos da representao
quando nos distanciamos deles ao tentarmos represent-los. Isso fica mais claro ao
pensarmos em um exemplo: quando tentamos representar o mundo (o real, o Ser, o
universo etc) podemos parar para pensar e constatar que tal mundo no verdadeiro nem
falso, visto que so as representaes do mundo que so verdadeiras ou falsas; por outro
lado, s distinguimos a prpria existncia do mundo (o real, o Ser, o universo e etc.)
quando, ao tentarmos represent-lo, passamos a trat-lo como um objeto (um ideal) ao ser
atingido por um mecanismo de representao (como um objeto externo linguagem e ao
qual devemos tentar atingir atravs de tal linguagem).
A essa dualidade presente no corao da linguagem e da representao, Derrida d
o nome de diffrance
33
; a diffrance, para Derrida, a prova de que nunca poderemos
atingir ideais de unidade como Deus, O Ser, A natureza etc.
34
Esses ideais s podem
ser pensados enquanto pares da dualidade primordial (diffrance), notando-se que, mesmo
sem perceber, fazemos confuses e camos em paradoxos. Um exemplo gritante dessa
situao, na leitura de Derrida, est em Rosseau (cf, por exemplo, DERRIDA, 2011, p.378-
379): tanto em sua reflexo a respeito da linguagem, quanto em outras reflexes, Rosseau
(segundo Derrida) procura, ao mesmo tempo, elogiar uma espcie de instncia metafsica
primordial (a Natureza) e criticar tudo que nos afasta de tal instncia (a sociedade, a
linguagem etc); o problema a, com o qual Rosseau parece se debater, que, ao mesmo
tempo em que se define a natureza por oposio a seus inimigos (a sociedade, a
linguagem etc), tenta-se dizer que a natureza o que h de mais primordial (de onde,
paradoxalmente, inimigos como a sociedade e a linguagem teriam de ter surgido). Como
conciliar essa situao? Para Derrida, qualquer tipo de conciliao impossvel, pois
Rosseau descobre, no par sociedade-natureza, a diffrance e, ao mesmo tempo, tenta
contornar tal diffrance concedendo prioridade natureza.
33
Na traduo da Gramatologia que estamos utilizando, o termo traduzido atravs do neologismo
diferncia . H, no entanto, quem prefira usar outros neologismos (como diferana) de modo que, para evitar
polmica, optamos, aqui, por no traduzir o termo.
34
Vale chamar a ateno para o fato de que, ao que parece, devamos ter cuidado para no tratar a prpria
diffrance como um ideal metafsico: se pararmos para pensar, veremos que sequer se deve falar muito a
respeito da diffrance, pois esta representa a prpria dualidade e quando tentamos falar dela, fatalmente,
tratamo-la como um objeto de representao e, conseqentemente, como um dos termos da dualidade a que
ela deveria remeter.Esse carter complexo da diffrance talvez seja o motivo pelo qual, como ressalta Rorty
(1991), Derrida, conforme sua obra evolui, foi aos poucos abandonando, cada vez mais, a tentativa de
oferecer qualquer verso demasiado sistemtica de sua filosofia.
165
Vemos, nesse contexto, o carter constrangedor da filosofia antimetafsica de
Derrida. Isso significa que estamos presos em uma espcie de maldio da diffrance?
No, e a que entramos no ponto, por assim dizer, filosfico-jurdico deste texto: libertos
da metafsica, podemos utilizar a diffrance como instrumento crtico e perceber que a
metafsica pode, tambm, ocultar algo de nefasto. Um exemplo disso encontra-se,
principalmente, no primeiro e no terceiro textos de Fora de lei. Tais textos, de fato,
possuem algo de obscuro, mas, com uma boa leitura prvia da Gramatologia, podem, a
nosso ver, ser bem compreendidos: no Post-scriptum a Prenome de Benjamin, Derrida, a
partir da interpretao que havia feito de um texto de Benjamin, investe contra a crtica
benjaminiana segundo a qual o direito seria ilegtimo, pois seria fundado sobre uma
violncia primeira que, por ser anterior ao prprio direito (e sua condio de
possibilidade), jamais poderia ter a prpria legitimidade jurdica; em Do direito justia,
Derrida, de modo mais claro, expe aquilo que poderia se aproximar de uma filosofia do
direito baseada no conceito de diffrance, notando-se que a principal caracterstica dessa
filosofia do direito derridiana seria pensar a lei como envolvida na inexorvel dualidade da
significao de modo que o papel do filsofo (cf DERRIDA, 2010, p.27-28) seria o de
propor uma crtica constante em que se mostrasse a irredutvel diffrance entre a lei (a
representao) e a justia (aquilo que se pretende representar com a lei).
Em que sentido esses dois textos (o Post-scriptum e Do direito justia) nos
permitem ver o carter nocivo da metafsica da presena criticada por Derrida? Encetar
uma resposta a tal pergunta implica admitir que, tal como havia feito com o caso de
Rosseau em Gramatologia, Derrida, em Prenome de Benjamim, culmina por demonstrar
que Benjamim acaba caindo em paradoxo similar ao do autor do Contrato social quando
desconsidera a diffrrance inexorvel entre o direito e a justia. Para bem se compreender
isso, convm sublinhar que Derrida mostra que o filosofo alemo (Benjamim), ao se
deparar com o fato de que o direito no pode se furtar a uma violncia que o funda,
forado a buscar a legitimidade do direito em uma justia essencial que se oporia ao direito
(na arbitrariedade violenta que o funda) da mesma maneira que instncias como a
linguagem e a sociedade se oporiam natureza de Rosseau. O problema dessa situao
que, segundo Derrida, ao abrir mo do direito enquanto instncia representativa, Benjamim
forado a recorrer sua formao religiosa e invocar uma justia divina. No entanto, a
nica forma de sustentar esse tipo de justia pensando que ela se manifesta na forma de
166
catstrofes naturais. Benjamim, no final das contas, estaria substituindo um tipo de
violncia por outra; e isso se agrava quando, como faz Derrida no Post-scriptum, pensamos
que a ideia de uma justia divina que daria uma soluo definitiva para o problema da
justia (uma tal ideia) muito similar postura de regimes totalitrios que, como o
nazismo, buscaram, em algum tipo de ufanismo patritico, uma soluo definitiva.
35
Contra esse tipo de postura (quase fascista), Derrida, embora no d uma soluo, acaba, a
nosso ver, deixando subentendida a postura de Do direito justia: a justia, entendida
como entidade metafsica definitiva, no existe. O que se pode fazer tomar a justia
como uma espcie de polo oposto (no par significado-significante) ao direito (cf
DERRIDA, 2010, p.41). Tal justia, para uma filosofia da diffrrance, constituir-se-ia em
algo que, alm de impedir expedientes como o de Benjamim, permitiria um processo de
reflexo crtica constante a respeito do direito.
O FORA E O JURDICO: PONTES ENTRE UM TERICO CRTICO E UM PS-
ESTRUTURALISTA
Gilles Deleuze defendia que comeamos a pensar quando chegamos ao limite do
nosso prprio pensamento. Isso pode parecer muito profundo, mas, na verdade, constitui-se
em algo bastante simples. No se trata de inserir, neste trabalho, a meno a um novo
terico ou a novas categorias filosficas. Trata-se, na verdade, de se constatar o seguinte:
comeamos a pensar (nos questionar, raciocinar, pesquisar etc) quanto percebemos que no
estamos compreendendo algo, ou no sabemos algo; pensamos para compreender ou
aprender o no sabido, o desconhecido, o impensado.
Mas por que essa constatao nos to importante neste momento? Porque
acreditamos que a relao entre Derrida e Habermas, naquilo que concerne ao pensamento
da linguagem e do direito, manifesta, no obstante a divergncia entre os dois autores, a
caracterstica comum de que ambos os autores estudados so descobridores da situao de
que o direito encontra, devido a elementos decorrentes da prpria filosofia da linguagem,
limites que o levam, atravs de um dilogo com aquilo que lhe externo (com seu fora), a
manter uma situao de constante autocrtica: os limites decorrentes da filosofia da
35
Nesse sentido, Derrida chama ateno para o fato de que um leitor de Benjamim poderia, facilmente, partir
das posturas do autor (Benjamim) para concluir que, de alguma forma, o holocausto, ainda que no se
concorde com as ideias que o embasam, foi um castigo divino. A esse respeito e de toda a crtica que Derrida
faz a Benjamim, recomendamos, principalmente: Post-scriptum (DERRIDA, 2010, p.143-144).
167
linguagem levam o direito a estar, constantemente, em uma busca por questionar (pensar) a
si mesmo.
O que queremos dizer com tudo isso? Comecemos nos lembrando do que decorreu
daquilo que trabalhamos a respeito de Derrida: o direito a tentativa de representar a
justia e, no entanto, sempre deve se pensar em uma relao de exterioridade com relao a
esta ltima; para verificar a validade de uma proposio jurdica (significante)
pressupomos a justia (significado) de modo que acabamos tendo de aceitar que esta
ltima algo externo ao direito. Por outro lado, s comeamos a falar de justia quando
procuramos represent-la por algum meio (como o direito).
Com tudo isso, vivemos o inexorvel paradoxo: pressupomos a justia para avaliar
o direito, e pressupomos o direito para trazer a justia luz; h certo distanciamento
necessrio entre direito e justia de modo que o primeiro est sempre sujeito, por assim
dizer, justa crtica.
Essa proposta derridiana que procuramos detalhar em nosso segundo captulo no
deixa de ter algumas similaridades bastante interessantes com o pensamento habermasiano
estudado em nosso primeiro captulo. Com certeza Habermas no parte de uma reflexo
sobre a significao similar de Derrida, pois seu pensamento (o de Habermas) baseia-se
em uma viso pragmtica da linguagem
36
. Apesar desse posicionamento de Habermas (que
difere do de Derrida), vemos que o filosofo alemo chega a um tipo de concluso bastante
similar quela do filsofo francs: o direito precisa pensar-se em constante autocrtica, pois
ele (o direito) encontra-se em meio a uma tenso entre facticidade e validade gerada pela
situao de que as comunidades lingusticas geram valores morais (validade) que esto
sempre ameaados pelos fatos produzidos pelo pensamento tcno-cientfico
37
. Em meio a
essa situao de tenso, o direito sempre forado a manter-se em autocrtica: o direito
deve, por assim dizer, viver em um movimento pendular em que, ora se deixa conduzir
pelos sistemas (cincia, tcnica, movimentos da grande economia etc), ora se deixa
conduzir pelas comunidades lingusticas (formas de vida) e seus valores; cabe assim, ao
pensamento jurdico ter, a todo tempo, senso crtico suficiente para saber de que elemento
36
Trata-se de algo prximo (seno idntico) ao que poderamos chamar de filosofia da linguagem ordinria
cuja referncia, a nosso ver, ficou explcita quando, no primeiro captulo, fez-se meno a noes como
comunidade de falantes e formas de vida.
37
Aqui nos referimos, especificamente, quela instncia que, em nosso primeiro captulo, foi referida com a
palavra sistemas.
168
deve aproximar-se (como manter uma equilibrada a complexa balana entre sistemas e
mundo da vida?).
Tomando esse ltimo raciocnio, como negar a similaridade entre muitas das ideias
propostas por Habermas e por Derrida? A causa dos problemas habermasianos que
acabamos de retomar no outra seno a esfera da linguagem: so os valores do mundo
da vida (espao das comunidades lingusticas) que so condio de possibilidade da
tenso entre tal mundo da vida e os sistemas. Se olharmos com ateno essa situao
veremos que o pensamento de Habermas, tal como o de Derrida, depara-se com as
complexas relaes entre a linguagem e aquilo que lhe externo, e, consequentemente,
permite se pensar a difcil relao entre o direito e aquilo que lhe alheio.
CONSIDERAES FINAIS: DIFERENA E FACTICIDADE
Vimos que, alm da oposio que j rotineira (como mostra o texto de Dutra,
2013), Habermas e Derrida possuem algumas proximidades. Para alguns, a percepo
dessas similaridades, do modo como a empreendemos, poderia parecer mero exerccio de
futilidade: poder-se-ia alegar que a concepo do direito como autocrtico e das complexas
relaes entre a linguagem e aquilo que lhe externo so, do ponto de vista do pensamento
do sculo XX, um fato to genrico que no faria sentido aproximar dois autores
especficos atravs dele.
parte essa possvel objeo, invocando algo que dissemos na introduo,
defenderemos aqui a validade de nosso texto: no preciso passar muito tempo nas
academias de filosofia para se perceber, principalmente no campo da filosofia
contempornea, o quo vorazes so as disputas entre autores, discpulos de autores e
tendncias filosficas. Acreditamos que tentativas como a feita neste trabalho so
propostas vlidas permitem o historiador da filosofia contribuir com seu tempo, lembrando
aos representantes das divergncias filosficas que, no obstante suas divergncias, os
diversos autores da filosofia contempornea possuem, tambm, projetos em comum.
Prestar a ateno a essa comunidade de projetos (como o caso daquilo que mostramos ser
comum entre Habermas e Derrida) pode, talvez, permitir que, em um futuro prximo, as
diversas doutrinas e autores possam se focar mais complementao mtua, do que
guerra terica.
169
REFERNCIAS
BANNWART JNIOR. Clodomiro Jos. Estruturas normativas da teoria da evoluo
social de Habermas. 2008. 265p. Tese (Doutorado em Filosofia). Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). Campinas.
DERRIDA, J. Gramatologia. So Paulo: Perspectiva, 2011.
_____. Fora de Lei. So Paulo: Martins fontes, 2010.
DURO, Aylton Barbieri. A tenso entre faticidade e validade no direito segundo
Habermas. Ethic@, Florianpolis, v.5, n.1, p. 103-120, Jun. 2006.
DUTRA, D, J, V. Direito poder e violncia: Habermas x Derrida. Disponvel em:
http://www.ufpel.edu.br/isp/dissertatio/revistas/antigas/dissertatio19-20.pdf. Consulta
realizada em 02/09/2013.
HABERMAS, Jrgen. Conscincia moral e agir comunicativo. 2ed. Rio de Janeiro:
Templo brasileiro, 2003.
_____. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol.I. Rio de Janeiro: Templo
brasileiro, 1997.
_____. Tcnica e cincia como ideologia. In: HABERMAS, Jrgen. Tcnica e cincia
como ideologia. Lisboa: Edies 70, 1968. pp.45-92.
PINZANI, Alessandro. Habermas. Porto Alegre: Artmed, 2009.
170
O DIREITO MODERNO E A INCLUSO DO OUTRO NAS SOCIEDADES
COMPLEXAS SEGUNDO HABERMAS
Joo Paulo Rodrigues
Universidade Estadual de Londrina
j.p_rodrigues@hotmail.com
RESUMO
O propsito de Jrgen Habermas o de apresentar uma teoria da sociedade com propsito
prtico, visando a autonomia dos indivduos e a emancipao da sociedade moderna,
desacoplada em mundo da vida e sistema e que no pode mais fundamentar o direito
atravs da tradio cultural e sua racionalidade prtica. O mesmo filsofo, em seu livro
Direito e Democracia, mostra que a fonte da legitimao do direito moderno se encontra
no processo democrtico da legislao, e esta recorre, por sua vez, para o princpio da
soberania do povo. Ento, se a soberania do povo quem garante a legitimao do direito
moderno, atravs da democracia, como garantir a incluso do outro nas atuais sociedades
pluralistas? Como aplicar as legtimas leis do direito moderno em uma sociedade
complexa? Pois preciso saber que direitos tais cidados diferentes entre si devem atribuir
uns aos outros para que possam conviver em tal sociedade complexa. Os livros A incluso
do outro e Direito e Democracia, ambos do autor Habermas, apresentam um ponto em
comum: o desejo pela questo do resultado aos quais as concluses do contedo
universalista dos princpios republicanos chegaram, mais especificamente para as
sociedades complexas. Primeiramente, ser apresentado o direito moderno e o seu papel de
mediador da integrao social entre os cidados do mundo da vida e do sistema.
Posteriormente, ser demonstrado que a legitimidade do direito moderno est fundada no
princpio da democracia, institucionalizao jurdica do princpio do discurso D. Logo
aps, ser explicitado o significado do conceito incluso do outro, expondo uma moral
com contedo racional, que busca o mesmo respeito por todos e traz tona a
responsabilidade da solidariedade universal entre os cidados, revelando que as fronteiras
da comunidade esto abertas a todos, inclusive aos que so estranhos uns aos outros e
desejam continuar sendo estranhos. Para isso, sero apresentadas duas questes
sistemticas, na qual uma fala sobre de quais intuies morais possvel reconstruir de
forma sensata, e a outra que fala da possibilidade de se fundamentar o ponto de vista que
encontra a sua abertura, a partir da teoria do discurso.
Palavras-chave: Habermas. Direito Moderno. Incluso do Outro. Sociedades complexas.
TIDA DO DISCURSO E TEORIA DA SOCIEDADE
Habermas tem como propsito desenvolver uma teoria da sociedade com propsito
prtico, reconstruindo
38
a razo prtica de Kant atravs de sua teoria da ao comunicativa,
visando a autonomia dos indivduos e a emancipao da sociedade moderna, esta que foi
desacoplada em mundo da vida e sistema e no pode mais fundamentar o direito atravs da
38
Habermas, em seu livro Para a reconstruo do materialismo histrico, mostra que reconstruo significa
que uma teoria desmontada e recomposta de modo novo, a fim de melhor atingir a meta que ela prpria se
fixou (HABERMAS, 1983, p. 11).
171
tradio cultural e sua racionalidade prtica. Nesta sociedade moderna, ou sociedade
complexa, aparecem dois tipos de racionalidade: a racionalidade comunicativa
39
, que
substituiu a razo prtica aps o giro lingustico
40
, e a racionalidade estratgica
41
.
Para fundamentar a validade dos enunciados e juzos morais, Habermas e Apel
desenvolveram a tica do Discurso
42
, que seria uma extenso da ao comunicativa. Tal
tica prope empregar na sociedade moderna os valores de liberdade, justia e
solidariedade atravs do dilogo, posta como a nica maneira de se respeitar a
subjetividade das pessoas e tambm a sua inegvel dimenso solidria, visto que no
processo dialgico precisamos contar com pessoas e com a ligao que existe entre os
indivduos, sendo assim justa.
Para Habermas (1989, p. 115-6), todos os que entram em argumentaes devem
fazer com que todos, ao empreenderem seriamente a tentativa de resgatar discursivamente
pretenses de validades normativas, aceitem intuitivamente o princpio da universalizao
U, visto que, a partir das mencionadas regras do Discurso, uma norma controversa s
poder encontrar assentimento entre os participantes de um Discurso prtico, se o princpio
da universalidade U for aceito, isto : Se as consequncias e efeitos colaterais, que
previsivelmente resultam de uma obedincia geral da regra controversa para a satisfao
dos interesses de cada indivduo, podem ser aceitos sem coao por todos (HABERMAS,
1989, p. 116).
Apesar disso, a prpria tica do Discurso pode ser reduzida ao princpio do
discurso D segundo o qual: D: So vlidas as normas de ao s quais todos os possveis
39
A razo comunicativa est inserida no telos do entendimento atravs do medium lingustico na qual, a
partir dos atos de linguagem reproduzidos comunicativamente s formas de vida, busca-se o entendimento
com algum sobre algo no mundo.
40
Do original lingustic turn. Giro lingustico foi a mudana de paradigma que ocorreu no pensamento
filosfico ao longo do sc. XX. Aqui a linguagem deixa de ser um objeto de estudo entre outros e passa a ter
uma referncia inevitvel e fundamental onde se abordam todos os problemas filosficos. Razo e linguagem
se tornam idnticos de tal modo que a linguagem se torna a nica forma racional de se conhecer a realidade.
Nossa relao com o mundo passa a ter um carter simbolicamente mediado, visto que a linguagem
desempenha um papel fundamental. A linguagem no mais um meio de conhecimento, ela passa a ser a
condio de possibilidade de conhecimento (VELASCO, 2003, p. 171).
41
A racionalidade estratgica consiste na orientao da ao para o xito a partir de uma avaliao das
condies dadas (DURO, 2006, p. 103). Mas o xito da ao ir depender do sistema envolvido, por
exemplo, o xito no sistema econmico ser medido pelo meio dinheiro, j no sistema poltico o xito
medido pelo meio poder, sendo assim, a estratgia na economia deve ser maximizar o benefcio em funo
do custo na obteno do lucro, enquanto na poltica tem que ser a conquista da confiana dos eleitores
traduzida em votos (DURO, 2006, p. 103).
42
A tica do Discurso tem como finalidade separar a norma socialmente vigente da moralmente vlida, pois
em um discurso os indivduos argumentam sobre normas e tentam verificar quais so moralmente corretas.
Habermas mostra, em seu livro Conscincia Moral e Agir Comunicativo (1989, p. 112), que a tica do
discurso pretende revelar os pressupostos que tornam racional a argumentao.
172
atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos
racionais (HABERMAS, 2003, v. 1, p. 142).
Para Habermas, a sociedade moderna foi desacoplada em mundo da vida
43
e
sistema
44
, e estas que se necessitam e se complementam. Ora, no se pode explicar a
sociedade atual sem reconhecer sua existncia. Entretanto, nas sociedades complexas, o
sistema acaba sendo o elemento que mais se expande, e cabe observar uma constante
dinmica mediadora do sistema no mbito especifico do mundo da vida, fenmeno este
que Habermas chamar de colonizao do mundo da vida. Isto ocorre quando a reproduo
simblica do mundo da vida comea a se fundar sobre a base do sistema, o que acaba
trazendo danos para o Estado social, pois o mundo da vida se reproduz quando se
apreendem as condies de uma ao formalmente organizada e entendida como relao
expressada pelo direito (MOREIRA, 2004, p. 53).
O DIREITO MODERNO E A SUA LEGITIMIDADE
Diante desta sociedade complexa, que vive dia aps dia o risco de dissenso entre a
racionalidade comunicativa, empregada pelos indivduos do mundo da vida, e a
racionalidade estratgica, utilizada pelos agentes situados no sistema, tenta-se resolver o
seguinte problema: sabendo que s possvel ocorrer uma integrao social entre os
cidados que se utilizam destes dois tipos distintos de racionalidade atravs do direito
moderno, o que legitimaria este possvel responsvel? Ora, a fonte da legitimao do
direito moderno se encontra no processo democrtico da legislao, e esta recorre, por sua
vez, para o princpio da soberania do povo.
O direito moderno
45
, em reao ao processo de racionalizao caracterstico da
modernidade (PINZANI, 2009, p. 146), acaba recebendo uma dupla funo no mbito
43
Este conceito se refere ao ambiente imediato do agente individual, o ambiente simblico e cultural que
forma a camada profunda de evidncias, certezas e realidades que no so normalmente colocadas em
questo (VELASCO, 2003, p. 47). neste horizonte comum de compreenso que os sujeitos podem atuar
de modo comunicativo. O mundo da vida o limite que circunscreve nossa vida.
44
O sistema possui um equilbrio que se autorregula por meio da especificao funcional dos diferentes
subsistemas que apareceram aps o desacoplamento presente na teoria da sociedade de Habermas. No
sistema, as aes de cada indivduo so determinadas por clculos de interesse, que maximizam a utilidade.
tambm um conjunto social formado por diversos mecanismos annimos dotados de lgica prpria que, na
sociedade moderna, se cristalizou em subsistemas sociais diferenciados e regidos por regras estratgicas, e
por meios materiais ou tcnicos: o subsistema Estado e o subsistema Economia (VELASCO, 2003, p. 48).
45
O tipo de direito que interessa para Habermas seria o direito: (1) como uma manifestao do direito
temporalmente limitada e condicionada, ou seja, o direito moderno; (2) determina o tipo de direito como
sendo direito normatizado ou positivo; (3) como uma ordem normativa que justificada somente apelando
para um sistema coerente que possibilita a produo de normas segundo um procedimento exatamente
determinado por regras precisas (PINZANI, 2009, p. 141); (4) o direito moderno se depara com normas
173
desta sociedade complexa. Primeiramente, o direito, atravs de uma prtica de
autodeterminao, que exige dos cidados o exerccio comum de suas liberdades
comunicativas (HABERMAS, 2003, v. 1, p. 62), deve assegurar a solidariedade social na
sociedade complexa. Com isso, os conflitos acabam sendo resolvidos agora juridicamente
e no mais pela tica como era antigamente. Isto acontece pelo fato de que, no havendo
mais valores comuns, o consenso s poder ser obtido atravs de procedimentos
regularizados juridicamente.
Por segundo, o direito possui a tarefa de se opor colonizao do mundo da vida,
funcionando como um objeto que une os agentes do mundo da vida e do sistema e acaba se
tornando uma correia de transmisso abstrata e obrigatria, atravs do qual possvel
passar solidariedade para as condies annimas e sistematicamente mediadas de uma
sociedade complexa (HABERMAS, 2003, v. 1, p. 107).
O direito moderno acaba sendo o nico instrumento capaz de resolver os riscos de
dissenso entre os indivduos situados no mundo da vida e no sistema aps a colonizao do
mundo da vida, pois tal direito somente legtimo quando ocorrer a democracia, esta que
ter a funo de reduzir a complexidade social. A democracia , ento, a nica forma que
uma ordem jurdica legtima pode tomar, pois no h direito democrtico sem
democracia (PINZANI, 2009, p. 147).
Sendo assim, como poder ser resolvida a questo da legitimidade do direito
moderno? Para Habermas, a legitimao do direito moderno parte do prprio conceito
kantiano de legalidade, fundada no princpio da democracia (institucionalizao jurdica do
princpio do discurso D), pois, ao empregar a racionalidade comunicativa ao direito,
Habermas acaba construindo uma teoria discursiva do direito, trazendo tambm uma
possvel sada do ceticismo no campo da filosofia do direito.
Ora, o princpio da democracia
46
tem a misso de se prender a um procedimento de
normatizao legtima do direito. Tal princpio traz a possibilidade de se decidir
racionalmente s questes prticas em geral, ou seja, diz respeito legitimao daquelas
jurdicas interpretadas apenas por uma instncia autorizada a faz-lo e da qual sua interpretao vinculante;
e (5) as normas positivas do direito moderno so caracterizadas por serem instaladas por uma instncia
legtima ordenado da fora necessria. Resumindo, Habermas s entende o Direito em seu nvel ps-
convencional, ou seja, no direito moderno, na qual as estruturas da conscincia moderna materializam-se no
sistema jurdico (MOREIRA, 2004, p. 36).
46
Ele [o princpio da democracia] significa, com efeito, que somente podem pretender validade legtima as
leis jurdicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito num processo jurdico de
normatizao discursiva. O princpio da democracia explica, noutros termos, o sentido performativo da
prtica de autodeterminao de membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e
livres de uma associao estabelecida livremente (HABERMAS, 2003, v. 1, p. 145).
174
normas de ao que surgem sob a forma do direito. O princpio da democracia nada diz
sobre e se possvel tratar discursivamente questes prtico-morais, pois trata apenas das
condies abstratas de institucionalizao da formao racional da opinio e da vontade,
garantindo a todos igual participao no processo de normatizao jurdica, ao se utilizar
de um determinado sistema de direitos (WERLE, 2009, p. 279).
Assim, ser atravs do princpio do discurso, transformado em princpio da
democracia, que Habermas fundamentar o Direito, estabilizando a tenso entre autonomia
privada e pblica que se d atravs do procedimento legislativo. Deste modo, a
apresentao da co-originariedade da autonomia privada e pblica s aparece quando se
decifra o modelo de autolegislao proveniente da teoria do discurso, que ensina os
destinatrios serem ao mesmo tempo os autores de seus direitos. Portanto, o Direito
criao e reflexo da produo discursiva da opinio e da vontade dos cidados. Aqui, a
soberania do povo assume figura jurdica, pois a substncia dos direitos humanos introduz-
se nas condies formais para a institucionalizao jurdica desse tipo de formao
discursiva da opinio e da vontade, na qual a soberania do povo assume figura jurdica
(MOREIRA, 2004, p. 139).
A INCLUSO DO OUTRO NAS SOCIEDADES COMPLEXAS
Ento, se a soberania do povo quem vai garantir a legitimao do direito
moderno, atravs da democracia, como garantir a incluso de todos os cidados nas atuais
sociedades pluralistas? Ora, Habermas defende o contedo racional de uma moral que tem
por base o respeito mtuo e uma responsabilidade pela solidariedade recproca. claro que
a modernidade fica desconfiada de tal universalidade que assimila e iguala todos os
indivduos, e que no compreende o sentido dessa moral, fazendo com que desaparea a
relao existente entre a alteridade e a diferena, esta que continua tendo a sua validade por
um universalismo bem compreendido. Habermas formula, na Teoria da Ao
Comunicativa, os princpios bsicos dessa moral, de um jeito que os mesmos formassem
boas condies de vida que quebrassem a alternativa entre comunidade e sociedade,
visto por Habermas como se fosse algo falso.
O livro A incluso do outro do autor Jrgen Habermas surgiu depois da publicao
do livro Direito e Democracia. O que estes dois livros tm em comum seria o interesse
pela questo das consequncias que hoje resultam do contedo universalista dos princpios
175
republicanos (HABERMAS, 2002, p. 7), mais especificamente: para as sociedades
complexas, no qual os contrastes multiculturais se tornam questes urgentes; para os
estados nacionais, que se ligam em unidades supranacionais; e para os cidados de uma
sociedade mundial que foram reunidos numa involuntria comunidade de risco, sem ter
sido consultados (HABERMAS, 2002, p. 7).
Conforme Velasco (2003, p. 123-4), Habermas pretende estabelecer uma distino
entre os elementos que configuram a cultura poltica e as diversas formas de vida que
indivduos livremente podem abraar. Trata-se aqui de evitar que a definio de identidade
coletiva acabe sendo utilizado como mecanismo de excluso do diferente e se torne, como
acontece com certa facilidade, uma vontade consciente de homogeneidade que provoque a
marginalizao interna de grupos sociais inteiros. Da sairia a sua convico de que, para
resolver esse problema, as atuaes polticas prprias de uma democracia devem se dirigir
para a incluso do outro, de certa maneira que, a partir da independncia da procedncia
cultural de cada um, as vias de acesso da comunidade poltica sempre permaneam abertas.
Mas, para que isso ocorra, indispensvel que as instituies pblicas sejam desprovidas,
em seu maior grau possveis, de conotaes morais densas e adotem caractersticas
procedimentais do direito moderno que garantam a neutralidade. Leva-se isso em
considerao, pois, em um Estado constitucional democrtico, a maioria no pode
prescrever para as minorias a prpria forma de vida cultural, na medida em que divirja da
cultura poltica comum do pas, como sendo a cultura dominante. Sendo assim, somente
atravs das prprias instituies dessa forma de Estado, seria possvel estabelecer, de uma
maneira confiante, relaes de respeito mtuo entre sujeitos com diferentes bagagens
socioculturais.
Tal respeito mtuo (para todos e cada um) no apenas para aqueles que so
semelhantes, mas tambm pessoa do outro ou dos outros em suas diferenas (alteridade).
A responsabilidade pela solidariedade com o outro, como sendo uma pessoa igual a ns, se
refere a um ns flexvel em uma comunidade que se conserva firmemente a tudo o que
material e possui uma amplitude constante de suas fceis fronteiras. A constituio dessa
comunidade moral feita basicamente da ideia negativa do fim do preconceito e do
sofrimento, alm da incluso de todos os marginalizados em uma relao de respeito
recproco. Porm, tal comunidade no pode ser considerada um coletivo que impe a
obrigao de que todos os indivduos afirmem a ndole prpria de cada um. Habermas
apresenta o conceito de incluso no como um aprisionamento dentro de si mesmo e um
176
bloqueio frente ao alheio, mas sim, a incluso do outro diz respeito ao significado de que
as fronteiras da comunidade esto abertas a todos os indivduos, principalmente para os
indivduos que so diferentes aos olhos dos outros e desejam continuar sendo diferentes
(HABERMAS, 2002, p. 7-8).
Ora, a tica do discurso, conforme Habermas (2002, p. 48), ordena argumentaes
de autoentendimento e argumentaes de fundamentao normativa (ou de aplicao).
Porm, a mesma no reduz a moral a um tratamento confuso, j que pretende dar mrito
justia e solidariedade. O acordo alcanado atravs do discurso dependente do sim ou
do no de todos os participantes, alm de ser preciso superar o egocentrismo, pois uma
prxis argumentativa pretende se regular pelo convencimento recproco. Assim, a partir do
momento em que os discursos racionais obtm novamente o seu fundamento, atravs do
ponto de vista moral, a tica do Discurso ir forar a separao intelectualista entre juzo
moral e ao.
O discernimento a que se chega discursivamente no assegura nenhuma
transferncia para a ao. Com certeza os juzos morais nos dizem o que
devemos fazer; e boas razes afetam nossa vontade. Isso se revela na m
conscincia que nos aflige quando agimos contra nosso discernimento. Mas o
problema da fraqueza da vontade tambm revela que o discernimento moral se
deve pouca fora das razes epistmicas, sem constituir ele mesmo um motivo
racional. Quando sabemos o que moralmente correto fazer, at sabemos que
no h qualquer boa razo epistmica para agir de outra maneira. Isso no
impede, porm, que outros motivos acabem sendo mais fortes. (HABERMAS,
2002, p. 48-9).
Aqui surge a necessidade de se complementar a moral com um Direito coercitivo e
positivo. Segundo Habermas (2002, p. 49), com a apresentao da diferena entre o dever e
o que almejado pela tica, o dever consegue a sua validade e se torna normatividade.
Compreende-se por validade que as normas morais obtero o assentimento de todos os
participantes do discurso prtico, que testaro em conjunto a possibilidade da respectiva
prxis ser de interesse mtuo. No momento em que se encontra esse assentimento, fica em
destaque a razo falvel dos sujeitos em conselho, j que so convencidos reciprocamente
de que encontraram o devido reconhecimento da norma, e a liberdade dos indivduos que
legislam, pois so compreendidos ao mesmo tempo como autores e destinatrios das
normas, reconhecendo assim tanto a falha do esprito humano quanto capacidade de
construo que o mesmo projeta.
O que foge inteno e se obriga a todos no uma ordem moral suposta, na qual a
sua existncia no dependeria das descries, mas sim o ponto de vista moral. No o
mundo social em si que fugiu, mas as estruturas e procedimentos de processo de
177
argumentao que se faz necessrio tanto criao quanto descoberta das normas de uma
convivncia controlada pela retido. O sentido construtivista de uma formao de juzos
morais concebida segundo o modelo da autolegislao no se pode perder, mas ele
tampouco pode destruir o sentido epistmico das fundamentaes morais" (HABERMAS,
2002, p. 52).
A RELAO ENTRE A TICA DO DISCURSO E A INCLUSO DO
OUTRO
O teor de uma moral do respeito sem distines e da responsabilidade solidria por
cada um justificada por Habermas (2002, p. 53) atravs da tica do discurso, sendo
somente alcanada por meio da reconstruo racional dos contedos de uma tradio moral
religiosa. Caso o princpio do discurso D conservasse sua ligao com essa tradio da
origem, tal genealogia iria se intercalar ao objetivo de justificar o teor cognitivo dos juzos
morais em toda a sua totalidade. Portanto, preciso fundamentar tambm o prprio ponto
de vista moral, atravs da teoria moral.
O princpio do discurso D a sada da coao, que se faz presente nos
participantes de certas comunidades morais quando os mesmos, transferidos para as
sociedades complexas, so atrados no dilema de continuar discursando sobre juzos e
posicionamentos morais portando seu tipo de razo, tal como eles faziam antes. As
pessoas, em nvel global ou em uma comunidade local, participam de conflitos de conduta
que elas mesmas, ainda que seu ethos no tenha mais valor, compreendem como conflitos
morais, e que so solucionados partindo de alguma fundamentao. Ser visualizado agora
um percurso estilizado de maneira ideal e tipificada, demonstrando como tal moral
ocorreria sob condies reais (HABERMAS, 2002, p. 53).
Habermas (2002, p. 53) parte da ideia de que os participantes pretendam resolver
seus conflitos sem a utilizao de violncia ou acertos ao acaso, por meio de um acordo
recproco. Seria proposto, agora, determinar uma auto-compreenso tica que fosse aceita
universalmente, porm, encontraria seu fracasso devido s condies de uma sociedade
complexa. Apesar de suas fortes convices valorativas serem certificadas atravs da
crtica preservada na prtica, os participantes percebem que existem concepes diferentes
sobre o que seja o bem. Mas ainda ser suposto que tais participantes ainda queiram chegar
a um acordo recproco, sem querer substituir o convvio moral que j ameaado por
acordos entre partes cujas opinies diferem.
178
O indivduo somente adquire a sua individualidade quando se integra a uma
sociedade, resultando na aprovao de uma moral vlida tanto para o indivduo
irrepresentvel quanto para quem faz parte da sociedade, ligando a justia com a
solidariedade, o que faz com que sejam tratados com igualdade os desiguais, esses que so
conscientes de um pertencimento em comum na sociedade. Agora, o aspecto conforme o
qual todas as pessoas so iguais no encontra a sua validade a partir de outro aspecto,
como se os mesmos fossem absolutamente diferentes de todos os outros. O respeito
reciprocamente equnime por cada um, exigido pelo universalismo sensvel a
diversificaes, do tipo de uma incluso no-niveladora e no-apreensria do outro em
sua alteridade (HABERMAS, 2002, p. 55).
Surge, assim, a necessidade de se justificar a passagem para uma moral ps-
convencional. As obrigaes que tm por base a ao comunicativa e se ajustam pela
tradio no vo, atravs delas mesmas, para fora da comunidade. Mas, para Habermas
(2002, p. 55), a forma reflexiva da ao comunicativa diferente, j que argumentaes
apontam por si s para alm de toda individualidade. Ora, isso possvel levando em
considerao que nos pressupostos programticos de discursos racionais, o teor normativo
de suposies ampliado a uma comunidade que insere todos, no excluindo ningum que
possua a capacidade de dar contribuies relevantes.
Verificando a fragilidade dessa base, percebe-se que o contedo neutro de sua
subsistncia comum representa ao mesmo tempo uma chance, tendo em vista o
constrangimento que surge pelo fato do pluralismo de cosmovises. necessrio achar
uma fundamentao conteudstica-tradicional de um comum acordo normativo bsico, se o
mesmo tipo de comunicao que est de acordo com as reflexes prticas comuns
resultasse em certo aspecto na qual haveria a possibilidade de fundamentar normas morais
e na qual haveria a necessidade de ser convincente para todos os participantes. A carncia
desse bem universal encontraria sua superao de forma permanente apenas atravs do
carter prprio da prxis de reunies em conselho. Habermas d trs passos para se
alcanar uma fundamentao do ponto de vista moral, atravs da teoria moral
(HABERMAS, 2002, p. 55-6).
Primeiro passo: partindo da ideia que o nico expediente possvel para o ponto de
vista do julgamento imparcial de questes morais seria a prxis de reunies em conselho,
aparece a necessidade de se alterar a referncia a contedos morais pela referncia que se
auto envia forma dessa prxis. Ser atravs da compreenso dessa situao que o
179
princpio do discurso D aparece. Assim, o acordo conquistado pela base das condies
discursivas compreendido por um comum acordo aprovado por razes epistmicas, ou
seja, no se compreende esse acordo como um acerto ocasional motivado atravs de uma
viso egocntrica racional. Porm, D abre um caminho no qual h todo o tipo de
argumentao que tem por objetivo o comum acordo discursivo. Com D no se supe de
sada que uma fundamentao de normas morais seja sequer possvel fora do contexto de
um acordo substancial (HABERMAS, 2002, p. 56).
Segundo passo: quando se introduz D de forma condicional, ele acaba por
apresentar a prpria condio a ser seguida por normas vlidas, desde que as mesmas
encontrem a possibilidade de serem fundamentadas. Deve-se, ento, explicar agora o
conceito de norma moral. Os participantes de um discurso sabem intuitivamente como
tomar parte em argumentaes, e apesar de terem familiaridade apenas com a
fundamentao de sentenas assertivas, e no tomarem conhecimento de se as
reivindicaes de validao moral so possveis de serem julgadas de modo igual, esto
dispostos a pensar o que seria fundamentar normas. Porm, para se utilizar D,
necessria uma regra para a argumentao que aponte como pode se fundamentar as
normas morais (HABERMAS, 2002, p. 56).
Por fim, Habermas (2002, p. 57) diz que o terceiro passo seria a de que os prprios
participantes se do por satisfeitos com tal regra de argumentao, desde que a mesma se
mostre til e no os levem a resultados que no sejam obtidas atravs da intuio. H aqui
a necessidade de mostrar que normas, possuidoras da capacidade de conquistar
concordncia geral (Habermas cita o exemplo dos Direitos Humanos), esto marcadas por
uma prxis fundadora orientada assim mesma. Ento, falta apenas um ltimo passo
fundador, conforme o ponto de vista do terico da moral.
A linguagem encontrada em todas as culturas e sociedades, e no h nenhum
outro tipo de soluo de problemas igual a esse. Sendo assim, essa difuso universal da
linguagem e a falta de uma outra sada para ela, no seria fcil achar uma contestao
neutralidade de D. Porm, a partir da abduo de U, pode haver, mesmo que de forma
camuflada, uma compreenso prvia etnocntrica no distribuda por outras culturas,
juntamente com uma concepo do que bom. Quando a suposio de que um
comprometimento eurocntrico, que entende uma moral operacionalizada por U, poderia
perder fora caso existisse a possibilidade de tornar permanente a explicao para o ponto
de vista moral, dito de outro modo, caso esse ponto de vista moral tivesse o poder de
180
explicar sobre o que deve ser feito quando o participante se envolve em uma prxis
argumentativa (HABERMAS, 2002, p. 57-8).
Habermas (2002, p. 58) se d por satisfeito com o seguinte vestgio
fenomenolgico: a argumentao acontece atravs da inteno de um convencimento
mtuo, no que diz respeito legitimao das reivindicaes de validao que os
participantes mostram e defendem a favor deles. Atravs da prtica da argumentao,
comea a se instalar, em cooperao recproca, uma concorrncia por argumentos
melhores, partindo da unio dos participantes desde o inicio que se orientam por um
acordo recproco. Ora, a concorrncia, que pode levar a resultados racionalmente aceitveis
e convincentes, se fundamenta sobre a fora de convencimento dos prprios argumentos,
alm do que, um argumento bom ou ruim pode ser colocado em discusso. Assim, uma
afirmao, aceita racionalmente, encontra a sua base sobre razes ligadas a certas
caractersticas do mesmo processo de argumentao (pressuposies pragmticas) presente
na tica do Discurso.
Se cada um que se envolver em uma argumentao tiver que fazer ao menos
essas pressuposies pragmticas, ento nos discursos prticos, (a) por causa do
carter pblico e insero de todos os envolvidos e (b) por causa da igualdade de
direitos de comunicao para todos os participantes, s podero ter espao as
razes que levem em conta, de forma equnime, os interesses e as orientaes de
valor de cada um; e por causa da ausncia de (c) engano e (d) coao, s podero
ser decisivas as razes para o assentimento de uma norma discutvel. Por fim,
sob a premissa de uma orientao segundo o acordo mtuo, presumida
reciprocamente em todos os envolvidos, essa aceitao no coativa s pode
dar-se em comum (HABERMAS, 2002, p. 58-9).
Conforme a tica do Discurso, o ncleo de fundamentao do ponto de vista moral
reside no fato de que, apenas por meio de uma regra argumentativa, h a possibilidade de
mudar o teor normativo desse jogo de linguagem epistmico para a escolha de normas
acionais, propostas em discursos prticos juntamente com a reclamao de validade da
moral. Por si mesmo, no h como a obrigao moral ser dependente de, por exemplo, uma
imposio transcendental de pressupostos argumentativos que no se possam evitar, j que
ela tambm se une s normas inseridas no discurso prtico e que traz tona as razes
agrupadas nas reunies em conselho. Isso realado, tendo em considerao que U
aceito atravs do teor normativo de pressupostos argumentativos unidos a um conceito de
fundamentao de normas (HABERMAS, 2002, p. 59).
Tal fundamentao divide, conforme Habermas (2002, p. 59-60), o peso dos
esforos para ser aceito juntamente com um questionamento genealgico disfarado,
atravs de suposies caras teoria da modernidade. Confirma-se, atravs da reflexo, que
181
U traz uma substncia normativa excedente em sociedades complexas, tendo em vista
que se mostram a partir da forma de um resduo de si prprio poupado de argumentao, e
atravs da forma da ao que segue o caminho do acordo recproco.
Sobra, ento, a questo da aplicao da norma, j que o ponto de vista moral
validado em sua plenitude apenas atravs do princpio da adequao e levando em
considerao os juzos morais singulares. Concludo que discursos de fundamentao e
aplicao so transmitidos com sucesso, mostrado que questes prticas so divergentes,
partindo do ponto de vista moral, j que questes morais referentes ao convvio correto so
divididos entre questes pragmticas da escolha racional e questes ticas do bem viver.
Fica evidente tambm, retrospectivamente falando, que U funciona a partir de um
princpio discursivo mais extenso, de inicio com o objetivo de um questionamento de
ordem moral. D pode ser trabalhado, igualmente, como favorecedor de outras questes,
como, por exemplo, para reunies em conselho de um legislador poltico como tambm
para discursos jurdicos (HABERMAS, 2002, p. 60).
REFERNCIAS
DURO, Aylton Barbieri. A Tenso entre Faticidade e Validade no Direito Segundo
Habermas. ethic@, Florianpolis, v.5, n.1, p. 103-120, Jun. 2006.
HABERMAS, Jrgen. Para a reconstruo do materialismo histrico. Trad. Carlos
Nelson Coutinho. So Paulo: Editora Brasiliense, 1983.
HABERMAS, Jrgen. Conscincia Moral e Agir Comunicativo. Trad. De Guido Antnio
de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
HABERMAS, Jrgen. A incluso do outro: estudos de teoria poltica. Trad. George
Sperber e Paulo Astor Soethe. So Paulo: Edies Loyola, 2002.
HABERMAS, Jrgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flvio
Beno Siebeneichler. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 2 v.
MOREIRA, Luiz. Fundamentao do Direito em Habermas. 3 ed. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2004.
PINZANI, Alessandro. Habermas. So Paulo: Artmed Editora, 2009.
VELASCO ARROYO, Juan Carlos. Para Leer a Habermas. Madrid: Alianza Editorial,
2003.
182
WERLE, Denilson Luis. Pluralismo e tolerncia: sobre o uso pblico da razo em
Habermas. p. 263-288. In: PINZANI, Alessandro; DE LIMA, Clvis M.; DUTRA,
Delamar Jos Volpato (Coord.). O pensamento vivo de Habermas: uma viso
interdisciplinar. Florianpolis: NEFIPO, 2009.
183
O HOMEM COMO FUNCIONRIO E FUNDO-DE-RESERVA:
TCNICA MODERNA EM HEIDEGGER E FLUSSER
Maurcio Fernando Pitta
Universidade Estadual de Londrina
mauriciopitta@hotmail.com
RESUMO
No presente trabalho, sero explicitadas as concepes sobre a tcnica moderna, por um
lado, do filsofo alemo Martin Heidegger, sobretudo a partir de sua conferncia A
questo da tcnica, e, por outro, do filsofo tcheco Vilm Flusser, especialmente com
base em seu ensaio Filosofia da caixa-preta: por uma filosofia da fotografia, partindo-se
da hiptese de que, dada certa contemporaneidade entre esses dois autores e seus campos
de interesse e produes filosficas afins, como a fenomenologia, torna-se possvel
sintetiz-los em um dilogo e um reforo argumentativo mtuo com relao tecnologia,
ao mundo contemporneo e ao ser humano. No decorrer do trabalho, tal dilogo
explorado a fim de se compreender o modo de ser do homem contemporneo em sua
relao com o mundo em meio a tal contexto tecnolgico. Para tanto, primeiramente fez-se
necessria devida explanao dos pressupostos heideggerianos a partir de seus problemas
centrais, como o esquecimento do ser e seu decorrente abandono na histria da metafsica,
e de seus principais conceitos, como armao e fundo-de-reserva, a fim de evidenciar a
tese heideggeriana de que o ente humano corre o perigo de perder sua essncia, enquanto
aquele que pode desvelar o ser de maneira originria, e de transformar-se em mero recurso.
Posteriormente, o mesmo deve ser feito com relao aos pressupostos da maturidade
flusseriana, partindo de problemas como a idolatria, a textolatria e a programao, assim
como com relao a seus conceitos principais, como ps-histria, tecno-imagem, aparelho,
funcionrio etc., para demonstrar a tese de que o homem, programado pelo cdigo
unidimensional, no pode ser mais nada seno funcionrio de aparelhos. Como objetivo
final, pretende-se evidenciar as devidas concordncias e disparidades entre as teses desses
dois pensadores quanto relao entre o homem e seu mundo no contexto da tcnica
moderna, com o fim de comprovar a hiptese de reforo mtuo entre seus diagnsticos e
prognsticos sobre a situao contempornea do ser humano.
Palavras-chave: tcnica, Martin Heidegger, Vilm Flusser.
INTRODUO
184
Passada a primeira dcada do sculo XXI, a colocao de um questionamento
apropriado sobre a tcnica moderna
47
e sobre o lugar do homem frente a ela permanece
relevante. Fenmenos como a manipulao gentica ou o aparelhamento do corpo (cf.
RDIGER, 2006; SLOTERDIJK, 2011) reforam sua emergncia, hoje, assim como
fizeram o Holocausto e o perigo atmico nos idos do sculo passado (cf. SAFRANSKI,
2005b, p. 460). Diante desse quadro, faz-se necessrio reforar o posicionamento do
devido problema: de que maneira o homem contemporneo se relaciona com seu mundo
frente vigncia da tecnologia? Disso, faz-se necessrio tambm questionar se haveria
escapatria vivel frente ao domnio da tcnica moderna para o ser humano ou se estaria
ele fadado a manter-se sempre no horizonte dela?
Martin Heidegger, em sua conferncia intitulada A questo da tcnica
48
([1953]
2000a), apresentou uma concepo peculiar acerca da tcnica moderna que se desviou das
teorias apocalpticas ou apologistas, comumente aceitas por parte de seus contemporneos,
com relao ao tema. Por essa razo, sua conferncia ser abordada no segundo captulo
deste trabalho, iluminando causas da permanncia da tcnica at os dias de hoje e de sua
transformao. O filsofo tcheco Vilm Flusser, por outro lado, com sua Filosofia da
caixa-preta: por uma filosofia da fotografia ([1983a] 2002a) e sua teoria fenomenolgica
dos media, vem ao encontro no terceiro captulo para complementar os diagnsticos do
filsofo alemo sobre a contemporaneidade tecnolgica, especialmente considerando-se a
influncia de Heidegger nas primeiras obras flusserianas (cf. GULDIN, 2008b). Flusser, por
sua vez, questiona explicitamente a liberdade do homem nesse contexto tecnolgico.
Pretendemos, neste trabalho, fazer a comparao entre ambas as concepes de
tcnica com a pretenso de que as hipteses de ambos os filsofos ganhem consistncia
dialgica frente a situao do homem em seu mundo. Partir-se-, pois, de sucinto
esclarecimento das duas concepes para que se aponte, no quarto captulo, possvel
intercmbio entre elas, em resposta aos problemas levantados.
47
O termo tcnica ser usado doravante em sentido amplo, e possuir como sinnimo o termo tecnologia
apenas quando em referncia tcnica moderna ou contempornea, i.e., tcnica enquanto cincia aplicada
(cf. ELDRED, 2007), abrigando-se assim a ambiguidade apontada por Eldred do termo alemo Technik,
usado por Heidegger (2002b).
48
As tradues em portugus (2002b) e em ingls (1977) do ensaio Die Frage nach der Technik
(HEIDEGGER, [1953] 2000a, pp. 7-36) sero constantemente cotejadas aqui edio alem constada na
bibliografia; para fins de citao, ser utilizada a paginao dessa ltima apenas. Os termos, contudo, foram
postos em sua maioria aqui baseados nas tradues de Emmanuel Carneiro Leo (2002b), Marco Antnio
Casanova (2012a), Francisco Rdiger (2006) e William Lovitt (1977).
185
HEIDEGGER E A PERGUNTA PELA ESSNCIA DA TCNICA
A preocupao de Heidegger quanto ao domnio da tcnica moderna difere quando
comparada s demais, que constituem o que o prprio autor chamou de filosofias da
tcnica, por pressuporem-na sem sua devida problematizao (HEIDEGGER apud
RDIGER, op. cit., p. 25). A divergncia, contudo, s devidamente posta luz quando
clarificada a problemtica geral que motivou e orientou todas as reflexes heideggerianas a
partir de Ser e Tempo ([1927] 2012c), a saber, do sentido do ser. essa questo que, nas
reflexes maduras de Heidegger, permite concentrar as atenes menos ao domnio do que
tcnico do que essncia mesma da tcnica (id., op. cit., p. 9).
Tal concentrao s possvel a partir da diferena ontolgica posta entre ser e
ente. Ser o que determina o ente como ente, aquilo em relao a que o ente, como quer
que ele seja discutido, j entendido cada vez. (id. op. cit., p. 43). Portanto, os dois
conceitos no podem ser confundidos. Essa distino pode parecer banal, mas justifica-se
quando contraposta ao pano de fundo da tradio da metafsica ocidental. Heidegger
apresenta a histria da metafsica como histria do esquecimento da pergunta pelo sentido
do ser (Ibid., p. 85), posto que sempre, desde os gregos, o ser foi tido como mero ente entre
outros entes, reduzindo-se assim a necessidade de pr-se a pergunta sobre seu sentido
(DUBOIS, 2004, p. 15). Em Ser e tempo, Heidegger defende que, para se chegar
propriamente questo, deve-se fazer uma ontologia fundamental que abarque uma
desconstruo mesma da histria da metafsica, a fim de se compreender o porqu do
esquecimento do ser e perceber as mudanas em seu sentido no decorrer de sua histria
sem que haja interferncia dos preconceitos sedimentados em anos de tradio filosfica
(CASANOVA, op. cit., p. 79).
essa lida histrica
49
com a metafsica que permite a Heidegger conceber a
contemporaneidade tcnica luz no de seus entesmquinas, aparelhos, gadgetsmas,
sim, do ser que os determina. Devem-se abrir parnteses para reconhecer a existncia de
diferenas entre o foco terico de Heidegger em Ser e tempo e na obra a partir dos anos
30
50
. No entanto, parte-se aqui da premissa de que a lida histrica com o ser, seja por
49
Devem ser abertos parnteses para entender aqui a compreenso do termo histria por Heidegger. A
histria (Geschichte, cf. INWOOD, 1999, p. 93) a que ele se refere, posteriormente remetida histria do
ser (Seinsgeschichte, cf. ibid., p. 95) nos escritos posteriores dcada de 30, antecede todo tipo de histria
como estudo sistemtico de eventos passados (Historie, cf. ibid., p. 93), pois essa j regida, de incio, pela
determinao do ser daquela.
50
Em Ser e tempo h evidentemente um primado da ekstase futuro. [...] No perodo posterior viragem, por
outro lado, como o ser-a [Dasein] humano depende das interpelaes da histria, o primado passa a recair
186
intermdio de um ente privilegiado ou pela historicidade do ser ela mesma, permanece no
horizonte heideggeriano durante toda a sua obra. Concentramo-nos, neste trabalho,
sobretudo na obra de Heidegger posterior aos anos 30, onde se encontram expressas as
preocupaes principais sobre o problema da tcnica.
A poca da tcnica moderna, isto , a nossa era, pode ser entendida como momento
derradeiro da histria da metafsica, momento em que o esquecimento do ser se radicaliza;
momento de abandono do ser. Essa expresso define a essncia do niilismo contemporneo
conforme entendida por Heidegger, designando o surgimento de uma determinada
abertura do ente na totalidade (um mundo), na qual o ser abandona to radicalmente o ente
que esse parece vigorar como a nica instncia real. (CASANOVA, 2012b, p. 191) Essa
supresso de tudo ao plano ntico das configuraes fugazes de durao relativa no devir
(id., op. cit., p. 210) coaduna-se interpretao heideggeriana da vontade de poder (Wille
zur Macht) nietzscheana, tida como consumao da metafsica da subjetividade moderna
(RDIGER, op. cit., p. 65): o homem, entendido como subjectum, centro de sntese
representativa de todo o real, compreende o mundo como totalidade de objetos calculveis,
em conformao com suas vivncias e disposio de seu domnio (HEIDEGGER, 2002c).
A compreenso objetificada dos entes em geral abre precedentes para a vigncia do
que Heidegger chamou de armao (Gestell; id., op. cit., p. 20), maneira em que ele
compreende e conceitua a essncia historial da tcnica moderna (RDIGER, op. cit., p. 45).
Ope-se aqui a tcnica moderna
51
tcnica clssica
52
, a grega, que pauta-se no
desvelamento
53
do ente como , um pro-duzir ou um trazer-a-tona (Her-von-
bringen) do velado para o desvelado que, no entanto, deixa-viger (An-wesen) o real, isto ,
deixa-o se presentar sem tentar tematiz-lo e conform-lo, como faz o homem sob vigncia
do ser da tcnica moderna; esse, no caso, ao invs de deixar o ente ser, provoca-o
(Herausfordern) a desvelar-se como mero fundo-de-reserva (Bestand), ou seja, mero
recurso inesgotvel, sempre disposio. Armao , portanto, o modo de ser dos entes na
contemporaneidade, apelo originrio do ser que rene e dispe (bestellte), no sentido de
sobre o que foi e continua sendo, sobre aquilo no passado que realmente foi, para o poder inicial das
ontologias histricas. (CASANOVA, op. cit., p. 169) O foco do segundo Heidegger evidentemente
histrico e voltado historicidade mesma do Ser e a apropriao (Ereignis) sobre o Dasein, no mais
temporalidade do Dasein como condio de desvelamento do ser (cf. ibid.).
51
No ingls, technology (cf. HEIDEGGER, 1977; ELDRED, op. cit.).
52
O termo clssico aqui ser utilizado apenas de modo didtico, em oposio tcnica moderna;
Heidegger, no obstante, no usa esse termo em seus textos e conferncias.
53
O termo desvelamento (Entbergung; HEIDEGGER, op. cit., p. 13) refere-se tanto ao modo de apario
do ente na totalidade quanto ao acontecimento da verdade do ser, isso , de sua determinao sobre o ente,
entendida a partir da grega (ibid.).
187
ordenar
54
, o homem a desvelar o real como fundo-de-reserva (HEIDEGGER, op. cit., p.
23).
Heidegger diz que tal entrega de si ao desvelamento provocador o destino de ser
(Geschick) a que est submetido o homem contemporneo (ibid., p. 25). Isso significa dizer
no necessariamente que o Dasein se depara com uma espcie de fatalismo inexorvel
(ibid.), pois a escuta (Hrender) ao destino, no sentido de dar-se conta, segundo o autor,
implica em liberdade (Freiheit)
55
. Abrindo-nos expressamente essncia da tcnica,
encontramo-nos, de sbito, tomados por um apelo de libertao (id., op. cit., p. 26), em
que se abre caminho para conceber no ente uma perspectiva de desvelamento mais
originria, como no caso da potica, , espao fundamentalmente estranho (ibid.,
p. 36) tcnica moderna.
No entanto, do destino provocador, diz Heidegger, tambm emana um perigo: a
perda da essncia do homem enquanto aquele que pode desvelar o ente como um deixar-
viger (ibid., p. 29). Onde [a armao] domina, afasta-se qualquer outra possibilidade de
desvelamento. (ibid., p. 28) O prprio homem, enquanto ente humano que s pode
desvelar o real de forma provocadora, tambm termina por se conceber enquanto fundo-de-
reserva (CASANOVA, op. cit., p. 208). O ente humano se v malfadado
unidimensionalidade, ao agir sempre igual em funo de uma subjetividade autnoma
que o transcende. [...] o homem no pode seno se colocar na posio aberta pela
composio, ou seja, a posio daquele que requisita. (ibid.) Com isso, a pretenso do
homem moderno, sujeito, de dominar a natureza se inverte para a subjugao do humano,
objetificado, lgica calculadora da tcnica moderna (RDIGER, op. cit., p. 45).
FLUSSER E A ERA DAS IMAGENS TCNICAS
A teoria da comunicao de Flusser, dada influncia de Wittgenstein, Husserl e
Heidegger em sua obra (BATLICKOVA, 2008a, p. 174), s pode ser entendida a luz de
pressupostos filosficos. Comunicao, em Flusser, tem carter existencial para o homem:
imortalidade (FLUSSER, [1985] 2008c). A comunicao [para Flusser] um ato coletivo,
dialgico, intencional e artificial de liberdade, visando a criar cdigos que nos ajudem a
54
Sugesto de traduo utilizada por Francisco Rdiger (op. cit.).
55
No alemo, muitas vezes usado das Freieo livre, no sentido de o aberto ou o desvelado (cf.
LOVITT in HEIDEGGER, op. cit., p. 25, nota 23); liberdade, em Heidegger, relaciona-se menos ao mbito
moral e mais abertura do ente na totalidade. ou seja, verdade do ser.
188
esquecer da morte inevitvel e a falta de sentido de nossa existncia absurda. (GULDIN,
op. cit., p. 79) A existncia absurda a qual o filsofo tcheco se refere pode ser
compreendida apenas atravs de uma noo sugerida por ele do universo como um sistema
termicamente fechado, regido pela noo de entropia, i.e., de que tudo tende a desinformar-
se. Essa uma tendncia rumo ao provvel, rumo ao fim derradeiro da morte trmica
(FLUSSER, op. cit., p. 32). O homem o nico ente que pode negar a morte e, portanto, a
entropia mesma, tendo em vista que ele o nico ente que tem capacidade de
comunicao, no sentido estrito de criao e acmulo de informao (GULDIN, op. cit., p.
83). Informao um processo estatisticamente improvvel (FLUSSER apud GULDIN,
op. cit., p. 84), pois vai contra a tendncia desinformativa do todopor isso, a
comunicao afirmao da liberdade humana e aquilo que d a ela sentido (ibid., p. 86).
Os pressupostos tericos de Flusser acerca da comunicao humana vo ao
encontro, finalmente, de sua concepo de media em um sentido particular, diverso do
pretendido por teorias da comunicao como a de Marshall McLuhan (ibid., p. 97).
Medium, em Flusser equivale, sobretudo em seus escritos tardios, ao conceito de
linguagem em seu sentido latode cdigo. Cdigos so definidos como sistema de
smbolos (ibid., p. 98) que operam na comunicao humana sempre como substituintes de
fenmenos ou de outros cdigos. o cdigo que intermedeia a relao entre o homem e
seu mundo. O homem enquanto homem sempre compreende o mundo, segundo Flusser,
por cdigos. Eles, portanto, tornam-se seu horizonte e modificam seu estar-no-mundo
(FLUSSER, op. cit., p. 25). O filsofo tcheco faz um histrico dos cdigos, tambm
chamado de escalada de abstrao (ibid., p. 29), a fim de se chegar derradeira imagem
tcnica, produto do cdigo primordial da contemporaneidade. As imagens tradicionais
bidimensionais, mticas e circularese os textosunidimensionais, conceituais, causais e
linearespor outro lado, so cdigos referentes aos perodos da pr-histria e da histria,
respectivamente (id., op. cit., p. 10); o primeiro representa e substitui o mundo enquanto
circunstncia para ajudar o ente humano a se guiar nele; o segundo, as imagens, como
forma de escapar alucinao que elas causam, isto , idolatria (ibid., p. 9). Toda a
conscincia histrica que surge doravante, desde as filosofias pr-socrticas at as teorias
cientficas da atualidade, provm dessa tentativa de explicar o mundo de forma causal, por
linhas (ibid., p. 10). No entanto, com a chegada da modernidade e a abstrao cada vez
mais intensa dos textos, surge um novo nvel alucinatrio: a textolatria (ibid., p. 11),
donde h emergncia de um novo tipo de cdigo, provindo da desconstruo de linhas,
189
como, por exemplo, teorias, em pontos nulodimensionais, como, por exemplo, proposies
calculveis da lgica, formando assim uma conscincia ps-histrica (id., op. cit., p. 18,
27).
A nulodimensionalidade do novo cdigo implica em que o mundo, agora calculvel
e computvel, engendra-se no absurdo abismo do nada entrpico, pois um mundo no
qual todas as coisas surgem por acidente. (ibid., p. 20) Para o homem, que s v sentido
na comunicao, isto , na neguentropia (GULDIN, op. cit., p. 83), torna-se necessrio
concretizar o nada do cdigo nulodimensional, cume da abstrao (FLUSSER, op. cit., p.
28).
Essa concretizao feita pelas tecno-imagens, sucessoras do texto em sua tentativa
de superar a textolatria. A definio de tecno-imagem de imagem produzida por
aparelhos (id., op. cit., p. 12); aparelhos so, em sntese, produtos da tcnica (ibid.), que
por sua veze eis a definio flusseriana de tcnica texto cientfico aplicado (ibid.).
Aparelho, em Flusser, tem sentido amplo e conceitual: pode significar tanto o aparato
tcnico, como uma cmera fotogrfica, quanto um gigantesco complexo administrativo
(ibid., p. 67). O aparelho condio de possibilidade de concretizao dos cdigos
nulodimensionais, i.e., das diversas teorias cientficas complexas, em imagens (id., op. cit.,
pp. 28-29). Todo aparelho caixa preta
56
, pois esconde seu complexo funcionamento
interno, produto de tais teorias complexas; por isso, ele d a impresso quele que o utiliza
de que se trata de mero instrumento do qual se tem total liberdade quando, no entanto, o
aparelho carrega um complexo programa interno (FLUSSER, op. cit., pp. 19-23). Como o
homem que o utiliza compreende o mundo por cdigos, sua orientao fica a cargo das
virtualidades inseridas no programa do aparelho (ibid., p. 23); o fato, porm, de que o
aparelho caixa preta faz com que o seu usurio acredite dominar com plena liberdade seu
funcionamento, sem se dar conta de suas virtualidades (ibid., p. 24).
Flusser frequentemente faz analogia com a fotografia para explicar esse e outros
pontos, pensando-a como forma de imagem tcnica. Diz ele: o universo fotogrfico um
dos meios do aparelho para transformar homens em funcionrios, em pedras de seu jogo
absurdo (id., op. cit., p. 65). O fotgrafo acredita ser livre em meio s virtualidades do
programa assim como o funcionrio. O fotgrafo, a propsito, j funcionrio e funciona
apenas em funo do aparelho (KRAUSE, 2002b, p. 20). No apenas o homem, porm,
56
O termo caixa-preta veio da eletrnica, que o usava para designar parte complexa de um circuito
eletrnico omitida intencionalmente no desenho de um circuito maior e substituda por uma caixa (box)
vazia, sobre a qual se escreve apenas o nome do circuito omitido. (KRAUSE apud COSTA, 2009, p. 52)
190
mas os prprios aparelhos tornam-se funcionrios de meta-aparelhos. O fotgrafo exerce
poder sobre quem v suas fotografias, [...] o aparelho fotogrfico exerce poder sobre o
fotgrafo. [...] E assim ad infinitum. (FLUSSER, op. cit., p. 27) Acontece que o homem,
agora funcionrio, acredita controlar o aparelho e utiliz-lo a seu favor para emancipar-se
do trabalho; no entanto, ele sucumbe ao programa pr-estabelecido do aparelho (KRAUSE,
op. cit., p. 21). A contradio [...] deveria ser flagrante: a f do homem no progresso
depende da descrena do homem em si mesmo. (ibid., p. 20)
Krause, parafraseando o comentador Arlindo Machado, argumenta, enfim, que a
programao, isto , o acmulo gerenciado de um nmero finito de informaes, leva
repetio e redundncia, sendo que ambas implicam em estereotipia, [...]
homogeneidade e previsibilidade dos resultados, isto , padronizao e [...]
impessoalidade (ibid., p. 22). Sendo o ente humano, na concepo flusseriana, um ente
comunicacional e, portanto, neguentrpico, a condio de previsibilidade do programa
emparelha-se sua capacidade de causar acidentes programveis (FLUSSER, op. cit., p.
33), isto , de transformar informao improvvel em desinformao provvel. Ao invs de
informarem e comunicarem, os aparelhos acabam por gerar informao redundante e
programvel: entrpica. Para Flusser, uma sada possvel seria utilizar os aparelhos contra
seus programas, isto , lutar contra a sua automaticidade (ibid., p. 34), jogar contra o
aparelho (id., op. cit., p. 75), o que implica em um ato de liberdade (ibid.).
UM POSSVEL DILOGO HEIDEGGERFLUSSER SOBRE A SITUAO
DO HOMEM FRENTE TCNICA
Vale salientar, de incio, que tanto Heidegger quanto Flusser se concentram, nos
textos aqui expostos, no tema da tcnica moderna entendida como tecnologia, no sentido
de conhecimento cientfico aplicado (ELDRED, op. cit.), mesmo se ora afastam-se da
cincia para tratar do problema de forma mais fundamental. Contudo, enquanto Heidegger
trata da tcnica moderna a partir de seus pressupostos ontolgicos sobre o sentido do ser e
sua histria, concentrando-se em definir a essncia da tcnica como um desvelar
provocador do ente na totalidade (HEIDEGGER, op. cit.), Flusser, partindo de uma
abordagem de cunho mais antropolgico, se concentra nos media, entendidos como
cdigos que intermedeiam a relao entre homem e mundo; mais especificamente, no
191
medium nulodimensional. Ele caracteriza, pois, a tecno-imagem, tal como outros produtos
de aparelhos programados, como a concretizao de tal cdigo articulado que culmina, por
fim, na programao do usurio do aparelhoou melhor, de seu funcionrio (FLUSSER,
op. cit.).
Quanto s consequncias da tcnica moderna para o ente humano, erige-se logo
uma possvel concordncia. Heidegger, primeiramente, considera, conforme j exposto,
que o homem, imerso no desvelar provocador da armao, revela-se a si mesmo como
mero fundo-de-reserva, tal quais os diversos entes que o cerca; ele se objetifica como ente
calculvel e mensurvel, sempre como um meio disposto a outro fim que no ele mesmo.
Flusser, tomando uma abordagem argumentativa semelhante, diz que o homem, agora em
funo do aparato tcnico, torna-se, para usar o termo empregado por Krause, mero
funcionrio fascinado (KRAUSE, op. cit.), varivel do programa do aparelho. Alm do
fato de ambos os conceitos, em suas respectivas medidas, derivarem da pretenso moderna
de objetificao do mundo (HEIDEGGER, op. cit.; FLUSSER, op. cit.), parecem tambm
carregar parentesco suficiente para possibilitar entre si intercmbio. O funcionrio
flusseriano (e.g. o fotgrafo) um ente humano disposto como fundo-de-reserva do
aparelho (e.g. fotogrfico), entendido como outro ente posto-a-ordem de um meta-aparelho
(e.g. indstria fotogrfica), e assim por diante ad infinitum (ibid., p. 27). O exemplo
heideggeriano do silvicultor parece ecoar essa ideia de cadeia funcionarista flusseriana,
pois, segundo Heidegger (op. cit., pp. 18-19):
O silvicultor [die Forstwart] que, na floresta, mede a lenha abatida e que,
aparentemente, como seu av, percorre os mesmos caminhos silvestres, est hoje
disposio da indstria madeireira quer o saiba, quer no. Ele est disposto ao
fornecimento de celulose exigido pela demanda do papel, encomendado pelos
jornais e revistas ilustradas. Estes, por sua vez, dispem a opinio pblica a
consumir as mensagens impressas e a tornar-se disponvel manipulao
disposta de opinies.
57
Da mesma maneira, o silvicultor disposio da indstria madeireira pode ser
interpretado como um funcionrio em funo do aparelho industrial-administrativo que o
pressupe como varivel. Diante desse quadro, prope-se aqui reforar que ambas as teses
quanto posio do homem frente vigncia da tecnologia na contemporaneidade so
57
Traduo, como explicitada na nota 4, adaptada das verses brasileira e inglesa.
192
possveis, seja do ponto de vista ontolgico-historial de Heidegger, como um fundo-de-
reserva, seja da perspectiva antropolgica de Flusser, como um funcionrio programado.
Vale salientar que ambos, em dado momento, parecem acenar para a possibilidade,
mesmo que remota, de sada vigncia totalitria da tcnica ou, em outras palavras, de
salvaguarda liberdade humana. Cabe esclarecer, no entanto, que, embora ambos usem o
termo liberdade em dado momento, seu sentido carrega nuances diferentes para cada um
deles. A liberdade a que se refere Heidegger
58
no carrega sentido moral e se restringe a
possibilidades mais originrias de abertura, vedadas pelo desvelar provocador, mas que se
fazem presentes no dar-se conta do destino pelo homem. Para Flusser, por outro lado,
liberdade, atrelada comunicao humana e produo de informao, aparece como a
capacidade humana fazer frente ordem universal entrpica (cf. FLUSSER, op. cit.), que
arrasta tudo para a morte inevitvel. No domnio da nulodimensionalidade tcnica,
liberdade tentativa de superar os limites do programa do aparelho porque o prprio
aparelho no faz mais do que ordenar informao improvvel, tornando-a provvel e,
novamente, entrpica. Jogar contra o aparelho , pois, ato de liberdade porque implica em
negar a entropia e, assim, reconquistar a humanidade.
CONSIDERAES FINAIS
Por fim, conclumos pela possibilidade de troca conceitual entre Martin Heidegger
e Vilm Flusser quanto posio do homem frente ao mundo no domnio da tcnica
moderna. Ambas as concepes acabam por oferecer imagem semelhante do homem
contemporneo que culminam, de uma maneira ou de outra, na demanda por uma crtica
do funcionalismo, termo esse utilizado por Flusser (op. cit., p. 73), como busca da
liberdade humana em um mundo j de antemo tecnicista. Porm, tais consideraes s
podem ser devidamente explanadas fora do escopo limitado deste trabalho, que se props
de incio apenas a apontar possveis dilogos entre os dois fenomenlogos a fim de tratar
da relao entre homem e mundo no domnio da tcnica.
Talvez seja necessrio, em trabalhos posteriores, explorar possveis contendas entre
ambos os autores quanto a seus pressupostos tericos, como o carter ontolgico de
58
Ao menos dentro dos limites de sua conferncia A questo da tcnica (ibid.); para consideraes sobre o
conceito de liberdade em um sentido mais global pela obra de Heidegger, fazem-se necessrias pesquisas
outras, alhures a este trabalho.
193
Heidegger em contraste com a filosofia ntica, de carter antropolgico, de Flusser.
Sugiro que tambm seja posta em anlise a afirmao de Heidegger em sua Carta sobre o
humanismo (HEIDEGGER, [1946] 2008d) de que a linguagem a morada do ser (ibid.,
p. 326), considerando-se que pela linguagem que o homem guarda o ser e, assim, tem no
seu mundo sentido. Se considerarmos linguagem no sentido lato correspondente ao
medium flusseriano, no estaria a filosofia de Flusser inserida no contexto da verdade do
ser e de sua histria tambm ao traar uma escalada de abstrao?
Admito aqui, novamente, que questes como essas excedem a pretenso deste
texto, tomadas neste por meio de abordagem assumidamente lateral, com o propsito de
serem apontadas para possveis pesquisas e consideraes posteriores.
REFERNCIAS
BATLICKOVA, Eva. Em busca dos fundamentos do pensamento de Vilm Flusser. In:
Revista Ghrebh-, So Paulo, v. 1, n. 11, mar. 2008a, pp. 172-183.
BERNARDO, Gustavo; FINGER, Anke; GULDIN, Rainer. Vilm Flusser: uma
introduo. So Paulo: Annablume, 2008b.
CASANOVA, Marco A. Compreender Heidegger. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 2012a. (Srie
Compreender)
______. O homem entediado: niilismo e tcnica no pensamento de Martin Heidegger. In:
Ekstasis: revista de hermenutica e fenomenologia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2012b, pp.
184-224.
COSTA, Rachel C. O. Imagem e linguagem na Ps-histria de Vilm Flusser. 2007.
Dissertao (Mestrado em Filosofia), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2009, 125 f.
DUBOIS, Christian. Ser e tempo, 1. In: ______, Heidegger: introduo a uma leitura.
Trad. Bernardo B. C. de Oliveira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, pp. 13-43.
ELDRED, Michael. Technology, technique, interplay: questioning Die Frage nach der
Technik. In: Proceedings of the 41st North American Heidegger Conference. Chicago:
DePaul University, 2007. Disponvel em: <www.arte-fact.org/untpltcl/tchniply.html>.
Acesso em: 24 maio 2013.
FLUSSER, Vilm. Filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2002a.
194
______. O universo das imagens tcnicas: elogio da superficialidade. So Paulo:
Annablume, 2008c.
HEIDEGGER, Martin. A questo da tcnica. In: ______. Ensaios e conferncias. 2. ed.
Trad. de Emmanuel C. Leo, Gilvan Fogel e Mrcia S. C. Schuback. Petrpolis: Vozes,
2002b, pp. 11-38. (Col. Pensamento Humano)
______. Carta sobre o humanismo. In: ______. Marcas do caminho. Trad. de Enio P.
Giachini e Ernildo Stein. Petrpolis: Vozes, 2008d, pp. 326-376.
______. Die Frage nach der Technik. In: ______. Gesamtausgabe: Vortrge und
Aufstze. Vol. 7. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2000a, pp. 7-36. (Col. Gesamtausgabe)
______. Ser e tempo. Trad., org., notas etc. de Fausto Castilho. Campinas: Unicamp;
Petrpolis: Vozes, 2012c. (Col. Multilngues de Filosofia Unicamp)
______. The age of the world picture. In: ______. Off the beaten track. Trad. de Julian
Young e Kenneth Haynes. Cambridge: Cambridge University Press, 2002c, pp. 57-85.
______. The question concerning technology. In: ______. The question concerning
technology and other essays. Trad. e introduo de William Lovitt. Londres: Garland
Publishing Inc., 1977, pp. 3-35.
INWOOD, Michael J. A Heidegger dictionary. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. (Col.
The Blackwell philosopher dictionaries)
KRAUSE, Gustavo B. O funcionrio fascinado. In: Itinerrios, Araraquara, n. 15/16,
2000b, pp. 15-28.
RDIGER, Francisco. Martin Heidegger e a questo da tcnica: prospectos acerca do
futuro do homem. Porto Alegre: Sulina, 2006.
SAFRANSKI, Rdiger. Demonizao da tcnica e tcnica da demonizao. In: ______.
Heidegger: um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. 2. ed. Trad. de Ernildo Stein. So
Paulo: Gerao Editorial, 2005b, pp. 455-472.
SLOTERDIJK, Peter. La domesticacin del ser: por uma clarificacin del claro. In:
______. Sin salvacin: tras las huellas de Heidegger. Trad. de Joaqun C. Mielke. Madrid:
Akal, 2011, pp. 93-152.
195
ASPECTOS EPISTEMOLGICOS DA FILOSOFIA DE JOHN DEWEY
Marileide Soares de Lima
Universidade Estadual de Londrina
ledaleda55@hotmail.com
RESUMO
Este artigo objetiva apresentar aspectos da teoria do conhecimento de John Dewey (1859-
1953), suas crticas aos dualismos presentes na Filosofia tradicional que se refletem nas
demais reas do viver humano. Dewey desenvolve uma teoria emprica naturalista com
bases na Biologia e na Psicologia Social. Nela, o indivduo dependente, com
possibilidades de emancipao devido a sua capacidade elstica de desenvolvimento da
inteligncia. Seu instrumento de emancipao o pensamento reflexivo.
Palabras-chave: Dewey. Conhecimento; Pensamento reflexivo; Adaptao; Crescimento.
INTRODUO
A teoria do conhecimento ou o modo como o indivduo compreende o universo e
sua relao com o mesmo, determina suas demais teorias e, portanto o seu modo de pensar
e viver. A atuao humana ao longo da histria se sucedeu de diferentes formas. A
princpio, a vida era pautada nos costumes rotineiros de repetio vigentes em cada uma
das comunidades. Qualquer mudana que houvesse era conseqncia de fatores
unicamente externos. Na antiguidade grega h um avano significativo na relao do
indivduo com o mundo com a possibilidade de explicar ou teorizar a vida. A razo tida
como uma entidade universal que pode ser captada pelo pensamento de fluxo livre, perante
rigorosa observao da realidade. Se houver erro, o mesmo se refere apenas ao indivduo.
A sociedade na antiguidade helnica dividida por classes, cabendo a poucos a
vida sedentria dedicada ao cio, reflexo, e aos demais o trabalho indispensvel s
necessidades bsicas do viver. Dewey, depreende da necessidade de justificar esse
ambiente de desigualdades, a formulao das teorias dicotmicas. Mais que isso, a
valorizao da razo e depreciao da natureza.
Na Idade Mdia, a universalidade da razo tomada pelo cristianismo e
transformada na divindade do Esprito. O pensamento perde sua liberdade, no entanto h o
196
surgimento de uma democratizao, pois qualquer indivduo pode aspirar ao cu aps sua
morte. A natureza passa a ser valorizada como obra divina.
A idia da criao do mundo e a do pecado original, trazidas pelos cristos e
oriundas da tradio judaica, viriam, por um lado, tornar a "natureza" respeitvel,
por haver sido criada por Deus, e, por outro, dar nova explicao aos elementos
constitutivos do homem, j agora carne e esprito, os quais, longe de serem
suscetveis de contrle pelo desenvolvimento do esprito, se encontrariam em
luta permanente, no sendo a vitria do esprito sbre a carne o privilgio de
alguns, mas a luta de todos os homens, do mais humilde ao mais bem dotado
(TEIXEIRA, 1959, p. 14-27).
Na modernidade, com o surgimento do individualismo econmico, h um
expressivo movimento filosfico em busca de emancipao. A verdade dogmtica
escolstica por esse movimento, rejeitada, buscando-se novos rumos para o
conhecimento. Surgem duas importantes correntes filosficas, a saber, o Racionalismo e o
Empirismo. A primeira, defendendo o conhecimento, sobretudo pelo intelecto e a segunda,
pela experincia. Em ambas as correntes, o indivduo, em busca de certificaes da
verdade, se isola do mundo. A separao to grande que foi necessria a criao de uma
rea especfica da filosofia, a Epistemologia, para estudar uma forma de transpor o abismo
criado entre o indivduo, como sujeito e o mundo objetivo.
Dewey considera um erro filosfico, uma falcia, a idia de considerar a matria,
a vida e o esprito gneros distintos do Ser, porque converte funes em
substncias, as conseqncias das interaes dos acontecimentos, em causas da
produo dessas conseqncias [...] (MURARO, 2012, p.9).
A crtica deweyana incide com isso na ideia dualista que confere denotao de
existncia matria (ao fsico) e de essncia mente. Esse suposto dualismo no indivduo,
entre esprito e corpo ou corpo e alma e a dicotomia entre o mesmo e a natureza so
responsveis, de acordo com a teoria deweyana, pelo desconhecimento e, portanto pela
falta de controle sobre o viver da maioria ou massa humana, que no encontra socialmente
as condies necessrias para apreender o hbito de pensar. Dessa forma, a mesma
manipulada para satisfazer interesses utilitaristas e gananciosos de poucos.
DESENVOLVIMENTO
A teoria emprica naturalista deweyana pode ser representada a partir de um zoom
no universo - composto essencialmente de relaes energticas e foras - que atuam de
inmeras formas entre si produzindo, com isso, os acontecimentos. Portanto, essa teoria
197
tem suas bases no dinamismo provocado por um contnuo movimento, que por sua vez
implica em constantes mudanas. Tais transformaes, relaes ou acontecimentos
produzem e reproduzem constantemente seus corpos. Podemos representar o cosmos,
significativamente, com a palavra: ATIVIDADE.
A antropologia deweyana objetiva demonstrar a incoerncia das filosofias dualistas
que se escoram na metafsica. O filsofo prope, inclusive, uma reconstruo na filosofia,
pois a mesma, no acompanhou o desenvolvimento dos mtodos de investigao oriundos
da revoluo cientfica do sculo XVII. Dewey apia-se na Biologia, mais precisamente na
teoria evolucionista de Charles Darwin, e elabora uma matriz de comportamento vital a
partir de trs plateaus de desenvolvimento, a saber: o fsico, psicofsico e mental, para
conceituar a relao entre corpo e mente. importante destacar que esta fundamentao
terica deweyana, est relacionada em todos os seus nveis de evoluo, com as questes
do desenvolvimento humano, tendo em vista o fato de que, o desenvolvimento da mente
estar intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do organismo. O primeiro estgio
o fsico e dele pertencem os seres inorgnicos que no reagem ao sofrerem a ao de foras
maiores que sua resistncia. Portanto, sua transformao ocorre apenas como resultado da
influncia do ambiente. Dewey conceitua tal fenmeno como saturao e exemplifica essa
situao com o ferro. O ferro no se esfora para continuar ferro: se entra em contato com
a gua, breve se transforma em bixido de ferro (TEIXEIRA, 1959, p. 13).
Quanto aos seres vivos, que compem os universos, vegetal e animal, pertencem ao
estgio psicofsico e diferenciam-se do estgio anterior pela luta incessante por manter seu
padro de existncia, a saber, sua sobrevivncia. [...] denota que a atividade fsica
adquiriu propriedades adicionais, a aptido para obter dos meios circundantes uma classe
peculiar de satisfao interativa das necessidades; no denota uma abolio do fsico-
qumico, nem uma estranha mescla de algo fsico e algo psquico [...] (DEWEY, 1958, p.
255, apud, MURARO, 2012, p.4). Utilizam-se, para isso, do esforo que se caracteriza por
um dispndio maior de energias. Exemplifica Dewey, a diferena entre o estgio fsico e
psicofsico:
Ao receber uma pancada, a pedra ope resistncia. Se a resistncia for maior do
que a fora da pancada, ela exteriormente no apresentar mudana; no caso
contrrio se partir em fragmentos menores que ela. A pedra nunca procura
reagir de modo a defender-se contra a pancada e muito menos a tornar a dita
pancada um fator que contribua para a prpria continuidade de sua ao. Quanto
coisa viva, pode ser facilmente esmagada por uma fora superior, mas jamais
deixa de tentar converter as energias, que sobre ela atuam, em elementos
favorveis a sua existncia ulterior. Se no o consegue, no se fragmenta em
198
pedaos menores (pelo menos nas mais elevadas formas da vida), mas perde sua
identidade como coisa viva (DEWEY, 1979b, p. 1).
Os organismos vivem em virtude do ambiente, sua nica fonte de reposio das
energias gastas para a manuteno da vida. A conservao dos organismos decorre de sua
atividade em um contnuo e ilimitado nmero de circuitos energticos que tem seu fluxo a
partir de uma necessidade, como a fome, a sede, o calor, entre outras. H com isso, um
desequilbrio, em relao ao ambiente. Nisso, todo o organismo entra em tenso. Reage
ento, por meio do esforo, em busca daquilo que lhe falta, comida, gua, uma sombra.
Assim que recompe o que necessita, tem sua satisfao, seu equilbrio. Trata-se de um
processo onde graas s contnuas interaes, o estgio posterior acumula, conserva e
integra o anterior. Ao final de cada circuito ou integrao, (necessidade tenso esforo
- satisfao) tanto o meio quanto o indivduo se transformam pela aquisio de novas
eficincias. Poderemos dizer que um ser vivo aquele que domina e regula em benefcio
de sua atividade incessante as energias que de outro modo o destruiriam. A vida um
processo que se renova a si mesmo por intermdio da ao sobre o meio ambiente
(DEWEY, 1979b, p. 1).
Entre as qualidades adicionais acrescidas como resultado de interaes, a primeira
delas a organizao que representa a unidade funcional do organismo. A organizao no
pode ser compreendida a priori, um fato que deve ser investigado de acordo com a
situao real em que se encontra o organismo e suas consequncias. Dewey depreende da
organizao a ideia de sensibilidade, diz ele Sempre que as atividades das partes
constitutivas de um padro organizado de atividades so de tal natureza que conduzem a
perpetuar a atividade padro, existe a base da sensibilidade (DEWEY, 1958, p. 256 apud
MURARO, 2008, p. 82). A citao a seguir nos mostra a conexo direta de interao e
transformao do universo vegetal com o ambiente. So atividades denominadas
realizadoras ou consumadoras:
Utiliza-se da luz, do ar, da umidade e das matrias do solo. Dizer que as utiliza,
importa em reconhecer que as transforma em meios para sua conservao.
Enquanto se acha a crescer, a energia que despende para tirar vantagens do
ambiente mais que compensada pelo que obtm: ela cresce. (DEWEY, 1979b,
p. 2).
199
Figura 1 Esquema simplificado do ciclo de vida
da samambaia. Fonte: Lopes (2004, p. 242).
Figura 2 Esquema simplificado do ciclo de vida de
Pinus, uma gimnosperma Fonte: Lopes (2004, p. 243).
J o universo animal, composto por organismos superiores (mais complexos) e com
capacidade de movimento, dotados de receptores distncia como a vista, o ouvido, e em
menor grau, o olfato e de rgos de locomoo que lhes permite conectar-se tanto com o
prximo, quanto com o mais remoto, desenvolvem atividades de interao distncia ou
indiretas. Tais atividades so denominadas preparatrias ou antecipativas, pois o
200
organismo, com a capacidade de discernir entre o que lhe til e prejudicial no ambiente,
tem com isso uma espcie de premunio que o dirige para um foco discriminado. O
comportamento sequencial e dividido em fases, a saber, inicial, intermediria e final. Esta
distncia entre a primeira e a ltima fase gera maior tenso. Importa lembrar que cada
consumao ou encerramento de um circuito, funciona como fase preparatria para outro.
Este tipo de movimento estratgico permite a transformao da sensibilidade que, ento
atualizada em sentido.
Figura 3 Esquema simplificado representando o ciclo da matria e o fluxo de energia
Fonte: Lopes (2004, p. 541).
A espcie humana encontra-se em um nvel superior de desenvolvimento devido
complexidade de seu organismo. Superou o estgio psicofsico, alcanado pelos animais
inferiores, com a aquisio da linguagem que lhe possibilitou a comunicao do sentido
entre os membros da mesma espcie. Com a nomeao do sentido qualidades como
tristeza, fome, saudade, medo, etc., deixam de ser submersas e subjetivas, e objetivam-se -
possibilitando com isso, o dilogo, o compartilhamento. Neste processo de interao, surge
o milagre da mente. Afirma o filsofo [...] mente ou esprito no denominao a dar-se a
alguma coisa completa em si mesma [...] (DEWEY, 1979b, p. 144). Mas a algo contnuo e
dinmico, pois esprito [...] o nome de uma atividade em desenvolvimento na proporo
em que seja inteligentemente dirigida; na proporo, quer dizer, conforme nela entrem
objetivos, fins, com a seleo dos meios para favorecer a realizao dos mesmos
(DEWEY, 1979b, p. 144). Prossegue o filsofo emprico naturalista:
201
A inteligncia no uma coisa particular que algum possua; mas uma pessoa
mais ou menos inteligente, na proporo em que as atividades de que
participante tenham mais ou menos as qualidades mencionadas. Nem so as
atividades em que uma pessoa se empenha, inteligentemente ou no, exclusiva
propriedade sua; so alguma coisa em que a referida pessoa se empenha e toma
parte. Colaboram com ela ou a embaraam outras coisas, os movimentos
independentes de outras coisas e pessoas. O indivduo pode iniciar uma srie de
atos, mas o resultado depende da interao de suas reaes e das energias dos
outros agentes. Conceba-se o esprito como alguma coisa que no seja um fator
cooperando com outros para a produo de conseqncias, e esprito ou mente
torna-se coisa sem sentido (DEWEY, 1979b, p. 144-145).
O desenvolvimento da inteligncia acontece quando os objetivos so perseguidos,
sobretudo quando h um crescimento ou ampliao do conhecimento conquistado at
ento. Este crescimento possvel devido incompletude, dependncia e elasticidade
humana. Diferente dos outros animais, no temos a princpio, uma direo instintiva
especializada que nos possibilite viver. No entanto trazemos inclinaes naturais, traos de
singularidade, com capacidade de discriminar no ambiente aquilo que nos satisfaa. Esse
processo onde a composio do eu realizada pela capacidade natural, biolgica, mais
os elementos sociais ou culturais, caracterizam a categoria de hbito na teoria deweyana. O
conceito de educao em Dewey tem o fim em si mesmo e consiste, justamente, neste
processo contnuo, com durao equivalente vida, do aprender a aprender. A aquisio de
conhecimento , portanto constante e faz com que o indivduo cresa, ao reter de suas
experincias, elementos que possam ser utilizados posteriormente. O acmulo, a
conservao e a integrao do indivduo com seu meio, sua dinmica adaptao, so
fatores histricos condicionados ao crescimento. Crescimento que alm de temporal,
tambm espacial, na medida em que amplia seu espao de atuao. E como todo
comportamento envolve relaes, o crescimento o imperativo moral deweyano. H uma
relao funcional entre inteligncia, conhecimento e moral como um todo, visto atuarem,
necessariamente, no campo social.
O instrumento do conhecimento, o pensamento reflexivo subjetivo. A diferena
que o mesmo no nem uma entidade, nem auto-suficiente, e sim provocado por uma
situao problemtica. Dewey enfatiza que o pensamento cuidadoso, s acontece nestas
situaes especficas; atende esse critrio no apenas uma situao ou um problema
nascido do vcuo. A situao indeterminada, necessariamente tem de ser atual e autntica.
[...] estabelecer um problema que no se desenvolva a partir de uma situao atual pr-
se sobre a trajetria de um trabalho intil, no menos intil por ser trabalhoso
(DEWEY, 1985, p.61, grifo nosso). Essa assero deweyana tem ntima ligao com os
202
mtodos necessrios ao aprendizado nas escolas. No momento, importante
especificarmos o que o filsofo caracteriza como situao e como problema.
Dewey critica a psicologia e a epistemologia quando as mesmas identificam
pensamento ou ideia e objeto de forma imediata. Uma situao refere-se a um contexto ou
circunstncia onde vrios objetos ou eventos so parte. Uma situao confusa, a que se
aplica o processo de pensar, no obscura totalmente, pois se assim o fosse,
necessariamente causaria pnico e desespero. No curso de uma atividade ou determinada
situao, podemos nos deparar com algum impedimento ou resistncia. A nossa tendncia
querer prosseguir, contornado o problema ou seguindo a primeira sugesto que nos
ocorre. No entanto, caso nos sobrevenha mais de uma sugesto, paralisamos a ao, todo
nosso organismo se coloca em estado de tenso, diante da dvida. Esta a fase pr-
reflexiva que ocorre em uma situao indeterminada. So cinco fases ou aspectos do
pensamento reflexivo expostos por Dewey:
Dentro de tais limites, situam-se os vrios estados do ato de pensar que so: (1)
as sugestes, nas quais o esprito salta para uma possvel soluo; (2) uma
intelectualizao da dificuldade ou perplexidade que foi sentida (diretamente
experimentada) e que passa, ento, a constituir um problema a resolver, uma
questo cuja resposta deve ser procurada; (3) o uso de uma sugesto em seguida
a outra, como idia-guia ou hiptese, a iniciar e guiar a observao e outra
operaes durante a coleta de fatos; (4) a elaborao mental da idia ou
suposio, como idia ou suposio (raciocnio, no sentido de parte da inferncia
e no da inferncia inteira); e (5) a verificao da hiptese, mediante ao
exterior ou imaginativa (DEWEY, 1979a, p.111-112)
Dewey considera problema, qualquer impedimento, mesmo nas situaes mais
simples do cotidiano, que nos obrigue a converter a qualidade, a princpio emocional, que
compe a situao em sua totalidade, em intelectualizao, ou seja, a investigao que
visa conhecer exatamente o problema que pode contaminar a situao como um todo.
Quando o mesmo emerge, simultaneamente emerge sua soluo. Um problema representa
a transformao parcial, pela investigao, de uma situao problemtica em uma situao
determinada. conhecida e significativa a frase segundo a qual um problema bem
colocado est semi-resolvido (DEWEY, 1985, p.61). Devemos considerar neste processo
investigativo, duas espcies de contedos: o dos fatos e os do pensamento. A relao entre
esses contedos funcional, pois ambos no so auto-suficientes. Todo o processo de
investigao mental, embora inicie e tenha sua concluso final em fatos. O indivduo
observa, colhe dados ou fatos do caso, inclusive sua condio emocional, e analisa essas
condies existentes.
203
As primeiras sugestes brotam espontaneamente sem que, para isso, necessite
algum elemento intelectual. A intelectualizao se efetiva dependendo do que se faz com
este material fornecido pelas sugestes. O raciocnio uma das fases mais elaboradas, pois
opera em zig-zag, ou seja, relaciona vrios elementos presentes na memria
59
, originrios
das mais variadas fontes. Elementos retidos de experincias anteriores, conhecimentos
tcnicos, intuies, mentalidade da poca e lugar, entre outros. Buscam em condies
similares anteriores, prever conseqncias da ao que visa solucionar a dificuldade
presente. Tais operaes avaliam as vrias sugestes, buscando compor com as mesmas
uma ideia, uma hiptese-guia, que atenda as necessidades, que se encaixe, no que falta,
para que, a situao em questo possa atingir sua consumao. Toda a ao mental, at
que atendidos os critrios necessrios, possa, finalmente ser posta a prova
experimentalmente, quando necessrio.
Dessa forma acorre a inferncia, o alargamento da experincia. Mesmo em
situaes em que a hiptese efetivamente no solucione o problema, h acrscimo de
conhecimento pelo prprio exerccio do pensamento. Dessa forma, podemos perceber que
o conhecimento para Dewey, se d de forma espiralada, ou seja, diante de uma situao
obscura, nova, o conhecimento familiar operacionalizado pela imaginao com os dados
da nova situao produzindo com isso, um conhecimento transformado pela ao da
inteligncia. Neste processo, o pensamento subjetivo e o conhecimento objetivo e
pblico.
A filosofia deweyana, pautada na epistemologia, utiliza o mtodo cientfico, no
entanto diferencia-se da cincia. O material operacional da investigao, ou a adaptao
dinmica entre indivduo e meio, acontece continuamente a partir do conhecimento
familiar deste indivduo. Este conhecimento engloba a totalidade necessria a manuteno
da vida, diferente da cincia que opera com conhecimentos especficos. Estes
conhecimentos tambm so importantes na composio da bagagem presente na memria
individual, visto tambm pertencerem memria cultural. No entanto, a bagagem
individual mais ampla em significao. Nela esto presentes seus ideais, sonhos, projetos,
59
Neste ponto importante ressaltar e esclarecer um equvoco muito comum que se faz em relao teoria
deweyana. Sua crtica no teoria, mas ao material terico que cobramos do aprendiz para a ampliao do
conhecimento. O material terico indispensvel, no entanto, o mesmo deve servir de base para a
continuidade e ampliao do conhecimento do indivduo. Em outras palavras, se propusermos a soluo de
um problema muito alm do alcance do aprendiz, o mesmo no ter como relacion-lo ao seu material
familiar; haver um abismo entre o conhecido e o confuso. Infelizmente isso que ocorre na maioria das
vezes na educao escolar.
204
anseios, sentimentos, valores, entre outros, em um ambiente, por natureza, social. Outro
dado significativo no processo de conhecimento deweyano o poder de maravilhar-se pela
nova descoberta individual, mesmo que esta j no seja novidade para muitos. A satisfao
de comunicar a novidade. No isso que fazemos em nossas pesquisas bibliogrficas?
CONSIDERAES FINAIS
A amplitude e importncia da epistemologia na formao da mentalidade social so
dados que requerem reflexo. Dewey defende uma evoluo biolgica, com possibilidades
de um desenvolvimento ilimitado da inteligncia humana. Entretanto, faz severas crticas
s concepes escolsticas, dualistas, que desvinculam a inteligncia da moral. A esta
ltima, tais teorias atrelam crenas baseadas em supersties e fantasias que alimentam o
imaginrio humano, poupando-lhe, muitas vezes, a responsabilidade sobre as
consequncias de suas aes. Outra forte possibilidade para tais crenas a preguia de
enfrentar as dificuldades e a angstia provocadas pelo pensar. Entretanto, nem tudo
podemos conhecer, nos coloca Dewey:
O visvel est assentado no invisvel; e, no fim, o que no visto decide o que
acontece no que se v. O que tangvel descansa de forma precria sobre o que
no tocado nem agarrado. O contraste e o mal ajustamento potencial do
imediato, a bvia e focal fase das coisas, com estes fatores indiretos e ocultos
que determinam a origem e o curso do que est presente, so fatores
indestrutveis de todas e de cada uma de nossas experincias. Podemos qualificar
de supersticiosa a forma de fazer frente ao contraste de nossos antepassados,
porm o contraste mesmo no superstio. um dado primrio de toda
experincia (Dewey, 1958, p. 43-44 apud MURARO, 2008, p.60).
A natureza humana, na concepo deweyana, biolgica e social. [...] a
experincia da tanto quanto em a natureza. No a experincia que experienciada, e
sim a natureza - pedras, plantas, animais, doenas, sade, temperatura, eletricidade, e assim
por diante (DEWEY, 1974, p.163). Prossegue o filsofo, Coisas interagindo de
determinadas maneiras so a experincia; elas so aquilo que experienciado. Ligadas de
determinadas outras maneiras com outro objeto natural o organismo humano -, elas so,
ademais, como as coisas so experimentadas (DEWEY, 1974, p.163, grifos nossos). Nesta
concepo no h um eu formado, nem uma alma que habite esse eu. O corpo a
natureza. No entanto o filsofo critica o materialismo, pois, como dissemos na introduo
deste artigo, matria, esprito e tudo mais que compe o universo so qualidades,
resultantes dos acontecimentos. Portanto, h um esprito em Dewey, que uma capacidade,
205
uma fora: O indivduo cria o esprito, desenvolve a mente na proporo em que o
conhecimento das coisas se acha corporificado na vida que o cerca; o eu no um esprito
isolado a criar novos conhecimentos por sua conta prpria (DEWEY, 1979b, p.325).
Quanto possibilidade de uma vida em ostracismo difundida por algumas filosofias, alerta
Dewey:
Existe sempre o perigo de que a crescente independncia pessoal faa decrescer a
capacidade social de um indivduo. O tornar-se mais confiante em si pode faz-lo
bastar-se mais a si mesmo; pode lev-lo ao insulamento e indiferena. Isto
torna muitas vezes o indivduo to insensvel em suas relaes com os outros,
que lhe faz nascer a iluso de ser realmente capaz de manter-se e agir isolado
forma esta, ainda sem nome, de insanidade mental que responsvel por grande
parte de sofrimentos remediveis deste mundo (DEWEY, 1979b, p.47).
A composio do eu de responsabilidade social, a inteligncia uma fora que
se desenvolve socialmente em aes compartilhadas. O ambiente ideal para que esta se
desenvolva, pelo seu carter horizontal de colaborao, a democracia. Dewey, quando se
refere democracia, no se restringe a uma forma de governo, como estamos habituados.
Refere-se a uma mentalidade democrtica, a percepo inteligente de que com o
compartilhamento do trabalho e seus resultados, todos tendem a ganhar. O crescimento no
s do indivduo, mas de toda a comunidade, quando neste h o sentimento de pertena.
Infelizmente, os hbitos cultivados em nossa sociedade no so os relacionados
inteligncia, ao hbito de pensar, mas os de reproduzir, copiar, obedecer. Muitas vezes,
uma contestao, ou determinao de se alcanar um fim que realmente interesse, que se
identifique com o eu, interpretado como arrogncia. Vivemos em uma sociedade que
cultua a humildade. Uma sociedade com excesso de estmulos com vistas de se manter o
controle. Dewey faz uma analogia entre estes excessos em relao s crianas. Diz ele, que
estas se tornam to dependentes destes estmulos quanto um alcolatra do lcool.
No entanto, o pensamento reflexivo, no livre. Como vimos, ele se limita as
circunstncias e as condies presentes na ao do indivduo. A ao no deve estar
submetida apenas aos impulsos ou contedo emocional. Perante obstculos, a paralisao e
o esforo so imprescindveis. Lembremo-nos que o caminho da sada da caverna de Plato
uma elevao. O que na teoria deweyana, pode representar o esforo.
Dewey, em sua teoria no nos oferece forma alguma de apoio fixo, nem mesmo um
imperativo categrico kantiano como modelo. Cumpre-nos o trabalho e a criatividade no
desenvolvimento e direo de nossa existncia.
206
REFERNCIAS
DEWEY, John. Experincia e natureza. Traduo Murilo Otvio R. Paes Leme. So
Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleo os Pensadores).
______. Como pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo
educativo: uma reexposio. 4. ed. Traduo Hayde Camargo Campos. So Paulo:
Nacional, 1979a.
______. Democracia e educao. 4. ed. Traduo Godofredo Rangel e Ansio Teixeira.
So Paulo: Nacional, 1979b.
______. Experincia e natureza. 2. ed. Traduo Murilo Otvio R. Paes Leme, Ansio S.
Teixeira e Leonidas Gontijo de Carvalho. So Paulo: Abril Cultural, 1985. (Coleo os
Pensadores).
______. Lgica, a teoria da investigao. 2. ed. Traduo Murilo Otvio R. Paes Leme,
Ansio S. Teixeira e Leonidas Gontijo de Carvalho. So Paulo: Abril Cultural, 1985.
(Coleo os Pensadores).
LOPES, Sonia. Bio: volume nico. So Paulo: Saraiva, 2004.
MURARO, Darcsio. A importncia do conceito no pensamento deweyano: relao entre
pragmatismo e educao. 2008. 229 f. Tese (Doutorado) Faculdade de Educao,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2008.
______. A concepo da mente-corpo em John Dewey. In: CHITOLINA, Claudinei Luiz,
et al. (Org.). II Colquio nacional de filosofia da mente e cincias cognitivas... Maring:
Humanitas Vivens, 2012. p. 104-130. Disponvel em:
<http://www.humanitasvivens.com.br/livro/485589d90324ad7.pdf>. Acesso em: 2 nov.
2012.
TEIXEIRA, Ansio. Educao progressiva: uma introduo filosofia da educao. 2. ed.
So Paulo: Nacional. Resenha de: FILOSOFIA e educao. Revista Brasileira de Estudos
Pedaggicos, Rio de Janeiro, v. 32, n. 75, p. 14-27, 1959. Disponvel em:
<http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/filosofia.html>. Acesso em: 9 abr. 2012.
207
INFERNCIA DA MELHOR EXPLICAO ANTE A PERSPECTIVA DO
EMPIRISMO CONSTRUTIVO DE VAN FRAASSEN: UM DEBATE ENTRE
REALISMO E ANTIRREALISMO.
Debora Domingas Minikoski
Universidade Estadual de Londrina
debora.minkoski@gmail.com
RESUMO
Na filosofia da cincia, seja qual for sua orientao terica, seus representantes se
debruam ante a tarefa de responder duas questes bsicas: no que consiste a atividade
cientifica e o que esta realiza. No contexto filosfico-cientifico contemporneo, vigora um
grande debate acerca dessas questes norteadoras, o realismo e o antirrealismo; em
aspectos gerais, o primeiro caracteriza uma teoria cientifica como um relato acerca do que
existe efetivamente na realidade e a atividade cientifica como um empreendimento de
descoberta, no de inveno; posto desse modo, a aceitao e a sustentao de dadas
hipteses, teses ou teorias cientificas, envolvem a crena de que estas sejam verdadeiras. A
sustentao dos argumentos do realismo cientifico se faz por meio de uma especifica regra
de inferncia, a inferncia da melhor explicao, onde consideramos uma srie de
hipteses para explicar um dado fato ocorrido. Dentre essas hipteses, se elege a melhor
para explicar o referido fato; ao passo que, na perspectiva do empirismo construtivo, no
afirmado a veracidade de uma dada hiptese, tese ou teoria, mas estas so expostas de
modo a alegar que possuem certas virtudes com relao a outras concorrentes, virtudes
essas exprimidas em sua adequao emprica, ou seja, quando a mesma possui ao menos
um modelo onde todos os fenmenos reais se ajustam a ela, assim sendo, a cincia
pretende nos fornecer teorias empiricamente adequadas e sua aceitao implica somente
nessa adequao. Os termos do empirismo construtivo representam uma de muitas
alternativas possveis ao realismo epistmico, de modo a porta-se como uma concepo
antirrealista. O presente escrito tem por objetivo explorar as condies argumentativas do
realismo, respaldado na inferncia da melhor explicao, sob uma tica epistemolgica e
de aceitao das teses cientificas. Posteriormente, analisar-se- suas problemticas
assinaladas pelo empirismo construtivo de Van Fraassen, tendo em vista, principalmente,
uma critica construda por um vis lgico; a inferncia da melhor explicao seria um
recurso suficiente para a afirmao de que a cincia constri teorias legitimamente
verdadeiras?
Palavras-chave: inferncia da melhor explicao; realismo; antirrealismo; empirismo
construtivo.
INTRODUO
Analisando a problemtica epistemolgica referente a aceitao de teorias
cientificas, cujo respaldo aqui tratado, se faz por dois posicionamentos epistemolgicos
distintos: o realismo e o antirrealismo; o primeiro argumenta que a eficincia instrumental
de uma dada tese autoriza-nos a creditar a esta um teor que alm de consistir em utilidade,
208
se correta, tambm nos demonstra a veracidade de seu contedo; ainda, mesmo que os
realistas admitam que a cincia no chegou a verdades, os mesmos afirmam que ela esta se
aproximando cada vez mais dos contedos verdadeiros.
O realismo cientifico diz que aqueles entes, estados e processos descritos por
teorias corretas realmente existem. Protons, photons, campos de fora e buracos
negros so reais como as unhas do p, turbinas, redemoinhos em um riacho e
vulces [...]
Mesmo quando nossa cincia ainda no tenha conseguido chegar a coisas
verdadeiras, o realista assegura que frequentemente ns chegamos perto da
verdade. (HACKING,1983,p,21)
O trecho de Hacking fornece-nos algo mais alm de uma definio das crenas a
respeito de teorias cientificas para um realista: ela nos entrega tambm os desdobrares da
aceitao das mesmas; o realista no postula somente a veracidade das teorias cientificas
enquanto construes tericas, mas tambm pode afirmar a existncia das entidades, os
processos e os estados descritos por ela
60
. Para a sustentao da verdade atribuida s
teorias cientificas, uma regra de inferncia se faz amplamente utilizada pelos adeptos ao
realismo: esta a inferncia da melhor explicao
61
, uma regra de raciocinio que nos
permite selecionar a melhor hiptese explicativa para um dado fato ocorrido. Portanto, ante
a perspectiva de um realista, o fato de que a referida hiptese fora classificada como a
melhor opo para se explicar um dado fenmeno, faz desta uma hiptese verdadeira.
Sendo uma concepo proveitosa ao realista cientifico, a IBE torna-se problemtica
ante a perspectiva de um empirista construtivo, pois nos moldes desta perspectiva, Van
Fraassen partilha da concepo de que as proposies tericas da cincia so proposies
genunas e devem ser interpretadas literalmente; porm, a determinao de seu valor de
verdade no constitui o objetivo da cincia. Alm disso, o conhecimento cientifico no se
atm a anlise de realidades inobservveis, mas o de buscar o conhecimento a respeito dos
fenmenos observveis, isto , uma classificao de entidades postuladas que podem ou
no existir; por exemplo, um cavalo alado uma entidade observvel, em razo disso,
estamos to seguros de que no haja nenhum, pois at hoje, nenhum fora visto
62
. Ao
60
Mais adiante, no mesmo livro, Hacking faz uma descrio de dois realismos; um deles postula somente a
verdade de teorias, o outro afirma a verdade das entidades descritas por essa teoria. (HACKING, 1983, p.27).
Contudo, faz-se perfeitamente plausvel a existncia de tericos realistas, cuja crena de veracidade, esteja
contida tanto no mbito terico, quanto no mbito ontolgico.
61
Grifo nosso. Doravante utilizaremos aqui a abreviatura do termo em ingls Inference of the best
Explanation (IBE).
62
VAN FRAASSEN, 2007, p 38.
209
contrrio de entidades observveis, as inobservveis simplesmente no podem ser passiveis
de observao, como o numero 17, por exemplo. Ainda, em contraste concepo do
realista, para quem a aceitao de uma teoria autoriza a crena em sua verdade, para um
empirista construtivo a aceitao de uma teoria bem sucedida envolve apenas a crena em
sua adequao emprica: ou seja, apenas a respeito dos fenmenos observveis que se
encaixam nos moldes da tese cientifica mais adequada.
A cincia visa dar-nos teorias que sejam empiricamente adequadas; e a aceitao
de uma teoria envolve, como crena, apenas aquela de que ela empiricamente
adequada [...].
Uma teoria empiricamente adequada exatamente se verdadeiro o que ela
diz sobre as coisas observveis e eventos no mundo exatamente se ela salva
os fenmenos. Um pouco mais precisamente: tal teoria possui pelo menos um
modelo tal que todos os fenmenos reais a ele se ajustam. (VAN FRAASSEN,
2007, p.34)
Ainda, segundo Van Fraassen, propor uma teoria cientifica fazer especificaes
de uma famlia de estruturas ou de modelos, e nestes, indicar as partes que representam de
modo direto as coisas observveis, essas partes so denominadas subestruturas empricas
63
; ao dizer que uma teoria empiricamente adequada, Van Fraassen afirma que ela possui
ao menos um modelo tal que os relatos experimentais so isomrficos a subestruturas
empricas, isto , existe uma representao dos relatos experimentais no modelo de uma
teoria
64
.
Posto deste modo, a pesquisa orientada por um vis emprico-construtivo trata-se
em ultima instncia, de uma alternativa ao pensamento realista, sendo ento, um
antirrealismo epistmico. Com base nos pressupostos deste arcabouo terico,
analisaremos a concepo realista de inferncia e suas inconsistncias no que se diz
respeito promessa de um alcance a verdade.
INFERNCIA ABDUTIVA E IBE
O seguinte esquema de raciocnio exprime um dos modos nos quais Peirce (1934-
1935) introduziu a noo de inferncia abdutiva:
O fato surpreendente, C, observado.
Mas se A fosse verdade C seria um fato natural.
63
Grifo de Dutra.
64
DUTRA, 1998, p.52.
210
Logo, h razes para suspeitar que A seja verdade. (PEIRCE, apud CHIBENI,
2006, p.2).
Ao observar que os empregos dessas inferncias encontravam-se frequentemente
ligadas a uma comparao entre diversas hipteses para explicar um fato ocorrido, as
pesquisas posteriores de Harman (1938) propuseram renomear tais inferncias de
inferncias da melhor explicao; essas elegiam a melhor explicao dentre outras para
elucidar um dado fato observado.
A utilizao dessa estrutura de raciocnio fornece-nos, alm de uma melhor
explicao para um fato ocorrido, oferta-nos tambm o respaldo para afirmar que a
hiptese eleita para explica-lo, a verdadeira. Essa inferncia pode vir a ser demonstrada,
de modo simplificado, da seguinte maneira: Suponhamos que temos a evidencia E, e que
estejamos considerando diversas hipteses, digamos H e H. A regra diz ento que
devemos inferir H em vez de H se H uma melhor explicao de E que H . (VAN
FRAASSEN, 2007, p.46)
Deste modo, a IBE se presta ao papel resolutivo de uma problemtica central a respeito da
legitimidade dos procedimentos realizados pelos cientistas, que afirmam a existncia de
entes mesmo que estes no sejam passiveis de observao emprica; nesse sentido, Harman
afirma: Quando um cientista infere a existncia de tomos e partculas subatmicas ele
est inferindo a verdade de uma explicao para vrios dados que ele deseja explicar
(HARMAN, apud RODRIGUES, 2011, p 274.).
Com efeito, as observaes que o cientista realizou o levaram a acreditar que a
melhor explicao dentre outras possveis, fora a existncia de tomos e partculas
subatmicas, ou seja, os fatos observveis o levaram a formular a existncia de algo que
no fora observado, mas inferido a partir de dadas circunstancias relatadas pelo
pesquisador.
Pautada agora na licena de inferir entidades inobservveis a partir das observveis, a
inferncia passa a ter um novo elemento em sua concluso:
a) uma evidncia E deve ser explicada;
b) a hiptese H explica melhor E do que outras hipteses rivais;
c) concluso: H passvel de crena em sua verdade e as entidades inobservveis
postuladas por H podem ser inferidas. (Ibidem, p. 275)
Ingenuamente, podemos vir a pensar que o fato de que uma tese, hiptese ou teoria
seja verdadeira quando esta em comparao a outras, nos fornece um valor explicativo
melhor que suas rivais. Podemos concordar que esta condio necessria para que uma
211
teoria seja verdadeira, mas poderamos fazer o movimento inverso de raciocnio e ousar
dizer que um teor mais satisfatrio de explicao suficiente para afirmamos sua verdade?
JUSTIFICAO DO USO DA INFERENCIA REALISTA COMO UMA
HIPTESE PSICOLGICA.
No segundo capitulo de A imagem cientifica, Van Fraassen coloca em pauta a
afirmao realista de que todos ns tendemos a seguir essa regra em casos ordinrios e que,
em razo disso, estamos autorizados a aplica-la no mbito cientifico
65
. Na tentativa de
justificar o uso da IBM, alguns realistas analisados pelo autor apresentam um argumento
pautado nas seguintes premissas: 1) seguimos essa regra em todos os casos ordinrios
onde no h entidades inobservveis. 2) esse padro de inferncia no nos conduz a crena
de entidades inobservveis. 3) logo, todos devem usar esta inferncia no contexto cientifico
que envolve entidades inobservveis
66
.
Van Fraassen admite a segunda premissa, todavia, discorda da primeira e da prpria
concluso do argumento. A primeira premissa analisada pelo autor e este chega
concluso de que ela pode ser interpretada de dois modos: O primeiro deles consistiria em
afirmar que ns aplicamos essa regra de modo consciente e deliberado; um segundo modo
afirma que seguimos essa regra de modo inconsciente. A primeira hiptese apresenta uma
especfica problemtica: certo que os indivduos sigam regras lgicas na maior parte do
tempo, contudo, poucos so aqueles no mbito do dia-a-dia que esto capacitados a
formul-las. Parece-nos necessrio que, para seguir uma dada regra lgica, de modo
deliberativo, precisemos possuir conhecimento dessa regra, tanto no sentido formal, quanto
em seu sentido de aplicao, isto , como poderamos escolher utilizar um especifico tipo
de inferncia se nem sequer sabemos formula-lo?
A segunda alternativa concebe que seguimos essa regra inconscientemente;
entretanto, regras lgicas sempre so regras que nos permitem inferir um elemento a partir
de outro elemento; assim, sempre poderamos encontrar a concluso em meio s premissas
e vice-versa. Posto deste modo, ao utilizarmos uma regra lgica, no poderamos estar
65
VAN FRAASSEN, 2007, p.46
66
A estruturao do argumento de Van Fraassen esta contida no j citado texto de Chibeni (1996), contudo, a
partir desse formato do argumento oferecido por Chibeni, alterei alguns termos de suas premissas e
concluso, a fim de que este se aproximasse mais do texto de Van Fraassen. A mudana se fez necessria
principalmente no que se diz respeito introduo do quantificador universal todos na premissa do
argumento, este esta presente no texto de Van Fraassen, mas foi ausentado nos escritos de Chibeni. Ver
Chibeni, 1996, p. 5-6 e Van Fraassen 2007, p. 46-47.
212
indiferentes ao que dela resulta, pois um elemento dentro de uma estrutura formal sempre
estar interligado a outro; logo, sabemos que usamos um dado sistema inferencial para
atingir um dado elemento por meio de outros. Parece razovel concluir que sempre
estamos conscientes dessa escolha, pois sabemos o ponto em desejamos chegar.
Ao findar essas possveis interpretaes acerca da primeira premissa do argumento,
Van Fraassen chega concluso que esta se trata de uma hiptese psicolgica
67
acerca do
que estamos ou no dispostos a fazer, e na condio de uma hiptese, esta necessita de
dados empricos para respalda-la e, alm disso, preciso confronta-la com hipteses rivais;
a hiptese proposta pelo empirista construtivo seria justamente que possumos a tendncia
de acreditar que teorias que melhor explicam as evidncias so empiricamente adequadas.
Por fim, mesmo que questes psicolgicas sejam de menor importncia, a premissa de que
todos
68
ns seguimos uma regra de inferncia precisa ser demonstrada.
NECESSIDADE DE UMA PREMISSA COMPLEMENTAR IBE
Nosso autor apresenta ainda mais uma objeo inferncia realista, agora pautada
na necessidade de uma premissa que se ausenta no argumento.
A IBE se constitui em uma regra que nos guia na escolha de uma dada hiptese
dentre um conjunto de hipteses alternativas, entretanto, como ocorre essa escolha? Isto ,
quais as condies necessrias que as referidas hipteses precisam preencher para serem a
melhor explicao para um dado fato ocorrido? E por fim, quem determina quais sero as
condies necessrias e quais no sero? Deste modo, precisamos nos comprometer com
algo que esteja alm dessa simples operao entre escolhas de hipteses, precisamos nos
ligar a uma crena
69
para que esta possa nos dizer qual hiptese deve ser escolhida dentre
o conjunto de hipteses analisadas
70
.
Utilizando a exemplificao de Van Fraassen: suponha-se que inmeros dados observados
nos leve a concordar com os modelos propostos por T; ento, T uma possvel explicao
67
Grifo de Van Fraassen.
68
Grifo nosso.
69
Grifo nosso.
70
VAN FRAASSEN, 2010, p 49. Vale salientar que neste trecho Van Fraassen j esta abrindo margens a
uma sada argumentativa de cunho pragmtico a discusso. Este trabalho prope, como se encontra no
resumo, uma analise das criticas do empirista construtivo que esto fundadas por um vis lgico. Essa
instncia do texto de Van Fraassen foi inserida com foco na critica da falta de premissas no argumento da
IBE; quanto razoabilidade dos argumentos aqui apresentados e da necessidade de uma analise pragmtica,
fico de ater-me a isso no desenvolvimento deste mesmo trabalho.
213
para os referidos dados. Existem alternativas a T, uma delas no- T (T falsa), e essa
explicao no nos fornece uma boa descrio dos dados. Assim, sempre
71
temos
hipteses alternativas em um dado conjunto de explicaes. Contudo, em razo de seu alto
contedo explicativo, a IBE sempre nos levar a T. A questo : estamos, com certeza,
comprometidos com a perspectiva de que T verdadeira ou T falsa? Se nos
comprometemos com a concepo de que T verdadeira ou falsa no estaremos
necessariamente dando um passo inferencial que leve a uma delas (T ou no-T). A regra
inferencial valeria ento somente se no nos mantivermos neutros ao analisar ambas as
hipteses. (VAN FRASSEN, 2010, p.49)
O problema exposto acima de grande relevncia IBE; Van Fraassen aponta de
modo muito coerente que a utilizao da inferncia realista no teria direcionamento algum
na ausncia de uma crena, ou seja, na falta de um respaldo fixo que a direcione em seu
objetivo de encontrar uma melhor explicao, e por sua vez, encontrar uma verdade. A
utilizao da inferncia, no que se diz respeito a descobrir
72
verdades, no nos fornece a
informao de como chegamos at essas inferncias e do por que as consideramos verdade.
A POSSIBILIDADE DE UM CONJUNTO DEFEITUOSO
Nos escritos de Laws and symmetry, Van Fraassen constri um argumento
direcionado a critica de que podemos esgotar as possibilidades de formulaes tericas
bem sucedidas; este argumento conhecido como o argumento do conjunto defeituoso
73
,
este que se apresenta do seguinte modo:
Suponhamos que estamos diante de uma srie de teorias que rivalizam entre si
para fornecer a melhor explicao de um determinado fenmeno; alm disso,
supe-se que foi possvel determinar que uma destas teorias fora eleita como a
melhor explicao do fenmeno em questo. Segundo a concepo do realista,
sustenta-se mediante a inferncia da melhor explicao, que deve ser atribuda a
essa teoria a crena em sua veracidade; contudo, como podemos saber se no
estvamos diante de um conjunto defeituoso? ( VAN FRAASSEN, apud,
RODRIGUES, p 276)
Primeiramente, a expresso conjunto defeituoso remetida a existncia de um
conjunto de hipteses que no contenha a hiptese com o melhor contedo explicativo
possvel, por exemplo: consideremos que haja um conjunto que contenha as hipteses ,
71
Grifo de Van Fraassen.
72
Grifo nosso.
73
Grifo nosso.
214
e com a pretenso de se explicar um dado fenmeno, digamos a interferncia da
gravidade nos corpos em meio ao vcuo; neste ambiente, observado que a queda de
objetos com diferentes massas, quando soltos no mesmo tempo, atingem o cho juntos. Isto
ocorrera quando Armstrong soltou um martelo e uma pena na lua e esses objetos, com
massas to distintas, caram ao cho ao mesmo tempo. Nesse sentido, ao analisar a
hiptese alfa, constata-se que esta possui um contedo explicativo satisfatrio com relao
ao fenmeno descrito, porm, ao ser comparada com a hiptese beta, alfa apresenta certas
limitaes que so superadas por beta, deste modo, constatado que beta possui um
contedo explicativo maior que o de alfa. Mas ao analisar a hiptese beta linha, o fsico
verifica que esta responde algumas problemticas que foram apresentadas por beta; assim
sendo, dentro deste conjunto de hipteses, beta linha possui a melhor explicao do porque
corpos com diferentes massas caem na mesma velocidade na presena do vcuo.
Pois bem, o ponto de critica de Van Fraassen se concentra na seguinte questo:
como podemos saber que no existe uma teoria, que esteja fora deste conjunto, que
explique este fenmeno fsico de modo ainda melhor que a hiptese beta linha?
Ainda, utilizando a IBE, ao encontrarmos a teoria de melhor explicao estaremos
com passe livre para acreditar em sua verdade, entretanto, se no sabemos se a teoria de
melhor classificao no conjunto realmente nos fornece a melhor explicao possvel ao
fato ocorrido, como poderemos fazer da melhor explicao um critrio suficiente para
atestar a veracidade de teorias cientificas? Parece-nos que ao fazer isto, estaramos nos
precipitando com um passo inferencial que se inviabiliza por seus prprios termos.
CONSIDERAES FINAIS
Com efeito, ao menos em uma instncia preliminar, coloca-se em suspenso a
plausividade das sentenas realistas, no que se diz respeito a sua justificao de uso e de
atribuio de veracidade em teses cientficas, justamente porque dizer que a utilizamos em
todos os contextos, e que em razo disso devemos utiliza-la no mbito cientifico, no
uma resposta aceitvel, pois alm de necessitar de fatos observacionais que corroborem
com esta teses, esta trata-se em ultima instncia, de uma hiptese psicolgica. Tendo em
vista isso, poderamos ir alm da critica da ausncia de suas provas e nos perguntarmos
215
tambm se uma hiptese psicolgica poderia sustentar uma hiptese de cunho
epistemolgico.
Van Fraassen ainda nos mostra, de modo pertinente, que o uso da inferncia realista
do modo como os representantes dessa corrente fazem no se sustenta, justamente porque
essas inferncias s seriam eficientes inseridas em um dado conjunto de crenas de uma
comunidade cientifica e esta premissa fundamental negligenciada pelos tericos do
realismo. Vale ressaltar tambm que essa eficincia que a IBE poderia alcanar se diz
respeito a to e somente sua possibilidade de encontrar uma boa explicao para um dado
fenmeno em um dado contexto, mas isso ainda no seria suficiente para afirmar a verdade
das teorias cientificas.
Por fim, os cientistas podem perfeitamente classificar as teorias de acordo com seu
teor explicativo; entretanto, no se faz possvel conhecer se a teoria melhor classificada a
melhor teoria possvel de existncia; ento, j que no podemos afirmar que a teoria com o
melhor contedo explicativo a melhor teoria possvel de ser formulada, no poderamos
afirmar, como faz o realismo, que este um critrio para atestar a veracidade da cincia.
Isto simplesmente no se sustenta.
REFERNCIAS
VAN FRAASSEN, B. (2007) A imagem cientfica; traduo: Lus Arajo de Henrique
Dutra. - So Paulo: editora UNESP.
_______________ (1989) Laws and Symmetry. Oxford: Oxford University Press.
SILVA, Marcos. "Inferncia da melhor explicao: Peter Lipton e o debate realismo/ anti-
realismo". In Princpios vol. 17, n. 27, 2010.
__________________. 2011. O problema da aceitao de teorias e a inferncia da melhor
explicao. In Cognitio 2011).
CHIBENI, Silvio Seno. Afirmando o consequente: uma defesa do realismo cientfico
(?!). Sci. stud., So Paulo, v. 4, n. 2, junho 2006 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
31662006000200004&lng=en&nrm=iso>. access
on 12 May 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-31662006000200004.
216
TEMPORALIDADE E ETERNO RETORNO: LIBERDADE EM FRIEDRICH
NIETZSCHE
Silmara Aparecida Villas Bas
Universidade Estadual de Londrina
silmaravillasboas@hotmail.com
RESUMO
A presente comunicao, na qual se pretende discorrer acerca da noo de temporalidade
para o filsofo Friedrich Nietzsche, prope-se a constituir uma primeira etapa de um futuro
trabalho monogrfico sobre o conceito de liberdade na perspectiva de tal filsofo, atrelada
a sua crtica da metafsica e da moral europeia e de sua original concepo de
temporalidade. Neste trabalho, entretanto, resumir-se-o esforos a fim de se pensar esse
ltimo mbito, na tentativa de se pensar a salvaguarda da liberdade em vista das
interpretaes distintas que h acerca do conceito de eterno retorno do mesmo (ewige
Wiederkehr des Gleichen), exposto primeiramente na A Gaia Cincia (2012) e revisitado
em textos posteriores da obra nietzscheana. Amparado sobretudo em alguns ensaios de
Gianni Vattimo, expostos no livro Dilogo com Nietzsche (2010), em algumas das
principais obras de Nietzsche, como A Gaia Cincia (op. cit.), Assim falou Zaratustra
(2011), A Vontade de Poder (2008), Segunda Considerao Intempestiva: da utilidade e
desvantagens da histria para vida (2003), e em textos de comentadores auxiliares, este
trabalho explicita primeiramente a ambiguidade presente no conceito de eterno retorno, se
tomado atravs das interpretaes comumente aceitas, e o caminho apresentado por
Vattimo como alternativa que permite conceber a liberdade como possvel no contexto
ilustrado pelo conceito. Para isso, contudo, faz-se necessrio explicitar a crtica
nietzschiana viso historicista de Historie, pautada na mera sucesso de momentos
desconectados uns dos outros, em que o presente e, portanto, o instante da deciso
destitudo de valor em consequncia de uma finalidade ltima que o oriente e que o supere,
tornando-o simplesmente um instante a mais na historiografia compilada pelos
historiadores, jornalistas e eruditos. Em seguida, faz-se necessrio explicitar a noo
propriamente nietzschiana de temporalidade, atrelada ao conceito de eterno retorno do
mesmo sob uma interpretao de tempo existencial (VATTIMO, op. cit., p. 12), em que
o que condiciona o passado e o futuro como momentos do tempo no necessariamente
instantneos, no sentido de instantes independentes, desvencilhados de outros
justamente o momento da deciso. Pretende-se, por fim, evidenciar que no momento da
deciso, sob tal prisma, que entra em jogo a liberdade propriamente nietzschiana, muito
afastada da concepo de liberdade moralizante dos filsofos da modernidade.
Palavras-chave: eterno retorno, Friedrich Nietzsche, liberdade, temporalidade.
Reproduzo de incio a seguinte passagem de Nietzsche que permite introduzir a
questo (2012, p. 205):
217
E se um dia, ou uma noite, um demnio lhe aparecesse furtivamente em
sua mais desolada solido e dissesse: Esta vida, como voc a est
vivendo e j viveu, voc ter de viver mais uma vez e por incontveis
vezes; e nada haver de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada
suspiro e pensamento e tudo o que inefavelmente grande e pequeno em
sua vida, tero de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequncia e
ordem e assim tambm essa aranha e esse luar entre as rvores, e
tambm esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir ser
sempre virada novamente e voc com ela, partcula de poeira!. Voc
no se prostraria e rangeria os dentes e amaldioaria o demnio que assim
falou? Ou voc j experimentou um instante imenso, no qual lhe
responderia: Voc um deus e jamais ouvi coisa to divina!. Se esse
pensamento tomasse conta de voc , tal como voc , ele o transformaria
e o esmagaria talvez; a questo em tudo e em cada coisa, Voc quer isso
mais uma vez e por incontveis vezes?, pesaria sobre os seus atos como
o maior dos pesos! Ou o quanto voc teria de estar bem consigo mesmo e
com a vida, para no desejar nada alm dessa ltima, eterna confirmao
e chancela?
Nesse pargrafo de A Gaia Cincia (2012), intitulado O mais pesado dos pesos,
encontra-se um dos grandes conceitos da filosofia madura de Nietzsche: o eterno retorno.
Esse conceito, em princpio, que se apresenta hipoteticamente na frase e se um dia de
maneira emblemtica, parte de um demnio, porm ganha maior fora em seu
desenvolvimento, sendo tido como concepo fundamental de Assim Falou Zaratustra
(NIETZSCHE, 2008a, p. 79, grifo meu).
As interpretaes que surgiram em torno de tal conceito muitas vezes apontam para
um sentido ambguo, como observado por Vattimo (2010), que explicita duas
interpretaes diversas, a saber, do ponto de vista cosmolgico e do ponto de vista moral,
sendo a conciliao destes, no mnimo, problemtica. Na interpretao cosmolgica a
eterna repetio daquilo que acontece tida como um fato, enunciando-se assim a
necessria estrutura da realidade (ibid., p. 8). Essa necessidade atrelada ao eterno retorno
implica que os acontecimentos no podem ocorrer de maneiras diferentes. Nesse sentido,
no h espao para a liberdade, pois as aes do homem so simplesmente o produto do
devir cclico do cosmos (ibid., p.10). No tocante interpretao moral, o eterno retorno
no visto como um fato condicionante onde a liberdade suprimida; alis, vale ressaltar
que em A Gaia Cincia a primeira enunciao do conceito do eterno retorno exposta de
forma hipottica, pois pode inferir-se, ao menos da expresso literal, que se trata de uma
proposta feita ao homem: Voc quer isso mais uma vez e por incontveis vezes? (id.,
2012, p. 205). Esse sentido apresenta-se como um dever, um imperativo, ou seja, um
218
critrio para a escolha moral, pois soa como se se devesse agir de maneira que se quisesse
que todos os instantes da vida se repetissem eternamente.
No arbitrariamente que Nietzsche define o conceito como o mais pesado dos
pesos, pois esse desejo de retorno no se refere exclusivamente s dimenses desejveis da
vida, onde o que acabaria por retornar seria apenas o que nos agrada e apraz. Pelo
contrrio: de maneira geral, desejar o retorno desejar a vida por inteira em todos os seus
aspectos, e querer todas as dimenses da vida afirmar o mundo, sendo o sim a este
mundo como algo a ser desejado e amado.
Ao analisar essa afirmao do mundo, nos parece que deve haver uma ligao mais
profunda e estreita entre a eternidade do mundo e a deciso do homem. Primeiramente
deve-se esclarecer que a viso de mundo nietzschiana est atrelada a dois extremos: o
primeiro constitui-se em que, aps carem todas as amarras e preceitos que mantm o
homem preso, resta-lhe se perguntar pelo que ainda existe, ou o que fica para este homem,
e posteriormente, no outro extremo, cabe a ele construir o prprio mundo, o horizonte onde
deve colocar sua vida, j que no h nada para determin-lo, permitindo-se assim que ele
se torne de algum modo seu prprio Deus (cf. VATTIMO, 2010), esse processo e seu
resultado so nomeados por Nietzsche pelo termo niilismo. O cair das amarras caracteriza
o desaparecimento do mundo verdadeiro e este desaparece porque se transforma em fabula,
pois desde o inicio no passou disso (ibid., p. 56). O ponto de partida para se afirmar isso
se localiza na crtica verdade baseada na evidencia. Tal crtica pode ser corroborada na
passagem em que Nietzsche afirma ser o primeiro princpio [...] o modo de pensar mais
fcil triunfa sobre o mais difcil como dogma: simlex sigillum veri. Dico [sic]: que
clareza deva atestar algo em favor da verdade uma perfeita criancice... [...]
(NIETZSCHE, 2008b, p. 282, grifo meu), tambm presente em Alm do bem e do mal,
onde escreve Nietzsche: Ainda h ingnuos observadores de si mesmos que acreditam
existir certezas imediatas [...](id., 2013, p. 20). Isso significa que no existem verdades
por si s evidentes, sendo que a evidencia de uma proposio no passa de sua adaptao
perfeita e sem dificuldades ao sistema de preconceitos que constituem as condies de
conservao e desenvolvimento de um certo mundo histrico a que pertencemos
(VATTIMO, 2010, p. 58). Assim a verdade tida como conformidade e adaptao a
realidade explicada atravs de fatos histricos em um sentido linear de tempo que visa
um fim de maneira que inferimos com base nessa conformidade a verdade das demais
219
que se seguem, sendo essa inferncia, resultado de um processo histrico em que um fato
inferido a partir de outro, sendo assumido como sinal fiel e confivel de verdade.
Engendrada na concepo temporal de Nietzsche est recusa a historicidade, vista
por ele como sinal de decadncia de uma sociedade. Em tal sociedade, h excesso de
conscincia histrica, pois a cultura se tornou histria da cultura, ou seja, a cultura se
tornou erudio: o indivduo erudito passa a acumular conhecimentos passados sem
selecion-los, sendo a seleo a marca distintiva do indivduo que possui estilo. A
extrema conscincia histrica mata o desejo de criar, pois o homem perante fatos passados
tende a mumific-los, torn-los permanentes, impossibilitando-se assim a criao e a
autenticidade, de forma que para a ocorrncia da ao necessrio que haja esquecimento.
Em contrapartida, tambm deve haver certa relao com o passado, mas sem que se tente
tornar-se um continuador dele. Essa possibilidade se d somente quando a histria posta
a servio de uma fora criativa. Advm do ato criador a finalidade para o passado isso
no implica que o passado caminhe para um fim, mas sim, entendido como finalidade para
a criao. Nas palavras de Nietzsche, entende-se que o histrico e o a-histrico so na
mesma medida necessrios para a sade de um indivduo, um povo e uma cultura
(NIETZSCHE, 2003, p. 11). A vida criao; o individuo resultado dessa unidade
histrica; quando estabelecido um fim, o passado transformado em novidade. Modelos
dessa proficuidade atribuda ao passado so a arte e a religio, que o remontaram em vista
de algo.
A partir do momento em que o homem aprende a dizer es war (foi, em uma
traduo literal), se condena a uma luta contnua contra o passado, pois os homens no tm
a capacidade de esquecer como os animais, que vivem a cada instante sem saber o que o
ontem ou o hoje. Assim sendo, o passado cai como um peso sobre o homem: este vive
apenas uma sucesso de instantes, cada um dos quais sendo a negao do outro, de maneira
que o passado esvazia o presente, pois o homem no consegue se libertar do es war (cf. id.
2013). A doena histrica est atrelada interpretao linear de tempo, que visa um telos,
de maneira que o presente se torna negativo, como falta de algo, j que sempre se busca
um fim, isto , se vive o agora apenas visando chegada de um futuro.
O problema da doena histrica continua nas obras da maturidade nietzschiana,
onde tal problema se revela como um dos aspectos fundamentais pelos quais o niilismo se
define em sua origem e desenvolvimento (VATTIMO, 2010, p. 54). A perda de sentido e
valor do mundo advindos do socratismo, do platonismo e do cristianismo define o
220
significado mais geral do niilismo. Esse, porm, tem um alcance muito maior. Podem-se
indicar aqui trs etapas para o seu acontecimento: em um primeiro momento, encontra-se a
perda de nimo do homem ao descobrir o desperdcio de fora empregado na busca de um
sentido para os acontecimentos, pois esse sentido inexiste; no se encontrando uma
ordem moral para o mundo, compreende-se que a ideia de alcanar-se algo puro
equvoco, pois [...] com o devir nada se alcana, nada alcanado [...] (NIETZSCHE,
2008b, p. 31); em um segundo estgio o homem sedento por uma totalidade e organizao
nos acontecimentos, busca conformidade em uma suprema forma de governo e de domnio,
assim estabelecendo uma dependncia de um todo infinitamente superior a ele; porm, essa
ilusria segurana se esvai com a tomada de conscincia de que sua crena em algo divino
e universal infundada; esse ltimo aspecto tem ligao direta com os anteriores, pois
quando se compreende que nada alcanado com o devir e que sobre ele no impera
nenhuma fora universal que venha agregar valor ao homem, incide-se na total condenao
desse mundo do devir e assim inventa-se um mundo que fica alm do mesmo, como
verdadeiro mundo; ao compreender, no entanto, que esse subterfgio fruto de uma
necessidade psicolgica, ocorre a ltima forma do niilismo, caracterizada pela descrena
em um mundo metafsico. Assim sendo no h mais a possibilidade de refugiar-se em um
mundo do alm, porm [...] no se suporta este mundo, que j no se est disposto a
negar (ibid., p. 32).
Niilismo e historicismo desenvolvem-se paralelamente, trazendo ambos um duplo
sentido, positivo e negativo, que ocorre simultaneamente: negativo na medida em que
indicador de fraqueza e de perda de iniciativa por parte do homem; positivo na medida em
que, com o fim das construes providencialistas da histria, o campo est livre para uma
nova perspectiva que restitua ao homem a plena liberdade de iniciativa no mundo histrico
(cf. ibid). Esvada a crena em uma ordem em que os acontecimentos esto ligados
determinao de um deus, o homem encontra-se imerso em um fluxo irrefrevel das coisas,
submetido a um tempo onde no se capaz de reagir por imediato. Sua natureza mostra-se
em aguardar e adiar uma reao, e tais indcios so sinais de fraqueza, sinais de um tipo
decadente, pois tal homem decadente desaprende a reagir, de modo que a ao se torna
apenas resposta a um estmulo externo, e no iniciativa do agente (cf. ibid., p. 46 e p. 62).
Como observado anteriormente, a doena histrica configura os meios pelos quais o
niilismo se desenvolve, porm a relao com o passado e a luta com o peso do es war
abrangem, um aspecto universal, tornam-se o prprio problema do niilismo (VATTIMO,
221
2010, p. 30). Encontra-se na segunda Extempornea a meno de que esses aspectos so a
base da doena histrica, mas ao mesmo tempo constituem a essncia do homem (ibid.,
p.31), de maneira que o niilismo tem um carter histrico, como indicado no pargrafo 12
de A vontade de poder (NIETZSCHE, 2008. p. 31), mas tambm condio do homem
que no resolveu o problema do es war.
A incapacidade do homem de resolver o problema do es war e de se libertar do
peso do passado tem como consequncia o instinto de vingana, pois o homem no
consegue transformar o assim foi em um eu quis que assim fosse, e essa transformao
de aceitar o passado tal como , sem buscar algum ou alguma circunstncia para depositar
a responsabilidade dos acontecimentos caracteriza a renovao necessria para que haja
libertao do niilismo. Redimir o passado no homem e recriar todo foi at que a vontade
diga: Mas assim eu quis!, Assim querei... a isso denominei redeno (id., 2011, p.189).
No entanto, o querer para trs uma tarefa que parece impossvel para a vontade, j que
ela se encontra em uma situao que no escolheu, e ao perceber sua impotncia ante ao
passado, cria para si uma viso de mundo para comportar suas frustraes e justificar a
necessidade, daquele que sofre, de encontrar culpados. Essa maneira de reagir moldou toda
a metafsica, a psicologia, a representao histrica e, sobretudo, a moral, para que se
legitimasse o direito a vingana, que busca impor castigos; tal constatao encontra-se no
discurso de Zaratustra sobre a redeno (cf. ibid., p. 134). Desse processo entende-se que o
princpio de causalidade expresso desse esprito de vingana, o qual se manifesta no
apenas pela procura de responsabilidade em sentido prprio: qualquer busca por
fundamento carrega tal instinto.
Pode se estabelecer, em um apanhado geral, que a moral, a metafsica e
cristianismo so instrumentos do esprito de vingana e que apresentam em sua origem a
busca de uma ordem, de uma estabilidade e de um valor independente da vontade; quando
tais anseios se revelam ilusrios, tende-se para o advento do niilismo. A perda das iluses
pode ter dois sentidos: ou a absoluta incapacidade de ainda querer, ou o reconhecimento
alegre e criador do fato de que no existem tais iluses; do fato que no existir nenhuma
ordem fora da vontade significa que tudo deve ser criado (VATTIMO, 2010, p. 40).
Porm, para se chegar ao ponto em que a vontade no mais busca fora de si mesma
fundamentos ou responsabilidades, e para que isso implique na resoluo do problema do
es war e possibilite a passagem do niilismo em seu sentido negativo para o niilismo
superado, em que a vontade se reconhea como criadora, necessrio transpor o
222
paradigma da incapacidade de querer para trs, como exposto por Nietzsche no final do
discurso de Zaratustra sobre a redeno: Quem ensinar a vontade a querer para trs?
(NIETZSCHE, 2011, p. 135). Para resolver esse problema imprescindvel que se altere o
modo de pensar a temporalidade, o que implica em descobrir uma nova estrutura temporal
que no seja linear, em que o tempo se apresenta como uma srie irreversvel de instantes,
cada um dos quais sendo a sucesso de outro. Deve-se pensar uma estrutura temporal onde
a vontade possa realmente querer para trs, implicando assim na libertao do espirito de
vingana e do niilismo. Uma possvel soluo para o problema temporal encontra-se em
Assim Falou Zaratustra (ibid.), formulada sob a perspectiva da doutrina do eterno retorno
do mesmo; no entanto, este no deve ser pensado sob a perspectiva puramente moral, a
qual faz do conceito um critrio de escolha referente apenas ao homem e suas aes e que
tem por premissa o dever de escolher aquilo que gostaria de escolher para a eternidade;
tambm no por um vis cosmolgico, no qual tende-se a afirmar uma estrutura de mundo
em que a escolha do homem j no tenha sentido algum e em que j no pode haver nada
de novo, distanciando-se do discurso sobre a redeno de Zaratustra, que prega a existncia
de uma vontade criadora.
A interpretao que aqui servir de base para desenvolver uma possvel soluo de
tal problema ser a utilizada por Vattimo em seus primeiros ensaios de Dialogo com
Nietzsche (2010). O eterno retorno do mesmo evidenciado na passagem Da viso e do
enigma, onde Zaratustra relata uma viso tida em sonho (NIETZSCHE, 2011, p. 150):
Olhe para este instante diz Zaratustra. Desta porta sai uma longa
e eterna estrada que volta: atrs de ns jaz uma eternidade. Tudo o que
pode correr no deve j ter uma vez percorrido essa estrada? Tudo o que
pode acontecer no deve ter j uma vez ocorrido, ter-se realizado, ter
transcorrido?... E no esto as coisas estreitamente entrelaadas de tal
modo que este instante arrasta consigo as coisas vindouras? Portanto
tambm a si mesmo?
O conceito de eterno retorno a partir dessa passagem pode ser visto como uma
inverso da viso comum de tempo, sendo concebido por Zaratustra como tempo cclico,
possibilitando assim a retirada da pedra do passado, que era o empecilho de no poder se
querer para trs. Nessa estrutura circular, o que d significado a doutrina a funo que
nela exerce o instante: dada a estrutura circular de tempo, cai-se por terra o aspecto
223
retilneo em que o passado se tornaria um peso irreversvel sobre o presente e o futuro,
onde um instante por si s no tem consistncia e necessita da relao com os demais
instantes para ganhar fisionomia. Essa nova viso temporal possibilita uma determinao
recproca entre passado e futuro que se constitui a partir do presente como momento da
deciso. nesse momento que o passado e o futuro se unem de fato no presente, como
evidenciado em O convalescente: O instante traz consigo todo o passado e todo o futuro:
cada momento da histria torna-se decisivo para toda a eternidade: em cada instante a
existncia comea... O centro est em toda a parte (ibid., p.209). Assim sendo temos no
desenrolar de tal interpretao a superao do passado, o esquecimento reparador que abre
as portas para um mundo no qual o homem pode novamente criar.
Nesse mbito em que o instante, a saber, o momento da deciso se torna um
absoluto, j que no h mais um devir historicista, e em que impera a impossibilidade de
recorrer a uma ordem constituda de uma vez por todas, nenhuma deciso podendo se dizer
determinada ou condicionada, recai sobre ela, a deciso, a criao dos horizontes onde
colocar o mundo desse homem que no j no possui amarras e que se libertou de todas as
justificativas ilusrias que antes o guiava. Em um mundo onde os atos praticados traro
consigo o peso de se repetir eternamente, a irresponsabilidade do homem no mais se
justificar por conta de uma necessidade e causalidades do devir, isto , o homem no
poder responsabilizar outrem por suas aes. A liberdade consiste nesse instante no qual
as decises so tomadas; esse homem ter de ser capaz de assumir plenamente suas
prprias responsabilidades.
REFERNCIAS
NIETZSCHE, Friedrich W. Assim Falou Zaratustra. Traduzido por Paulo C. de Souza.
So Paulo: Companhia das Letras, 2011.
________. A Gaia Cincia. Traduzido por Paulo C. de Souza. So Paulo: Companhia das
Letras, 2012.
________. A vontade de poder. Traduzido por Marcos S. P. Fernandes e Francisco J. Dias
de Moraes. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008b.
________. Ecce homo. Traduzido por Paulo C. de Souza. So Paulo: Companhia das
Letras, 2008a.
________. Segunda considerao intempestiva: da utilidade e desvantagens da histria
para a vida. Traduzido por Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2003.
(Coleo Conexes)
224
VATTIMO, Gianni. Dilogo com Nietzsche. Traduzido por Silvana C. Leite. So Paulo:
WMF Martins Fontes, 2010.
225
A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM KANT RELACIONADA TEORIA
DA JUSTIA DE RAWLS
Emanuel Lanzini Stobbe
74
Universidade Estadual de Londrina
E-mail: e.l.stobbe@t-online.de
RESUMO
Resumo: Este trabalho tem por objetivo relacionar a noo de dignidade da pessoa
humana (Menschenwrde), na filosofia de Kant (em especial na Fundamentao da
Metafsica dos Costumes), com a teoria da justia elaborada por John Rawls, visando
apresentar em que medida Rawls leva em conta os conceitos de autonomia e dignidade. A
dignidade da pessoa, em Kant, teorizada nas segunda e terceira formulaes do
imperativo categrico, e se d por meio tanto da autonomia da vontade como da noo de
fim em si mesmo (a partir de um reino dos fins, segundo o qual tudo possui uma dignidade
ou um preo). Considerado o ser humano como livre, e potencialmente autnomo, tal
autonomia assegura-lhe uma dignidade, sendo tal pessoa capaz de construir sua prpria
personalidade (que a torna nica). Em Uma Teoria da Justia, o autor estadunidense
fundamenta sua viso acerca da justia, levando em considerao o entendimento do ser
humano enquanto fim em si mesmo. Visando tratar da justia como equidade, estabelece
dois princpios de justia, sendo que do primeiro so defendidas as liberdades
fundamentais dos indivduos (que devem ser garantidas, para uma sociedade ser justa).
Pressupe-se, assim, uma posio original na qual os indivduos estabeleceriam tais
princpios, partindo de um vu de ignorncia (para Rawls, a melhor caracterizao da
posio original) acerca do papel de cada um na sociedade. Nesta posio original, Rawls
pensa os indivduos enquanto mutuamente desinteressados (sem terem interesse nos
interesses dos demais). Apresentados os principais argumentos de Rawls, traa-se um
paralelo entre ambos os filsofos, ao relacionar (1) a autonomia ao desinteresse mtuo, (2)
a liberdade em Kant s liberdades bsicas em Rawls, e (3) o imperativo categrico aos
princpios da justia. No primeiro ponto, pode-se dizer que os indivduos mutuamente
desinteressados escolhem de modo efetivamente autnomo (desprovidos de motivaes
externas) os princpios da justia. Deste modo, posteriormente considerariam os demais
indivduos como dotados de dignidade (enquanto fins em si mesmos), ao reconhecer nos
outros a liberdade (logo, sua possvel autonomia). No segundo ponto, pode-se relacionar as
liberdades bsicas em Rawls com a liberdade em Kant, observando-se que, para ele, o
direto liberdade estaria relacionado possibilidade da autonomia. De modo similar,
Rawls estabelece liberdades bsicas para os indivduos que, atravs de sua autonomia (isto
, do desinteresse mtuo), escolheram equitativamente os princpios da justia. Ao tratar da
coero, contudo, de certo modo observa-se um possvel distanciamento entre Kant e
Rawls, na medida em Rawls ampliaria o uso da coero para alm da coero legtima,
podendo ser esse um problema a ser debatido. No terceiro ponto, temos a comparao entre
os princpios da justia e o imperativo categrico, do modo como o prprio Rawls expe,
que agir com base nos princpios da justia equivale a agir com base em imperativos
categricos, ao pensarmos que so aplicados, independendo de objetivos particulares. Uma
vez observados esses pontos principais, possvel esboar em que medida Rawls leva em
74
Graduando em Filosofia na Universidade Estadual de Londrina (UEL), e bolsista de iniciao cientfica
pelo CNPq, sob orientao do prof. Dr. Aguinaldo Pavo.
226
considerao a autonomia e a dignidade da pessoa, do modo como foram teorizadas por
Kant.
Palavras-chaves: Kant, Rawls, dignidade da pessoa humana, liberdades fundamentais
A DIGNIDADE DA PESSOA EM KANT
A filosofia moral de Kant, pode-se dizer, tem por base a autonomia da vontade, da
qual, ao se pensar em uma dignidade da pessoa humana (Menschenwrde), considera uma
pessoa como autnoma no uso de sua razo, uma vez que livre para estabelecer e seguir
leis de como deve agir. Deste modo, um dos mais importantes pontos da filosofia kantiana
justamente o conceito de dignidade da pessoa.
No artigo "Resposta pergunta: O que Esclarecimento?"
75
, Kant inicialmente
esboa seu conceito de autonomia, como o uso do seu prprio entendimento, conceito este
que desenvolvido em obras posteriores. A sada da menoridade e o desenvolvimento da
capacidade de se servir do seu prprio entendimento demarcam exatamente o propsito da
autonomia, de tal modo que o "uso pblico da razo" reafirmaria a liberdade como
condio de possibilidade do exerccio da autonomia.
Na Fundamentao da Metafsica dos Costumes, Kant trata dos conceitos de
autonomia e dignidade, que estariam vinculados entre si. A autonomia est relacionada
vontade, ou, no caso, boa vontade (guter Wille), sendo, deste modo, a autonomia da
vontade (do uso da razo prtica). A vontade, por si, no nem boa, nem m; depende do
uso que dela feito. Assim, uma boa vontade resultado de seu bom uso. Diz Kant: "no
h nada em lugar algum, no mundo e at mesmo fora dele, que se possa pensar como
irrestritamente bom, a no ser to-somente uma boa vontade (KANT, 2009, p. 101).
A autonomia, para Kant, seria "o fundamento da dignidade da natureza humana e
de toda natureza racional" (ibid., p. 269). O ser humano, partindo do bom uso de sua
vontade, deveria, para agir moralmente, agir por dever (no meramente conforme a ele), ou
seja, por respeito lei moral. A razo autnoma quando d a si mesma tal lei, e assim
respeita a lei que ela prpria props. Para isso, tal razo deve eliminar de seu princpio de
ao contedos empricos, pois, de outro modo, seria heternoma (quer dizer, no
75
Abreviaturas utilizadas no trabalho: de Kant: GMS (Fundamentao da Metafsica dos Costumes), MS
(Metafsica dos Costumes), RL (Doutrina da Direito), e WA ("Resposta pergunta: O que
Esclarecimento?"). De Rawls: TJ (Uma Teoria da Justia), e HMP (Histria da Filosofia Moral). As
indicaes concernentes s tradues esto contidas nas referncias bibliogrficas.
227
determinaria a si mesma). Para que possa escolher as mximas que possam ser
universalizadas, isto , para ser autnoma, a vontade deve ser livre. Deste modo,
considerando a vontade livre, pode ser imputada por seus atos, tanto a autnoma como a
heternoma (que, por mais que possa no ter seu fundamento na razo, ainda assim pode
ser considerada livre, e, logo, imputvel).
Kant, ao tratar do imperativo categrico, apresenta trs formulaes, das quais a
primeira e a terceira possuem variantes. A dignidade, isto , o tratamento de um ser
racional enquanto fim em si mesmo, introduzida na segunda formulao do imperativo
categrico: "age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na
pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como
meio" (ibid., p. 243).
A autonomia mais claramente abordada na frmula da autonomia, terceira
formulao do imperativo categrico, para agir de tal modo que "(...) a vontade possa,
mediante sua mxima, se considerar ao mesmo tempo a si mesma como legislando
universalmente" (ibid., p. 263).
Deve-se estabelecer, na segunda formulao, uma distino entre "meramente como
meio" (blo als Mittel) e "como meio". possvel agir moralmente mesmo considerando
uma outra pessoa como meio, desde que tambm seja considerada como fim em si mesmo.
Isto , a dignidade do outro deve ser respeitada, uma vez que ele tambm dotado de uma
vontade livre, e potencialmente autnoma. Para Kant, somente a humanidade e a
moralidade possuem dignidade, de tal modo que a moralidade garanta humanidade o
tratamento de fim em si mesmo:
Ora, a moralidade a nica condio sob a qual um ser racional pode ser fim em
si mesmo: pois s atravs dela possvel ser membro legislante no reino dos
fins. Portanto, a moralidade e a humanidade, na medida em que ela capaz da
mesma, a nica coisa que tem dignidade (ibid., p. 265).
Pode-se pensar que, com "humanidade", Kant esteja se referindo a seres racionais
autnomos. Isto , outros seres racionais alm dos humanos tambm possuiriam dignidade,
uma vez que os conceitos de dignidade e autonomia no so antropolgicos. Acerca disso,
diz Allen Wood:
Kant chama a natureza racional (em qualquer ser possvel) de "humanidade", na
medida em que a razo usada para construir fins de qualquer espcie.
Humanidade distinguida de "personalidade", que a capacidade racional de ser
moralmente responsvel. Dizer que a "humanidade" um fim em si mesma
atribuir valor a todos os nossos fins permissveis, sejam eles apreciados pela
moralidade ou no (WOOD, 2008, p. 170).
228
Rawls entende, comentando Kant, a humanidade como "nossas faculdades e
capacidades que nos caracterizam como pessoas razoveis e racionais que pertencem ao
mundo natural" (RAWLS, 2005, p. 217).
Considerando isso, a partir da concepo de Wood, observa-se a noo de
"humanidade" enquanto natureza racional em qualquer ser possvel. Deste modo, tem-se
que um ser (mesmo um ser no humano), pelo fato de ser racional, possui (de algum modo)
humanidade, e portanto dignidade. Isto , o conceito de humanidade est relacionado ao
conceito de pessoa (como aponta Rawls), que por sua vez est ligado ao de racionalidade.
A humanidade, no caso, no entendida exclusivamente como propriedade de seres
"humanos", mas sim de seres racionais. De certo, este um ponto que mereceria ser tratado
mais afundo para um melhor entendimento da questo propriamente dita, no obstante
imagino que esta abordagem j suficiente para o propsito desta comunicao.
Sobre o conceito de fim em si mesmo, Kant estabelece que tudo, em um reino dos
fins, "tem ou bem um preo ou bem uma dignidade" (KANT, op. cit., p. 265). Enquanto o
primeiro seria substituvel, o segundo seria exclusivo, no caso, de cada pessoa (ser racional
dotado de uma personalidade). A pessoa humana, individual, deve ser compreendida
enquanto fim em si mesma, j que racional e possuidora de uma boa vontade, assim
como da liberdade de utilizar autonomamente sua razo prtica. Cada pessoa constri sua
personalidade, inerente a cada indivduo (tornando-o nico), e essa personalidade garante a
dignidade da pessoa humana. Para Kant, "a dignidade do homem consiste exatamente
nessa capacidade de ser universalmente legislante, ressalvada a condio de estar ao
mesmo tempo submetido a exatamente essa legislao" (ibid., p. 285).
Pode-se aplicar a frmula da humanidade em alguns exemplos j anteriormente
utilizados para a primeira formulao do imperativo categrico (a frmula da lei universal,
da universalizao das mximas). Podemos dizer, assim, que uma pessoa, ao prometer
falsamente, no est respeitando a dignidade da outra pessoa, e assim no est tomando a
humanidade como um fim, mas como um mero meio. Deste modo, a falsa promessa
imoral, visto que no condiz com o tratamento adequado da humanidade como fim em si
mesmo. Tambm no exemplo do suicdio pode-se pensar que o indivduo no toma a
humanidade como fim em si mesmo, sendo assim considerado como eticamente
condenvel (por mais que seja possvel pens-lo como juridicamente permitido, de modo a
no ser uma proibio necessariamente moral, mas apenas tica).
229
Kant tambm trata da dignidade da pessoa na Metafsica dos Costumes. Mais
especificamente na Doutrina do Direito, observamos que tal dignidade respeitada mesmo
no que tange ao direito privado, no caso, o da posse jurdica de uma pessoa. Ao distinguir
"posse"
76
(Besitz) de "uso" (Gebrauch) (id., 2008, p. 121), Kant encontra uma possvel
sada para como seria possvel, ao mesmo tempo, ter um direto sobre uma pessoa como
coisa (no caso dos direitos de matrimnio
77
, dos pais e do chefe do lar) e us-la como
pessoa, isto , respeitando sua condio de fim em si mesmo (dotada de dignidade).
Por mais que tal distino seja suficiente para resolver o problema, para Otfried
Hffe:
verdade que Kant no considera o cnjuge, os filhos e o pessoal da casa como
uma "posse"; s lcito dispor livremente de coisas materiais; nenhum ser
humano "proprietrio de si mesmo..., e muito menos ainda de outras pessoas"
( 17); mas eles fazem parte dos "bens" ( 4); um cnjuge que foge sempre pode
ser buscado pelo outro, "como uma coisa" ( 25) (HFFE, 2005, p. 245).
Kant faz uma distino entre "ser seu prprio senhor " e ser "proprietrio de si
mesmo" (KANT, op. cit., p. 115). Deste modo, a primeira condio no implicaria
necessariamente a segunda. Deste modo, como Hffe sublinha, no seria possvel ser
proprietrio de outras pessoas, uma vez que no seria nem mesmo o seu prprio
proprietrio, "posto que responsvel pela humanidade em sua prpria pessoa" (op. cit.).
Isto , no se pode dispor de si do modo como lhe agrade, porque deve respeitar sua
prpria humanidade. Considerar-se-ia, assim, a importncia do conceito de "uso" dado por
Kant (e sua diferena do de "posse"), uma vez que atravs dele seria respeitada a
humanidade em questo. Dada esta explicitao, pode-se seguir agora o curso proposto
nesta comunicao.
76
Acerca do conceito de posse, interessante ressaltar que "Kant distingue duas espcies de posse, que ele
chama de posse 'fenomenal' e posse 'noumenal' (ou 'inteligvel')" (WOOD, op. cit., p. 207). A posse
fenomenal se daria atravs de um contato corporal imediato (por exemplo, uma mo que est ligada a um
corpo, sendo posse de uma determinada pessoa). A posse inteligvel, por sua vez, se daria partindo de um
conceito puro do entendimento. A noo de propriedade (Eigentum) em Kant depende da posse inteligvel.
77
No obstante, ainda restaria uma abordagem mais profunda para apurar, em especial no exemplo do
matrimnio, se e como ambos os cnjuges poderiam utilizar-se mutuamente e ainda assim garantir a
dignidade.
230
A TEORIA DA JUSTIA DE RAWLS
Partindo do conceito de dignidade da pessoa humana, podemos fazer agora algumas
consideraes acerca da teoria da justia de Rawls, em especial da obra Uma Teoria da
Justia.
A justia, para Rawls, a primeira virtude das instituies sociais, de modo anlogo
ao papel da verdade nos sistemas de pensamento. Tem por objeto primrio a estrutura
bsica da sociedade, isto , "a maneira pela qual as instituies sociais mais importantes
distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a diviso das vantagens
provenientes da cooperao social" (RAWLS, 1997, p. 7-8).
Logo no incio do livro, diz Rawls:
Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justia que nem mesmo o
bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar. Por essa razo, a justia
nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior
partilhado por todos (ibid., p. 4).
A considerao de uma inviolabilidade de cada indivduo, levando em conta sua
autonomia, compatvel com o ponto defendido por Kant, atravs do qual o indivduo no
poderia ser tratado enquanto mero meio para se atingir um bem maior em prol da maior
parte dos indivduos (que seria, de acordo com Rawls, uma abordagem utilitarista). Se
assim fosse, no seria possvel garantir uma universalidade ao tratar do valor que cada
pessoa possui, ou seja, como fim em si mesmo.
Tal inviolabilidade de cada indivduo traduzida na teoria de Rawls com a
priorizao de certas liberdades fundamentais, que sero retomadas na sequncia. Ela se
observa quando o autor trata da posio original e do vu de ignorncia
78
. Rawls estabelece
que uma sociedade, para ser justa, pressupe
79
uma posio original (no caso, sua melhor
caracterizao seria o vu de ignorncia), na qual os indivduos deveriam decidir os
princpios da justia, atravs de sua autonomia, desprovidos de qualquer conhecimento
acerca de qual papel cada indivduo desempenharia nesta sociedade (por conta disso, se faz
necessrio um vu de ignorncia):
78
Posio original e vu de ignorncia so, de fato, coisas distintas. O vu de ignorncia uma das possveis
caracterizaes da posio original (que, em termos contratualistas, uma posio hipottica), sendo, para
Rawls, a melhor caracterizao, uma vez que garante concepo de justia em questo imparcialidade.
79
"Pressupe", no sentido que a sociedade existe independente da deliberao hipottica sobre princpios de
justia. Ainda assim, pode-se pensar que os indivduos que deliberadamente agem de acordo com os
princpios da justia agem tambm de acordo com a posio original (por mais que hipottica) e com as
restries que lhe so concernentes.
231
Como cada pessoa deve decidir com o uso da razo o que constitui o seu bem,
isto , o sistema de finalidades que, de acordo com a sua razo, ela deve buscar,
assim um grupo de pessoas deve decidir de uma vez por todas tudo aquilo que
entre elas se deve considerar justo e injusto (ibid., p. 13).
Rawls trata da justia como equidade, ou seja, um tratamento menos desigual de
cada indivduo, sendo que tal teoria serve de contraponto s teorias anteriores, como o
utilitarismo. Uma vez que no se pode atribuir um preo para uma dignidade (no caso, uma
pessoa), a distribuio da justia
80
deve se dar de modo equivalente
81
para todos os
cidados. A posio original se daria de tal modo que caracterizaria as decises de homens
racionais e livres, remetendo assim legislao moral indicada por Kant (ibid., p. 276).
A DIGNIDADE DA PESSOA EM KANT RELACIONADA TEORIA DA
JUSTIA DE RAWLS
Pode-se traar uma comparao entre o que Rawls chama de "desinteresse mtuo",
e o conceito kantiano de autonomia. Ao pensar a justia como equidade tal qual as pessoas
livres e racionais aceitariam os princpios da justia escolhidos por todos em uma posio
original, admite-se que estas estariam preocupadas em promover seus interesses prprios,
isto , sem interesse nos interesses dos demais. Para Rawls, "uma caracterstica da justia
como equidade a de conceber as partes da situao inicial como racionais e mutuamente
desinteressadas" (ibid., p. 15), de modo que elas prprias escolheriam, sem influncias
exteriores, os princpios da justia. Ele prprio reconhece a possibilidade de tal analogia:
"podemos tambm observar que o pressuposto, no que concerne aos motivos, do
desinteresse mtuo, paralelo noo kantiana de autonomia (...)" (ibid., p. 278). Se
pensamos em pessoas mutuamente desinteressadas, como seria possvel chegar ao ponto de
um indivduo reconhecer o outro como um fim em si mesmo? Ora, encontra-se aqui uma
possvel explicao na motivao moral teorizada por Kant. Para Kant, um indivduo
reconhece o outro como fim em si mesmo na medida em que admite sua liberdade (e,
consequentemente, a possibilidade de sua autonomia). Entendendo o outro como
80
A distribuio da justia se daria com a distribuio dos bens sociais primrios: direitos, liberdades, renda,
riqueza e as bases sociais do autorrespeito.
81
A distribuio pode se dar de modo desigual, na medida em que seja aceitvel tambm aos que possuem
menos liberdade, desde que o montante destinado aos menos favorecidos seja maior do que o montante
destinado a todos numa situao hipottica de igualdade. A exigncia de iguais liberdades fundamentais
mais importante do que a exigncia de uma maior igualdade na distribuio da renda, riqueza e propriedade,
uma vez que o primeiro princpio possui maior prioridade que o segundo. Neste caso, a distribuio no
necessita ser estritamente igual, basta ser equitativa.
232
autnomo, considera-o como possuidor de uma dignidade, de tal modo que, atravs da
prpria lei moral, no caso, o imperativo categrico, reconhece que no pode agir tomando
o outro como coisa (meio), pois aquele prprio autnomo quanto ao uso de sua razo
prtica, sua vontade. Com respeito da derivado, os indivduos mutuamente desinteressados
passariam a respeitar o papel de cada um na escolha dos princpios da justia, em razo de
sua prpria autonomia.
Os princpios da justia, que para Rawls so definidos na posio original pelos
indivduos (racionais, livres, e autnomos), seriam estabelecidos partindo de escolhas
destes.
Tais princpios, segundo Rawls, seriam
82
:
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de
liberdades bsicas iguais que seja compatvel com um sistema semelhante de
liberdades para as outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econmicas devem ser ordenadas de tal
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos
dentro dos limites do razovel, e (b) vinculadas a posies e cargos acessveis a
todos (ibid., p. 64).
Por mais que o segundo princpio tambm possua sua importncia para a questo,
no primeiro princpio da justia que se assenta a mais ntida influncia do conceito da
dignidade da pessoa de Kant. Uma vez que uma pessoa possui direitos iguais aos das
demais, possui consequentemente liberdades bsicas equivalentes, j que, por no poder
estabelecer uma hierarquizao dos valores das pessoas (uma vez que, por possuir
dignidade, cada pessoa nica), no se faz possvel distribuir as liberdades de um modo
no equitativo. Por mais que Kant no trate de liberdades bsicas, mas sim de uma
liberdade pura e simples, para se respeitar a dignidade dos demais indivduos faz-se
necessrio observar tambm a liberdade da vontade de cada um, j que, ao possuir tal
liberdade, por consequncia pode possuir tambm autonomia, de tal modo que deva ser
tomado enquanto detentor de uma dignidade. O direto liberdade, isto , no coero
ilegtima por parte de outros, deveria ser garantido, para que seja respeitada a dignidade,
uma vez observada tal "qualidade humana de ser o seu prprio senhor (sui iuris), bem
como ser um ser humano irrepreensvel (iusti)" (KANT, op. cit., p. 84), sendo que, antes de
realizar algum ato concernente a direitos, no causou dano a ningum. Diz Kant:
82
Em funo do desenvolvimento argumentativo de Rawls na Teoria da Justia, apresentada no pargrafo
46 a verso final dos dois princpios. Apesar disso, no h diferena significativa para o desenvolvimento do
presente trabalho tratar desta primeira verso.
233
A liberdade (a independncia de ser constrangido pelo arbtrio
83
alheio), na
medida em que pode coexistir com a liberdade de todos os outros de acordo com
uma lei universal, o nico direito original pertencente a todos os homens, em
virtude da humanidade destes (ibid., p. 83).
Rawls considera que as liberdades bsicas mais importantes so:
(...) a liberdade poltica (o direito de votar e ocupar um cargo pblico) e a
liberdade de expresso e reunio; a liberdade de conscincia e de pensamento; as
liberdades da pessoa, que incluem a proteo contra a opresso psicolgica e a
agresso fsica (integridade da pessoa); o direito propriedade privada e a
proteo contra a priso e deteno arbitrrias, de acordo com o conceito do
estado de direito (RAWLS, op. cit. p. 65).
Dentre as liberdades bsicas, pode-se observar que Rawls inclui as liberdades da
pessoa, isto , o direito no coero (psicolgica ou fsica). Em Kant, temos que uma
pessoa autnoma quando ela prpria possui condies, atravs do uso de sua razo, de
agir livremente, conforme sua vontade. Kant considera que, devido a tal autonomia (logo,
tal dignidade), nenhuma outra pessoa pode exercer qualquer tipo de coero sobre a aquela
que autnoma, a no ser no caso da coero legtima. Para Kant, "ligada ao direito pelo
princpio de contradio h uma competncia de exercer coero sobre algum que o
viola" (KANT, op. cit., p. 78), isto , se um uso da liberdade, feito por uma pessoa,
obstculo liberdade de outra, faz-se conforme liberdade, de acordo com leis universais
(de modo a ser justo), uma outra coero, visando retirar o obstculo (coero legtima).
Rawls, por sua vez, ampliaria o uso da coero para alm da coero legtima, em especial
ao tratar do segundo princpio (isto , tal ampliao estaria na distribuio vantajosa para
todos). Encontra-se, neste aspecto, a possibilidade de um distanciamento entre Kant e
Rawls, um problema tal que seria vlido tratar com maior profundidade em trabalhos
posteriores.
Sobre o entendimento de Rawls acerca do tratamento da pessoa humana como fim
em si mesmo, ele diz, apoiado na possvel interpretao kantiana dos princpios da justia:
Um outro modo de colocar a questo dizer que os princpios da justia
manifestam, na estrutura bsica da sociedade, o desejo dos homens de tratar uns
aos outros no apenas como meios, mas como finalidades em si mesmos
(RAWLS, op. cit., p. 195).
Mais claramente no pargrafo 40 da Teoria da Justia, Rawls apresenta alguns
argumentos sobre a possvel comparao entre sua teoria e a de Kant. Para ele, os
princpios da justia podem ser comparados aos imperativos categricos, de modo que
83
Na traduo utilizada da MS, "Willkr" equivocadamente traduzido como "escolha". A traduo mais
coerente, neste caso, seria "arbtrio" (por exemplo, a expresso "freier Willkr" refere-se ao "livre-arbtrio", e
no a uma livre escolha). O equivalente de "escolha", em alemo, seria "Wahl".
234
"agir com base nos princpios da justia agir com base em imperativos categricos, no
sentido de que eles se aplicam a ns, quaisquer sejam os nossos objetivos particulares"
(ibid., p. 278).
Rawls considera, deste modo, que a posio original pode ser entendida como "uma
interpretao procedimental da concepo kantiana de autonomia, e do imperativo
categrico, dentro da estrutura de uma teoria emprica" (ibid., p. 281). Para ele, uma vez
que os indivduos so de modo similar racionais e livres, cada um tem, assim, uma voz
igual na escolha dos princpios da justia, que se daro para todos, sendo que "isso de
forma alguma anula os interesses da pessoa, como a natureza coletiva da escolha talvez
parea sugerir" (ibid., p. 282).
CONSIDERAES FINAIS
Por fim, Rawls afirma ter se distanciado de Kant em vrios aspectos, uma vez que
sua teoria trata de uma justia mais no sentido social, enquanto o problema de Kant seria
outro. No obstante, ainda assim podemos observar que, como era o objetivo desta
comunicao apresentar, o conceito de dignidade da pessoa humana teorizado por Kant
levado em considerao na tese de Rawls, em especial se tratando da posio original (no
caso, do vu de ignorncia) que sugere a autonomia dos indivduos (atravs do desinteresse
mtuo), e dos princpios de justia que, provenientes da escolha desses indivduos
autnomos, guardam sua dignidade, atravs da manuteno das liberdades fundamentais.
REFERNCIAS
HFFE, Otfried. Immanuel Kant. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
KANT, Immanuel. A Metafsica dos Costumes. Traduo, textos adicionais e notas de Edson Bini,
2 ed. rev. Bauru, SP: Edipro, 2008.
______. (MS, RL): Die Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans
Ebeling. Stuttgart: Reclam Universal-Bibliothek, 1990.
______. (GMS): Fundamentao da Metafsica dos Costumes. Edio bilngue, traduo de Guido
Antnio de Almeida. So Paulo: Discurso Editorial: Barcarolla, 2009.
______. Practical philosophy. Edited by Mary J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press,
1999.
235
______. (WA): Textos seletos. Tradues de Raimundo Vier e Floriano de Sousa Fernandes,
introduo de Emmanuel Carneiro Leo. Petrpolis, RJ: Vozes, 2011. (Coleo Textos
Filosficos).
RAWLS, John. A Theory Of Justice. Revised edition. Cambridge, Massachusetts: The Harvard
University Press, 1999.
______. (HMP): Histria da Filosofia Moral. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. (TJ): Uma Teoria da Justia. Traduo de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. So
Paulo: Martins Fontes, 1997.
WOOD, Allen. Kant Introduo. Traduo de Delamar Jos Volpato Dutra. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
Você também pode gostar
- Entre Dois Mundos - Huberto Rohden PDFDocumento129 páginasEntre Dois Mundos - Huberto Rohden PDFRicardoSantos77100% (1)
- Livro - O.E. Na Prática - Lia Giacaglia e Wilma PenteadoDocumento109 páginasLivro - O.E. Na Prática - Lia Giacaglia e Wilma PenteadoTales Damascena de Lima100% (1)
- Criminologia - Teoria e Pratica PDFDocumento8 páginasCriminologia - Teoria e Pratica PDFLuiz Guilherme100% (1)
- Resumo Aula 2 Desvendando Seu Código Numerológico 20 01 2020Documento23 páginasResumo Aula 2 Desvendando Seu Código Numerológico 20 01 2020Susana Stockmann Trindade100% (1)
- Temas-em-teoria-da-justiça-II Publicado PDFDocumento243 páginasTemas-em-teoria-da-justiça-II Publicado PDFCharles FeldhausAinda não há avaliações
- 3.1 Bioética e A Enfermagem No TrabalhoDocumento46 páginas3.1 Bioética e A Enfermagem No TrabalhoFlávia Regina Lopes da Rosa100% (3)
- Direitos Humanos e CidadaniaDocumento11 páginasDireitos Humanos e CidadaniaLeila Borges de MagalhãesAinda não há avaliações
- A Teoria Utilitarista de John Stuart MillDocumento11 páginasA Teoria Utilitarista de John Stuart Millluisr487980% (5)
- Auditoria e Perícia OdontológicaDocumento22 páginasAuditoria e Perícia OdontológicaJoyce Abreu MendesAinda não há avaliações
- Fragmentos de Discursos (Não Tão Amorosos) Sobre o Exame Criminológico PDFDocumento80 páginasFragmentos de Discursos (Não Tão Amorosos) Sobre o Exame Criminológico PDFrogerAinda não há avaliações
- Artigo Colóquio Habermas 2016 Rio de Janeiro PDFDocumento579 páginasArtigo Colóquio Habermas 2016 Rio de Janeiro PDFCharles Feldhaus100% (1)
- A Beleza Que Salva o MundoDocumento16 páginasA Beleza Que Salva o MundoCátia KistAinda não há avaliações
- Bernard Edelman - O Direito Captado Pela FotografiaDocumento106 páginasBernard Edelman - O Direito Captado Pela FotografiaCarolina SantiagoAinda não há avaliações
- Habermas e Direito Internacional ApontamentosDocumento126 páginasHabermas e Direito Internacional ApontamentosCharles FeldhausAinda não há avaliações
- Rawls The Law of Peoples Part 2 PDFDocumento7 páginasRawls The Law of Peoples Part 2 PDFCharles FeldhausAinda não há avaliações
- Anais Egressos Uel 2012Documento163 páginasAnais Egressos Uel 2012Friedrich BelmontAinda não há avaliações
- Anais II Coloquio Kant GuarapuavaDocumento338 páginasAnais II Coloquio Kant GuarapuavaCharles FeldhausAinda não há avaliações
- ANAIS CompletoDocumento309 páginasANAIS CompletoCharles FeldhausAinda não há avaliações
- AnaisDocumento285 páginasAnaisJacqueline CarrilhoAinda não há avaliações
- A Teoria de Cosmovisão de Wilhelm Dilthey e o Mito Da NeutralidadeDocumento19 páginasA Teoria de Cosmovisão de Wilhelm Dilthey e o Mito Da NeutralidadeFranciscoWanderclersonAinda não há avaliações
- Administração PúblicaDocumento6 páginasAdministração Públicavanet deCristoAinda não há avaliações
- 54881-Texto Do Artigo-191728-1-10-20220626Documento14 páginas54881-Texto Do Artigo-191728-1-10-20220626Leticia GabrielAinda não há avaliações
- MAPA - Material de Avaliação Prática Da AprendizagemDocumento4 páginasMAPA - Material de Avaliação Prática Da AprendizagemMëënöör Miil Graal GralAinda não há avaliações
- UNIDADE 2 Individualismo e Ética ProfissionalDocumento12 páginasUNIDADE 2 Individualismo e Ética ProfissionalAngelica Da Silva Novais0% (2)
- Christiane Santos Alves CostaDocumento79 páginasChristiane Santos Alves CostafranciscarlosAinda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento4 páginasFilosofia Do Direitoatls23Ainda não há avaliações
- Ebook Linguistica Forense Vol 2Documento132 páginasEbook Linguistica Forense Vol 2MARIANA FERREIRA DE FUCCIOAinda não há avaliações
- Valores e ValoraçãoDocumento6 páginasValores e ValoraçãoJose Varela89% (9)
- Estatuto Do Idoso Comentado PDFDocumento57 páginasEstatuto Do Idoso Comentado PDFJoao Victor MoreiraAinda não há avaliações
- Professor de Educacao InfantilDocumento12 páginasProfessor de Educacao InfantilLuciana DiasAinda não há avaliações
- Cne - Projecto - Educativo - Manual - Do - Dirigente1 PDFDocumento492 páginasCne - Projecto - Educativo - Manual - Do - Dirigente1 PDFBruno SobralAinda não há avaliações
- Etica Matriz 07 Dez 14 SdesDocumento43 páginasEtica Matriz 07 Dez 14 Sdesfaustus8866Ainda não há avaliações
- 05 - Estética Artística PDFDocumento54 páginas05 - Estética Artística PDFGabriela RochaAinda não há avaliações
- Monografia JÉSSICADocumento44 páginasMonografia JÉSSICAAmandaAinda não há avaliações
- Segatto, Antonio Ianni - Carnap, Wittgenstein e o Problema Da MetafísicaDocumento15 páginasSegatto, Antonio Ianni - Carnap, Wittgenstein e o Problema Da MetafísicaAntonio ISAinda não há avaliações
- FELICIDADEDocumento9 páginasFELICIDADEJucelino Moreira De CarvalhoAinda não há avaliações
- ITRI 2022 - CARR - Trechos Selecionados Caps. 4 e 5 (A Crítica Realista)Documento6 páginasITRI 2022 - CARR - Trechos Selecionados Caps. 4 e 5 (A Crítica Realista)Aline MazzeroAinda não há avaliações
- Almir Neto - 10 Passos para A Aprovação Na 1 Fase Da OAB PDFDocumento36 páginasAlmir Neto - 10 Passos para A Aprovação Na 1 Fase Da OAB PDFmarilenaAinda não há avaliações