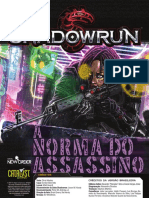Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Habitação e Política - Davinci
Habitação e Política - Davinci
Enviado por
Sara Raquel F. Q. Medeiros0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações1 páginaTítulo original
Habitação e Política_davinci
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações1 páginaHabitação e Política - Davinci
Habitação e Política - Davinci
Enviado por
Sara Raquel F. Q. MedeirosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 1
HABITAO E POLTICA
Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros.
Bolsista de Iniciao Cientfica (PIBIC/CNPq) do Departamento de Geografia da UFRN.
E-mail - raquelfernandes@ufrnet.br
A questo da moradia tem se constitudo numa importante ferramenta nas mos do Estado. Isso pode ser verificado
analisando-se a trajetria da poltica habitacional brasileira desde a interveno higienista at a instituio da
Fundao da Casa Popular e do Banco Nacional da Habitao. A questo habitacional tem sido poderoso utenslio
para angariar legitimidade poltica e para promover o controle social e a ordem pblica.
Durante a interveno higienista, no incio do sculo XX, a tnica era a desordem urbana ocasionada pela
concentrao de mo-de-obra ociosa e mal remunerada, expanso descontrolada da malha urbana, bem como
marcante carncia habitacional com o crescimento dos principais centros urbanos brasileiros, em particular So
Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Nesse perodo, a soluo para a carncia habitacional foi resolvida no mercado, com
o predomnio da produo rentista da habitao, em que indivduos com melhor poder aquisitivo construram casas
para serem alugadas aqueles de renda mais baixa. Como as construes dessas unidades habitacionais seguiam a
ordem do barateamento de custos, produziam-se moradias de baixa qualidade e em condies de insalubridade.
Trata-se da construo de vilas e da converso de antigos casares em cortios. Soma-se a esse fator a propagao
de doenas epidmicas e infecto-contagiosas, condicionando as aes higienistas, em que o Estado tratava os
problemas de habitao como de sade pblica. Assim, no eram as condies gerais de sade dos habitantes que
preocupavam o Estado, e sim o combate a algumas enfermidades especficas. A interveno se deu na forma de
legislao que permitiu a expulso dos pobres de reas cobiadas. Essa expulso da populao pobre dos centros
das cidades se deu atravs de exigncias impostas, caso em que se a populao no conseguisse cumpri-las teriam
que deixar os centros urbanos.
Em meados da dcada de 40, diante do avano comunista, da necessidade de legitimidade poltica e da obteno do
apoio das massas populares, o governo Dutra encontrou na habitao popular uma aliada para ajudar a garantir a
ordem urbana. Com o apoio dos trabalhadores urbanos - para quem a casa prpria significava seguridade econmica
- e da igreja Catlica - que tambm temia o avano do comunismo - criou, em 1946, a Fundao da Casa Popular
(FCP), primeiro rgo em mbito nacional voltado a produo da casa prpria para camadas de baixa renda. Porm,
essa promoo da habitao no ocorreu de forma igualitria. Alm do predomnio de expedientes clientelistas, a
FCP privilegiou alguns estados em detrimentos de outros. Os contratos estabeleciam o comportamento que era
esperado dos moradores dos conjuntos habitacionais, determinando, inclusive, a sua resciso para os
transgressores. Era este o objetivo da FCP: adquirir o apoio das massas populares e instruir a "plebe" urbana.
Na dcada de 60, novamente a "desordem" urbana do pas, por ocasio da instabilidade econmica e do desarranjo
poltico, exigiu um instrumento que diminusse as presses sociais e buscasse o apoio das massas populares. Mais
uma vez, a poltica habitacional, cujo carro-chefe foi criao do Banco Nacional da Habitao (BNH) em 1964,
surgiu como meio de angariar legitimidade para os governantes militares e alcanar penetrao junto aos
trabalhadores urbanos, esfriando as massas e obtendo delas o apoio. Esse apoio adveio do fato da casa prpria se
constituir, no imaginrio passado para o trabalhador urbano, um atrativo - objetivo e subjetivo - que possibilitaria sua
ascenso social. Objetivamente, segundo tal viso, a casa prpria possibilitaria o acesso ao credirio e ainda liberaria
o oramento familiar da obrigao mensal do aluguel. Subjetivamente, a aquisio de um imvel se constituiria na
principal evidncia de sucesso, conquista social. Ressalte-se ainda a patente inteno do Estado, nesse contexto de
turbulncia poltica, de associar a moradia propriedade. A interface propriedade-moradia foi caracterizada como
ferramenta fundamental para alcanar a estabilidade e o controle social, como evidente no slogan comumente
divulgado no incio do movimento de 64: "um proprietrio a mais, um revolucionrio a menos".
Nessa trajetria da poltica habitacional brasileira, a preocupao de resolver os problemas de moradia de parcela
substancial da populao ficou em segundo plano. A moradia sempre esteve associada a objetivos econmicos e
polticos, visando adquirir, via a ideologia da casa prpria, o apoio e exercer o controle sobre as massas populares, o
que tem condicionado o formato das polticas pblicas e limitado seu impacto social. Este trabalho teve a orientao
do Prof. Dr. Mrcio Moraes Valena.
http://www.ufrn.br/davinci/setembro/7.htm
Você também pode gostar
- ABREU, Maurício de - Reconstruindo Uma História Esquecida PDFDocumento13 páginasABREU, Maurício de - Reconstruindo Uma História Esquecida PDFSara Raquel F. Q. Medeiros0% (1)
- Cap.2 Macroeconomia - Carlin and SoskiceDocumento22 páginasCap.2 Macroeconomia - Carlin and SoskiceJoão Paulo Moura100% (1)
- A cohab/RNDocumento23 páginasA cohab/RNSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Conjuntos Habitacionais e Expansão Do Espaço Urbano de Natal/RNDocumento1 páginaConjuntos Habitacionais e Expansão Do Espaço Urbano de Natal/RNSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Natal Nao Ha Tal PDFDocumento207 páginasNatal Nao Ha Tal PDFSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- NASCIMENTO, Flávia Brito Do - Historiografia e Habitação Social - Art01 - Risco16 PDFDocumento11 páginasNASCIMENTO, Flávia Brito Do - Historiografia e Habitação Social - Art01 - Risco16 PDFSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- BNH: Outra PespectivaDocumento15 páginasBNH: Outra PespectivaSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- O Minha Casa É Um Avanço, Mas Segregação Urbana Fica IntocadaDocumento4 páginasO Minha Casa É Um Avanço, Mas Segregação Urbana Fica IntocadaSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- E-Book GeographyDocumento788 páginasE-Book GeographySara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Uma Casa Não É Uma TendaDocumento9 páginasUma Casa Não É Uma TendaSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Casa Própria Sonho Ou Realidade PDFDocumento113 páginasCasa Própria Sonho Ou Realidade PDFSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Serra Do MelDocumento25 páginasSerra Do MelSara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- E-Book GeographyDocumento788 páginasE-Book GeographySara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- E-Book GeographyDocumento788 páginasE-Book GeographySara Raquel F. Q. MedeirosAinda não há avaliações
- Relacao Liderança e Gestão de Quipes 2023Documento3 páginasRelacao Liderança e Gestão de Quipes 2023Marcel Alexandre de SousaAinda não há avaliações
- 09 Doutrina Crista Da Oracao CPDocumento48 páginas09 Doutrina Crista Da Oracao CPÂngela BritoAinda não há avaliações
- 02-Apostila de Apoio Nos EstudosDocumento103 páginas02-Apostila de Apoio Nos EstudosNina Baptistella100% (1)
- Ciências Auxiliares de HistóriaDocumento11 páginasCiências Auxiliares de HistóriaMoniz Raimundo Jr.Ainda não há avaliações
- Derrida, Celan, Traducao - 8245-26683-1-PB PDFDocumento36 páginasDerrida, Celan, Traducao - 8245-26683-1-PB PDFVeronica DellacroceAinda não há avaliações
- O Método Apologético Tradicional - Portal Da Teologia PDFDocumento10 páginasO Método Apologético Tradicional - Portal Da Teologia PDFInstituto Teológico GamalielAinda não há avaliações
- Orientação Da Criança ResumoDocumento2 páginasOrientação Da Criança ResumoLeticia Aquino100% (2)
- Gestão Da Qualidade e Modelo de Excelência GerencialDocumento43 páginasGestão Da Qualidade e Modelo de Excelência GerencialIzabela NssAinda não há avaliações
- Apostila RgugruiDocumento37 páginasApostila RgugruiConcurseiroAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa. DOUTORADO. UFBA, 2018Documento20 páginasProjeto de Pesquisa. DOUTORADO. UFBA, 2018Anna KellyAinda não há avaliações
- Calendário MaiaDocumento25 páginasCalendário MaiaAntonio100% (1)
- ICEI Agricultura SintropicaDocumento40 páginasICEI Agricultura SintropicaNazirde CarvalhoAinda não há avaliações
- Investigação Criminal DefensivaDocumento26 páginasInvestigação Criminal DefensivaFrater S.P.E.Ainda não há avaliações
- Questionarios Dos Modulos Sistema de Remuneração PDFDocumento6 páginasQuestionarios Dos Modulos Sistema de Remuneração PDFCAROL ALVESAinda não há avaliações
- PBL Gestão de PessoasDocumento7 páginasPBL Gestão de PessoasAgregarh DesenvolvimentoAinda não há avaliações
- Projeto Étnico-Racial - 2024Documento9 páginasProjeto Étnico-Racial - 2024Gabrielle Falcão SampaioAinda não há avaliações
- Ficha - Relações Lógico-DiscursivasDocumento2 páginasFicha - Relações Lógico-DiscursivasThaysa MariaAinda não há avaliações
- Evangélico - Evangelismo - Verdadeira ConversãoDocumento21 páginasEvangélico - Evangelismo - Verdadeira ConversãoEliene Oléria100% (1)
- LIVRO+-+ADMINISTRAÇÃO+NA+ALIMENTAÇÃO+COLETIVA+-+SENAC - Documentos GoogleDocumento87 páginasLIVRO+-+ADMINISTRAÇÃO+NA+ALIMENTAÇÃO+COLETIVA+-+SENAC - Documentos GoogleJuliane HipolitoAinda não há avaliações
- SR5 - A Norma Do AssassinoDocumento17 páginasSR5 - A Norma Do AssassinoMarcos Dias100% (1)
- 5-G K Chesterton - A Inocência Do Padre BrownDocumento107 páginas5-G K Chesterton - A Inocência Do Padre BrownMartaSabaMackeldeyAinda não há avaliações
- Endereço Centro Espirita o PaladinoDocumento26 páginasEndereço Centro Espirita o PaladinoDiasGomesTIAinda não há avaliações
- Contrato Promessa e VendaDocumento9 páginasContrato Promessa e Vendaapi-3844542100% (1)
- Ficha Locan Atualizada AUX MONTAGEMDocumento2 páginasFicha Locan Atualizada AUX MONTAGEMIgor GregorioAinda não há avaliações
- Lista de Obras 7ºano SinopseDocumento3 páginasLista de Obras 7ºano SinopseCláudia CerqueiraAinda não há avaliações
- Briefing Identidade-Visual - DanielDocumento3 páginasBriefing Identidade-Visual - DanielDaniel PontesAinda não há avaliações
- Prova NR 10Documento12 páginasProva NR 10Murilo SantosAinda não há avaliações
- Exame Da Base Sociologia 1o AnoDocumento3 páginasExame Da Base Sociologia 1o AnojoaovictormizarAinda não há avaliações
- Bulletim Tec in PDFDocumento28 páginasBulletim Tec in PDFLUIS ZANINAinda não há avaliações