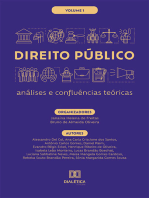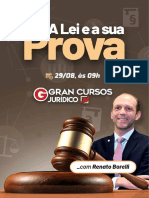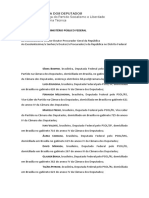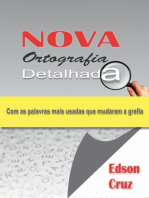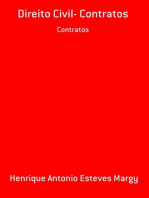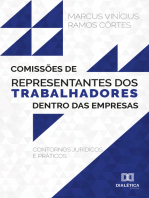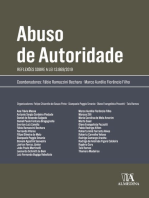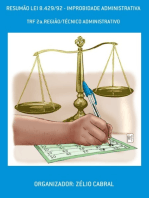Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direito Ambiental
Direito Ambiental
Enviado por
MarianaMelzerTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Direito Ambiental
Direito Ambiental
Enviado por
MarianaMelzerDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GRADUAO
2011.1
DIREITO AMBIENTAL
AUTOR: RMULO SAMPAIO
Sumrio
Direito Ambiental
MDULO I. INTRODUO AO DIREITO AMBIENTAL ....................................................................................................... 3
Aula 1. O surgimento e a autonomia do Direito Ambiental ........................................................... 5
Aula 2. Princpios do Direito Ambiental ...................................................................................... 10
Aula 3. Direito Ambiental na Constituio Federal de 1988 ........................................................ 16
Aula 4. Competncias constitucionais em matria ambiental ....................................................... 20
MDULO II. SISTEMA E POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE .................................................................................. 25
Aula 5. Princpios, Conceitos, Instrumentos e Estrutura Organizacional ...................................... 28
Aula 6. Padres de Qualidade e Zoneamento Ambiental .............................................................. 35
Aula 7. Publicidade, Informao, Participao e Educao Ambiental .......................................... 39
Aula 8. Avaliao de Impacto Ambiental (AIA) ............................................................................ 43
Aula 9. Licenciamento Ambiental ................................................................................................ 50
MDULO III. TUTELAS ESPECFICAS DO MEIO AMBIENTE ............................................................................................. 59
Aula 10. reas Protegidas (Cdigo Florestal) ............................................................................... 61
Aula 11. Sistema Nacional de Unidades de Conservao (SNUC) ............................................... 68
Aula 12. Biodiversidade ............................................................................................................... 82
Aula 13. gua .............................................................................................................................. 85
Aula 14. Ar e Atmosfera (Mudana Climtica) ............................................................................ 90
MDULO IV. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL .......................................................................................................... 93
Aula15. Responsabilidade como Tutela do Risco .......................................................................... 94
Aula 16. Responsabilidade Administrativa Ambiental .................................................................. 97
Aula 17. Responsabilidade Penal Ambiental ............................................................................... 101
Aula 18. Responsabilidade Civil Ambiental ............................................................................... 105
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 3
MDULO I. INTRODUO AO DIREITO AMBIENTAL
A Revoluo Industrial o marco desencadeador de uma sociedade fundada no
consumo. Esta sociedade impe presso cada vez maior sobre os recursos naturais, fa-
zendo crescer preocupaes com o meio ambiente e, conseqentemente, com a prpria
sobrevivncia da vida no planeta.
Diante das constantes agresses ao meio ambiente, comprovadas pela cincia e con-
denadas pela tica e moral, surge a necessidade de se repensar conceitos desenvolvimen-
tistas clssicos. Neste sentido, se faz imperiosa a agregao de diversas reas do conhe-
cimento cientfco, tcnico, jurdico e mesmo de saberes de comunidades tradicionais
e locais em torno de uma nova teoria de desenvolvimento sustentvel. Uma forma de
progresso que garanta tanto a presente quanto as futuras gerao o direito de usufrurem
dos recursos naturais existentes.
O direito ambiental est inserido neste contexto. Um ramo do direito que regule a
relao entre a atividade humana e o meio ambiente. Por sua natureza interdisciplinar, o
direito do ambiente acaba se comunicando com outras reas da cincia jurdica. Em al-
guns casos com peculiaridades prprias e distintas, em outros, se socorrendo de noes
e conceitos clssicos de outras reas. Assim, o direito ambiental est intimamente rela-
cionado ao direito constitucional, administrativo, civil, penal e processual. Pelo fato das
atividades poluidoras e de degradao do meio ambiente no conhecerem fronteiras, o
direito ambiental tambm est intimamente ligado ao direito internacional e, com ele,
compondo uma disciplina prpria conhecida como direito internacional ambiental.
Tendo em vista a complexidade do bem tutelado pelo direito ambiental, faz-se im-
periosa a ressalva de no ter o presente material a inteno de esgotar os temas. Pelo
contrrio, o intuito organizar o processo educativo em torno de temas centrais e, so-
bretudo, instrumentais do direito ambiental. Ao fnal, o objetivo no outro seno o de
agregar conceitos, noes e problematizaes tpicas do direito ambiental e que esto,
em certo grau, intrinsecamente inseridas na moderna noo de direito da economia e
da empresa.
Sendo assim, os principais objetivos do presente mdulo so:
Entender os conceitos formadores do direito ambiental, sua recente consolida-
o, autonomia em relao s demais disciplinas clssicas do direito e interdis-
ciplinaridade.
Diferenciar as concepes antropocntrica e ecocntrica; os conceitos amplos e
restritos do direito ambiental; e como essas caracterizaes afetam a tutela dos
interesses e direitos relacionados na prtica.
Proporcionar a precisa identifcao e caracterizao do bem ambiental, sob o
prisma da dimenso fundamental, social e coletiva.
Conhecer os princpios formadores do direito ambiental, entender a existncia
desses princpios e justifcar as suas aplicaes prticas. Diferenciar os conceitos
de princpios similares para melhor articulao da aplicao prtica.
Possibilitar a identifcao dos princpios explcitos e implcitos em textos nor-
mativos.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 4
Reconhecer a importncia de disposies constitucionais especfcas em matria
de defesa e proteo do meio ambiente.
Trabalhar a idia de diviso de responsabilidades em aes de proteo e defesa
do meio ambiente entre o Poder Pblico e a coletividade.
Elaborar a noo do ambiente ecologicamente equilibrado como direito subje-
tivo de todos e dever fundamental do Estado.
Entender o papel do Judicirio na consolidao da proteo ambiental consti-
tucional.
Identifcar os instrumentos processuais constitucionais de defesa do meio am-
biente.
Identifcar e diferenciar as diferentes competncias em matria ambiental.
Trabalhar e aplicar o sistema de competncias na prtica.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 5
AULA 1. O SURGIMENTO E A AUTONOMIA DO DIREITO AMBIENTAL
SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL
Conforme abordado na Introduo, a Revoluo Industrial ocorrida no Sculo
XVIII, desencadeia e introduz uma nova forma de produo e consumo que altera
signifcativamente prticas comerciais desde ento consolidadas. Como decorrncia, o
direito passa por uma necessria adaptao e evoluo para regular e controlar os im-
pactos nas relaes sociais e, mais tarde potencializado pela revoluo tecnolgica
e da informao , nas relaes com consumidores e com o meio ambiente natural.
A sede insacivel pela busca dos recursos naturais, aliada ao crescimento demogrf-
co em propores quase geomtricas e sem paradigmas do ltimo sculo, chamaram a
ateno da comunidade internacional. Pases em avanado estgio de desenvolvimento
econmico passaram a testemunhar com freqncia catastrfcos desastres ambientais
em seus prprios territrios. Conjuntamente a este fator, o desenvolvimento cientfco,
principalmente no ltimo sculo, comeou a confrmar hipteses desoladoras como o
buraco na camada de oznio e o efeito estufa, por exemplo.
em decorrncia desta sucesso de eventos e fatos resumidamente explorados no
presente tpico que, em 1972, sob a liderana dos pases desenvolvidos e com a resis-
tncia dos pases em desenvolvimento, a comunidade internacional aceita os termos da
Declarao de Estocolmo sobre Meio Ambiente. Constituindo-se como uma declarao
de princpios (soft law na terminologia do direito internacional), a Declarao de
Estocolmo rapidamente se estabelece como o documento marco em matria de preser-
vao e conservao ambiental.
Apesar da resistncia da delegao brasileira que poca defendia irrestrito direito
ao desenvolvimento, alegando que a pobreza seria a maior causa de degradao ambien-
tal os conceitos e princpios da Declarao de Estocolmo vo sendo paulatinamente
internalizados pelo ordenamento jurdico ptrio. Sensvel s presses internacionais, o
Brasil cria a Secretaria Nacional do Meio Ambiente e aprova a Lei da Poltica Nacional
do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81).
A Declarao de Estocolmo passaria a orientar no apenas o desenvolvimento de um
direito ambiental brasileiro, mas muitos ao redor do mundo at que, em 1992, naquele
que foi considerado o maior evento das Naes Unidas de todos os tempos, a comuni-
dade internacional aprova a Declarao do Rio de Janeiro, durante a Conferncia das
Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta Declarao no apenas
reitera vrios princpios da Declarao de Estocolmo, mas os aperfeioa, alm de criar
outros ainda no previstos. Nesta poca j eram inmeros os ordenamentos jurdicos
domsticos contemplando a tutela do meio ambiente e, portanto, contribuindo para a
autonomia cientfca e didtica da rea.
AUTONOMIA DO DIREITO AMBIENTAL
Sobre a autonomia do direito ambiental, importante posicionamento pode ser ex-
trado de obra sob a coordenao de Jos Joaquim Canotilho:
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 6
Por nossa parte defendemos a idia segundo a qual se pode e deve falar em
Direito do Ambiente no s como campo especial onde os instrumentos clssi-
cos de outros ramos do Direito so aplicados, mas tambm como disciplina jur-
dica dotada de substantividade prpria. Sem com isso pr de lado as difculdades
que tal concepo oferece e condicionamentos que sempre tero de introduzir-se
a tal afrmao.
1
No que diz respeito s fontes de direito ambiental, Antunes divide-as entre materiais
e formais. Seriam fontes materiais os movimentos populares, as descobertas cientfcas e
a doutrina jurdica. J as fontes formais, segundo Antunes, elas (...) no se distinguem
ontologicamente daquelas que so aceitas e reconhecidas como vlidas para os mais di-
versos ramos do Direito. Consideram-se fontes formais do DA: a Constituio, as leis,
os atos internacionais frmados pelo Brasil, as normas administrativas originadas dos
rgos competentes e jurisprudncia.
2
DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS
A complexidade e evoluo da sociedade moderna fzeram com que uma terceira
gerao de direitos se delineasse, quebrando a diviso clssica do direito de tradio ci-
vilstica entre pblico e privado. Incluem-se dentro desta nova gerao, direitos como o
do consumidor e o prprio ambiental. Caracterizam-se pela coletividade da titularidade
e complexidade do bem protegido e das intervenes estatais por meio de regulao
em reas antes estritamente privadas. Com isso, novas formas de tutela e proteo
dos interesses e direitos que j no mais so individualizados, passam a exigir uma rees-
truturao da teoria clssica do direito, abrindo espao para novas disciplinas jurdicas,
dentre elas, o direito ambiental.
Diante da constatao de uma nova categoria de direitos de titularidade j no mais
necessariamente individuais, mas tambm coletiva, surge a noo de direitos e interesses
metaindividuais, tipifcados pelo ordenamento jurdico brasileiro no art. 81, nico,
incs. I, II e III da Lei 8.078/1990 (Cdigo de Defesa do Consumidor), o qual dispem:
I interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Cdigo, os
transindividuais, de natureza indivisvel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstncias de fato;
II interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Cdigo,
os transindividuais de natureza indivisvel de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a outra parte contrria por uma relao jurdica base;
III interesses ou direitos individuais homogneos, assim entendidos os decorren-
tes de origem comum.
Apesar da aparente complexidade terica dos conceitos expostos pelo referido dispo-
sitivo legal, alguns elementos distintivos podem ser destacadas para facilitar a compre-
enso dos conceitos. Primeiramente, preciso destacar que os trs grupos de interesses
e direitos acima descritos fazem parte da categoria, ou melhor, so espcies do gnero
1
CANOTILHO, coord., p. 35.
2
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Iu-
ris, 2008, pp. 50-54.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 7
3
Sobre o tema ver YOSHIDA, Consuelo
Yatsuda Moromizado. Tutela dos Inte-
resses Difusos e Coletivos. So Paulo.
Juarez de Oliveira, 2006, p. 3.
4
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Cur-
so de Direito Ambiental Brasileiro.
So Paulo: Saraiva, 2008, p. 3.
5
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Cur-
so de Direito Ambiental Brasileiro.
So Paulo: Saraiva, 2008, p. 3.
direitos coletivos em sentido amplo. Este, portanto, formado por pelos direitos e
interesses (i) difusos, (ii) coletivos em sentido estrito e (iii) individuais homogneos.
Dois critrios so utilizados pela doutrina para distinguir os direitos metaindividu-
ais, so eles: (i) objetivo (a anlise da divisibilidade ou no do bem tutelado) e (ii) sub-
jetivo (anlise da possibilidade de determinao ou no dos titulares do direito e do elo
de ligao entre eles: circunstncias de fato, relao jurdica-base ou origem comum)
3
.
Dessa forma, nas lies de Yoshida (pp. 3 e 4), os direitos e interesses metaindividu-
ais se diferenciam da seguinte forma:
Os direitos e interesses difusos caracterizam-se pela indivisibilidade de seu
objeto (elemento objetivo) e pela indeterminabilidade de seus titulares (ele-
mento subjetivo), que esto ligados entre si por circunstncias de fato (elemen-
to comum).
J os direitos e interesses coletivos caracterizam-se pela indivisibilidade de
seu objeto (elemento objetivo) e pela determinabilidade de seus titulares (ele-
mento subjetivo), que esto ligados entre si, ou com a parte contrria por uma
relao jurdica-base (elemento comum).
Os direitos e interesses individuais homogneos, por sua vez, caracterizam-
se pela divisibilidade de seu objeto (elemento objetivo) e pela determinabili-
dade de seus titulares (elemento subjetivo), decorrendo a homogeneidade da
origem comum (elemento comum). (negrito do original)
Importa ressaltar que, ao contrrio dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito,
a natureza coletiva dos direitos e interesses individuais homogneos est muito mais
afeta forma da legitimidade postulatria do que propriamente da indivisibilidade da
leso a direito subjetivo.
A relevncia prtica para o Direito Ambiental da precisa identifcao e articulao
dos conceitos e teoria dos direitos metaindividuais signifcativa. Segundo Fiorillo
4
, a
Lei 6.938/81 (Poltica Nacional do Meio Ambiente) representou um grande impulso na
tutela dos direitos metaindividuais e, nesse caminhar legislativo, em 1985, foi editada
a Lei n. 7.347, que, apesar de ser tipicamente instrumental, veio a colocar disposio
um aparato processual toda vez que houvesse leso ou ameaa de leso ao meio ambien-
te, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artstico, esttico, histrico, turstico e paisags-
tico: a ao civil pblica. (itlico do original).
Foi a Constituio Federal de 1988 que consagrou a metaindividualidade do bem
ambiental, ainda nas palavras de Fiorillo
5
, (...) alm de autorizar a tutela de direitos in-
dividuais, o que tradicionalmente j era feito, passou a admitir a tutela de direitos cole-
tivos, porque compreendeu a existncia de uma terceira espcie de bem: o bem ambiental.
Tal fato pode ser verifcado em razo do disposto no art. 225 da Constituio Federal,
que consagrou a existncia de um bem que no pblico nem, tampouco, particular,
mas sim de uso comum do povo. (itlico do original).
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 8
6
Extradas da obra Introduo ao Direi-
to do Ambiente, Jos Joaquim Gomes
Canotilho (coordenador) (1998), p. 37.
7
Presidente do Centro de Estudos de Di-
reito do Ordenamento, do Urbanismo e
do Ambiente (CEDOUA) da Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra,
Portugal. O autor discorre sobre a for-
mao de um direito autnomo especi-
fcamente dedicado tutela da relao
entre homem e meio ambiente.
ATIVIDADES
6
1. Quais as razes que tornam a proteo do ambiente uma das preocupaes
fundamentais dos cidados atualmente?
2. Por que razo os juristas encaram as questes ambientais com base numa
abordagem interdisciplinar?
3. Quais os principais problemas com que se defrontam os juristas na regulao
jurdica dos problemas ambientais?
4. Quais as pr-compreenses do Direito do Ambiente? Como se caracterizam?
5. Em que consiste o conceito estrito de ambiente? Quais so as principais cr-
ticas que se lhe podem dirigir e quais as suas vantagens?
6. Pode-se considerar o ambiente como novo bem jurdico protegido pelo di-
reito? Por qu?
7. Em que consiste a implicao ou referncia sistmico-social da noo de bem
jurdico ambiental?
8. Articulando os dispositivos constitucionais pertinentes, possvel afrmar
que o direito ao ambiente hoje um (novo) direito fundamental dos cida-
dos?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente (Declarao de Esto-
colmo de 1972);
2. Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Declarao do Rio de Janeiro de 1992);
3. Constituio Federal, Artigos 184, 186 e 225.
Leitura Indicada
Jos Joaquim Gomes Canotilho
7
(coordenador), Introduo ao Direito do Ambien-
te, Universidade Aberta (1998). Pp. 19-36.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 9
Jurisprudncia
STF MS 22.164-0-SP (Impetrante: Antnio de Andrade Ribeiro Junqueira, Impe-
trado: Presidente da Repblica), 30/out./1995, pp. 16-22;
Ementa:
A QUESTO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO DIREITO DE TERCEIRA GERAO PRINCPIO DA
SOLIDARIEDADE. O direito integridade do meio ambiente tpico direito de
terceira gerao constitui prerrogativa jurdica de titularidade coletiva, refetindo,
dentro do processo de afrmao dos direitos humanos, a expresso signifcativa de um
poder atribudo, no ao indivduo identifcado em sua singularidade, mas, num sentido
verdadeiramente mais abrangente, prpria coletividade social.
Enquanto os direitos de primeira gerao (direitos civis e polticos) que compre-
endem as liberdades clssicas, negativas ou formais realam o princpio da liberdade
e os direitos de segunda gerao (direitos econmicos, sociais e culturais) que se
identifcam com as liberdades positivas, reais ou concretas acentuam o princpio
da igualdade, os direitos de terceira gerao, que materializam poderes de titularidade
coletiva atribudos genericamente a todas as formaes sociais, consagram o princpio
da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimen-
to, expanso e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores
fundamentais indisponveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 10
AULA 2. PRINCPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
A crescente preocupao social com as questes ambientais infuenciou a comunida-
de internacional e as legislaes constitucionais e infraconstitucionais de diversos pases
a enveredar para a elaborao de normas de proteo do meio ambiente. A conscienti-
zao de que os recursos naturais renovveis ou no renovveis so limitados clamou por
uma interveno legislativa capaz de reconstruir modelos clssicos desenvolvimentistas.
Esta reconstruo passou a impor ao desenvolvimento econmico a racional utilizao
dos recursos naturais e fez com que os processos industriais passassem a internalizar as
externalidades ambientais.
A este novo projeto de desenvolvimento econmico, resolveu-se incluir a noo de
sustentvel como nica forma vivel de evitar a degradao do meio ambiente a nveis
que permitam a sadia qualidade de vida no planeta. Para orientar esta atividade nor-
mativa, diversos princpios surgiram tanto em mbito internacional, como no plano
nacional e que serviram tambm para auxiliar na interpretao de conceitos legislativos
e sanarem lacunas desta, at ento recm nascida, disciplina jurdica. Esta aula, portan-
to, pretende introduzir alguns dos mais importantes princpios do direito ambiental e
trabalhar a aplicao dos conceitos a eles inerentes ao caso concreto.
A seguir apresentamos breves consideraes tericas sobre os principais princpios
que orientam o ordenamento jurdico ambiental brasileiro.
PRINCPIO DO DIREITO SADIA QUALIDADE DE VIDA
O reconhecimento do direito vida j no mais sufciente. Passa-se a uma nova
concepo de que o direito vida no completo se no for acompanhado da garantia
da qualidade de vida. Os organismos internacionais passam a medir a qualidade de vida
no mais apenas com base nos indicadores econmicos e comeam a incluir fatores
e indicadores sociais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado pressuposto de
concretizao de satisfao deste princpio.
PRINCPIO DO ACESSO EQITATIVO AOS RECURSOS NATURAIS
Noes de eqidade na utilizao dos recursos naturais disponveis passam a ser
correntes em diversos ordenamentos jurdicos. Esta eqidade seria buscada no apenas
entre geraes presentes, mas tambm e aqui reside uma grande quebra de paradig-
mas com as geraes futuras. Assim, passa-se a adotar a noo de que a utilizao
dos recursos naturais no presente somente ser aceita em quantidades que no prejudi-
quem a capacidade de regenerao do recurso, a fm de garantir o direito das geraes
vindouras.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 11
PRINCPIOS USURIO-PAGADOR E POLUIDOR-PAGADOR
O acesso aos recursos naturais pode se dar de diferentes formas. Pode ser atravs
do seu uso (como ou uso da gua, por exemplo) ou de lanamento de substncias
poluidoras (emisso de gases poluentes na atmosfera, por exemplo). Diante deste dois
importantes princpios, previstos no art. 4, inc. VII da Lei 6.938/81, passa-se a aceitar
a quantifcao econmica dos recursos ambientais de forma a desincentivar abusos e
impor limites para a garantia de outros princpios igualmente importantes.
PRINCPIOS DA PRECAUO E PREVENO
Dois importantes princpios que atuam nas situaes de riscos ambientais. O princ-
pio da precauo orienta a interveno do Poder Publico diante de evidncias concretas
de ocorrncia de um dano x como fruto de uma ao ou omisso y. Porm, a certeza
quanto ao dano x no existe, no passando de mera suspeita. Em outras palavras,
adotando-se uma ao ou deixando de adotar uma ao y, h um indcio de ocorrn-
cia de um dano x, mas no a certeza. A precauo sugere, ento, medidas racionais
que incluem a imposio de restries temporrias e o compromisso da continuao da
pesquisa tcnica ou cientfca para a comprovao do nexo de causalidade entre a ao
ou omisso e o resultado danoso.
No que diz respeito ao princpio da preveno, a sua contextualizao segue a mes-
ma linha, entretanto, h a certeza de que se a ao ou omisso y ocorrer ento o dano
x ser verifcado. Nesse caso, impem-se a proibio, mitigao ou compensao da
ao ou omisso y como forma de evitar a ocorrncia do dano ambiental.
PRINCPIO DA REPARAO
Diante da complexidade do bem ambiental, toda vez que danifcado, complexa
tambm ser a reparao dos estragos realizados. O Direito Ambiental enfatiza em sua
essncia sempre a precauo e a preveno. Mas, diante da ocorrncia de um dano e na
medida do possvel, prevalece e impe-se a preferncia pela reparao ao estado anterior.
PRINCPIOS DA INFORMAO E DA PARTICIPAO
A Constituio Federal brasileira de 1988, no caput do seu art. 225, impem ao
Poder Pblico e coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras geraes. Ou seja, se coletividade previsto o dever de defender e
preservar o meio ambiente, esta obrigao somente poder ser exigida com a garantia
da participao da sociedade como um todo. Para que a participao (que pode ser
materializada atravs de consultas e audincias pblicas, por exemplo) seja qualifcada
imperioso garantir-se o direito informao ambiental.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 12
O art. 5, inc. XIV, da Constituio Federal, assegura a todos o acesso informao.
No mbito ambiental, a Poltica Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) estabelece,
no art. 4, inc. V, como um de seus objetivos a divulgao de dados e informaes am-
bientais e, alm disso, fxa como um dos instrumentos, previsto no art. 9, inc. XI, a ga-
rantia da prestao de informaes relativas ao meio ambiente, fcando o Poder Pblico
obrigado a produzir tais informaes, quando inexistentes. A Declarao do Rio de Ja-
neiro de 1992, tambm consagra o princpio em comento (Princpio 10 da Declarao).
O direito informao deve ser entendido em sua concepo geral, abrangendo o
acesso a informaes sobre atividades e materiais perigosos, assim como o direito s
informaes processuais, tanto no mbito judicial quanto na esfera administrativa.
PRINCPIO DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENO DO PODER PBLICO
Este princpio remonta noo da tragdia dos commons. Em sntese, signifca que
em um ambiente sem regulao (ou interveno estatal) a natureza humana tenderia ao
esgotamento dos recursos naturais. Ademais, sendo um bem que pertence coletivida-
de, h a necessidade de um gestor, no caso do direito ambiental, o Poder Pblico. Como
gestor, decorre uma obrigao constitucional no direito brasileiro prevista pelo art.
225 da Constituio Federal de defesa e proteo do meio ambiente.
ATIVIDADES
1. O que distingue os princpios da precauo e da preveno?
2. De que forma o princpio da precauo se aplica ao caso relatado no caso
Unio Federal e Monsanto vs. IDEC e Greenpeace?
3. O que se entende por princpio da participao? Qual a sua importncia e
relevncia prtica?
4. Qual a natureza jurdica e justifcativa do princpio do poluidor-pagador?
5. De que forma princpios gerais como o da razoabilidade e proporcionalidade
se relacionam com a instrumentalizao dos princpios de direito ambiental?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente (Declarao de Esto-
colmo de 1972);
2. Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Declarao do Rio de Janeiro de 1992);
3. Constituio Federal, Artigo 225;
4. Lei 6.938/1981;
5. Lei 9.605/1998.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 13
8
O autor descreve em detalhes cada um
dos principais princpios formadores do
direito ambiental.
9
Uma lacuna a no previso de um
caso na lei e a integrao da lacuna
consiste na criao da disciplina jurdica
para aquele caso concreto.
Leitura Indicada
Paulo Afonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, 16 Edio, Editora
Malheiros (2008), pp. 57-72 e 74-108.
8
Doutrina
Utilidade dos Princpios
Apesar de terem um contedo relativamente vago, quando comparado com o contedo,
muito concreto, de uma norma, a utilidade dos princpios reside fundamentalmente:
em serem um padro que permite aferir a validade das leis, tornando inconstitucio-
nais ou ilegais as disposies legais ou regulamentares ou os atos administrativos que
os contrariem;
no seu potencial como auxiliares da interpretao de outras normas jurdicas e,
fnalmente, na sua capacidade de integrao de lacunas
9
.
Jos Joaquim Gomes Canotilho [coordenador], Introduo ao Direito do Ambien-
te, Universidade Aberta [1998], p. 43.)
Jurisprudncia
TRF 1 Regio, AC 2000.01.00.014661-1-DF (Apelantes: Unio Federal e Mon-
santo do Brasil Ltda., Apelados: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor [IDEC]
e Associao Civil Greenpeace), 8/ago./2000.
Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL AO CAUTELAR LI-
BERAO DO PLANTIO E COMERCIALIZAO DE SOJA GENTICAMEN-
TE MODIFICADA (SOJA ROUND UP READY), SEM O PRVIO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL ART. 225. 1, IV, DA CF/88 C/C ARTS. 8, 9 E
10, 4, DA LEI N 6.938/81 E ARTS 1, 2, CAPUTE E 1, 3, 4 E ANE-
XO I, DA RESOLUO CONAMA N 237/97 INEXISTNCIA DE NORMA
REGULAMENTADORA QUANTO LIBERAO E DESCARTE, NO MEIO
AMBIENTE, DE OGM PRINCPIO DA PRECAUO E DA INSTRUMEN-
TALIDADE DO PROCESSO CAUTELAR PRESENA DO FUMUS BONI
IURIS E DO PERICULUM IN MORA PODER GERAL DE CAUTELA DO
MAGISTRADO IN MORA PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRA-
DO INEXISTNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ART. 808, III,
DO CPC INTELIGNCIA.
I Improcedncia da alegao de julgamento extra petita, mesmo porque, na ao
cautelar, no exerccio do poder geral de cautela, pode o magistrado adotar providncia
no requerida e que lhe parea idnea para a conservao do estado de fato e de direito
envolvido na lide.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 14
II A sentena de procedncia da ao principal no prejudica ou faz cessar a efc-
cia da ao cautelar, que conserva a sua efccia na pendncia do processo principal e
no apenas at a sentena mesmo porque os feitos cautelar e principal tm natureza
e objetivos distintos. Inteligncia do art. 808, II, do CPC.
III Se os autores s reconhecem ao IBAMA a prerrogativa de licenciar atividades
potencialmente carecedoras de degradao ambiental, no h suporte concluso de
que a mera expedio de parecer pela CNTBio, autorizando o plantio e a comerciali-
zao de soja transgnica, sem o prvio estudo de impacto ambiental, possa tornar sem
objeto a ao cautelar, na qual os autores se insurgem, exatamente, contra o aludido
parecer.
IV O art. 225 da CF/88 erigiu o meio ambiente ecologicamente equilibrado a
bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pblico e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presentes e futuras
geraes, incumbindo ao poder Pblico, para assegurar a efetividade desse direito,
exigir, na forma da lei, para instalao de obra ou atividade potencialmente causadora
de signifcativa degradao do meio ambiente, estudo prvio de impacto ambiental, a
que se dar publicidade (art. 225, 1, IV, da CF/88).
V A existncia do fumus boni iuris ou da probabilidade de tutela, no processo
principal, do direito invocado, encontra-se demonstrada especialmente:
a) pelas disposies dos arts. 8, 9 e 10, 4, da Lei n 6.938, de 31/08/81 re-
cepcionada pela CF/88 e dos arts. 1, 2, caput e 1, 3, 4 e Anexo I da Resoluo
CONAMA n 237/97, luz das quais se infere que a defnio de obra ou atividade
potencialmente causadora de signifcativa degradao do meio ambiente, a que se re-
fere o art. 225, 1, IV, da CF/88, compreende a introduo de espcies exticas e/
ou geneticamente modifcadas, tal como consta do Anexo I da aludida Resoluo CO-
NAMA n 237/97, para a qual, por via de conseqncia, necessrio o estudo prvio de
impacto ambiental, para o plantio, em escala comercial, e a comercializao de sementes
de soja geneticamente modifcadas, especialmente ante sria dvida quanto Constitu-
cionalidade do art. 2, XVI, do Decreto n 1.752/95, que permite CNTBio dispensar
o prvio estudo de impacto ambiental de competncia do IBAMA em se tratando
de liberao de organismos geneticamente modifcados, no meio ambiente, em face do
veto presidencial disposio constante do projeto da Lei n 8.974/95, que veiculava
idntica faculdade outorgada CNTBio. Precedente do STF (ADIN n 1.086-7/SC,
Rel. Min. Ilmar Galvo, in DJU de 16/09/94, pg. 24.279); c) pela vedao contida
no art. 8, VI, da Lei 8.974/95, diante da qual se conclui que a CNTBio deve expe-
dir, previamente, a regulamentao relativa liberao e descarte, no meio ambiente,
de organismos geneticamente modifcados, sob pena de se tornarem inefcazes outras
disposies daquele diploma legal, pelo que, mquina de norma regulamentadoras a
respeito do assunto, at o momento presente, juridicamente relevante a tese de im-
possibilidade de autorizao de qualquer atividade relativa introduo de OGM no
meio ambiente; d) Pelas disposies dos arts. 8, VI, e 13, V, da Lei n 8.974/95, que
sinalizam a potencialidade lesiva de atividade cujo descarte ou liberao de OGM, no
meio ambiente, sem a observncia das devidas cautelas regulamentares, pode causar,
desde incapacidade para as ocupaes habituais por mais de 30 dias e leso corporal
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 15
grave, at a morte, leso ao meio ambiente e leso grave ao meio ambiente, tal como
previsto no art. 13, 1 a 3, da Lei n 8.974/95, tipifcando-se tais condutas como
crimes e impondo-lhes severas penas.
IV A existncia de uma situao de perigo recomenda a tutela cautelar, no intui-
to de se evitar em homenagem aos princpios da precauo e da instrumentalidade
do processo cautelar , at o deslinde da ao principal, o risco de dano irreversvel e
irreparvel ao meio ambiente e sade pblica, pela utilizao de engenharia gentica
no meio ambiente e em produtos alimentcios, sem a adoo de rigorosos critrios de
segurana.
VII Homologao do pedido de desistncia do IBAMA para fgurar no plo ativo
da lide, em face da supervenincia da Medida Provisria n 1.984-18, de 01/06/2000.
VIII Preliminares rejeitadas, Apelaes e remessa ofcial, tida como interposta,
improvidas.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 16
AULA 3. DIREITO AMBIENTAL NA CONSTITUIO FEDERAL DE 1988
A Constituio Federal brasileira de 1988 um marco na defesa dos direitos e in-
teresses ambientais ao dispor em diferentes ttulos e captulos sobre a necessidade de
preservao do meio ambiente para as presentes e futuras geraes. Alm disso, a
primeira vez em que a expresso meio ambiente aparece em uma Constituio brasi-
leira. Em captulo especfco, o de nmero VI, diversos so os conceitos e princpios
inovadores trazidos pela Carta Magna que norteiam o direito ambiental brasileiro. O
texto constitucional inova tambm quando divide a responsabilidade pela defesa do
meio ambiente entre o Poder Pblico e coletividade, ampliando sobremaneira a im-
portncia da sociedade civil organizada e, portanto, tambm reforando o seu ttulo de
constituio cidad.
A seguir sero expostos alguns dos principais temas relacionados ao meio ambiente
trazidos pela Constituio Federal de 1988.
NOES DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE (DIREITO SUBJETIVO E COLETIVO)
Segundo o art. 225, caput, da CF/88:
Todos tm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial sadia qualidade vida, impondo-se ao Poder
Pblico e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presentes e
futuras geraes.
O artigo supracitado atribui a todos, indefnidamente, ou seja, qualquer cidado re-
sidente no pas, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cria, portanto,
um direito individualizado no sentido de que pertence a cada indivduo, um verdadeiro
direito subjetivo. Tal direito ao mesmo tempo indivisvel, signifcando que a satisfao
do direito para uma pessoa, benefcia a coletividade. Logo, as implicaes jurdicas deste
direito de natureza to especial acabam refetindo em outras reas clssicas, como o di-
reito da propriedade, civil, administrativo, processual, dentre outras. Limitaes na uti-
lizao da propriedade como, por exemplo, reas de preservao permanente e reserva
legal, so refexos da consagrao deste direito ao meio ambiente como indivisvel e ao
mesmo tempo de todos, legitimando cidados a proporem aes populares que visem
anular ato lesivo ao meio ambiente.
AO POPULAR E AO CIVIL PBLICA
Tendo em vista as peculiaridades do direito ambiental, a prpria Constituio con-
sagra os mecanismos de defesa do bem ambiental. Assim, disps o art. 5, inc. LXXIII,
da CF/88:
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 17
10
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Iu-
ris, 2008, pp. 551.
Qualquer cidado parte legtima para propor ao popular que vise anular
ato lesivo ao patrimnio pblico ou de entidade de que o Estado participe,
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimnio histrico e cul-
tural, fcando o autor, salvo comprovada m-f, isento de custas judiciais e do
nus da sucumbncia.
Em relao Ao Civil Pblica, a CF/88 em seu art. 129, inc. III, atribui como
funo institucional do Ministrio Pblico promover o inqurito civil e a ao civil
pblica, para a proteo do patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.
Acontece, porm, que conforme relatado em tpico anterior, o art. 225, caput, da
CF/88 imps coletividade o dever de preservao e defesa do meio ambiente. No
apareceu no texto constitucional, contudo, instrumento jurdico especfco que legi-
timasse a sociedade civil organizada como instrumento auxiliar do dever imposto pela
prpria Constituio, estando prevista apenas na Lei 7.347/85 (da Ao Civil Pblica) a
legitimao das associaes civis para a propositura da ao civil pblica. O texto cons-
titucional apenas reitera a importncia da participao da sociedade, pela utilizao do
termo coletividade, no dever de defesa e preservao do meio ambiente.
NOES DE PATRIMNIO NACIONAL
O art. 225, 4, da Cf/88 optou por diferenciar alguns biomas conferindo-lhes
especial importncia e defnindo-os como sendo patrimnio nacional:
A Floresta Amaznica brasileira, a Mata Atlntica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira so patrimnio nacional, e sua utilizao far-
se-, na forma da lei, dentro de condies que assegurem a preservao do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
Esta designao no implicou na desapropriao das propriedades privadas e a con-
seqente incorporao das reas como sendo integrantes do patrimnio pblico. A es-
pecial proteo constitucional destas reas se deve apenas aos seus atributos e funes
ecolgicas que justifcam algo semelhante noo do princpio de direito internacional
ambiental denominado common concern of humankind. Em outras palavras, diante das
caractersticas de determinados biomas, ainda que admita-se a propriedade privada, o
seu usufruto deve levar em conta as funes e relevncia ambiental para toda coletivida-
de inclusive, o prprio proprietrio. Tambm no signifcou que outras reas, ainda que
no mencionadas pela Constituio, no meream as medidas de defesa e proteo do
meio ambiente. Antunes
10
explora o tema:
De fato, a Constituio no determinou uma desapropriao dos bens men-
cionados no 4, porm, reconheceu que as relaes de Direito Privado, de
propriedade e, mesmo de Direito Pblico, existentes sobre tais bens devem ser
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 18
11
O autor discorre sobre a insero da
questo ambiental na Constituio Fede-
ral de 1988 e a formao de um Captulo
especifcamente dedicado proteo do
meio ambiente, enquanto princpio fun-
damental qualidade de vida.
exercidas com cautelas especiais. Estas cautelas especiais justifcam-se e funda-
mentam-se, na medida em que os bens ambientais esto submetidos a um regime
jurdico especial, pois a fruio dos seus benefcios genericamente considerados
(que de toda a coletividade) no pode ser limitada pelos detentores de um dos
diversos direitos que sobre eles incidem. No , contudo, apenas neste particular
que se manifesta o contorno do direito de propriedade. Uma de suas principais
caractersticas, certamente, a obrigatoriedade da manuteno e preservao da
funo ecolgica. Tem-se, portanto, que o direito de propriedade privada sobre
os bens ambientais, no se exerce apenas no benefcio do seu titular, mas em
benefcio da coletividade.
ATIVIDADES
1. Qual a importncia da Constituio trazer previses de direitos e deveres
de defesa e proteo do meio ambiente?
2. Qual a importncia dada pela deciso Unio Federal vs. Rede de Organiza-
es No-Governamentais da Mata Atlntica e outros ao meio ambiente?
3. Quais so os conceitos fundamentais medidos e sopesados pelo julgado abai-
xo citado para fundamentar a deciso fnal?
4. Quais so os argumentos constitucionais que poderiam ter infuenciado o
julgado de forma diversa do decidido?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, Artigos 5, XXIII, 170, III e IV, 129, III e 225.
Leitura Indicada
Jos Afonso da Silva,
11
Direito Ambiental Constitucional, 7 Edio, Editora Ma-
lheiros [2009], pp. 43-70.
Doutrina
Meio Ambiente: bem jurdico per se
Cabe Constituio, como lei fundamental, traar o contedo e os limites da ordem
jurdica. por isso que, direta ou indiretamente, vamos localizar na norma constitucional
os fundamentos da proteo do meio ambiente.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 19
Tema candente, e que assumiu propores inesperadas no sculo XX, com mais destaque
a partir dos anos 60, bem se compreende que Constituies mais antigas, como a norte-
americana, a francesa e a italiana, no tenham cuidado especifcamente da matria. Assim
ocorria tambm no Brasil, nos regimes constitucionais anteriores a 1988.
Mas, ainda que sem previso constitucional expressa, os diversos pases, inclusive o nos-
so, promulgaram (e promulgam) leis e regulamentos de proteo do meio ambiente. Isso
acontecia porque o legislador se baseava no poder geral que lhe cabia para proteger a sade
humana. A est, historicamente, o primeiro fundamento para a tutela ambiental, ou seja,
a sade humana, tendo como pressuposto, explcito ou implcito, a sade ambiental.
Nos regimes constitucionais modernos, como o portugus (1976), o espanhol (1978) e o
brasileiro (1988), a proteo do meio ambiente, embora sem perder seus vnculos originais
com a sade humana, ganha identidade prpria, porque mais abrangente e compreensiva.
Aparece o ambientalismo como direito fundamental da pessoa humana. Nessa nova perspec-
tiva, o meio ambiente deixa de ser considerado um bem jurdico per accidens e elevado
categoria de bem jurdico per se, isto , com autonomia em relao a outros bens protegidos
pela ordem jurdica, como o caso da sade humana.
(dis Milar, Direito do Ambiente, 4 Edio, Editora Revista dos Tribunais [2005],
p. 180).
Jurisprudncia
TRF 4 Regio, 2004.04.01049432-1/SC (Agravante: Unio Federal, Agravados:
Rede de Organizaes No-Governamentais da Mata Atlntica, Federao das Enti-
dades Ecologistas de Santa Catarina, Energtica Barra Grande S/A, Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis IBAMA), D.J.U. de 19/
jul./2006.
Ementa:
AGRAVO. HIDRELTRICA DE BARRA GRANDE. LESO ORDEM E
ECONOMIA PBLICAS.
1. Na via estreita da suspenso de segurana afgura-se incabvel examinar, com pro-
fundidade, as questes envolvidas na lide, j que o ato presidencial no se reveste de ca-
rter revisional, vale dizer, no se prende ao exame da correo ou equvoco da medida
que se visa suspender, mas, sim, a sua potencialidade de leso ordem, sade, segurana
e economia pblicas.
2. Hiptese em que a grave leso ordem e economia pblicas consistem na
obstruo da fnalizao de hidreltrica cujo funcionamento se revela indispensvel ao
desenvolvimento do pas e que j implicou gastos pblicos de grande monta.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 20
AULA 4. COMPETNCIAS CONSTITUCIONAIS EM MATRIA AMBIENTAL
A Constituio Federal de 1988 cria uma federao com trs nveis de governo: fede-
ral, estadual e municipal. Dentro deste modelo, aparentemente descentralizador, a Car-
ta Magna estabelece um complexo sistema de repartio de competncias legislativas e
executivas. justamente neste particular que reside uma das questes mais confitantes
do direito ambiental: a diviso de competncias entre os diferentes entes da federao
em matria de legislao e execuo de polticas ambientais. Preceitos de competncia
privativa, concorrente e suplementar ao mesmo tempo em que so elucidados pelo texto
constitucional, se sobrepem e geram incertezas prticas, constituindo-se muitas vezes
em obstculos de difcil transposio no campo processual. Infelizmente, a conseqn-
cia nefasta de um sistema de competncias confuso pode acarretar em irreparvel dano
ao meio ambiente.
COMPETNCIA LEGISLATIVA
Segundo o art. 22 da CF/88, algumas matrias so de competncia legislativa pri-
vativa da Unio. Dentre os vinte e nove incisos, identifcamos alguns com direta ou
indireta relao ao direito ambiental:
I direito civil, comercial, penal processual, eleitoral, agrrio, martimo,
aeronutico, espacial e do trabalho;
II desapropriao;
IV guas, energia, informtica, telecomunicaes e radiofuso;
VIII comrcio exterior e interestadual;
IX diretrizes da poltica nacional de transportes;
X regime dos portos, navegao lacustre, fuvial, martima, area e aero-
espacial;
XI trnsito e transporte;
XII jazidas, minas, outros recursos naturais e metalurgia;
XIII nacionalidade, cidadania e naturalizao;
XIV populaes indgenas;
XVIII sistema estatstico, sistema cartogrfco e de geologia nacionais;
XXII competncia da polcia federal e das polcias rodoviria e ferroviria
federais;
XXVI atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII normas gerais de licitao e contratao em todas as modalidades,
para as administraes pblicas diretas, autrquicas e fundacionais da Unio,
Estados, Distrito Federal e Municpios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas pblicas e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, 1, III.
O pargrafo nico do art. 22, da CF/88 estabelece, ainda, que lei complementar
poder autorizar os Estados a legislar sobre questes especfcas das matrias relaciona-
das neste artigo.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 21
Em meno mais especfca sobre competncia legislativa em matria ambiental,
dispe o art. 24 da CF/88:
Compete Unio, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente-
mente sobre:
VI forestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteo do meio ambiente e controle da poluio;
VII proteo ao patrimnio histrico, cultural, artstico, turstico e pai-
sagstico;
VIII responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artstico, esttico, histrico, turstico e paisagstico.
Ou seja, a competncia concorrente estabelecida pelo artigo 24 da Cf/88 atribuda
Unio, aos Estados e ao Distrito Federal (nota-se a omisso em relao aos municpios),
em matria ambiental bastante ampla em decorrncia da abrangncia dos termos
utilizados pelos incisos transcritos acima. Em outras palavras, quer dizer que qualquer
dos entes da Federao citados so competentes para legislar em matria ambiental. Para
melhor compreenso da amplitude de cada ente federado com intuito de se evitar sobre
ou superposio de legislaes confitantes, necessria uma leitura atenta dos pargra-
fos inseridos no art. 24 da CF/88.
1 No mbito da legislao concorrente, a competncia da Unio limi-
tar-se- a estabelecer normas gerais.
Como no h uma defnio legal do que sejam normas gerais, compete jurispru-
dncia e doutrina consolidarem a noo do que vem a ser uma norma geral. O risco
desta constatao est em eventual falta de critrios, o que acaba gerando uma anlise
caso a caso, prejudicial segurana e racionalidade jurdica.
2 A competncia da Unio para legislar sobre normas gerais no exclui
a competncia suplementar dos Estados.
Competncia suplementar pressupe a existncia de uma norma pr-existente. Quer
dizer ento que quando houver lei federal geral dispondo sobre meio ambiente, o Estado,
o Distrito Federal e os Municpios, dentro do que se entende por competncia concor-
rente, s podero legislar em conformidade com o preceito federal e em matrias mais
especfcas geralmente ligadas s questes de efccia e implementao da norma geral.
3 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercero a
competncia legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
Ou seja, os Estados, Distrito Federal e Municpios somente estaro plenamente ha-
bilitados a legislarem com total liberdade na ausncia de norma federal sobre o tpico.
Entretanto, na hiptese de supervenincia de lei federal, a lei estadual ou municipal que
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 22
12
MILAR, dis. Direito do Ambiente.
So Paulo: RT, 2007, p. 180.
dispuser em sentido contrrio, no todo ou em parte, ter sua efccia suspensa. Esta
lgica do 4, do art. 24, da CF/88:
4 A supervenincia de lei federal sobre normas gerais suspende a efc-
cia da lei estadual, no que lhe for contrrio.
Em relao competncia legislativa dos municpios em matria ambiental, depre-
ende-se que ela concorrente assim como a dos Estados e do Distrito Federal, ante a
interpretao combinada dos art. 30 inc. I e art. 18, ambos da CF/88. Dispe o primei-
ro que compete aos Municpios, legislar sobre assuntos de interesse local e o art. 18
coloca os Municpios como um dos entes autnomos da Federao ao lado da Unio,
Distrito Federal e Estados. Como muitas das questes ambientais so matrias de ca-
rter estritamente locais, extrai-se da leitura dos citados dispositivos constitucionais a
competncia legislativa municipal.
COMPETNCIA ADMINISTRATIVA
De acordo com Milar
12
, competncia administrativa a execuo de tarefas que
conferem ao Poder Pblico o desempenho de atividades concretas, atravs do exerccio
do seu poder de polcia. Para o desempenho destas funes e atividades, o art. 23 da
CF/88 claro ao atribuir competncia comum Unio, Estados, Distrito Federal e
Municpios para:
III proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histrico,
artstico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notveis e os stios
arqueolgicos;
VI proteger o meio ambiente e combater a poluio em qualquer das suas
formas; e
VII preservar as forestas, a fauna e fora.
ATIVIDADES
1. Qual a diferena entre competncia administrativa e competncia legislativa?
2. Quais so os dispositivos constitucionais especfcos que fundamentam esta
repartio de competncias?
3. A Unio competente para legislar em matria que verse sobre proteo e de-
fesa do meio ambiente? Em caso afrmativo, de que forma esta competncia
da Unio exercida?
4. Podem os Estados legislar sobre defesa e proteo do meio ambiente? Em
quais situaes?
5. Podem os municpios legislar sobre defesa e proteo do meio ambiente? Em
quais situaes?
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 23
13
Questo extrada da obra: Antnio F.
G. Beltro, Manual de Direito Ambien-
tal, Editora Mtodo, (2008), p. 109;
14
Os autores explicam de forma bastante
clara como operam as diferentes compe-
tncias nas trs esferas de poder na es-
trutura federativa brasileira em matria
de legislao e gesto ambiental.
6. Em matria de competncia suplementar dos Estados, na ausncia de le-
gislao especfca da Unio, pode o Estado ocupar o espao com legislao
estadual em matria de defesa e proteo do meio ambiente? E o municpio?
7. Questo retirada do 20 Concurso para Procurador da Repblica
13
:
Assinale a alternativa correta:
a. o combate poluio, em qualquer de suas formas, de competncia exclu-
siva da Unio;
b. situa-se no mbito da legislao concorrente a competncia para legislar so-
bre proteo do meio ambiente;
c. tendo em vista o princpio da descentralizao administrativa, de compe-
tncia exclusiva dos Estados-membros a preservao das forestas;
d. nenhuma das alternativas est correta.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, Artigos 1, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 170 e 182.
Leitura Indicada
(Sidney Guerra & Srgio Guerra,
14
Direito de Direito Ambiental, Editora Frum
[2009], pp. 161-180).
Doutrina
Competncia Comum: o art. 23, VI e VII, da Constituio da Repblica estabelece a
competncia comum da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios para a proteo do
meio ambiente e o combate poluio em qualquer das suas formas, bem como para a preser-
vao das forestas, da fauna e da fora. Trata-se da competncia material ou administrativa.
Competncia legislativa: o art. 24, VI e VIII, da Carta de 1988 estabelece a competncia
legislativa concorrente da Unio, dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os Municpios,
para forestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza, defesa do solo e dos recursos na-
turais, como responsabilidade por dano ao meio ambiente. De acordo com o princpio da
predominncia do interesse, a Carta Federal expressamente dispe nos pargrafos do art. 24
que a Unio limitar-se- a estabelecer normas gerais, cabendo aos Estados a competncia su-
plementar. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados excepcionalmente exercero a
competncia legislativa plena; caso posteriormente seja editada lei federal sobre normas gerais,
eventual lei estadual oriunda desta competncia legislativa plena ter sua efccia suspensa.
(Antnio F. G. Beltro, Manual de Direito Ambiental, Editora Mtodo, [2008], p. 105);
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 24
Jurisprudncia
STF ADin 2.396-9 (Requerente: Governador do Estado de Gois, Requeridos: As-
semblia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul e Governador do Estado do
Mato Grosso do Sul).
Ementa
Ao Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 2.210/01, do Estado do Mato Grosso
do Sul. Ofensa aos arts. 22, I e XII; 25, 1, 170, caput, II e IV, 18 e 5, caput, II e
LIV. Inexistncia. Afronta competncia legislativa concorrente da Unio para editar
normas gerais referentes produo e consumo, proteo do meio ambiente e con-
trole da poluio e proteo e defesa da sade, artigo 24, V, VI e XII e 1 e 2 da
Constituio Federal.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 25
MDULO II. SISTEMA E POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Diante da complexidade do bem ambiental e dos meios para efetivao da sua de-
fesa e proteo, surge a necessidade de criao e desenvolvimento de diretrizes e aes
coordenadas para instrumentalizar o objetivo maior perseguido. Durante os debates
sobre os termos da Declarao de Estocolmo em 1972, instaurou-se um srio confito
de interesses entre pases em desenvolvimento e os desenvolvidos acerca do direito ao
desenvolvimento econmico.
Visando mitigar este confito sem, contudo, ferir os direitos at ento internacio-
nalmente reconhecidos, como a soberania e o prprio direito das naes ao desenvolvi-
mento econmico, a comunidade internacional passou a trabalhar a noo de desenvol-
vimento sustentvel. Nesta esteira, a Declarao do Rio de 1992 consolidou o conceito
de gesto ambiental como instrumento indispensvel ao cumprimento de objetivos
preservacionistas e de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas man-
tendo preservada a compatibilizao destes objetivos com o direito ao desenvolvimento
econmico e social. Portanto, a Declarao de Estocolmo constitui-se como um marco
do direito ambiental ao conceber a necessidade de gesto qualifcada, preservando os
aspectos econmicos, sociais e ambientais.
Dentro deste contexto, assume especial relevncia a organizao e o mapeamento
institucional, bem como a elaborao de um atualizado quadro legal e regulatrio que
pudesse recepcionar e se adequar aos preceitos internacionalmente reconhecidos. A le-
gislao brasileira, impulsionada pelo movimento ambientalista da dcada de 70, inova
na adoo de uma poltica nacional e quadro institucional sistematizado para efetivar a
fnalidade mxima de defesa e proteo do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A lei 6.938/1981 foi a responsvel pela estruturao da Poltica e do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente (PNMA e SISNAMA). O art. 6 do referido diploma legal
responsvel pela concepo, montagem e distribuio de competncias entre os rgos
integrantes dos SISNAMA.
Art 6 Os rgos e entidades da Unio, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territrios e dos Municpios, bem como as fundaes institudas pelo Poder
Pblico, responsveis pela proteo e melhoria da qualidade ambiental, consti-
tuiro o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, assim estruturado:
I rgo superior: o Conselho de Governo, com a funo de assessorar o
Presidente da Repblica na formulao da poltica nacional e nas diretrizes go-
vernamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;
II rgo consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Am-
biente (CONAMA), com a fnalidade de assessorar, estudar e propor ao Conse-
lho de Governo, diretrizes de polticas governamentais para o meio ambiente e
os recursos naturais e deliberar, no mbito de sua competncia, sobre normas e
padres compatveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essen-
cial sadia qualidade de vida;
III rgo central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidncia da Rep-
blica, com a fnalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 26
rgo federal, a poltica nacional e as diretrizes governamentais fxadas para o
meio ambiente;
IV rgo executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renovveis, com a fnalidade de executar e fazer executar, como r-
go federal, a poltica e diretrizes governamentais fxadas para o meio ambiente;
V rgos Seccionais: os rgos ou entidades estaduais responsveis pela
execuo de programas, projetos e pelo controle e fscalizao de atividades ca-
pazes de provocar a degradao ambiental;
VI rgos Locais: os rgos ou entidades municipais, responsveis pelo
controle e fscalizao dessas atividades, nas suas respectivas jurisdies;
1 Os Estados, na esfera de suas competncias e nas reas de sua jurisdio,
elaborao normas supletivas e complementares e padres relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
2 O s Municpios, observadas as normas e os padres federais e estaduais,
tambm podero elaborar as normas mencionadas no pargrafo anterior.
3 Os rgos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo
devero fornecer os resultados das anlises efetuadas e sua fundamentao, quan-
do solicitados por pessoa legitimamente interessada.
4 De acordo com a legislao em vigor, o Poder Executivo autorizado a
criar uma Fundao de apoio tcnico cientfco s atividades do IBAMA.
Os objetivos d este mdulo so:
Entender e contextualizar a concepo da Poltica Nacional do Meio Ambiente
e sua respectiva instrumentalizao.
Conceitualizar e compreender o Sistema Nacional do Meio Ambiente.
Identifcar e distinguir o organograma institucional do SISNAMA.
Compreender e aplicar na prtica a diviso de competncias dos rgos inte-
grantes do SISNAMA.
Entender o conceito e a importncia da defnio de padres de qualidade am-
biental e critrios coerentes de zoneamento ambiental.
Distinguir as diferentes atribuies da Unio, Estados e Municpios em matria
de zoneamento ambiental.
Compreender e resolver as tense s entre os poderes pblicos e iniciativa privada
em matrias de padres de qualidade ambiental e zoneamento ecolgico-econ-
mico.
Entender a importncia da publicidade, informao e educao ambiental
como instrumentos da Poltica Naciona l do Meio Ambiente.
Distinguir as diferenas entre publicidade e informao ambiental.
Identifcar os principais pontos da poltica de educao ambiental e articular
formas de aplicao e efetiva o prtica.
Compreender a importncia e relao entre informao, publicidade e educa-
o ambiental com participao popular qualifcada nos processos decisrios.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 27
Distinguir avaliao de impacto ambiental de estudo e relatrio de impacto
ambiental.
Compreender a importncia da avaliao de impacto ambiental como instru-
mento de poltica do meio ambiente.
Identifcar as principais questes que devem ser inseridas no estudo e relatrio
de impacto ambiental.
Analisar a exigibilidade do EIA/RIMA luz da legislao vigente e interpreta-
o jurisprudencial.
Entender o papel do CONAMA na determinao de atividades que atraiam a
exigncia do EIA/RIMA.
Trabalhar os aspectos prticos da realizao do EIA/RIMA, como momento da
exigncia, elaborao e custeio.
Examinar o papel do princpio da participao e informao no processo de
avaliao de impacto ambiental.
luz do direito administrativo, debater sobre a natureza jurdica do instituto
do licenciamento ambiental.
Aprofundar o embasamento jurdico da exigncia de licenas ambientais.
Entender as diferentes etapas e prazos do licenciamento ambiental brasileiro.
Analisar questes controvertidas quanto competncia em licenciamento am-
biental.
Resolver casos que envolvam modifcao, suspenso ou cancelamento da licen-
a ambiental.
Examinar o direito indenizao de eventual prejudicado nos casos de modif-
cao, suspenso ou cancelamento de licena.
Trabalhar os institutos do direito adquirido e ato jurdico perfeito em face de
atividades pretritas vigncia da legislao acerca do licenciamento ambiental.
Articular o princpio da participao popular e o licenciamento ambiental.
Identifcar atividades que exigem licenciamento ambiental especial.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 28
AULA 5. PRINCPIOS, CONCEITOS, INSTRUMENTOS
E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Segundo defnio proposta por Antunes, (p. 93) O SISNAMA o conjunto de
rgos e instituies vinculadas ao Poder Executivo que, nos nveis federal, estadual e muni-
cipal, so encarregados da proteo ao meio ambiente, conforme defnido em lei. Alm do
SISNAMA, cuja estruturao feita com base na lei da PNMA, muitas outras instituies
nacionais tm importantes atribuies no que se refere proteo do meio ambiente.
Para organizar as aes dos rgos integrantes do SISNAMA dos trs nveis da Fede-
rao, surge a necessidade de criao de um padro organizacional, feito atravs de uma
Poltica Nacional que disponha sobre princpios gerais, objetivos a serem perseguidos e
os instrumentos disponveis para realizao das metas traadas. No Brasil, esta Poltica
consagrada com o advento da Lei 6.938/81, mas no est isenta de crticas. Nas palavras
de Milar (p.310), ... certo que se esboa um incio de Poltica Ambiental, mas ape-
nas limitada observncia das normas tcnicas editadas pelo CONAMA. No existe,
contudo, um efetivo plano de ao governamental em andamento, interando a Unio,
os Estados e os Municpios, visando preservao do meio ambiente.
Para instrumentalizar os princpios e diretrizes da Poltica Nacional do Meio Am-
biente (PNMA), o ordenamento jurdico brasileiro criou uma complexa rede institucio-
nal e que integra e compe o SISNAMA, conforme dispe o art. 6 da Lei 6.938/1981.
Da mesma forma, Estados e Municpios desenvolveram redes institucionais prprias
visando consecuo dos objetivos do desenvolvimento sustentvel, tal qual assegura-
dos pela Constituio Federal e refetidos nas Constituies Estaduais.
Embora as funes e atribuies de cada rgo estejam claramente defnidas nos
instrumentos legais originrios, a prtica demonstra superposio de tarefas e com-
petncias o que, infelizmente, acaba muitas vezes difcultando a efetiva tutela do bem
ambiental. Por outro lado, ainda que existam pontos negativos em uma estrutura buro-
crtica inchada, como parece ser o caso brasileiro, faz-se necessrio reconhecer a impor-
tncia da atuao de vrios desses rgos em prol da conciliao dos interesses desenvol-
vimentistas e preservacionistas.
PRINCPIOS DA POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
O art. 2 da Lei 6.938/81 estabelece os princpios norteadores das aes previstas na
Poltica Nacional do Meio Ambiente, so eles:
I ao governamental na manuteno do equilbrio ecolgico, conside-
rando o meio ambiente como um patrimnio pblico a ser necessariamente
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II racionalizao do uso do solo, do subsolo, da gua e do ar;
III planejamento e fscalizao do uso dos recursos ambientais;
IV proteo dos ecossistemas, com a preservao de reas representativas;
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 29
15
MILAR, p. 315.
V controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente polui-
doras;
VI incentivos ao estudo e pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteo dos recursos ambientais;
VII acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII recuperao de reas degradadas;
IX proteo de reas ameaadas de degradao;
X educao ambiental a todos os nveis de ensino, inclusive a educao da
comunidade, objetivando capacit-la para participao ativa na defesa do meio
ambiente.
Importa destacar que os princpios da Poltica Nacional do Meio Ambiente no se
confundem com os princpios do Direito Ambiental, j que os primeiros so instru-
mentais. Esse tema abordado por Milar
15
:
Cabe observar, ademais, que os princpios da Poltica Nacional do Meio Am-
biente no se confundem nem se identifcam com os princpios do Direito do
Ambiente. So formulaes distintas, embora convirjam para o mesmo grande
alvo, a qualidade ambiental e a sobrevivncia do Planeta; por conseguinte, eles
no podero ser contraditrios. A cincia jurdica e um determinado texto legal
expressam-se de maneiras diferentes por razes de estilo e metodologia; no obs-
tante, deve haver coerncia e complementaridade entre eles.
CONCEITOS DA POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
O art. 3 da Lei 6.938/81 traz importantes conceitos aplicveis a Poltica Nacional
do Meio Ambiente, a seguir transcritos.
Meio ambiente Conjunto de condies, leis, infuncias e interaes de ordem
fsica, qumica e biolgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
(art. 3. inc. I)
Degradao da qualidade ambiental Alterao adversa das caractersticas do meio
ambiente (art. 3, inc. II)
Poluio Degradao da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente prejudiquem a sade, a segurana e o bem-estar da populao; criem
condies adversas s atividades sociais e econmicas; afetem desfavoravelmente a biota;
afetem as condies estticas ou sanitrias do meio ambiente; lancem matrias ou ener-
gia em desacordo com os padres ambientais estabelecidos. (art. 3. inc. III)
Poluidor Pessoa fsica ou jurdica, de direito pblico ou privado, responsvel, dire-
ta ou indiretamente, por atividade causadora de degradao ambiental. (art. 3, inc. IV)
Recursos ambientais Atmosfera, as guas interiores, superfciais e subterrneas,
os esturios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
fora. (art. 3, inc. V)
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 30
INSTRUMENTOS DA POLTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
O art. 9, da Lei 6.938/81 apresenta um rol de treze incisos elencando os instru-
mentos da Poltica Nacional do Meio Ambiente. So eles os meios para a efetiva defesa
e proteo do meio ambiente. Em ltima anlise, so os instrumentos da PNMA que
visam garantir a efccia e aplicao das normas e objetivos ambientais.
Alguns instrumentos j esto exaustivamente regulados, no entanto, outros ainda
carecem de maior elucidao e regulamentao especfca. Apesar de estarem listados
de um a treze pelo referido artigo, cabe destacar que no h necessariamente uma rela-
o hierrquica entre eles. Cada um cumpre com uma funo especfca e importante
dentro da PNMA e no excluem outras iniciativas, ainda que no tipifcadas, que ins-
trumentalizem a proteo e a defesa do meio ambiente. Dispe, portanto, o art. 9, da
Lei 6.938/81:
So instrumentos da Poltica Nacional do Meio Ambiente:
I o estabelecimento de padres de qualidade ambiental;
II o zoneamento ambiental;
III a avaliao de impactos ambientais;
IV o licenciamento e a reviso de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V os incentivos produo e instalao de equipamentos e a criao ou
absoro de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI a criao de reservas e estaes ecolgicas, reas de proteo ambien-
tal e as de relevante interesse ecolgico, pelo Poder Pblico Federal, Estadual e
Municipal;
VI a criao de espaos territoriais especialmente protegidos pelo Poder
Pblico federal, estadual e municipal, tais como reas de proteo ambiental, de
relevante interesse ecolgico e reservas extrativistas;
VII o sistema nacional de informaes sobre o meio ambiente;
VII o sistema nacional de informaes sobre o meio ambiente;
VIII o Cadastro Tcnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
IX as penalidades disciplinares ou compensatrias ao no cumprimento
das medidas necessrias preservao ou correo da degradao ambiental.
X a instituio do Relatrio de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divul-
gado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais Renovveis IBAMA;
XI a garantia da prestao de informaes relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Pblico a produz-las, quando inexistentes;
XII o Cadastro Tcnico Federal de atividades potencialmente poluidoras
e/ou utilizadoras dos recursos ambientais;
XIII instrumentos econmicos, como concesso forestal, servido am-
biental, seguro ambiental e outros.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 31
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) constitudo por rgos e
entidades da Unio, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territrios e dos Municpios,
e por fundaes institudas pelo Poder Pblico, responsveis pela tutela e melhoria da
qualidade ambiental. O SISNAMA estruturado atravs dos seguintes rgos, de acor-
do com a redao do art. 6, da Lei 6.938/81:
Conselho de Governo rgo superior. Este rgo tem como funo assessorar
o Presidente da Repblica na formulao da poltica nacional e nas diretrizes governa-
mentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. (Art. 6, inc. I, da Lei 6.938/81)
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) rgo consultivo e deli-
berativo. o rgo maior do Sistema. presidido pelo Ministro do Meio Ambiente.
Tem como principal fnalidade assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo,
diretrizes de polticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e
deliberar, no mbito de sua competncia, sobre normas e padres compatveis com o
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial sadia qualidade de vida. (Art.
6, inc. II, e art. 8 da Lei 6.938/81 e art. 7 do Decreto 99.274/90)
Ministrio do Meio Ambiente rgo central. Suas funes so planejar, coor-
denar, supervisionar e controlar, como rgo federal, a poltica naci onal e as diretrizes
governamentais fxadas para o meio ambiente. (Art. 6, inc. III, da Lei 6.938/81 e art.
10 do Decreto 99.274/90)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBA-
MA) rgo executo r. Tem como fnalidade executar e fazer executar, como rgo
federal, a poltica e diretrizes governamentais fxadas para o meio ambiente. (Art. 6,
inc. IV, da Lei 6.938/81)
rgos ou entidades estaduais rgos Seccionais. So responsveis pela execuo
de programas, projetos e pelo controle e fscalizao de atividades capazes de provocar a
degradao ambiental. (Art. 6, inc. V, da Lei 6.938/81 e art. 13 do Decreto 99.274/90)
rgos ou entidades municipais rgos Locais. Tm como funo a execuo de
programas, projetos e controle de atividades capazes de provocar degradao ambiental,
nas suas respectivas jurisdies. (Art. 6, inc. VI, da Lei 6.938/81 e art. 13 do Decreto
99.274/90)
ATIVIDADES
1. O que o SISNAMA e qual a sua utilidade dentro da Poltica Nacional do
Meio Ambiente?
2. Qual a importncia e o fundamento legal de incluso do princpio da in-
formao ao SISNAMA?
3. Qual a funo que o Conselho de Governo vem desenvolvendo na prtica?
Explique.
4. Quais so os rgos integrantes do SISNAMA?
5. O que o CONAMA e quais so as suas funes?
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 32
16
Questo extrada da obra: Antnio F.
G. Beltro, Manual de Direito Ambien-
tal, Editora Mtodo, (2008), pp. 192.
17
Id. p. 195.
6. Qual a diferena entre os princpios da Poltica Nacional do Meio Ambien-
te e os princpios de direito ambiental consagrados pela Constituio Federal
de 1988?
7. Qual a funo dos instrumentos da PNMA para os objetivos traados pela
Lei 6.938/81?
8. Questo retirada do Procurador do Estado AP 2006
16
Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), julgue os prximos
itens.
a) Compem o SISNAMA: o Conselho de Governo, a Cmara de Polticas dos
Recursos Naturais, o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro (GESPE), o Conselho Na-
cional de Meio Ambiente (CONAMA), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovveis (IBAMA), o Conselho Nacional da Amaznia Legal e o
Conselho Nacional da Mata Atlntica.
b) O Fundo Nacional de Meio Ambiente objetiva o desenvolvimento de projetos
que visem o uso racional e sustentvel de recursos naturais, incluindo manuteno,
melhoria ou recuperao de qualidade ambiental que visem a elevao da qualidade de
vida da populao.
9. Questo retirada do concurso para Juiz de Direito do TJMT, 2004
17
A respeito da Poltica Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da normatizao
constitucional e infraconstitucional relativa ao meio ambiente, julgue os prximos itens.
a) Considere a seguinte situao hipottica. Um vereador de determinado munic-
pio, dados os constantes episdios de degradao de recursos hdricos naquela unidade
da federao, apresentou projeto de lei, versando sobre proteo do meio ambiente e
controle da poluio das guas. Nessa situao, sob o ponto de vista constitucional, tal
projeto pode ser considerado compatvel, pois de competncia comum da Unio, dos
Estados, do DF e dos Municpios legislar sobre a matria mencionada.
b) Considere a seguinte situao hipottica. Determinado Estado da Federao, no
obstante j possuir rgo ambiental na esfera estadual, constituiu uma fundao res-
ponsvel pela proteo e melhoria da qualidade ambiental. Nessa situao, apesar de tal
fundao destinar-se aos mencionados fns, ela no compe o Sistema nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), pois ele s integrado pelos rgos ambientais da Unio, dos
Estados, do DF e dos Municpios e no por fundaes, ainda que institudas pelo poder
pblico para propsitos ambientais.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 33
18
O autor apresenta os principais con-
ceitos, objetivos e instrumentos da
PNMA e diferencia os diferentes rgos
que compem o SISNAMA.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Lei 6.938/1981;
2. Lei 7.735/1989;
3. Lei 7.797/1989;
4. Decreto 964/1993;
5. Decreto 1.696/1995;
6. Lei 10.650/2003;
7. Lei 10.683/2003;
Leitura Indicada
dis Milar,
18
Direito do Ambiente, 5 Edio, Editora Revista dos Tribunais
(2007), pp. 285-298 / 307-321;
Jurisprudncia
STJ Recurso Especial 588.022-SC (2003/0159754-5) (Recorrentes: Superintendncia
do Porto de Itaja, Fundao do Meio Ambiente [FAT MA], Recorridos: Ministrio Pblico
Federal, Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis
[IBAMA]).
Ementa
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AO CIVIL PBLICA. DESASSO-
REAMENTO DO RIO ITAJA-AU. LICENCIAMENTO. COMPETNCIA DO
IBAMA. INTERESSE NACIONAL.
1. Existem atividades e obras que tero importncia ao mesmo tempo para a Nao
e para os Estados e, nesse caso, pode at haver duplicidade de licenciamento.
2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princpios do direito am-
biental deve receber soluo em prol do ltimo, haja vista a fnalidade que este tem de
preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central proteger
patrimnio pertencente s presentes e futuras geraes.
3. No merece relevo a discusso sobre ser o Rio Itaja-Au estadual ou federal. A
conservao do meio ambiente no se prende a situaes geogrfcas ou referncias
histricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fron-
teiras polticas. Os bens ambientais so transnacionais. A preocupao que motiva a
presente causa no unicamente o rio, mas, principalmente, o mar territorial afetado.
O impacto ser considervel sobre o ecossistema marinho, o qual receber milhes de
toneladas de detritos.
4. Est diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itaja-Au toda a zona
costeira e o mar territorial, impondo-se a participao do IBAMA e a necessidade de
prvios EIA/RIMA. A atividade do rgo estadual, in casu, a FATMA, supletiva.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 34
Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da questo, atravs dos rgos
ambientais pblicos e privados, poder aferir quais os contornos do impacto causado
pelas dragagens no rio, pelo depsito dos detritos no mar, bem como, sobre as correntes
martimas, sobre a orla litornea, sobre os mangues, sobre as praias, e, enfm, sobre o
homem que vive e depende do rio, do mar e do mangue nessa regio.
5. Recursos especiais improvidos.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 35
19
MILAR, p. 325.
AULA 6. PADRES DE QUALIDADE E ZONEAMENTO AMBIENTAL
A fxao de padres de qualidade e o zoneamento ambiental so dois instrumentos
de extrema importncia para a consecuo das premissas inerentes ao desenvolvimento
sustentvel. Reconhecendo-se a necessidade do avano nas reas econmica e social sem,
contudo, olvidar da defesa e proteo do meio ambiente, imprescindvel uma democr-
tica, atualizada e sria articulao dos meios para atingir as metas previamente traadas.
Dentro deste contexto e somando-se complexidade e rapidez cada vez maior da
evoluo do conhecimento e avano tecnolgico da sociedade moderna, necessria
uma previso legal slida dos instrumentos de poltica do meio ambiente, porm dota-
dos de mecanismos fexveis de deliberao que possam acompanhar o desenvolvimento
tcnico-cientfco e os diferentes anseios da sociedade.
PADRES DE QUALIDADE
No Brasil, em relao aos padres de qualidade, o marco regulatrio justamente
a Lei 6.938/81 e o rgo deliberativo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA). A sua composio e diversidade democrtica (governo, sociedade civil, classe
empresarial e cientfca) capaz de identifcar e defnir os padres aceitveis de emisso
de poluentes, efuentes e rudos (atualmente institudos), bem como de congregar e
resolver eventuais confitos de interesses dos diferentes setores representados. Sobre este
tema, afrma Milar
19
:
No processo de estabelecimento de padres de qualidade ambiental, desen-
volve-se a procura de nveis ou graus de qualidade, de elementos, relaes ou
conjunto de componentes, nveis esses geralmente expressos em termos numri-
cos, que atendam a determinadas funes, propsitos ou objetivos, e que sejam
aceitos pela sociedade.
Decorrem, portanto, duas caractersticas essenciais dos padres de qualidade
ambiental. A primeira, refere-se condio de que um padro de qualidade
estabelecido com um enfoque especfco, pois visa assegurar um determinado
propsito, como, por exemplo, a proteo sade publica, ou a proteo paisa-
gstica, entre outros. A segunda caracterstica diz respeito aceitao pela socie-
dade dos nveis ou graus fxados, o que implica um processo de discusso sobre
diferentes propostas, que representam diferentes interesses, convergindo para
uma situao de consenso a fm de que os resultados possam ser ofcialmente
aceitos e regularmente estabelecidos.
Evidencia-se, assim, a vinculao deste instrumento a um determinado es-
tgio de conhecimento tcnico e cientfco, e aos fatores sociais, econmicos,
culturais e polticos da sociedade, o que confere aos padres de qualidade uma
perspectiva regional.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 36
20
ANTUNES, p. 185.
No Brasil. Os padres de qualidade ambiental so fxados por Resolues do CO-
NAMA. At o momento esto regulamentados os Padres de Qualidade das guas, do
Ar e dos Nveis de Rudos.
Qualidade das guas: Resolues do CONAMA 357/05, 274/00, CNRH 12/00,
Lei 9.433/97.
Qualidade do Ar: PRONAR/PROCONVE Resolues do CONAMA 18/86,
5/89, 3/90, 8/90, 264/99, 316/02, Leis 8.723/93, 10.203/01, 10.696/03.
Nveis de Rudos: Resoluo do CONAMA 1/90 e 252/99.
Qualidade do Solo: Ainda no h regulamentao especfca. Res. CONAMA
344/04 (referendou critrios CETESB)
ZONEAMENTO AMBIENTAL
No tocante ao zoneamento ecolgico-econmico (ZEE), num pas de dimenses
continentais como o Brasil, este instrumento assume especial relevncia. Como o pr-
prio nome sugere, ele tambm mecanismo de convergncia de objetivos preservacio-
nistas e econmicos. Antunes
20
defne o zoneamento ambiental:
O zoneamento, repita-se, uma importante interveno estatal na utilizao
de espaos geogrfcos e no domnio econmico, organizando a relao espao-
produo, alocando recursos, interditando reas, destinando outras para estas
e no para aquelas atividades, incentivando e reprimindo condutas etc. O zo-
neamento fruto da arbitragem entre diferentes interesses de uso dos espaos
geogrfcos, reconhecendo e institucionalizando os diferentes confitos entre os
diferentes agentes. Ele busca estabelecer uma convivncia possvel entre os dife-
rentes usurios de um mesmo espao.
O atual debate acerca dos biocombustveis como viles da agricultura voltada para
a produo de alimentos, ou como incentivo monocultura, reala a importncia do
correto planejamento do territrio que ser destinado indstria, agricultura, preserva-
o ambiental e/ou mista. Portanto, o zoneamento ambiental constitui-se como outro
instrumento da Poltica Nacional do Meio Ambiente, previsto pelo art. 9, inc. II, da
Lei 6.938/81.
ATIVIDADES
1. De que forma os padres de qualidade ambiental so desenvolvimentos e
institudos no Brasil?
2. possvel afrmar que a defnio de padres de qualidade ambiental est
restrita ao Poder Legislativo? Justifque.
3. Qual a participao do Conselho de Defesa Nacional no zoneamento am-
biental?
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 37
21
O autor apresenta os principais con-
ceitos, objetivos e instrumentos da
PNMA e diferencia os diferentes rgos
que compem o SISNAMA.
22
O autor discorre sobre a estipulao
de padres de qualidade ambiental e os
detalha por rea: ar, gua, solo e rudo.
4. Considere a seguinte situao: uma indstria foi instalada em uma determi-
nada regio em 1980. Por volta de 1990, esta rea passa a ser ocupada por
conjuntos habitacionais. A populao no entorno da fbrica, temendo os
riscos sade impostos pelas atividades industriais, ajuza ao com pedido
de relocalizao da indstria. A corporao, por sua vez, contra-argumenta
baseando-se em direito adquirido de pr-ocupao do solo. Com base na
legislao brasileira vigente, como o caso deve ser resolvido?
5. Por ser questo de interesse local possvel afrmar que o Municpio detm
liberdade plena para defnir o zoneamento ecolgico-econmico? Justifque.
6. De que forma a estipulao de padres de qualidade ambiental complementa
o instrumento do Zoneamento Ecolgico-Econmico?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, artigos 21, 25, 43, 91, 165, 182, 186 e 225;
2. Lei 6.938/81;
3. Decreto 4.297/02;
4. Lei 6.803/80;
5. Lei 7.661/88;
6. Lei 8.171/91.
Leitura Indicada
dis Milar,
21
Direito do Ambiente, 5 Edio, Editora Revista dos Tribunais
(2007), pp. 324-340;
Paulo de Bessa Antunes,
22
11 Edio, Direito Ambiental, Editora Lumen Juris,
(2008), pp. 181-199;
Doutrina
Os padres de qualidade ambiental consistem em parmetros fxados pela legislao para
regular o lanamento/emisso de poluentes visando assegurar a sade humana e a quali-
dade do ambiente. Variam conforme a toxicidade do poluente, seu grau de disperso, o uso
preponderante do bem ambiental receptor, vazo da corrente de gua (em caso do ambiente
receptor ser gua) etc.
(Antnio F. G. Beltro, Manual de Direito Ambiental, Editora Mtodo, [2008], p. 122).
O zoneamento consiste em dividir o territrio em parcelas nas quais se autorizam de-
terminadas atividades ou interdita-se, de modo absoluto ou relativo, o exerccio de outras
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 38
atividades. Ainda que o zoneamento no constitua, por si s, a soluo de todos os problemas
ambientais um signifcativo passo.
(Paulo Afonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, 16 Edio, Editora
Malheiros, (2008), p. 191).
Jurisprudncia
STJ Ao Rescisria 756 PR (1998/0025286-0) (Autor: Estado do Paran, Rus:
Municpio de Guaratuba, F Bertoldi Empreendimentos Imobilirios Ltda e Arrimo
Empreendimentos Imobilirios Ltda).
Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AO RESCISRIA. LEGITI-
MIDADE DO MUNICPIO PARA ATUAR NA DEFESA DE SUA COMPETN-
CIA CONSTITUCIONAL. NORMAS DE PROTEO AO MEIO AMBIENTE.
COMPETNCIA PARA LEGISLAR. EDIFICAO LITORNEA. CONCESSO
DE ALVAR MUNICIPAL. LEI PARANAENSE N. 7.389/80. VIOLAO.
1. A atuao do Municpio, no mandado de segurana no qual se discute a possibilidade
de embargo de construo de prdios situados dentro de seus limites territoriais, se d em de-
fesa de seu prprio direito subjetivo de preservar sua competncia para legislar sobre matrias
de interesse local (art. 30, I, da CF/88), bem como de garantir a validade dos atos administra-
tivos correspondentes, como a expedio de alvar para construo, ainda que tais benefcios
sejam diretamente dirigidos s construtoras que receiam o embargo de suas edifcaes. En-
tendida a questo sob esse enfoque, de se admitir a legitimidade do municpio impetrante.
2. A teor dos disposto nos arts. 24 e 30 da Constituio Federal, aos Municpios, no
mbito do exerccio da competncia legislativa, cumpre a observncia das normas edi-
tadas pela Unio e pelos Estados, como as referentes proteo das paisagens naturais
notveis e ao meio ambiente, no podendo contrari-las, mas to somente legislar em
circunstncias remanescentes.
3. A Lei n. 7.380/80 do Estado do Paran, ao prescrever condies para proteo de
reas de interesse especial, estabeleceu medidas destinadas execuo das atribuies confe-
ridas pelas legislaes constitucional e federal, da resultando a impossibilidade do art. 25 da
Constituio do Estado do Paran, destinado a preservar a autonomia municipal, revog-la.
Precedente: RMS 9.629/PR, 1 T., Min. Demcrito Reinaldo, DJ de 01.02.1999.
4. A Lei Municipal n. 05/89, que instituiu diretrizes para o zoneamento e uso do
solo no Municpio de Guaratuba, possibilitando a expedio de alvar de licena muni-
cipal para a construo de edifcios com gabarito acima do permitido para o local, est
em desacordo com as limitaes urbansticas impostas pelas legislaes estaduais ento
em vigor e fora dos parmetros autorizados pelo Conselho do Litoral, o que enseja a
imposio de medidas administrativas coercitivas prescritas pelo Decreto Estadual n.
6.274, de 09 de maro de 1983. Precedentes: RMS 9.279/PR, Min. Francisco Falco,
DJ de 9.279/PR, 1 T., Min. Francisco Falco, DJ de 28.02.2000; RMS 13.252/PR, 2
T., Min. Francisco Peanha Martins, DJ de 03.11.2003.
5. Ao rescisria procedente.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 39
23
FILHO, Jos dos Santos Carvalho. Ma-
nual de Direito Administrativo. 17. ed.
Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2007. p. 21.
AULA 7. PUBLICIDADE, INFORMAO, PARTICIPAO
E EDUCAO AMBIENTAL
Quatro importantes princpios de direito ambiental so regulamentados e tomam o
formato de instrumentos da PNMA no direito brasileiro. So eles os princpios da pu-
blicidade, informao, participao e educao ambiental. Tanto o Direito Internacio-
nal como o Direito Estrangeiro (comparado) sedimentaram a necessidade de publicida-
de, informao e educao ambiental para permitir a efetiva participao da sociedade
civil organizada e de indivduos na implementao e execuo da poltica ambiental.
So tambm imprescindveis para a instrumentalizao dos mecanismos processuais de
defesa do meio ambiente, como a ao popular e a ao civil pblica.
A Constituio Federal consagrou no seu art. 225 o princpio da participao, se-
gundo Fiorillo:
Ao falarmos em participao, temos em vista a conduta de tomar parte em
alguma coisa, agir em conjunto. Dada a importncia e a necessidade dessa ao
conjunta, esse foi um dos objetivos abraados pela nossa Carta Magna, no tocan-
te defesa do meio ambiente.
A Constituio Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou na defesa
do meio ambiente a atuao presente do Estado e da sociedade civil na proteo
e preservao do meio ambiente, ao impor coletividade e ao Poder Pblico
tais deveres. Disso retira0se uma atuao conjunta entre organizaes ambien-
talistas, sindicatos, indstrias, comrcio, agricultura e tantos outros organismos
sociais comprometidos nessa defesa e preservao.
Para que o princpio da participao possa ser efetivado fundamental que trs
outros princpios ambientais sejam respeitados e promovidos: publicidade, informao
e educao. O direito informao ambiental est previsto nos arts. 6, 3, e 10 da
Poltica Nacional do Meio Ambiente, alm de ser corolrio do direito informao,
previsto nos artigos 220 e 221 da CF/88.
O princpio da informao diretamente associado ao princpio da publicidade, na
medida em que atravs deste que o primeiro pode ser materializado. Segundo Jos dos
Santos Carvalho Filho
23
:
(...) os atos da Administrao devem merecer a mais ampla divulgao poss-
vel entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princpio pro-
piciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes ad-
ministrativos. S com a transparncia dessa conduta que podero os indivduos
aquilatar a legalidade ou no dos atos e o grau de efcincia de que se revestem.
Pode ser apontado como um dos objetivos do princpio da publicidade garantir
o acesso dos administrados s atividades da Administrao Pblica, sendo, portanto,
fundamental para proporcionar a participao da sociedade no controle e fscalizao
das prticas do Poder Pblico. Tendo em vista que a conjugao dos princpios supra-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 40
mencionados uma das formas atravs da qual a sociedade pode exercer seu direito de
participao nas questes ambientais, fundamental que os mesmos sejam efetivamen-
te verifcados na prtica.
A educao ambiental est prevista no art. 225, 1, inc. VI da Constituio Federal
e foi regulamentada pela Lei 9.795/99, a qual instituiu a Poltica Nacional de Educao
Ambiental. Segundo o art. 1 da referida lei, entende-se por educao ambiental:
(...) os processos por meio dos quais o indivduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competncias voltadas
para a conservao do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Finalmente, preciso destacar que por serem institutos ligados atividade da adminis-
trao pblica, os princpios ora analisados quando aplicados ao direito ambiental, em-
prestam muitos dos conceitos e forma do direito administrativo. Neste campo, portanto,
possvel visualizar com clareza a relao do direito ambiental com o direito administrativo.
ATIVIDADES
1. Por que o direito informao ambiental importante instrumento de pol-
tica do meio ambiente?
2. No direito ambiental brasileiro, quem legtimo para solicitar informaes
ao Poder Pblico?
3. Como a participao nos processos decisrios pode ser importante instru-
mento de poltica ambiental?
4. Quais so os pontos positivos e as principais crticas poltica de educao
ambiental brasileira?
5. Pode a educao ambiental ser considerada instrumento da Poltica Nacional
do Meio Ambiente?
6. O que e como est estruturado o Sistema Nacional de Informaes sobre o
Meio Ambiente SINIMA?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Conveno de Aarhus;
2. Constituio Federal, artigos 5, XXXIII, 225;
3. Lei 6.938/81;
4. Lei 9.051/95;
5. Lei 10.650/03;
6. Lei 9.795/99.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 41
24
O autor descreve em detalhes os prin-
cipais aspectos da Poltica Nacional de
Educao Ambiental.
25
O autor aborda a importncia da
informao e publicidade ambiental
como instrumentos efcazes e neces-
srios de gesto ambiental e como re-
quisitos para a participao qualifcada
da sociedade nos processos de deciso
sobre polticas pblicas ambientais.
Leitura Indicada
Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental, 11 edio, Editora Lumen Juris,
(2008), 243-250;
24
Paulo Afonso Leme Machado,
25
Direito Ambiental Brasileiro, 16 Edio, Editora
Malheiros, (2008), 184-201;
Jurisprudncia
Ementa
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SE-
GURANA. DECRETO ESTADUAL N. 5.438/2002 QUE CRIOU O PARQUE
ESTADUAL IGARAPS DO JURUENA NO ESTADO DO MATO-GROSSO.
REA DE PROTEO INTEGRAL. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAO DA NATUREZA SNUC. ART. 225 DA CF/1988 REGULA-
MENTADO PELA LEI N. 9.985/2000 E PELO DECRETO-LEI N. 4.340/2002.
CRIAO DE UNIDADES DE CONSERVAO PRECEDIDAS DE PRVIO
ESTUDO TCNICO-CIENTFICO E CONSULTA PBLICA. COMPETN-
CIA CONCORRENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS TERMOS DO
ART. 24, 1, DA CF/1988. DECRETO ESTADUAL N. 1.795/1997. PRESCIN-
DIBILIDADE DE PRVIA CONSULTA POPULAO. NO-PROVIMENTO
DO RECURSO ORDINRIO.
1. Trata-se de mandado de segurana, com pedido liminar, impetrado por Her-
mes Wilmar Storch e outro contra ato do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso,
consubstanciado na edio do Decreto n. 5.438, de 12.11.2002, que criou o Parque
Estadual Igaraps do Juruena, nos municpios de Colniza e Cotriguau, bem como
determinou, em seu art. 3, que as terras e benfeitorias sitas nos limites do mencionado
Parque so de utilidade pblica para fns de desapropriao. O Tribunal de Justia do
Estado do Mato Grosso, por maioria, denegou a ao mandamental, concluindo pela
legalidade do citado decreto estadual, primeiro, porque precedido de estudo tcnico
e cientfco justifcador da implantao da reserva ambiental, segundo, pelo fato de a
legislao estadual no exigir prvia consulta populao como requisito para criao
de unidades de conservao ambiental. Apresentados embargos declaratrios pelo im-
petrante, foram estes rejeitados, considerao de que inexiste no aresto embargado
omisso, obscuridade ou contradio a ser suprida. Em sede de recurso ordinrio, alega-
se que: a) o acrdo recorrido se baseou em premissa equivocada ao entender que, em se
tratando de matria ambiental, estaria o estado-membro autorizado a legislar no mbito
da sua competncia territorial de forma distinta e contrria norma de carter geral edi-
tada pela Unio; b) nos casos de competncia legislativa concorrente, h de prevalecer
a competncia da Unio para a criao de normas gerais (art. 24, 4, da CF/1988),
haja vista legislao federal preponderar sobre a estadual, respeitando, evidentemente,
o estatudo no 1, do art. 24, da CF/1988; c) obrigatria a realizao de prvio
estudo tcnico-cientfco e scioeconmico para a criao de rea de preservao am-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 42
biental, no sendo sufciente a simples justifcativa tcnica, como ocorreu no caso; d) a
justifcativa contida no decreto estadual incompatvel com a conceituao de parque
nacional; e) obrigatria a realizao de consulta pblica para criao de unidade de
conservao ambiental, nos termos da legislao estadual (MT) e federal.
2. O Decreto Estadual n. 5.438/2002, que criou o Parque Estadual Igaraps do
Juruena, no Estado do Mato Grosso, reveste-se de todas as formalidades legais exigveis
para a implementao de unidade de conservao ambiental. No que diz respeito
necessidade de prvio estudo tcnico, prevista no art. 22, 1, da Lei n. 9.985/2002,
a criao do Parque vem lastreada em justifcativa tcnica elaborada pela Fundao
Estadual do Meio Ambiente FEMA, a qual, embora sucinta, alcana o objetivo per-
seguido pelo art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, qual seja, possibilitar seja identifcada
a localizao, dimenso e limites mais adequados para a unidade.
3. O Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamentou a Lei n.
9.985/2000, esclarece que o requisito pertinente consulta pblica no se faz impres-
cindvel em todas as hipteses indistintamente, ao prescrever, em seu art. 4, que com-
pete ao rgo executor proponente de nova unidade de conservao elaborar os estu-
dos tcnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pblica e os demais
procedimentos administrativos necessrios criao da unidade. Alis, os 1 e 2
do art. 5 do citado decreto indicam que o desiderato da consulta pblica defnir a
localizao mais adequada da unidade de conservao a ser criada, tendo em conta as
necessidades da populao local. No caso dos autos, reputa-se despicienda a exigncia
de prvia consulta, quer pela falta de previso na legislao estadual, quer pelo fato de a
legislao federal no consider-la pressuposto essencial a todas as hipteses de criao
de unidades de preservao ambiental.
4. A implantao de reas de preservao ambiental dever de todos os entes da fe-
derao brasileira (art. 170, VI, da CFRB). A Unio, os Estados-membros e o Distrito
Federal, na esteira do art. 24, VI, da Carta Maior, detm competncia legislativa con-
corrente para legislar sobre forestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza, defe-
sa do solo e dos recursos naturais, proteo do meio ambiente e controle da poluio.
O 2 da referida norma constitucional estabelece que a competncia da Unio para
legislar sobre normas gerais no exclui a competncia suplementar dos Estados. Assim
sendo, tratando-se o Parque Estadual Igaraps do Juruena de rea de peculiar interesse
do Estado do Mato Grosso, no prevalece disposio de lei federal, qual seja, a regra do
art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, que exige a realizao de prvia consulta pblica.
norma de carter geral compete precipuamente traar diretrizes para todas as unidades
da federao, sendo-lhe, no entanto, vedado invadir o campo das peculiaridades regio-
nais ou estaduais, tampouco dispor sobre assunto de interesse exclusivamente local, sob
pena de incorrer em fagrante inconstitucionalidade.
5. O ato governamental (Decreto n. 5.438/2002) satisfaz rigorosamente todas as
exigncias estabelecidas pela legislao estadual, mormente as presentes nos arts. 263
Constituio Estadual do Mato Grosso e 6, incisos V e VII, do Cdigo Ambiental (Lei
Complementar n. 38/1995), motivo por que no subsiste direito lquido e certo a ser
amparado pelo presente writ.
6. Recurso ordinrio no-provido.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 43
AULA 8. AVALIAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
O histrico menosprezo s externalidades ambientais ensejou inmeros projetos ao
redor do mundo sem qualquer observncia aos eventuais impactos negativos, por vezes
irreversveis, ao meio ambiente. Este modelo de desenvolvimento acarretou prejuzos
catastrfcos ao meio natural. Desde rios pegando fogo, vazamentos de leo de gigantes-
ca magnitude, at srias contaminaes radioativas, para citar apenas alguns. As grandes
catstrofes ambientais fzeram crescer mundialmente a presso pela necessidade da reali-
zao de avaliaes prvias a qualquer projeto com potencial de impactar negativamente
o meio ambiente e a sade da populao.
A partir de ento, percebe-se de forma crescente a insero da avaliao de impactos
ambientais, na forma de princpio fundamental de direito ambiental, em tratados inter-
nacionais. Este movimento foi copiado por ordenamentos jurdicos nacionais. Como
princpio, a avaliao de impacto ambiental exerce funes relevantes dentro do contexto
do direito ambiental. Dentre elas, orientando a gesto ambiental e como instrumento do
prprio princpio da precauo. So as avaliaes ambientais que permitem a reduo da
incerteza, ampliando, desta forma, os nveis de informao e transparncia na execuo
de projetos com potencial poluidor. Permite, assim, maior engajamento da sociedade
civil organizada e, com ela, o da participao popular. Maior participao social refete
positivamente na maior efccia do controle da ao do gestor e dos empreendedores que
se utilizam dos recursos naturais ou que apresentam potencial para causar degradao
ambiental. Por sua singular importncia, a avaliao de impacto ambiental encontra-se
atualmente consolidada no direito ambiental, instruindo a ao de organismos interna-
cionais e como parte integrante de diversos ordenamentos jurdicos nacionais.
A avaliao de impactos ambientais tem previso na Constituio Federal, art. 225,
1, inc. IV, e no art. 9, inc. III, da Lei 6.938/81, que assim determinam, respectivamente:
Art. 225. Todos tm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Pblico e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as
presentes e futuras geraes.
1 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Pblico:
IV exigir, na forma da lei, para instalao de obra ou atividade potencial-
mente causadora de signifcativa degradao do meio ambiente, estudo prvio de
impacto ambiental, a que se dar publicidade.
Art. 9. So instrumentos da Poltica Nacional do Meio Ambiente:
III a avaliao de impacto ambiental.
No ordenamento jurdico ptrio, alm das previses constitucional e legal acima
transcritas, a Resoluo CONAMA n 237/97 reitera a exigncia do estudo prvio de
impacto ambiental para atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras
de signifcativa degradao ambiental. Caso o rgo ambiental competente entenda que
a atividade no apresenta signifcativo potencial lesivo de agresso ambiental, poder
dispor sobre outros estudos ambientais, que no o detalhado e complexo EIA/RIMA.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 44
A Resoluo CONAMA n 1/86, dispe sobre os critrios bsicos e diretrizes gerais
para o uso e implementao da Avaliao de Impacto Ambiental. O seu art. 2, em rol
no exaustivo, estabelece quais as atividades que devero elaborar o EIA/RIMA, in verbis:
Art. 2. Depender de elaborao de estudo de impacto ambiental e respecti-
vo relatrio de impacto ambiental RIMA, a serem submetidos aprovao do
rgo estadual competente, e do IBAMA em carter supletivo, o licenciamento
de atividades modifcadoras do meio ambiente, tais como:
I Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II Ferrovias;
III Portos e terminais de minrio, petrleo e produtos qumicos;
IV Aeroportos, conforme defnidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-
Lei n 32, de 18.11.66;
V Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissrios de
esgotos sanitrios;
VI Linhas de transmisso de energia eltrica, acima de 230KV;
VII Obras hidrulicas para explorao de recursos hdricos, tais como:
barragem para fns hidreltricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irri-
gao, abertura de canais para navegao, drenagem e irrigao, retifcao de
cursos dgua, abertura de barras e embocaduras, transposio de bacias, diques;
VIII Extrao de combustvel fssil (petrleo, xisto, carvo);
IX Extrao de minrio, inclusive os da classe II, defnidas no Cdigo de
Minerao;
X Aterros sanitrios, processamento e destino fnal de resduos txicos ou
perigosos;
Xl Usinas de gerao de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia
primria, acima de 10MW;
XII Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroqumicos,
siderrgicos, cloroqumicos, destilarias de lcool, hulha, extrao e cultivo de
recursos hdricos);
XIII Distritos industriais e zonas estritamente industriais ZEI;
XIV Explorao econmica de madeira ou de lenha, em reas acima de
100 hectares ou menores, quando atingir reas signifcativas em termos percen-
tuais ou de importncia do ponto de vista ambiental;
XV Projetos urbansticos, acima de 100ha. ou em reas consideradas de
relevante interesse ambiental a critrio da SEMA e dos rgos municipais e es-
taduais competentes;
XVI Qualquer atividade que utilize carvo vegetal, em quantidade supe-
rior a dez toneladas por dia.
De acordo com o art. 11 da Res. 237/97, os custos relativos aos estudos necessrios
ao processo de licenciamento ambiental correro por conta do empreendedor. Quer
dizer que o prprio empreendedor pode realizar os estudos, o que no deixa de ser uma
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 45
inovao em relao Res. 1/86 que vedava a vinculao da equipe responsvel pelos
estudos ambientais ao empreendedor.
A imparcialidade dos estudos fca por conta das responsabilizaes administrativas,
civis e penais, pelas informaes contidas no estudo de impacto ambiental, conforme
prev o art. 11, nico da Res. 237/97:
Art. 11. Os estudos necessrios ao processo de licenciamento devero ser re-
alizados por profssionais legalmente habilitados, s expensas do empreendedor.
Pargrafo nico. O empreendedor e os profssionais que subscrevem os estu-
dos previstos no caput deste artigo sero responsveis pelas informaes apresen-
tadas, sujeitando-se s sanes administrativas, civis e penais.
De acordo com o art. 1, inc. III, da Res. 237/97:
Estudos Ambientais: so todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos am-
bientais relacionados localizao, instalao, operao e ampliao de uma ati-
vidade ou empreendimento, apresentado como subsdio para a anlise da licena
requerida, tais como: relatrio ambiental, plano e projeto de controle ambiental,
relatrio ambiental preliminar, diagnstico ambiental, plano de manejo, plano
de recuperao de rea degradada e anlise preliminar de risco.
Dentre as atividades tcnicas mnimas exigidas para o EIA, incluem-se:
1) diagnstico ambiental da rea de infuncia do projeto, a considerados os meios
fsico, biolgico e scio-econmico;
2) anlise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas;
3) defnio das medidas mitigadoras dos impactos negativos;
4) programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos negativos.
Importa frisar que o Estudo de Impacto Ambiental e Relatrio de Impacto ao Meio Am-
biente (EIA/RIMA), enquanto modalidade de Avaliao de Impacto Ambiental, est intima-
mente ligado e condio de validade do prprio procedimento de licenciamento ambiental.
ATIVIDADES
1. Qual a diferena entre Avaliao de Impacto Ambiental (AIA) e Estudo /
Relatrio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)?
2. Qual a diferena entre Estudo e Relatrio de Impacto Ambiental?
3. Qual a fnalidade destes instrumentos (AIA / EIA / RIMA)?
4. De que forma a avaliao de impacto ambiental pode atuar como instrumen-
to de reduo de incertezas?
5. Por que a reduo de incertezas importante para o direito ambiental?
6. Qual a relao existente entre avaliao de impacto ambiental e os princpios
da precauo e preveno?
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 46
26
As questes 5 a 11 foram extradas
da seguinte obra: Antnio F. G. Beltro,
Manual de Direito Ambiental, Editora
Mtodo, 2008, pp. 192-199.
7. Questo do concurso para Procurador do Municpio, Manaus, 2006
26
:
No curso de processos de licenciamento ambiental, o estudo de impacto
ambiental e seu respectivo relatrio (EIA/RIMA):
a. So sempre exigveis.
b. So em princpio exigveis, podendo ser dispensados por livre deciso do
rgo licenciador.
c. So em princpio exigveis, podendo ser dispensados pelo rgo licen-
ciador se o impacto ambiental no for signifcativo.
d. No so em princpio exigveis, mas podem s-lo por livre deciso do
rgo licenciador.
e. No so em princpio exigveis, mas podem s-lo pelo rgo licenciador
se o impacto ambiental for signifcativo.
8. Questo retirada do concurso para Analista Ambiental CPRH/PE, 2006:
Leia as afrmativas que seguem:
a. O empreendedor e os profssionais que subscrevem o Estudo de Impac-
to Ambiental so responsveis pelas informaes apresentadas, sujeitan-
do-se s sanes administrativas, civis e penais.
b. O rgo ambiental competente, apesar de verifcar que a atividade ou
o empreendimento no potencialmente causador de signifcativa de-
gradao ambiental, poder mesmo assim exigir os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
c. obrigatria a elaborao de Estudo de Impacto ambiental para: os
distritos industriais, as estradas de rodagem com duas ou mais faixas de
rolamento, os postos de abastecimento de combustvel, e os gasodutos.
Est(o) incorreta(s) apenas:
a. A afrmativa (a).
b. A afrmativa (b).
c. A afrmativa (c).
d. As afrmativas (a) e (c).
e. As afrmativas (a) e (b).
9. Questo retirada do concurso para Analista Ambiental CPRH/PE, 2006:
Leia as afrmativas que seguem:
a. O RIMA parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental.
b. As diretrizes a serem seguidas para a elaborao do Estudo de Impacto
Ambiental so determinadas exclusivamente pelo rgo competente que
realizar o licenciamento ambiental.
c. Durante o perodo de anlise tcnica, o RIMA deve estar disponvel ao
pblico no rgo ambiental estadual, observado o sigilo industrial.
Est(ao) correta(s)
a. Apenas a afrmativa a.
b. Apenas a afrmativa c.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 47
c. Apenas as afrmativas a e b.
d. Apenas as afrmativas a e c.
e. As afrmativas a, b e c.
10. Questo retirada do concurso para Analista Ambiental CPRH/PE, 2006:
Leia as afrmativas que seguem:
a. Compete ao rgo ambiental estadual exigir Estudo de Impacto Am-
biental dos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos
em mais de um Municpio ou em unidades de conservao de domnio
estadual.
b. Compete ao IBAMA exigir Estudo de Impacto Ambiental dos empre-
endimentos e atividades localizados ou desenvolvidos nas forestas e de-
mais formas de vegetao natural de preservao permanente relaciona-
das no artigo 2 da Lei Federal n. 4.771/65.
c. Em regra, de competncia do rgo ambiental estadual exigir Estudo
de Impacto Ambiental dos empreendimentos e atividades localizados
em dois ou mais Estados.
Est(o) correta(s) apenas:
a. A afrmativa a.
b. A afrmativa b.
c. A afrmativa c.
d. As afrmativas a e b.
e. As afrmativas a e c.
11. Questo retirada do concurso para Analista Ambiental CPRH/PE, 2006
Leia as afrmativas que seguem:
a. O Estudo de Impacto Ambiental dever contemplar alternativas tecno-
lgicas e locacionais, bem como medidas mitigadoras apara a reduo
do impacto ambiental.
b. Independentemente de quem seja o empreendedor, a responsabilidade
pelas despesas de elaborao do Estudo de Impacto Ambiental do Po-
der Pblico.
c. O Estudo de Impacto Ambiental exigvel para todos os licenciamentos
ambientais.
Est(o) correta(s) apenas:
a. A afrmativa a.
b. A afrmativa c.
c. As afrmativas a e b.
d. As afrmativas a e c.
e. As afrmativas b e c.
12. Questo retirada do concurso para Procurador do Estado/PR, 2007:
luz da legislao ordinria vigente em nosso pas, assinale a alternativa
correta:
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 48
a. Compete ao IBAMA exigir a realizao de estudo prvio de impacto
ambiental de atividades de pesquisas com organismos geneticamente
modifcados ou seus derivados.
b. Compete ANVISA exigir a realizao de estudo prvio de impacto
ambiental de atividades de pesquisas com organismos geneticamente
modifcados ou seus derivados.
c. Compete CTNBIO exigir a realizao de estudo prvio de impacto
ambiental de atividades de pesquisas com organismos geneticamente
modifcados ou seus derivados.
d. Compete simultaneamente ao IBAMA, ANVISA e CTNBIO exigir
a realizao de estudo prvio de impacto ambiental de atividades de pes-
quisas com organismos geneticamente modifcados ou seus derivados.
e. Quanto aos aspectos de biossegurana de OGM e seus derivados, a de-
ciso tcnica do CONAMA vincula os demais rgos e entidades da
administrao.
13. Questo do Procurador do Estado/PR, 2007:
Qual o instrumento de controle do Poder Pblico destinado a atestar a
viabilidade ambiental de um empreendimento ou atividade?
a. Relatrio ambiental preliminar.
b. Plano de manejo.
c. Anlise preliminar de risco.
d. Estudo prvio de impacto ambiental.
e. Licena prvia.
14. Questo retirada do exame da OAB/CESPE, 2007.II:
Considerando aspectos relativos proteo administrativa do meio ambien-
te, assinale a opo correta.
a. A legislao brasileira estabelece, em enumerao taxativa, todos os ca-
sos em que a administrao pblica deve exigir do empreendedor a ela-
borao de estudo prvio de impacto ambiental, o qual nunca poder
ser dispensado pelo rgo ambiental.
b. O EIA/RIMA uma das fases do procedimento de licenciamento am-
biental, devendo ser elaborado por equipe tcnica multidisciplinar in-
dicada pelo rgo ambiental competente, cabendo ao empreendedor
recolher administrao pblica o valor correspondente aos seus custos.
c. So instrumentos da Poltica Nacional do Meio Ambiente, entre outros, o
zoneamento ambiental, a avaliao de impactos ambientais e a criao de es-
paos territoriais especialmente protegidos, em reas pblicas ou particulares.
d. A legislao brasileira estabelece, em rol exemplifcativo, os casos em
que a administrao pblica deve solicitar ao empreendedor estudo de
impacto ambiental (EIA). A exigncia, ou no, do EIA est vinculada
ao custo fnal do empreendimento proposto, de acordo com tabela fxa-
da pela administrao pblica.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 49
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, artigo 225, pargrafo 1, inciso IV;
2. Lei 6.938/1981, artigo 6, inciso II e pargrafos 1 e 2 e artigo 9, inciso III;
3. Decreto 99.274/1990, artigo 7;
4. Resolues CONAMA 001/1986 e 237/1997.
Leitura Indicada
MILAR, Edis. Direito do Ambiente. 5 Ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
PP. 354-403.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11 Ed. Rio de Janeiro: Limen Jris,
2008, PP. 253-306.
Doutrina
A implantao de qualquer atividade ou obra efetiva ou potencialmente degradadora
deve submeter-se a uma anlise e controle prvios. Tal anlise se faz necessria para se ante-
verem os riscos e eventuais impactos ambientais a serem prevenidos, corrigidos, mitigados e/
ou compensados quando da sua instalao, da sua operao e, em casos especfcos, do encer-
ramento das atividades.
(dis Milar, Direito do Ambiente, 5 edio, Revista dos Tribunais, 2007, p. 354.)
Jurisprudncia
Requerente: Procurador-Geral da Repblica vs. Requerido: Assemblia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, Ao Direta de Inconstitucionalidade n. 1.086-7, Tribu-
nal Pleno, STF, Julgamento 7/Jun./2001, DJ 10/Ago./2001.
Ementa
AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 182 DA
CONSTITUIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTUDO DE IMPAC-
TO AMBIENTAL. CONTRARIEDADE AO ART. 225, 1, IV, DA CARTA DA
REPBLICA.
A norma impugnada, ao dispensar a elaborao de estudo prvio de impacto am-
biental no caso de reas de forestamento ou reforestamento para fns empresariais, cria
exceo incompatvel com o disposto no mencionado inciso IV, do 1 do artigo 225
da Constituio Federal.
Ao julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo cons-
titucional catarinense sob enfoque.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 50
27
MILAR, 404.
AULA 9. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A partir do momento em que as externalidades ambientais passam a ser reguladas
pelos ordenamentos jurdicos nacionais, surge a necessidade de desenvolvimento e im-
posio de um sistema de controle administrado e de gesto pblica. A avaliao de im-
pacto ambiental um dos elementos deste sistema. Aps o levantamento e averiguao
das externalidades negativas ambientais e como meio de controle do bem ambiental, o
Poder Pblico institui licenas ou autorizaes concedidas e impostas precariamente
atividade econmica, visando consagrao dos princpios de direito ambiental.
Esta mudana de paradigma emblemtica. Signifca reconhecer que a atividade
econmica j no mais se encontra livre para explorar os recursos naturais. o reconhe-
cimento de que o desenvolvimento somente ser admitido se sustentvel for. Para tanto,
a legislao brasileira impe um sistema de licenciamento ambiental que se traduz em
autorizaes de planejamento prvio, instalao e operao, desde que verifcadas as
melhores prticas ambientais, ou seja, aquelas que no violem os princpios consagrados
pelo artigo 225 da Carta da Repblica. Como as melhores prticas ambientais esto
intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento cientfco e tecnolgico, s circunstncias
de fato, tempo e modo, as licenas ambientais so provisrias, devendo ser renovadas
periodicamente. Milar
27
, resume o licenciamento ambiental nas seguintes palavras:
Segundo a lei brasileira, o meio ambiente qualifcado como patrimnio
pblico a ser necessariamente assegurado e protegido para uso da coletividade
ou, na linguagem do constituinte, bem de uso comum do povo, essencial sa-
dia qualidade de vida. Pode ser de todos em geral e de ningum em particular,
inexiste direito subjetivo sua utilizao, que, evidncia, s pode legitimar-se
mediante ato prprio de seu direto guardio o Poder Pblico.
Para tanto, arma-o a lei de uma srie de instrumentos de controle prvios,
concomitantes e sucessivos atravs dos quais possa ser verifcada a possibilidade
e regularidade de toda e qualquer interveno projetada sobre o meio ambiente
considerado. Assim, por exemplo, as permisses, autorizaes e licenas pertencem
famlia dos atos administrativos de controle prvio; a fscalizao meio de
controle concomitante; e o habite-se a forma de controle sucessivo.
O dispositivo legal prevendo o licenciamento ambiental para atividades consideradas
efetiva e potencialmente degradadoras do meio ambiente o art. 10, da Lei 6.938/81,
in verbis:
A construo, instalao, ampliao e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e poten-
cialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradao ambiental, dependero de prvio licenciamento de rgo estadual
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis
IBAMA, em carter supletivo, sem prejuzo de outras licenas exigveis.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 51
28
MACHADO, 273.
Em relao competncia para o licenciamento ambiental, o art. 10 expresso ao
determinar ao rgo estadual e, ao IBAMA, em carter suplementar ou para obras com
signifcativo impacto ambiental de mbito nacional ou regional.
No h qualquer previso legal acerca da atuao municipal. Porm, conforme inter-
pretao dos arts. 23 e 30 da CF/88 exposto em tpico especfco deste material, diversos
municpios reivindicaram e elaboraram regras prprias para o licenciamento ambiental.
Em muitos casos, a falta de critrios claros e precisos faz com que no raras so as
vezes empreendimentos passem pela avaliao simultnea ou sucessiva de diferentes
rgos dos trs entes da Federao. Em recente acrdo, o STJ admitiu, inclusive, a
possibilidade de duplo licenciamento. Este posicionamento tambm no estranho
doutrina. Segundo Machado
28
:
A lei federal ordinria no pode retirar dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municpios poderes que constitucionalmente lhes so atribudos. Assim,
de se entender que o art. 10 da Lei 6.938/81 (Lei da Poltica Nacional do Meio
Ambiente) no estabeleceu licenas ambientais exclusivas do IBAMA Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renovavis, porque
somente uma lei complementar poderia faz-lo (art. 23, pargrafo nico, da CF);
e nem a Resoluo CONAMA 237/1997 poderia estabelecer um licenciamento
nico. Enquanto no se elaborar essa lei complementar estabelecendo normas
para cooperao entre essas pessoas jurdicas, vlido sustentar que todas elas,
ao mesmo tempo, tm competncia e interesse de intervir nos licenciamentos
ambientais. No federalismo, a Constituio Federal, mais do que nunca, a fonte
das competncias, pois caso contrrio a cooperao entre os rgos federados aca-
baria esfacelada, prevalecendo o mais forte ou o mais estruturado politicamente.
Para melhor compreenso da passagem acima transcrita, importante frisar que a
Res. CONAMA 237/97 disps em seu art. 7 que os empreendimentos e atividades
sero licenciados em um nico nvel de competncia, conforme estabelecido nos artigos
anteriores. No entanto, na prtica, este mecanismo no capaz de resolver os confitos
de competncia entre os diferentes rgos dos entes Federados.
Outros dispositivos da citada resoluo tentam resolver o problema da defnio de
competncia em matria ambiental. Assim, reconhece o prembulo da Res. 237/97:
Considerando a necessidade de ser estabelecido critrio para exerccio da
competncia para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei n
o
6.938, de
31 de agosto de 1981;
Alm disso, reconheceu a competncia municipal:
Art. 6. Compete ao rgo ambiental municipal, ouvidos os rgos compe-
tentes da Unio, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licencia-
mento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e
daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convnio.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 52
Ao IBAMA, disps a Res. 237/97, em seu art. 4:
Art. 4 Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renovveis IBAMA, rgo executor do SISNAMA, o licencia-
mento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei n 6.938, de 31 de agosto de
1981, de empreendimentos e atividades com signifcativo impacto ambiental de
mbito nacional ou regional, a saber:
I localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em pas limtro-
fe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econmica exclusiva;
em terras indgenas ou em unidades de conservao do domnio da Unio.
II localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do
Pas ou de um ou mais Estados;
IV destinados a pesquisar, lavrar, produzir, benefciar, transportar, arma-
zenar e dispor material radioativo, em qualquer estgio, ou que utilizem energia
nuclear em qualquer de suas formas e aplicaes, mediante parecer da Comisso
Nacional de Energia Nuclear CNEN;
V bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legis-
lao especfca.
1 O IBAMA far o licenciamento de que trata este artigo aps conside-
rar o exame tcnico procedido pelos rgos ambientais dos Estados e Municpios
em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber,
o parecer dos demais rgos competentes da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios, envolvidos no procedimento de licenciamento.
2 O IBAMA, ressalvada sua competncia supletiva, poder delegar aos
Estados o licenciamento de atividade com signifcativo impacto ambiental de
mbito regional, uniformizando, quando possvel, as exigncias.
Ao rgo ambiental estadual, reservou o art. 5, incs. I a IV e nico, a seguinte
competncia:
Compete ao rgo ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamen-
to ambiental dos empreendimentos e atividades:
I localizados ou desenvolvidos em mais de um Municpio ou em unidades
de conservao de domnio estadual ou do Distrito Federal;
II localizados ou desenvolvidos nas forestas e demais formas de vegetao
natural de preservao permanente relacionadas no artigo 2 da Lei n 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por
normas federais, estaduais ou municipais;
III cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de
um ou mais Municpios;
IV delegados pela Unio aos Estados ou ao Distrito Federal, por instru-
mento legal ou convnio.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 53
Pargrafo nico. O rgo ambiental estadual ou do Distrito Federal far o
licenciamento de que trata este artigo aps considerar o exame tcnico proce-
dido pelos rgos ambientais dos Municpios em que se localizar a atividade
ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais rgos
competentes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, en-
volvidos no procedimento de licenciamento.
Importante salientar que, segundo o art. 20 da Res. 237/97, a condio para que
o ente Federado possa exercer a competncia licenciatria, terem implementados os
Conselhos de Meio Ambiente, com carter deliberativo e participao social e, ainda,
possuir em seus quadros ou a sua disposio profssionais legalmente habilitados.
De acordo com a natureza do empreendimento, portanto, o licenciamento pode
passar pela anlise de diferentes rgos do mesmo ente da Federao (forestal, gua,
sade, infra-estrutura, trnsito) e tambm de rgos de outros entes da Federao. Ou-
tro requisito imposto pelo art. 10, 1, da Res. 237/97, a de que
No procedimento de licenciamento ambiental dever constar, obrigatoria-
mente, a certido da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de
empreendimento ou atividade esto em conformidade com a legislao aplicvel
ao uso e ocupao do solo e, quando for o caso, a autorizao para supresso de
vegetao e a outorga para o uso da gua, emitidas pelos rgos competentes.
Conforme narrado anteriormente, o sistema de licenciamento ambiental no Brasil
trifsico. As trs fases vm descritas pelo art. 8, da Res. 237/97 (e que no diferem das
previstas pela Lei 6.938/81 e do seu Dec. Regulamentador, 99.274/90) da seguinte forma:
I Licena Prvia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade aprovando sua localizao e concepo, ates-
tando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos bsicos e condicio-
nantes a serem atendidos nas prximas fases de sua implementao;
II Licena de Instalao (LI) autoriza a instalao do empreendimento
ou atividade de acordo com as especifcaes constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais con-
dicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III Licena de Operao (LO) autoriza a operao da atividade ou
empreendimento, aps a verifcao do efetivo cumprimento do que consta das
licenas anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes de-
terminados para a operao.
Pargrafo nico As licenas ambientais podero ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, caractersticas e fase do empreendi-
mento ou atividade.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 54
Alm destas, o CONAMA ainda pode defnir licenas ambientais especfcas de
acordo com a natureza, caractersticas e peculiaridades da obra, e a respectiva compati-
bilizao com as etapas de implantao e operao.
Por ser um procedimento complexo e multifsico, o licenciamento ambiental bra-
sileiro passa por diferentes etapas, nem sempre tranqilas, aumentando a insegurana
dos investimentos dos setores produtivos. Este rito vem detalhado pelo art. 10, da
Res. 237/97:
Art. 10 O procedimento de licenciamento ambiental obedecer s seguin-
tes etapas:
I Defnio pelo rgo ambiental competente, com a participao do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessrios ao
incio do processo de licenciamento correspondente licena a ser requerida;
II Requerimento da licena ambiental pelo empreendedor, acompanhado
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida
publicidade;
III Anlise pelo rgo ambiental competente, integrante do SISNAMA,
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realizao de
vistorias tcnicas, quando necessrias;
IV Solicitao de esclarecimentos e complementaes pelo rgo am-
biental competente, integrante do SISNAMA, uma nica vez, em decorrncia
da anlise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando
couber, podendo haver a reiterao da mesma solicitao caso os esclarecimentos
e complementaes no tenham sido satisfatrios;
V Audincia pblica, quando couber, de acordo com a regulamentao
pertinente;
VI Solicitao de esclarecimentos e complementaes pelo rgo ambien-
tal competente, decorrentes de audincias pblicas, quando couber, podendo
haver reiterao da solicitao quando os esclarecimentos e complementaes
no tenham sido satisfatrios;
VII Emisso de parecer tcnico conclusivo e, quando couber, parecer
jurdico;
VIII Deferimento ou indeferimento do pedido de licena, dando-se a
devida publicidade.
Para os empreendedores que tenham implantado planos e programas voluntrios de
gesto ambiental como, por exemplo, o ISO 1400, o art. 12 3, da Res. 237/97 prev
critrios de agilizao e simplifcao dos procedimentos de licenciamento ambiental.
Esses critrios incluem:
1) Dispensa ou simplifcao das auditorias ambientais, nos Estados em que a
mesma obrigatria;
2) Reduo dos custos relacionados ao licenciamento;
3) Aumento dos prazos relativos s licenas ambientais;
4) Simplifcao dos estudos ambientais inerentes ao processo de licenciamento.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 55
A Resoluo prev ainda que os custos do rgo ambiental correm por conta do em-
preendedor. Esses custos podem alcanar elevadas somas. Para ampliar a transparncia
dos custos de anlise do licenciamento, devero as despesas ser estabelecidas por dispo-
sitivo legal e facultando ao empreendedor o acesso s planilhas de custos.
Para anlise do pedido de licena, instituiu a Resoluo prazo mximo de seis meses,
ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audincia pblica. Nesses casos, o
prazo ser de doze meses.
Os esclarecimentos necessrios devem ser prestados pelo empreendedor em prazo
mximo de quatro meses. Os prazos podem ser fexibilizados, desde que haja concor-
dncia do rgo ambiental e do empreendedor.
A no observncia dos prazos acarreta em:
Art. 16 O no cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15,
respectivamente, sujeitar o licenciamento ao do rgo que detenha com-
petncia para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu
pedido de licena.
Art. 17 O arquivamento do processo de licenciamento no impedir a
apresentao de novo requerimento de licena, que dever obedecer aos procedi-
mentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de anlise.
Os prazos das licenas ambientais so estipulados pelo art. 18, da Res. 237/97:
I O prazo de validade da Licena Prvia (LP) dever ser, no mnimo, o esta-
belecido pelo cronograma de elaborao dos planos, programas e projetos relati-
vos ao empreendimento ou atividade, no podendo ser superior a 5 (cinco) anos.
II O prazo de validade da Licena de Instalao (LI) dever ser, no mni-
mo, o estabelecido pelo cronograma de instalao do empreendimento ou ativi-
dade, no podendo ser superior a 6 (seis) anos.
III O prazo de validade da Licena de Operao (LO) dever considerar
os planos de controle ambiental e ser de, no mnimo, 4 (quatro) anos e, no
mximo, 10 (dez) anos.
As regras para prorrogao dos prazos para cada licena e o rito para renovao vm
expresso pelos 1 a 4, do art. 18 da Res. 237/97.
Pelo princpio da autonomia dos entes Federados, os Estados, Municpios e Distrito
Federal no esto adstritos aos prazos estabelecidos pela retro citada Res. 237/97.
De acordo com o art. 19 da Res. 237/97, o rgo ambiental competente tem poderes
para suspender ou cancelar as licenas ambientais. Este ato vinculado s hipteses de:
1) violao ou inadequao de quaisquer condicionantes ou normas legais;
2) omisso ou falsa descrio de informaes relevantes que subsidiaram a expe-
dio da licena; e
3) supervenincia de graves riscos ambientais e de sade.
Com o advento da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) passou-se a criminali-
zar as atividades sem a respectiva licena ambiental.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 56
ATIVIDADES
1. Durante a vigncia de uma licena ambiental, possvel a modifcao dos
seus termos, suspenso e/ou cancelamento? Explique. Em caso positivo,
quem deve arcar com os custos inerentes adaptao da licena?
2. Quais so os tipos de licenas previstas pelo ordenamento jurdico ambiental
brasileiro?
3. Qual a repercusso que o conceito de licena para o direito administrativo
pode ter para a licena ambiental?
4. No caso de modifcao, suspenso e/ou cancelamento de licena ambiental
vigente, cabe ao empreendedor ser indenizado pelos danos materiais e/ou
morais decorrentes? Explique.
5. Questo retirada do concurso para Defensor Pblico SP, 2006:
A concesso de licena ambiental no prev a obrigatoriedade de audincia
pblica, exceto quando o rgo competente para a concesso da licena jul-
gar necessrio ou quando sua realizao for solicitada pelo Ministrio Pbli-
co ou requerido ao rgo ambiental por
a. Pelo menos 0,5% de cidados do municpio atingido.
b. Mais de 1% dos cidados residentes no municpio atingido.
c. Pelo menos 1% de eleitores do municpio atingido.
d. Mais de cem eleitores.
e. Cinqenta ou mais cidados.
Questo retirada do concurso para Defensor Pblico SP, 2006:
O licenciamento ambiental feito em trs etapas distintas, conforme a ou-
torga das seguintes licenas: a prvia, a de instalao e a de operao. A licen-
a de instalao NO poder ultrapassar
a. 10 anos.
b. 6 anos.
c. 5 anos.
d. 3 anos.
e. 2 anos.
6. Questo retirada do concurso da CESPE para Juiz Federal Substituto TRF 5
Regio:
Em virtude da concesso de licena de operao a uma usina hidreltrica, nas
proximidades de um municpio, cujo grande apelo turstico era a existncia
de um lenol fretico de guas quentes, foi constatado que o funcionamento
da usina poderia vir a causar o resfriamento de seu lenol aqfero termal. Os
tcnicos do rgo licenciador estadual constataram ainda que o resfriamento
do aqfero poderia trazer conseqncias no apenas ao municpio vizinho,
mas tambm a outras cidades, localizadas em unidade da federao confron-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 57
tante. Considerando o texto acima como referncia inicial, julgue os itens
que se seguem.
a. Na hiptese aventada, na qual existe uma situao de incerteza quanto
real efetivao dos danos ambientais, o rgo licenciador competente no
pode, por meio do seu poder de poltica, criar novas restries ambientais,
nem mesmo aludindo ao princpio da precauo.
b. A ausncia da participao do IBAMA no procedimento de concesso
de licena de operao enseja uma irregularidade, j que seria necessria a
participao dessa autarquia federal como rgo de proteo ambiental com-
petente, tendo em vista no somente que a potencialidade lesiva abrange
diretamente mais de um Estado federativo, mas tambm porque cabe ao
IBAMA o exerccio do poder de polcia quando as questes ambientais en-
volvam bens da Unio, como no caso em comento, haja vista que os recursos
minerais do subsolo pertencem Unio.
7. Questo retirada do concurso para Procurador do Estado/PR, 2007:
Assinale a alternativa incorreta:
a. Os estudos necessrios ao processo de licenciamento ambiental devero ser re-
alizados por profssionais legalmente habilitados, s expensas do empreendedor.
b. O licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto
ambiental local compete ao rgo ambiental municipal, ouvidos os rgos
competentes da Unio, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber.
c. Compete ao rgo ambiental estadual o licenciamento ambiental de em-
preendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos ao longo de rios,
ainda que de domnio federal.
d. Compete ao IBAMA o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades com signifcativo impacto ambiental localizadas em Estados que
sejam limtrofes a outros pases.
e. Pode o rgo ambiental competente, mediante deciso motivada, modi-
fcar as condicionantes e as medidas de controle e adequao, bem como
suspender ou cancelar uma licena expedida, quando ocorrer supervenincia
de graves riscos ambientais e de sade.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Lei 6.938/1981;
2. Decreto 99.274/1990;
3. Resolues CONAMA 001/1986, 23/94 e 237/1997.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 58
29
Os autores discorrem sobre o processo
de licenciamento ambiental, abordan-
do aspectos como a discricionariedade
do rgo ambiental e a relao com o
direito administrativo.
Doutrina
Sidney Guerra & Srgio Guerra,
29
Curso de Direito Ambiental, Editora Frum
(2009), pp. 243-270.
Jurisprudncia
Recorrente: Superintendncia do Porto de Itaja vs. Recorrido: Ministrio Pblico
Federal, pp. 10-30, Recurso Especial n. 588.022-SC (2003/0159754-5), 1 Turma,
STJ, Julgamento 17/Fev./2004, DJ 5/Abr./2004.
Ementa
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AO CIVIL PBLICA. DESASSO-
REAMENTO DO RIO ITAJA-AU. LICENCIAMENTO. COMPETNCIA DO
IBAMA. INTERESSE NACIONAL.
1. Existem atividades e obras que tero importncia ao mesmo tempo para a Nao
e para os Estados e, nesse caso, pode at haver duplicidade de licenciamento.
2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princpios do direito am-
biental deve receber soluo em prol do ltimo, haja vista a fnalidade que este tem de
preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central proteger
patrimnio pertencente s presentes e futuras geraes.
3. No merece relevo a discusso sobre ser o Rio Itaja-Au estadual ou federal. A
conservao do meio ambiente no se prende a situaes geogrfcas ou referncias
histricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fron-
teiras polticas. Os bens ambientais so transnacionais. A preocupao que motiva a
presente causa no unicamente o rio, mas, principalmente, o mar territorial afetado.
O impacto ser considervel sobre o ecossistema marinho, o qual receber milhes de
toneladas de detritos.
4. Est diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itaja-Au toda a zona
costeira e o mar territorial, impondo-se a participao do IBAMA e a necessidade de
prvios EIA/RIMA. A atividade do rgo estadual, in casu, a FATMA, supletiva.
Somente o estudo e o acompanhamento aprofundado da questo, atravs dos rgos
ambientais pblicos e privados, poder aferir quais os contornos do impacto causado
pelas dragagens no rio, pelo depsito dos detritos no mar, bem como, sobre as correntes
martimas, sobre a orla litornea, sobre os mangues, sobre as praias, e, enfm, sobre o
homem que vive e depende do rio, do mar e do mangue nessa regio.
5. Recursos especiais improvidos.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 59
30
State of Michigans Of cial Websi-
te, Glossary of Environmental Terms,
available at http://www.michigan.
gov/documents/GLOSSARYOFTERMS-
Sept13-2005_136497_7.pdf (last
visited August 18, 2009).
31
State of Michigans Of cial Websi-
te, Glossary of Environmental Terms,
available at http://www.michigan.
gov/documents/GLOSSARYOFTERMS-
Sept13-2005_136497_7.pdf (last visi-
ted August 18, 2009).
32
No Brasil, o conceito legal de meio
ambiente como o conjunto os elemen-
tos biticos e abiticos vem disposto
na Lei da Poltica Nacional do Meio
Ambiente (6.938/1981), artigo 3, inc.
I: (...) o conjunto de condies, leis,
infuncias e interaes de ordem fsica,
qumica e biolgica, que permite, abriga
e rege a vida em todas as suas formas;
MDULO III. TUTELAS ESPECFICAS DO MEIO AMBIENTE
Conforme relatado nos mdulos anteriores, o bem ambiental complexo, pois que
composto por diversos elementos biticos e abiticos. So elementos biticos o conjun-
to de todos os seres e organismos vivos naturalmente presentes em um mesmo ambiente
e que so mutuamente interdependentes e sustentados. Abiticos so os elementos fsi-
cos e qumicos no vivos e que compem o ambiente, como a gua, rochas e minerais,
por exemplo.
30
O conjunto e a interao dos elementos biticos e abiticos forma o
meio ambiente natural, objeto de estudo da ecologia
31
e hodiernamente da prpria
tutela jurdica ambiental.
32
Se por um lado o direito ambiental apresenta princpios
formadores e especfcos, peculiaridades em relao forma de responsabilizao de
eventual dano em face da prpria complexidade do bem a que se prope tutelar, por
outro, a especifcidade dos elementos que compem o meio ambiente atrai a necessida-
de da diviso da macro tutela em disciplinas especfcas para efeitos didticos e melhor
adequao realidade ftica. Esta necessidade impe o desenvolvimento de uma intrin-
cada rede normativa nas trs esferas da federao, diante da competncia concorrente
prevista pela Constituio Federal para a tutela do meio ambiente.
O ordenamento jurdico ao diferenciar o tratamento dispensado ao bem ambien-
tal conforme a sua natureza, consegue proporcionar maior efccia no cumprimento
dos objetivos propostos em cada tipo de legislao. Por outro lado, o tratamento legal
dispensado a um determinado bem ambiental deve sempre considerar o conjunto dos
demais que compe a totalidade do meio ambiente. Isto porque, fora do campo me-
ramente legislativo ou didtico, no campo da natureza e da ecologia, a interveno na
fora quase sempre refetir na fauna, assim como a interveno no ar pode refetir na
gua, por exemplo, e assim sucessivamente. Em razo da impossibilidade do isolamento
prtico do conjunto de bens ambientais, a tutela especfca deve sempre ser aplicada e
interpretada luz dos princpios constitucionais e preceitos legislativos federais gerais.
Assim, os principais objetivos deste mdulo so:
Entender a evoluo histrico-legislativa do tratamento dos recursos hdricos
no Brasil.
Conhecer a legislao aplicvel e instituies responsveis pela gesto das guas.
Entender o regime de competncias legislativa e material, classifcao das guas
e do uso da gua.
Distinguir a cobrana pelo uso da gua da cobrana pelo servio de distribuio
da gua.
Analisar a racionalidade da cobrana da gua.
Distinguir polticas de alocao de polticas para evitar poluio das guas.
Trabalhar a aplicao da doutrina a casos concretos envolvendo confitos sobre
direito de uso da gua.
Entender as funes e relaes da qualidade do ar com a sade da populao e
sadio funcionamento de sistemas ecolgicos diversos.
Compreender o tratamento da matria pelo ordenamento jurdico brasileiro.
Identifcar os principais gases responsveis pela poluio atmosfrica.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 60
Analisar a importncia da defnio de padres de qualidade do ar nacionais em
um contexto internacional.
Examinar as instituies responsveis pela execuo de polticas de qualidade
do ar e legislao aplicvel. Trabalhar problemas prticos.
Compreender os diferentes tipos de reas protegidas
Diferenciar as reas protegidas do Cdigo Florestal das do Sistema Nacional de
Unidades de Conservao
Trabalhar os fundamentos e principais instrumentos do SNUC.
Distinguir as unidades de proteo integral das de uso sustentvel
Analisar o regime jurdico das unidades de conservao listadas pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservao
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 61
AULA 10. REAS PROTEGIDAS (CDIGO FLORESTAL)
O Cdigo Florestal, em seu art. 1, estabelece que as forestas existentes no terri-
trio nacional e as demais formas de vegetao so bens de interesse comum a todos
os habitantes do Pas, prevendo ainda que a sua proteo servir como limitadora dos
direitos de propriedade, conforme as disposies da legislao em geral e especialmente
do Cdigo Florestal.
Assim, a lei prev proteo para outras reas especialmente protegidas que so esta-
belecidas pelo Cdigo Florestal, so estas: (i) reas de Preservao Permanente (APP) e
(ii) Reserva Florestal Legal.
As reas de Preservao Permanente (APP) so territrios protegidos de acordo com
os artigos 2 e 3 do Cdigo Florestal, cobertos ou no por vegetao nativa, com
objetivo de preservar as forestas de forma indireta, na medida em que a sua proteo
recai sobre outros atributos. A APP tem funo primordial de garantia de preservao e
conservao de recursos ambientais acessrios e/ou servios ambientais que dependem
da sua existncia. Assim, so exemplos das funes da APP: garantir a qualidade e a
quantidade dos recursos hdricos; os atributos da paisagem; a estabilidade ecolgica
dos diferentes ecossistemas; a preservao da biodiversidade; o fuxo gnico de fauna e
fora, o solo, entre outras. E, de forma indireta, a APP desenvolve papel de preservao
da vegetao existente dentro dos limites de proteo defnidos pelo Cdigo Florestal.
Essa interpretao decorre da previso do art. 1, 2, inciso II do Cdigo Florestal,
que assim dispe:
rea de preservao permanente: rea protegida nos termos nos termos dos
artigos 2 e 3 desta Lei, coberta ou no por vegetao nativa, com a funo
ambiental de preservar os recursos hdricos, paisagem, a estabilidade geolgica, a
biodiversidade, o gnico de fauna e fora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populaes humanas.
Existem dois tipos de APPs: (i) rea de preservao permanente por imposio legal,
previstas pelo artigo 2 do Cdigo Florestal; e (ii) rea de preservao permanente por
ato do poder pblico, cujas hipteses esto previstas no artigo 3 da referida legislao.
Cabe destacar que a primeira espcie de APP (por imposio legal) basta existir para
receber proteo legal. J a segunda forma de APP, depende de ato do Poder Pblico
para que seja declarada como rea protegida. Importa ressaltar que a hiptese do artigo
3 do Cdigo Florestal no consiste em faculdade do Poder Pblico, ou seja, identifca-
da rea que constitua algumas das hipteses previstas no artigo, o Poder Pblico tem o
dever de declar-las como dignas de proteo. Essa constatao apresenta refexos pr-
ticos importantes. Por exemplo: na concepo de projetos imobilirios sobre reas que
podem estar sujeitas declarao de preservao permanente pelo Poder Pblico, devem
contemplar o risco de impugnao judicial de eventual licena ambiental concedida
para o empreendimento sobre rea sujeita s hipteses do art. 3, do Cdigo Florestal.
Importante assunto a ser explorado diz respeito supresso das forestas de preser-
vao permanente. De acordo com os artigos 3, 1, e 4 do Cdigo Florestal, a su-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 62
presso de vegetao em rea de preservao permanente somente poder ser autorizada
em caso de utilidade pblica ou de interesse social, quando inexistir alternativa tcnica
e locacional ao empreendimento proposto. A Constituio Federal tambm traz requi-
sitos a serem observados na supresso da vegetao dessa rea. Segundo o artigo 225,
1, inciso III, da CF/88:
1 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Pblico:
III defnir, em todas as unidades da Federao, espaos territoriais e seus com-
ponentes a serem especialmente protegidos, sendo a alterao e a supresso permitidas
somente atravs de lei, vedada qualquer utilizao que comprometa a integridade dos atri-
butos que justifquem sua proteo;
Diante dos dispositivos constitucionais e legais citados possvel afrmar que a su-
presso de vegetao de reas de preservao permanente somente poder ser autorizada
se os seguintes requisitos forem cumpridos:
1. Lei autorizativa requisito constitucional (art. 225, 1, inciso III, pri-
meira parte);
2. A supresso no pode comprometer a integridade dos atributos que justi-
quem a criao da rea protegida requisito constitucional (art. 225, 1,
inciso III, segunda parte);
3. A supresso deve ser de utilidade pblica (artigo 1, IV, do Cdigo Flores-
tal) ou de interesse social (artigo 1, V, do Cdigo Florestal) requisito
legal (artigo 4 do Cdigo Florestal);
4. Vericada a inexistncia de alternativa tcnica e locacional ao empreendi-
mento proposto requisito legal (artigo 4 do Cdigo Florestal).
Vale destacar que o primeiro requisito elencado, qual seja, lei autorizativa, para a
alterao ou supresso de vegetao da rea de preservao permanente prevista pelo
artigo 3 do Cdigo Florestal (rea de preservao por ato do poder pblico), consiste
no prprio Cdigo Florestal, que em seus artigos 3, 1, e 4, traz requisitos a serem
observados para autorizar a supresso.
dis Milar e Paulo de Bessa Antunes defendem tal posicionamento: Tal como
alvitrou Paulo de Bessa Antunes, parece-nos que a lei autorizativa para uma eventual
alterao ou supresso das forestas de preservao estabelecidas pelo art. 3 o prprio
Cdigo Florestal. E, portanto, no h necessidade de uma lei especfca que autorize
uma supresso de uma foresta de preservao permanente por ato do Poder Executivo.
(...) Diferente a situao das reas de preservao permanente estabelecidas pelo art.
2 do Cdigo Florestal, que somente podero ser alteradas por lei formal, em razo da
hierarquia legislativa.
Quanto ao segundo requisito, importa mencionar que o instrumento responsvel
por avaliar se a alterao ou supresso da vegetao de rea de preservao permanente
vai comprometer ou no os atributos que justifquem a sua criao o estudo de im-
pacto ambiental.
Outro ponto a justifcar a recepo das hipteses de supresso de APP pelo art. 4
do Cdigo Florestal, residiria na natureza de preservao e conservao dessas reas
apenas de forma indireta. A racionalidade da poltica conservacionista no caso das APPs
e da Reserva Legal seria diferenciada das reas protegidas pela Lei n. 9.985/2000, que
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 63
33
MILAR, dis. Direito do ambiente:
doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5
ed. ref., atual. e ampl. So Paulo: Edito-
ra dos Tribunais, 2007. P. 651.
34
Paulo de Bessa Antunes. Poder Judici-
rio e reserva legal: anlise de recentes
decises do Superior Tribunal de Justi-
a.Revista de Direito Ambiental. So
Paulo: RT, n. 21, p. 120, 2001.
dispe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservao (SNUC). Esse diploma
sistematiza reas de proteo com funo primordial de conservao e preservao dos
recursos, bens e servios ambientais existentes ou que ocorrem dentro dos limites da
unidade de conservao. Essa diferena seria o sufciente para fazer com que as reas
protegidas pelo artigo 225, 1, inc. III, da CF/88, se limitassem quelas constantes
do Sistema Nacional de Unidades de Conservao. dis Milar
33
se refere a esse fator
distintivo classifcando as reas protegidas do Cdigo Florestal como lato sensu e as do
SNUC como reas protegidas stricto sensu.
(...) no conceito de espaos territoriais especialmente protegidos, em sentido
estrito (stricto sensu), tal qual enunciado na Constituio Federal, se subsumem
apenas as Unidades de Conservao tpicas, isto , previstas expressamente na
Lei 9.985/2000 e, de outra sorte, aquelas reas que, embora no expressamente
arroladas, apresentam caractersticas que se amoldam ao conceito enunciado no
art. 2, I, da referida Lei 9.985/2000, que seriam ento chamadas de Unidades
de Conservao atpicas.
Por outro lado, constituiriam espaos territoriais especialmente protegidos,
em sentido amplo (lato sensu), as demais reas protegidas, como, por exemplo, as
reas de Preservao Permanente e as Reservas Florestais Legais (disciplinadas pela
Lei 4.771/1965 Cdigo Florestal) e as reas de Proteo Especial (previstas na
Lei 6.766/1979 Parcelamento do Solo Urbano), que tenham fundamentos e
fnalidades prprias e distintas das Unidades de Conservao.
No tocante s reservas legais, so reas localizadas dentro de uma propriedade ou
posse rural, fundamentais ao uso sustentvel dos recursos naturais, conservao e
reabilitao dos processos ecolgicos, ao abrigo e proteo da fauna e fora nativas e
conservao da biodiversidade, conforme determina o art. 1, 2, inciso III do
Cdigo Florestal. Trata-se de uma forma de restrio explorao econmica da pro-
priedade, tendo em vista a preservao de interesses ecolgicos. Assim dispe o referido
dispositivo:
Reserva Legal: rea localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, exce-
tuada a de preservao permanente, necessria ao uso sustentvel dos recursos naturais,
conservao e reabilitao dos processos ecolgicos, conservao da biodiversidade e
ao abrigo e proteo de fauna e fora nativas.
Portanto, aplica-se raciocnio semelhante ao fundamento da preservao das referi-
das reas ao aplicado anteriormente s APPs. Ou seja, a reserva legal tem uma funo
direta de proteo e conservao dos bens e servios ambientais acessrios existncia
da vegetao que se encontra propriamente protegida pelos limites da reserva legal. Isso
no quer dizer, todavia, tal como no caso das APPs, que a rea compreendida pelos
limites da reserva legal no sejam diretamente benefciadas com tal proteo.
Para Paulo de Bessa Antunes
34
, a reserva legal uma obrigao que recai direta-
mente sobre o proprietrio do imvel, independentemente de sua pessoa ou da forma
pela qual tenha adquirido a propriedade; desta forma ela est umbilicalmente ligada
prpria coisa, permanecendo aderida ao bem.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 64
35
Parte do art. 1 do Cdigo Flores-
tal Lei 4.771, de 15.9.1965 (DOU
16.9.1965).
As duas reas especialmente protegidas no se confundem, pois o local a ser defnido
como reserva legal no pode ser protegido por outro ttulo, como rea de preservao
permanente. Assim, propriedades que possuam reas de proteo permanente tero que
escolher outro local para indicar como reserva legal.
No entanto, o Cdigo Florestal admite uma hiptese excepcional em que reas re-
lativas vegetao nativa existente em rea de preservao permanente podero fazer
parte do clculo do percentual da reserva legal. Ta situao, prevista no art. 16, 6,
do Cdigo Florestal, ser possvel somente nos casos em que no ocorrer converso de
novas reas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetao nativa em rea
de preservao permanente e reserva legal exceder os percentuais previsto no referido
dispositivo legal. O objetivo desta previso legal foi evitar uma excessiva restrio no
direito de propriedade daqueles proprietrios de imveis rurais que j possuem vastas
reas protegidas pelo ttulo de rea de preservao permanente.
ATIVIDADES EXERCCIOS DISCURSIVOS POR UNIDADE
1. A vegetao localizada em reas de preservao permanente pode ser supri-
mida? Caso positivo, de que forma? Justifque com base nos dispositivos
legais e constitucionais pertinentes.
2. Acerca das chamadas reas de preservao permanente, descritas no artigo
2 da Lei 4.771/65, responda os itens abaixo:
a. Qual a natureza jurdica das referidas reas?
b. Podem as mencionadas reas ser conceituadas como uma das categorias
dos espaos territoriais especialmente protegidos a que alude o inciso
III do 1 do art. 225 da Constituio da Repblica?
3. O comprador de propriedade rural sem a averbao de reserva legal pode ser
responsabilizado pelas autoridades competentes pelo prejuzo causado pelo
vendedor? Justifque.
4. Se a propriedade for anterior ao Cdigo Florestal, est o proprietrio obriga-
do a cumprir com as restries impostas pela reserva legal? Justifque.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
Constituio Federal, artigo 225, 1, inc. III
Lei 4.771/1965 (Cdigo Florestal)
Doutrina
As forestas existentes no territrio nacional e as demais formas de vegetao so bens de
interesse comum a todos os habitantes do Pas.
35
O Cdigo Florestal antecipou-se noo de
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 65
36
Citao parcial do art. 1, da MP
2.166-67/2001.
interesse difuso, e foi precursor da Constituio Federal quando conceituou meio ambiente
como bem de uso comum do povo.
Todos temos interesse nas forestas de propriedade privada e nas forestas de propriedade
pblica. A existncia das forestas no passa margem do Direito nem se circunscreve aos
interesses de seus proprietrios diretos.
O Cdigo Florestal avana mais, e diz que as aes ou omisses contrrias s disposi-
es deste Cdigo na utilizao e explorao das forestas e demais formas de vegetao so
consideradas uso nocivo da propriedade (...).
36
Faltou, naquela poca, a introduo de um
direito de ao judicial que ultrapasse a noo de direito de vizinhana.
De inegvel atualidade os conceitos de interesse comume de uso nocivo da propriedade
com relao ao meio ambiente, e especifcamente s forestas.
O interesse comum na existncia e no uso adequado das forestas est ligado, com forte
vnculo, funo social e ambiental da propriedade.
A destruio ou o perecimento das mesmas podem confgurar um atentado funo social
e ambiental da propriedade, atravs de seu uso nocivo. O ser humano, por mais inteligente e
mais criativo que seja, no pode viver sem as outras espcies vegetais e animais. Conscientes
estamos de que sem forestas no haver gua, no haver fertilidade do solo; a fauna depen-
de da foresta, e ns seres humanos sem forestas no viveremos. As forestas fazem parte
de ecossistemas, onde os elementos so interdependentes e integrados.
[MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 ed., rev., atu-
al. e amp. So Paulo: Malheiros, 2008. P.736-737.]
Leitura Indicada
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 ed., rev., atual. e
amp. So Paulo: Malheiros, 2008. P.736-756.
MILAR, dis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5 ed. ref.,
atual. e ampl. So Paulo: Editora dos Tribunais, 2007. P. 690-706.
Jurisprudncia
Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
novveis IBAMA e Estado do Paran vs. Recorrido: Ministrio Pblico Federal,
Recurso Especial n. 1087370-PR (2008/0200678-2), 1 Turma, STJ, Julgamento 10/
Nov./2009, DJ 27/Nov./2009.
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AO CI-
VIL PBLICA. RECURSO DO ESTADO DO PARAN. PENDNCIA DE JULGA-
MENTO DE EMBARGOS DE DECLARAO. AUSNCIA DE RATIFICAO.
DELIMITAO DE REA DE PRESERVAO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. OBRIGAO DO PROPRIETRIO OU POSSUIDOR DO IMVEL.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 66
1. Tratando-se de recurso especial interposto quando pendentes de julgamento em-
bargos de declarao, indispensvel a sua posterior ratifcao, conforme orientao da
Corte Especial/STJ (Informativo 317/STJ).
2. Hiptese em que a sentena de primeiro grau de jurisdio, ao julgar parcialmen-
te procedente a presente ao civil pblica, condenou o proprietrio do imvel rural a:
(a) preservar rea de vinte por cento da superfcie da sua propriedade, a ttulo de reserva
legal, e efetuar a reposio forestal gradual, em prazo determinado, sob pena de mul-
ta; (b) preservar tambm as matas ciliares (preservao permanente) na faixa de trinta
metros s margens dos rios e cinquenta metros nas nascentes e nos chamados olhos
dgua; (c) paralisar imediatamente as atividades agrcolas e pecurias sobre toda a rea
comprometida, sob pena de multa. Condenou, igualmente, o IBAMA e o Estado do
Paran a: (d) delimitar a rea total de reserva legal e a rea de preservao permanente
da propriedade, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa a ser rateada entre ambos;
(e) fscalizar, a cada seis meses, a realizao das medidas fxadas nos itens a e b, sob
pena de multa diria.
3. A delimitao e a averbao da reserva legal constitui responsabilidade do proprie-
trio ou possuidor de imveis rurais, que deve, inclusive, tomar as providncias neces-
srias restaurao ou recuperao das formas de vegetao nativa para se adequar aos
limites percentuais previstos nos incisos do art. 16 do Cdigo Florestal.
4. Nesse aspecto, o IBAMA no poderia ser condenado a delimitar a rea total de
reserva legal e a rea de preservao permanente da propriedade em questo, por cons-
tituir incumbncia do proprietrio ou possuidor.
5. O mesmo no pode ser dito, no entanto, em relao ao poder-dever de fscalizao
atribudo ao IBAMA, pois o Cdigo Florestal (Lei 4.771/65) prev expressamente que
a Unio, diretamente, atravs do rgo executivo especfco, ou em convnio com os
Estados e Municpios, fscalizar a aplicao das normas deste Cdigo, podendo, para
tanto, criar os servios indispensveis (art. 22, com a redao dada pela Lei 7.803/89).
6. Do mesmo modo, a Lei 7.735/89 (com as modifcaes promovidas pela Lei
11.516/2007), ao criar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renovveis IBAMA, rgo executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA , nos termos do art. 6, IV, da Lei 6.938/81, com a redao dada pela Lei
8.028/90, incumbiu-o de: (I) exercer o poder de polcia ambiental; (II) executar aes
das polticas nacionais de meio ambiente, referentes s atribuies federais, relativas ao
licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, autorizao de uso dos
recursos naturais e fscalizao, monitoramento e controle ambiental, observadas as
diretrizes emanadas do Ministrio do Meio Ambiente; (c) executar as aes supletivas
de competncia da Unio, de conformidade com a legislao ambiental vigente.
7. Esta Corte j teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que o art. 23,
inc. VI da Constituio da Repblica fxa a competncia comum para a Unio, Estados,
Distrito Federal e Municpios no que se refere proteo do meio ambiente e combate
poluio em qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art. 225, caput, prev o direi-
to de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impe ao Poder Pblico
e coletividade o dever de defend-lo e preserv-lo para as presentes e futuras geraes
(Resp 604.725/PR, 2 Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005).
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 67
8. Recurso especial do ESTADO DO PARAN no conhecido.
9. Recurso especial do IBAMA parcialmente provido, para afastar a sua condenao
apenas no que se refere obrigao de delimitar a rea total de reserva legal e a rea de
preservao permanente da propriedade em questo.
Glossrio
APP rea de Preservao Permanente Lei 4.771/65, arts. 2 e 3, Resoluo
CONAMA 303/2002. reas de grande importncia ecolgica, cobertas ou no por ve-
getao nativa, com a funo ambiental de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a
estabilidade geolgica, a biodiversidade, o fuxo gnico de fauna e fora, proteger o solo
e assegurar o bem estar das populaes humanas.
Reserva legal rea localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, exce-
tuada a de preservao permanente, necessria ao uso sustentvel dos recursos naturais,
conservao e reabilitao dos processos ecolgicos, conservao da biodiversidade e
ao abrigo e proteo de fauna e fora nativas. Art. 1, 2, III, Cdigo Florestal.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 68
AULA 11. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAO (SNUC)
Os espaos territoriais especialmente protegidos, tambm chamados de unidades de
conservao so divididos em dois grupos, cada qual regulamentado por um diploma
legal. So eles: (i) reas protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservao da
Natureza (SNUC), regidas pela Lei 9.985/00 e (ii) reas protegidas do Cdigo Florestal,
reguladas pela Lei 4.771/65.
Nesta unidade sero trabalhadas as reas protegidas do SNUC, cuja criao tem
como objetivo proteger diretamente os ecossistemas por elas tutelados, atravs da impo-
sio de proibies e restries de uso de determinados espaos territoriais.
Em relao ao SNUC, importante ressaltar que a Constituio Federal de 1988
dispe em seu artigo 225, 1, incs. I, II, III e VII sobre obrigaes gerais de defesa e
proteo da fauna e da fora. Porm, pela natureza de normas gerais, os referidos dispo-
sitivos constitucionais no prescindiam de especfca regulamentao, garantindo-lhes
assim a necessria efccia. Foi assim, ento, que em 2000, fruto de longos anos de
discusses e debates sobre um projeto de lei de 1992, de nmero 2.892, que o SNUC
tomou forma pela Lei n. 9.985/2000.
As unidades de conservao do SNUC so dividas em duas categorias: (i) Unidades
de Proteo Integral e (ii) Unidades de Uso Sustentvel. O fator distintivo o grau de
explorao autorizado dos recursos naturais e a natureza do domnio e da posse. Assim,
nas Unidades de Proteo Integral admite-se apenas o uso indireto dos seus recursos na-
turais e em trs das cinco modalidades a posse e o domnio so pblicos. Nas Unidades
de Uso Sustentvel, o uso direto permitido e a natureza do domnio e da posse pblico
e privado, dependendo do tipo de unidade de conservao.
Como uso indireto entende-se aquele que no envolve consumo, coleta, dano ou
destruio dos recursos naturais, segundo o art. 2, IX da Lei 9.985/00. Como uso direto
compreende-se aquele que envolve coleta e uso, comercial ou no, dos recursos naturais,
art. 2, X, da Lei 9.985/00.
Um dos pontos cruciais do SNUC o que diz respeito aos requisitos da criao de
uma unidade de conservao. O dispositivo que disciplina essa matria o art. 22, da
Lei n. 9.985/00. Do texto da lei, apresentam-se dois requisitos: 1) estudos tcnicos e; 2)
consulta pblica. Portanto, no se pode prescindir da realizao de estudos tcnicos que
comprovem a adequao da rea que se pretende gravar como unidade de conservao com
o tipo descrito pela Lei n. 9.985/00. Da mesma forma, como a criao de uma unidade de
conservao tem potencial para impactar populaes que vivem em seu entorno ou mesmo
dentro dos seus limites, no se pode prescindir da consulta pblica. Outro requisito que
no aparece explicitamente listado no art. 22, da Lei n. 9.985/00, mas decorrncia lgica
da natureza do domnio e da posse de algumas espcies de UCs, a necessria previso or-
amentria para executar as desapropriaes necessrias. No se pode admitir que se intente
a criao de uma UC de posse e domnio pblico, sem a correspondente previso oramen-
tria para concretizar a criao da UC no formato disciplinado pela Lei n. 9.985/00.
Se h discusso em relao aplicao dos requisitos formais para criao, alterao
e supresso de rea protegida previstos pelo art. 225, 1, inc. III, da CF/88 s reas
do Cdigo Florestal (APP e RL), em relao s reas do SNUC, a questo pacfca.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 69
Os procedimentos de criao, supresso e alterao, devem necessariamente observar o
disposto no dispositivo constitucional. Ou seja, a criao pode ser dar por ato do Poder
Pblico (lei ou decreto). No entanto, a supresso ou a alterao, somente podem ser
feitas por lei, vedada qualquer utilizao que comprometa a integridade dos atributos
que justifquem sua proteo;.
O grupo das Unidades de Proteo Integral constitudo pelas seguintes categorias
de unidades de conservao:
(i) Estao Ecolgica (art. 9)
O objetivo de criao desta unidade de conservao a preservao da natureza e
a realizao de pesquisas cientfcas. proibida a visitao pblica, salvo quando com
objetivo educacional, de acordo com o disposto no Plano de Manejo da unidade ou
regulamento especfco. A pesquisa cientfca depende de prvia autorizao do rgo
responsvel pela administrao da unidade. A Estao Ecolgica de posse e domnio
pblicos, assim, as reas particulares includas em seu territrio sero desapropriadas.
Neste tipo de unidade de conservao somente so permitidas alteraes dos ecossis-
temas no caso de: medidas que visem a restaurao de ecossistemas modifcados; manejo
de espcies com o fm de preservar a diversidade biolgica; coleta de componentes dos
ecossistemas com fnalidades cientfcas; e pesquisas cientfcas cujo impacto sobre o am-
biente seja maior do que aquele causado pela simples observao ou pela coleta contro-
lada de componentes dos ecossistemas, em uma rea correspondente a no mximo trs
por cento da extenso total da unidade e at o limite de um mil e quinhentos hectares.
(ii) Reserva Biolgica (art. 10)
A Reserva Biolgica tem como fnalidade preservar integralmente a biota e demais
atributos naturais existentes em seu territrio, livre de interferncia humana direta ou
modifcaes ambientais, excetuando-se as medidas de recuperao de seus ecossistemas
alterados e as aes de manejo necessrias para recuperar e preservar o equilbrio na-
tural, a diversidade biolgica e os processos ecolgicos naturais. proibida a visitao
pblica, salvo quando tenha objetivo educacional, de acordo com o regulamento espe-
cfco. A pesquisa cientfca depende de autorizao prvia do rgo responsvel pela
administrao da unidade. A Reserva Biolgica tambm de posse e domnio pblicos
devendo, portanto, as reas particulares includas no seu territrio ser desapropriadas.
(iii) Parque Nacional (art. 11)
O Parque Nacional tem como intuito preservar os ecossistemas naturais de grande
relevncia ecolgica e beleza cnica, sendo possvel a realizao de pesquisas cientfcas
e o desenvolvimento de atividades de educao e interpretao ambiental, de recreao
em contato com a natureza e de turismo ecolgico. Esta unidade de conservao de
posse e domnio pblicos, assim, as reas particulares includas em seu territrio sero
desapropriadas. A visitao pblica est sujeita s normas e restries estabelecidas no
Plano de Manejo da unidade, s normas estabelecidas pelo rgo responsvel por sua
administrao e quelas previstas em regulamento. A pesquisa cientfca depende de
prvia autorizao do rgo responsvel pela administrao da unidade.
(iv) Monumento Natural (art. 12)
A fnalidade do Monumento Natural preservar stios naturais raros, singulares ou
de grande beleza cnica. Diferentemente das unidades de conservao supracitadas, o
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 70
Monumento Natural pode ser constitudo por reas particulares, desde que seja possvel
compatibilizar os objetivos da unidade com o uso da terra e dos recursos naturais do
local pelos proprietrios.
Caso haja incompatibilidade entre tais objetivos ou no havendo concordncia do
proprietrio s condies propostas pelo rgo responsvel pela administrao da uni-
dade para a coexistncia do Monumento Natural com o uso da propriedade, a referida
rea dever ser desapropriada. A visitao pblica est sujeita s condies e restries
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, s normas estabelecidas pelo rgo res-
ponsvel por sua administrao e quelas previstas em regulamento.
(v) Refgio de Vida Silvestre (art. 13)
O principal objetivo do Refgio de Vida Silvestre a proteo de ambientes na-
turais onde se asseguram condies para a existncia ou reproduo de espcies ou
comunidades da fora local e da fauna residente ou migratria. A visitao pblica est
sujeita s normas e restries estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, s normas
estabelecidas pelo rgo responsvel por sua administrao, e quelas previstas em regu-
lamento. A pesquisa cientfca depende de prvia autorizao do rgo responsvel pela
administrao da unidade.
Esta unidade de conservao pode ser constituda por reas particulares, desde que
seja possvel compatibilizar os objetivos da unidade com a utilizao da terra e dos recur-
sos naturais do local pelos proprietrios. Caso haja incompatibilidade entre os objetivos
da rea e as atividades privadas ou no havendo aquiescncia do proprietrio s condies
propostas pelo rgo responsvel pela administrao da unidade para a coexistncia do
Refgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a rea deve ser desapropriada.
Referentemente ao grupo das Unidades de Uso Sustentvel, esto compreendidas:
(i) rea de Proteo Ambiental (art. 15)
A rea de Proteo Ambiental em geral extensa, com um certo grau de ocupao
humana, dotada de atributos abiticos, biticos, estticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populaes humanas. O princi-
pal objetivo desta unidade de conservao proteger a diversidade biolgica, disciplinar
o processo de ocupao e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Esta
rea pode ser constituda por terras pblicas ou privadas. Sendo privada, podem ser
estabelecidas restries para a utilizao de uma propriedade privada localizada em uma
rea de Proteo Ambiental, desde que sejam respeitados os limites constitucionais.
As condies para a realizao de pesquisa cientfca e visitao pblica nas reas sob
domnio pblico sero estabelecidas pelo rgo gestor da unidade. J nas reas sob pro-
priedade privada, tal tarefa cabe ao proprietrio. A rea de Proteo Ambiental ter um
Conselho presidido pelo rgo responsvel por sua administrao e constitudo por repre-
sentantes dos rgos pblicos, de organizaes da sociedade civil e da populao residente.
(ii) rea de Relevante Interesse Ecolgico (art. 16)
Esta unidade de conservao caracterizada por pouca ou nenhuma ocupao hu-
mana, possui atributos naturais extraordinrios ou que abriga exemplares raros da biota
regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importncia regional
ou local e regular o uso admissvel dessas reas, de modo a compatibiliz-lo com os
objetivos de conservao da natureza. A rea de Relevante Interesse Ecolgico pode
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 71
ser constituda por terras pblicas ou privadas. Podem ser estabelecidas restries para
a utilizao de uma propriedade privada localizada em uma das unidades em comento,
desde que respeitados os limites constitucionais.
(iii) Floresta Nacional (art. 17)
A Floresta Nacional uma rea com cobertura forestal de espcies predominan-
temente nativas e tem como objetivo bsico o uso mltiplo sustentvel dos recursos
forestais e a pesquisa cientfca, com nfase em mtodos para explorao sustentvel de
forestas nativas. Esta unidade de conservao de posse e domnio pblicos, sendo que
as reas particulares includas em seus limites devem ser desapropriadas. A visitao p-
blica permitida, condicionada s normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo
rgo responsvel por sua administrao. A pesquisa cientfca permitida e incentivada,
sujeitam-se prvia autorizao do rgo responsvel pela administrao da unidade.
Nas Florestas Nacionais permitida a permanncia de populaes tradicionais que
a habitam quando de sua criao, de acordo com o Plano de Manejo da unidade. Esta
unidade contar com um Conselho Consultivo, presidido pelo rgo responsvel por
sua administrao e constitudo por representantes de rgos pblicos, de organizaes
da sociedade civil e das populaes tradicionais residentes.
(iv) Reserva Extrativista (art. 18)
A Reserva Extrativista uma rea utilizada por populaes extrativistas tradicionais,
cuja subsistncia baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de
subsistncia e na criao de animais de pequeno porte. Seu principal objetivo a pro-
teo dos meios de vida e cultura dessas populaes, assegurando o uso sustentvel dos
recursos naturais da unidade.
Esta unidade de conservao de domnio pblico, com uso concedido s populaes
extrativistas tradicionais, sendo que as reas particulares includas em seus limites devem
ser desapropriadas. A visitao pblica permitida, assim como a pesquisa cientfca, que
estar sujeita prvia autorizao do rgo responsvel pela administrao da unidade,
s condies e restries por este estabelecidas e s normas previstas em regulamento.
A Reserva ser gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo rgo respon-
svel por sua administrao e constitudo por representantes de rgos pblicos, de
organizaes da sociedade civil e das populaes tradicionais residentes na rea. Este
Conselho ser responsvel por aprovar o Plano de Manejo da unidade.
Cabe destacar que so proibidas a explorao de recursos minerais e a caa amadors-
tica ou profssional na unidade. Quanto explorao comercial de recursos madeireiros,
esta somente ser admitida se for realizada em bases sustentveis e em situaes especiais
e complementares s demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista.
(v) Reserva de Fauna (art. 19)
Esta unidade de conservao uma rea natural com populaes animais de esp-
cies nativas, terrestres ou aquticas, residentes ou migratrias, adequadas para estudos
tcnico-cientfcos sobre o manejo econmico sustentvel de recursos faunsticos. A
Reserva de Fauna de posse e domnio pblicos, assim, as reas particulares includas
em seus limites devem ser desapropriadas.
A visitao pblica pode ser permitida, desde que compatvel com o manejo da
unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo rgo responsvel por sua ad-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 72
ministrao. O exerccio da caa amadorstica ou profssional, no entanto, proibido.
A comercializao dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecer ao
disposto nas leis sobre fauna e regulamentos.
(vi) Reserva de Desenvolvimento Sustentvel
A Reserva de Desenvolvimento Sustentvel uma rea natural que abriga popula-
es tradicionais, cuja existncia baseia-se em sistemas sustentveis de explorao dos
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de geraes e adaptados s condies ecolgi-
cas locais e que desempenham um papel fundamental na proteo da natureza e na ma-
nuteno da diversidade biolgica. A principal fnalidade desta unidade de conservao
preservar a natureza, assim como assegurar as condies e os meios necessrios para
a reproduo e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e explorao dos recursos
naturais das populaes tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeioar o
conhecimento e as tcnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populaes.
Esta unidade de domnio pblico, desta forma, as reas particulares includas em
seus limites devem ser, quando necessrio, desapropriadas. A Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentvel ser gerida por um Conselho Deliberativo.
permitida e incentivada a visitao pblica, desde que compatvel com os inte-
resses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da rea, assim como a
pesquisa cientfca voltada conservao da natureza, melhor relao das populaes
residentes com seu meio e educao ambiental, a qual estar condicionada prvia
autorizao do rgo responsvel pela administrao da unidade.
A explorao de componentes dos ecossistemas naturais permitida em regime de
manejo sustentvel e a substituio da cobertura vegetal por espcies cultivveis, desde
que sujeitas ao zoneamento, s limitaes legais e ao Plano de Manejo da rea. Este
ltimo defnir as zonas de proteo integral, de uso sustentvel e de amortecimento e
corredores ecolgicos, e ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.
(vii) Reserva Particular do Patrimnio Natural (art. 21).
A Reserva Particular do Patrimnio Natural uma rea privada, gravada com perpe-
tuidade, objetivando conservar a diversidade biolgica. O referido gravame constar de
termo de compromisso assinado perante o rgo ambiental, que verifcar a existncia
de interesse pblico, e ser averbado margem da inscrio no Registro Pblico de Im-
veis. A visitao pblica com objetivos tursticos, recreativos e educacionais permitida,
assim como a pesquisa cientfca.
A criao desta unidade um atovoluntrio do proprietrio, que decide constituir
sua propriedade, ou parte dela, em uma Reserva Particular do Patrimnio Natural, sem
que isto provoque perda do direito de propriedade. Esta unidade de conservao possui
alguns benefcios, tais como iseno de ITR, prioridade na anlise de concesso de recur-
sos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e preferncias nas anlises de crdito agrcola.
Alm das unidades de proteo integral e das de uso sustentvel, a Lei do SNUC
incorporou ao Direito brasileiro a chamada Reserva da Biosfera, reconhecida pelo Pro-
grama Intergovernamental Man and Biosphere da Unesco.
De acordo com o artigo 41 da Lei 9.985/2000, a Reserva da Biosfera um mo-
delo, adotado internacionalmente, de gesto integrada, participativa e sustentvel dos
recursos naturais, objetivando preservar a diversidade biolgica, o desenvolvimento de
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 73
atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educao ambiental, o desenvol-
vimento sustentvel e a melhoria da qualidade de vida das populaes.
Esta unidade de conservao constituda por uma ou vrias reas-ncleo, destinadas
proteo integral da natureza; uma ou vrias zonas de amortecimento, onde s so ad-
mitidas atividades que no resultem em dano para as reas-ncleo; e uma ou vrias zonas
de transio, sem limites rgidos, onde o processo de ocupao e o manejo dos recursos
naturais so planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentveis.
A Reserva da Biosfera pode ser formada por reas de domnio pblico ou privado.
Cabe destacar ainda que esta unidade pode ser integrada por unidades de conservao
j criadas pelo Poder Pblico, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de
cada categoria especfca. Finalmente, vale mencionar que a Reserva da Biosfera gerida
por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de instituies pblicas,
de organizaes da sociedade civil e da populao residente, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de constituio da unidade.
A lei do SNUC foi posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 4.340/2002, que
dispe de forma detalhada sobre os requisitos de criao, abrangncia, reas de mosaico,
plano de manejo, gesto compartilhada com OSCIP, autorizao para explorao de bens
e servios, reassentamento de populaes tradicionais, reavaliao de UC no prevista no
SNUC, da reserva da biosfera e da compensao por signifcativo impacto ambiental.
Neste particular, a lei do SNUC inovou, ao prever em seu art. 36, a necessidade de com-
pensao ambiental para todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental
de obras ou atividades que tenham potencial de causar signifcativo impacto ambiental.
Ao vincular a compensao ambiental a investimentos em UCs, a lei do SNUC garantiu
os recursos necessrios para a concepo e gesto dessas reas protegidas. O pilar terico
para referida cobrana o princpio do poluidor-pagador / usurio pagador.
O pargrafo nico do artigo 36 foi ainda mais alm. Disps sobre o montante a
ser destinado para investimentos em UCs, vinculando-o ao percentual gasto com o
empreendimento. Assim, estipulou um mnimo de 0,5% (meio por cento) que, pos-
teriormente, foi derrubado por deciso do Supremo Tribunal Federal na ao direta
de inconstitucionalidade 3.378-6/DF, publicada no dia 20/06/2008, cujo relator foi o
Ministro Carlos Britto.
Entendeu o STF que no poderia haver vinculao mnima do valor do investimen-
to ao montante gasto no empreendimento. O valor deveria guardar equivalncia com
o grau de impacto.
ATIVIDADES EXERCCIOS DISCURSIVOS POR UNIDADE
1. Aponte os requisitos para a criao de uma unidade de conservao.
2. Pode uma unidade de conservao ser instituda por decreto?
3. Quais so os requisitos formais para alterao ou supresso de unidade de
conservao?
4. O Governador do Estado, aps estudos tcnicos do rgo ambiental, criou
um Parque Estadual numa serra de Mata Atlntica, por meio de um decreto
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 74
37
1 As questes 1-3 foram extradas
da seguinte obra: Antnio F. G. Beltro,
Manual de Direito Ambiental, Editora
Mtodo, (2008), p. 227 e 229.
do Poder Executivo. Posteriormente, aps consulta populao residente na
sua rea de amortecimento, diminuiu a sua extenso territorial, por meio de
outro decreto do Executivo. Tais medidas so constitucionais e legais? Justi-
fque e fundamente as respostas.
5. Questo retirada do concurso para Defensor Pblico SP, 2006
37
:
O Sistema Nacional de Unidades de Conservao da Natureza estabelece
dois grupos de unidades de conservao, as de Proteo Integral e as de Uso
Sustentvel. So Unidades de Proteo Integral:
a. Refgio da Vida Silvestre, rea de Proteo Ambiental, Reserva Extrativis-
ta, Reserva Biolgica e Estao Ecolgica.
b. Estao Ecolgica, rea de Proteo Ambiental, Floresta Nacional, Ref-
gio da Vida Silvestre e Reserva Extrativista.
c. Reserva Biolgica, Parque Nacional, Reserva da Fauna, Floresta Nacional
e Reserva Extrativista.
d. rea de Proteo Ambiental, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Mo-
numento Natural de Refgio da Vida Silvestre.
e. Estao Ecolgica, Reserva Biolgica, Parque Nacional, Monumento Na-
tural e Refgio da Vida Silvestre.
6. Questo retirada do concurso para Procurador do Municpio Manaus, 2006:
O regime jurdico das reas de preservao permanente difere, essencialmen-
te, daquele aplicvel s unidades de conservao, porque as reas de preserva-
o permanente
a. Podem ser def nidas em carter geral pela lei, ao passo que as unidades de
conservao devem ser necessariamente declaradas por ato concreto, emana-
do do poder pblico
b. Tm sua supresso condicionada autorizao legislativa, enquanto as
unidades de conservao podem ser suprimidas por ato do Poder Executivo.
c. Apenas podem ser def nidas pela lei, enquanto as unidades de conservao
podem ser def nidas tanto por lei quanto por ato do Poder Executivo.
d. Tm sua utilizao sujeita ao licenciamento ambiental a cargo do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis IBA-
MA, ao passo que as unidades de conservao sujeitam-se aos rgos seccio-
nais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA.
e. Tm por objetivo exclusivo a preservao da vegetao, enquanto as unida-
des de conservao sempre visam proteo integral dos ecossistemas com-
preendidos em sua rea.
7. Questo retirada do concurso para Promotor de Justia MG XLVI:
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que dispe a lei que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservao SNUC:
a. Integram o grupo de Unidades de Proteo Integral as seguintes categorias
de unidades de conservao: Estao Ecolgica, Reserva Biolgica, Parque
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 75
Nacional, Monumento Natural, reas de Relevante Interesse Ecolgico e
rea de Proteo Ambiental.
b. O objetivo bsico das Unidades de Conservao de Proteo Integral
compatibilizar a conservao da natureza com o uso sustentvel de parcela
de seus recursos naturais.
c. Em se tratando de unidade de conservao deve ser elaborado um Plano de
Manejo que abranja a rea correspondente unidade de conservao, sua zona
de amortecimento e os corredores ecolgicos, incluindo medidas com o fm de
promover sua integrao econmica e social das comunidades vizinhas.
d. Restaurao, segundo a defnio estabelecida na lei citada, a restituio
de um ecossistema ou de uma populao silvestre degradada a uma condio
no degradada, diferente de sua condio original.
e. A Estao Ecolgica, como Unidade de Conservao de Proteo Inte-
gral, tem como objetivo a preservao da natureza e a realizao de pesquisas
cientf cas, sendo pblicos a posse e o domnio de sua rea. Havendo reas
particulares includas em seus limites devero ser cedidas, a ttulo gratuito, ao
Poder Pblico, sendo esta uma das restries legais ao direito de propriedade.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
Constituio Federal, artigo 225, 1, inc. III;
Lei 9.985/00;
Decreto 4.340/02;
Lei 11.284/06;
Lei 11.428/06;
Lei 11.516/07.
Doutrina
At a promulgao da Lei do SNUC no existia, no ordenamento jurdico, nenhum
preceito que estabelecesse, com preciso, o concenito de Unidade de Conservao, e esta falta
prejudicava a tutela que tais reas proclamavam. No teor do art.2 da Lei 9.985/2000,
unidade de conservao vem a ser o espao territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as guas jurisdicionais, com caractersticas ntaurais relevantes, legalmente institudo pelo
Poder Pblico, com objetivos de conservao e limites defnidos, sob regime especial de admi-
nistrao, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteo.
Portanto, para a confgurao jurdico-ecolgica de uma unidade de conservao deve
haver: a relevncia natural; o carter ofcial; a delimitao territorial; o objetivo conserva-
cionista; e o regime especial de proteo e administrao.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 76
Observe-se, porm, que a expresso recursos ambientais apresenta certa ambiguidade,
uma vez que esta categoria compreende, alm dos recursos naturais propriamente ditos, ou-
tros bens ambientais (culturais, artifciais, etc). uma ambiguidade recorrente na legislao
ambiental, motivada por defcincia conceitual.
[MILAR, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5. Ed.
ref., atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 654.]
Leitura Indicada
MILAR, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5. ed. ref.,
atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 652-689.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 16. ed., rev., atual. e
amp. So Paulo: Malheiros, 2008. P. 811-827.
Jurisprudncia
Recorrente: Hermes Wilmar Storch e outros vs. Recorrido: Estado de Mato Grosso,
Recurso em Mandado de Segurana n. 20.281-MT (2005/0105652-0), 1 Turma, STJ,
Julgamento 12/Jun./2007, DJ 29/Jun./2007.
Ementa
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SE-
GURANA. DECRETO ESTADUAL N. 5.438/2002 QUE CRIOU O PARQUE
ESTADUAL IGARAPS DO JURUENA NO ESTADO DO MATO-GROSSO.
REA DE PROTEO INTEGRAL. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAO DA NATUREZA SNUC. ART. 225 DA CF/1988 REGULA-
MENTADO PELA LEI N. 9.985/2000 E PELO DECRETO-LEI N. 4.340/2002.
CRIAO DE UNIDADES DE CONSERVAO PRECEDIDAS DE PRVIO
ESTUDO TCNICO-CIENTFICO E CONSULTA PBLICA. COMPETN-
CIA CONCORRENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS TERMOS DO
ART. 24, 1, DA CF/1988. DECRETO ESTADUAL N. 1.795/1997. PRESCIN-
DIBILIDADE DE PRVIA CONSULTA POPULAO. NO-PROVIMENTO
DO RECURSO ORDINRIO.
1. Trata-se de mandado de segurana, com pedido liminar, impetrado por Hermes
Wilmar Storch e outro contra ato do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso, con-
substanciado na edio do Decreto n. 5.438, de 12.11.2002, que criou o Parque Esta-
dual Igaraps do Juruena, nos municpios de Colniza e Cotriguau, bem como determi-
nou, em seu art. 3, que as terras e benfeitorias sitas nos limites do mencionado Parque
so de utilidade pblica para fns de desapropriao. O Tribunal de Justia do Estado do
Mato Grosso, por maioria, denegou a ao mandamental, concluindo pela legalidade
do citado decreto estadual, primeiro, porque precedido de estudo tcnico e cientfco
justifcador da implantao da reserva ambiental, segundo, pelo fato de a legislao
estadual no exigir prvia consulta populao como requisito para criao de unida-
des de conservao ambiental. Apresentados embargos declaratrios pelo impetrante,
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 77
foram estes rejeitados, considerao de que inexiste no aresto embargado omisso,
obscuridade ou contradio a ser suprida. Em sede de recurso ordinrio, alega-se que: a)
o acrdo recorrido se baseou em premissa equivocada ao entender que, em se tratando
de matria ambiental, estaria o estado-membro autorizado a legislar no mbito da sua
competncia territorial de forma distinta e contrria norma de carter geral editada
pela Unio; b) nos casos de competncia legislativa concorrente, h de prevalecer a com-
petncia da Unio para a criao de normas gerais (art. 24, 4, da CF/1988), haja vista
legislao federal preponderar sobre a estadual, respeitando, evidentemente, o estatudo
no 1, do art. 24, da CF/1988; c) obrigatria a realizao de prvio estudo tcnico-
cientfco e scio-econmico para a criao de rea de preservao ambiental, no sendo
sufciente a simples justifcativa tcnica, como ocorreu no caso; d) a justifcativa contida
no decreto estadual incompatvel com a Superior Tribunal de Justia conceituao
de parque nacional; e) obrigatria a realizao de consulta pblica para criao de
unidade de conservao ambiental, nos termos da legislao estadual (MT) e federal.
2. O Decreto Estadual n. 5.438/2002, que criou o Parque Estadual Igaraps do
Juruena, no Estado do Mato Grosso, reveste-se de todas as formalidades legais exigveis
para a implementao de unidade de conservao ambiental. No que diz respeito
necessidade de prvio estudo tcnico, prevista no art. 22, 1, da Lei n. 9.985/2002,
a criao do Parque vem lastreada em justifcativa tcnica elaborada pela Fundao
Estadual do Meio Ambiente FEMA, a qual, embora sucinta, alcana o objetivo per-
seguido pelo art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, qual seja, possibilitar seja identifcada
a localizao, dimenso e limites mais adequados para a unidade.
3. O Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamentou a Lei n.
9.985/2000, esclarece que o requisito pertinente consulta pblica no se faz impres-
cindvel em todas as hipteses indistintamente, ao prescrever, em seu art. 4, que com-
pete ao rgo executor proponente de nova unidade de conservao elaborar os estu-
dos tcnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pblica e os demais
procedimentos administrativos necessrios criao da unidade. Alis, os 1 e 2
do art. 5 do citado decreto indicam que o desiderato da consulta pblica defnir a
localizao mais adequada da unidade de conservao a ser criada, tendo em conta as
necessidades da populao local. No caso dos autos, reputa-se despicienda a exigncia
de prvia consulta, quer pela falta de previso na legislao estadual, quer pelo fato de a
legislao federal no consider-la pressuposto essencial a todas as hipteses de criao
de unidades de preservao ambiental.
4. A implantao de reas de preservao ambiental dever de todos os entes da fe-
derao brasileira (art. 170, VI, da CFRB). A Unio, os Estados-membros e o Distrito
Federal, na esteira do art. 24, VI, da Carta Maior, detm competncia legislativa con-
corrente para legislar sobre forestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza, defe-
sa do solo e dos recursos naturais, proteo do meio ambiente e controle da poluio.
O 2 da referida norma constitucional estabelece que a competncia da Unio para
legislar sobre normas gerais no exclui a competncia suplementar dos Estados. Assim
sendo, tratando-se o Parque Estadual Igaraps do Juruena de rea de peculiar interesse
do Estado do Mato Grosso, no prevalece disposio de lei federal, qual seja, a regra do
art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, que exige a realizao de prvia consulta pblica.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 78
norma de carter geral compete precipuamente traar diretrizes para todas as unidades
da federao, sendo-lhe, no entanto, vedado invadir o campo das peculiaridades regio-
nais ou estaduais, tampouco dispor sobre assunto de interesse exclusivamente local, sob
pena de incorrer em fagrante inconstitucionalidade.
5. O ato governamental (Decreto n. 5.438/2002) satisfaz rigorosamente todas as
exigncias estabelecidas pela legislao estadual, mormente as presentes nos arts. 263
Constituio Estadual do Mato Grosso e 6, incisos V e VII, do Cdigo Ambiental (Lei
Complementar n. 38/1995), motivo por que no subsiste direito lquido e certo a ser
amparado pelo presente writ.
6. Recurso ordinrio no-provido.
Recorrente: Hermes Wilmar Storch vs. Recorrido: Estado de Mato Grosso, RMS
n. 20281-MT (2005/0105652-0), 1 Turma, STJ, Julgamento 12/Jun./2007, DJ 29/
Jun./2007.
Ementa
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ORDINRIO EM MANDADO DE SE-
GURANA. DECRETO ESTADUAL N. 5.438/2002 QUE CRIOU O PARQUE
ESTADUAL IGARAPS DO JURUENA NO ESTADO DO MATO-GROSSO.
REA DE PROTEO INTEGRAL. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAO DA NATUREZA SNUC. ART. 225 DA CF/1988 REGULA-
MENTADO PELA LEI N. 9.985/2000 E PELO DECRETO-LEI N. 4.340/2002.
CRIAO DE UNIDADES DE CONSERVAO PRECEDIDAS DE PRVIO
ESTUDO TCNICO-CIENTFICO E CONSULTA PBLICA. COMPETNCIA
CONCORRENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO, NOS TERMOS DO ART.
24, 1, DA CF/1988. DECRETO ESTADUAL N. 1.795/1997. PRESCINDIBILI-
DADE DE PRVIA CONSULTA POPULAO. NO PROVIMENTO DO
RECURSO ORDINRIO.
1. Trata-se de mandado de segurana, com pedido liminar, impetrado por Her-
mes Wilmar Storch e outro contra ato do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso,
consubstanciado na edio do Decreto n. 5.438, de 12.11.2002, que criou o Parque
Estadual Igaraps do Juruena, nos municpios de Colniza e Cotriguau, bem como
determinou, em seu art. 3, que as terras e benfeitorias sitas nos limites do mencionado
Parque so de utilidade pblica para fns de desapropriao. O Tribunal de Justia do
Estado do Mato Grosso, por maioria, denegou a ao mandamental, concluindo pela
legalidade do citado decreto estadual, primeiro, porque precedido de estudo tcnico
e cientfco justifcador da implantao da reserva ambiental, segundo, pelo fato de a
legislao estadual no exigir prvia consulta populao como requisito para criao
de unidades de conservao ambiental. Apresentados embargos declaratrios pelo im-
petrante, foram estes rejeitados, considerao de que inexiste no aresto embargado
omisso, obscuridade ou contradio a ser suprida. Em sede de recurso ordinrio, alega-
se que: a) o acrdo recorrido se baseou em premissa equivocada ao entender que, em se
tratando de matria ambiental, estaria o estado-membro autorizado a legislar no mbito
da sua competncia territorial de forma distinta e contrria norma de carter geral edi-
tada pela Unio; b) nos casos de competncia legislativa concorrente, h de prevalecer
a competncia da Unio para a criao de normas gerais (art. 24, 4, da CF/1988),
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 79
haja vista legislao federal preponderar sobre a estadual, respeitando, evidentemente,
o estatudo no 1, do art. 24, da CF/1988; c) obrigatria a realizao de prvio
estudo tcnico-cientfco e socioeconmico para a criao de rea de preservao am-
biental, no sendo sufciente a simples justifcativa tcnica, como ocorreu no caso; d) a
justifcativa contida no decreto estadual incompatvel com a conceituao de parque
nacional; e) obrigatria a realizao de consulta pblica para criao de unidade de
conservao ambiental, nos termos da legislao estadual (MT) e federal.
2. O Decreto Estadual n. 5.438/2002, que criou o Parque Estadual Igaraps do
Juruena, no Estado do Mato Grosso, reveste-se de todas as formalidades legais exigveis
para a implementao de unidade de conservao ambiental. No que diz respeito
necessidade de prvio estudo tcnico, prevista no art. 22, 1, da Lei n. 9.985/2002,
a criao do Parque vem lastreada em justifcativa tcnica elaborada pela Fundao
Estadual do Meio Ambiente FEMA, a qual, embora sucinta, alcana o objetivo per-
seguido pelo art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, qual seja, possibilitar seja identifcada
a localizao, dimenso e limites mais adequados para a unidade.
3. O Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamentou a Lei n.
9.985/2000, esclarece que o requisito pertinente consulta pblica no se faz impres-
cindvel em todas as hipteses indistintamente, ao prescrever, em seu art. 4, que com-
pete ao rgo executor proponente de nova unidade de conservao elaborar os estu-
dos tcnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pblica e os demais
procedimentos administrativos necessrios criao da unidade. Alis, os 1 e 2
do art. 5 do citado decreto indicam que o desiderato da consulta pblica defnir a
localizao mais adequada da unidade de conservao a ser criada, tendo em conta as
necessidades da populao local. No caso dos autos, reputa-se despicienda a exigncia
de prvia consulta, quer pela falta de previso na legislao estadual, quer pelo fato de a
legislao federal no consider-la pressuposto essencial a todas as hipteses de criao
de unidades de preservao ambiental.
4. A implantao de reas de preservao ambiental dever de todos os entes da Fe-
derao brasileira (art. 170, VI, da CFRB). A Unio, os Estados-membros e o Distrito
Federal, na esteira do art. 24, VI, da Carta Maior, detm competncia legislativa con-
corrente para legislar sobre forestas, caa, pesca, fauna, conservao da natureza, defe-
sa do solo e dos recursos naturais, proteo do meio ambiente e controle da poluio.
O 2 da referida norma constitucional estabelece que a competncia da Unio para
legislar sobre normas gerais no exclui a competncia suplementar dos Estados. Assim
sendo, tratando-se o Parque Estadual Igaraps do Juruena de rea de peculiar interesse
do Estado do Mato Grosso, no prevalece disposio de lei federal, qual seja, a regra do
art. 22, 2, da Lei n. 9.985/2000, que exige a realizao de prvia consulta pblica.
norma de carter geral compete precipuamente traar diretrizes para todas as unidades
da Federao, sendo-lhe, no entanto, vedado invadir o campo das peculiaridades regio-
nais ou estaduais, tampouco dispor sobre assunto de interesse exclusivamente local, sob
pena de incorrer em fagrante inconstitucionalidade.
5. O ato governamental (Decreto n. 5.438/2002) satisfaz rigorosamente todas as
exigncias estabelecidas pela legislao estadual, mormente as presentes nos arts. 263
Constituio Estadual do Mato Grosso e 6, incisos V e VII, do Cdigo Ambiental (Lei
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 80
Complementar n. 38/1995), motivo por que no subsiste direito lquido e certo a ser
amparado pelo presente writ.
6. Recurso ordinrio no-provido.
GLOSSRIO
Unidades de conservao Lei 9.985/00, art. 2, inciso I. Espao territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as guas jurisdicionais, com caracterstica naturais
relevantes, legalmente institudo pelo Poder Pblico, com objetivos de conservao e
limites defnidos, sob regime especial de administrao, ao qual se aplicam garantias
adequadas de preservao.
Recurso ambiental Lei 9.985/00, art. 2, inciso IV. A atmosfera, as guas inte-
riores, superfciais e subterrneas, os esturios, o mar territorial, o solo,o subsolo, os
elementos da biosfera, a fauna e a fora.
Proteo Integral Lei 9.985/00, art. 2, inciso VI. Manuteno dos ecossistemas
livres de alteraes causadas por interferncia humana, admitido apenas o uso indireto
dos seus atributos naturais.
Manejo Lei 9.985/00, art. 2, inciso VIII. Todo e qualquer procedimento que
vise assegurar a conservao da diversidade biolgica e dos ecossistemas.
Uso Indireto Lei 9.985/00, art. 2, inciso IX. Aquele que no envolve consumo,
coleta, dano ou destruio dos recursos naturais.
Uso Direto Lei 9.985/00, art. 2, inciso X. Aquele que envolve coleta e uso, co-
mercial ou no, de recursos naturais.
Uso Sustentvel Lei 9.985/00, art. 2, inciso XI. Explorao do ambiente de ma-
neira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renovveis e dos processos ecolgi-
cos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecolgicos, de forma socialmente
justa e economicamente vivel.
Plano de Manejo Lei 9.985/00, art. 2, inciso XVII. Documento tcnico me-
diante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservao, se
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da rea e o manejo
dos recursos naturais, inclusive a implantao das estruturas fsicas necessrias gesto
da unidade.
Zona de Amortecimento Lei 9.985/00, art. 2, XVIII. O entorno de uma uni-
dade de conservao, onde as atividades humanas esto sujeitas a normas e restries
especfcas, com o propsito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
Corredores Ecolgicos Lei 9.985/00, art. 2, inciso XIX. Pores de ecossistemas
naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservao, que possibilitam entre elas
o fuxo de genes e o movimento da biota, facilitando a disperso de espcies e a recoloni-
zao de reas degradadas, bem como a manuteno de populaes que demandam para
sua sobrevivncia reas com extenso maior do que aquela das unidades individuais.
APA rea de Proteo Ambiental Lei 9.985/00, art. 15, Resoluo CONA-
MA 010/88, art. 4, 1. Em geral extensa, constituda de terras pblicas ou privadas,
com certa ocupao humana, dotada de atributos ecolgicos e convertida em unidade
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 81
de conservao de uso sustentvel, disciplinando o processo de ocupao para a melho-
ria da qualidade de vida da populao local e proteo dos ecossistemas regionais.
ARIE reas de Relevante Interesse Ecolgico Lei 9.985/00, art. 16. Em geral
de pequena extenso, constituda de terras pblicas ou privadas, com pouca ou nenhu-
ma ocupao humana, dotada de caractersticas naturais extraordinrias, convertida em
unidade de conservao de uso sustentvel para manter ecossistemas naturais com res-
tries ao uso da propriedade privada.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 82
38
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito
Ambiental, 11 Edio. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, (2008), p. 325.
AULA 12. BIODIVERSIDADE
A proteo da diversidade biolgica est intrinsecamente conectada tutela da fauna
e fora. Porm, a comunidade internacional, diante da difculdade inerente regulao
das forestas na esfera supranacional, entendeu por acordar sobre um regime jurdico
prprio tutela da diversidade biolgica no planeta.
A explorao predatria dos recursos naturais no fenmeno recente, Antunes
38
analisa tal tema:
A percepo de que certos elementos do mundo natural esto desaparecen-
do em funo da atividade humana um fenmeno social muito antigo e que,
praticamente, acompanha a vida do Ser Humano sobre o Planeta Terra. Para o
pensamento ocidental, a primeira constatao de mudanas negativas no meio
natural que cerca o Homem foi feita por Plato em seu clebre dilogo Crito, no
qual ele lamenta, acidamente, o estado de degradao ambiental do mundo que
lhe era contemporneo. Mesmo sociedades tidas como primitivas e paradisa-
cas foram responsveis pela extino de espcies. Paul R. Ehrlich demonstra que
os Maori, em menos de 1.000 anos de presena na Nova Zelndia, promoveram
a extino de cerca de 13 espcies de Moa (pssaro sem asas), em funo de caa
intensiva e da destruio de vegetao. H suspeitas de que a apario do Ho-
mem no continente americano pode ter contribudo fortemente para a extino
de pelo menos duas espcies de mamferos. Pesquisas arqueolgicas demonstram
que mesmo comunidades pr-histricas poderiam ter levado inmeros animais
extino. No seria exagerado dizer que a convivncia natural do Ser Humano
com outros animais , eminentemente, semelhante luta pela sobrevivncia e
evoluo natural que se verifca entre todas as espcies
Diante da explorao predatria das forestas tropicais, locais onde se concentram a
maior parte da diversidade biolgica do planeta, surgiu a necessidade de um regime ju-
rdico especfco que pudesse orientar e incentivar aes domsticas visando tutela da
diversidade biolgica do planeta. Foi quando, ento, em 1992 diversos pases assinaram
a Conveno sobre Diversidade Biolgica que, junto com a Conveno-Quadro das
Naes Unidas sobre Mudana Climtica e Conveno sobre o Combate a Desertifca-
o, comps o grupo das chamadas Convenes do Rio.
Como no poderia ser diferente, este movimento internacional por um regime jur-
dico supranacional para tutelar a diversidade biolgica do planeta exigiu aes doms-
ticas que, progressivamente, espalharam-se por diversos pases. O fundamento maior,
que embasou esta preocupao internacional foi o de que a diversidade biolgica, assim
como o meio ambiente como um todo, no conhece fronteiras polticas e, portanto,
justifca-se a sua tutela na esfera supranacional.
No Brasil no foi diferente. Pelo contrrio, por possuir a mais rica biodiversidade
do planeta, o pas foi e constantemente alvo de presses internacionais visando impor
padres de proteo cada vez mais rigorosos. assim, portanto, que em 1998, por
meio do Decreto n. 2.519, a Conveno sobre Diversidade Biolgica incorporada ao
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 83
ordenamento jurdico brasileiro. Alguns anos mais tarde, em 2001, a Medida Provisria
n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disps sobre o acesso diversidade biolgica no
Brasil. Diante da difculdade em se transformar em lei ordinria, foi instituda a Poltica
Nacional de Biodiversidade, pelo Decreto n. 4.339/2002. Deste limitado quadro legal,
possvel a anlise e exame dos objetivos, princpios e diretrizes gerais que orientam a
tutela da biodiversidade no Brasil.
ATIVIDADES
1. O que se entende por diversidade biolgica?
2. Quais so princpios que instruram a Conveno sobre Biodiversidade Bio-
lgica de 1992?
3. Quais so os principais riscos biodiversidade nos mbitos global e regional?
4. Quais so os instrumentos legais brasileiros que auxiliam na tutela da diver-
sidade biolgica? Por qu?
5. Quais os princpios da Poltica Nacional da Biodiversidade?
6. Qual a controvrsia acerca da legalidade do Plano Nacional da Biodiversidade?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, artigo 225;
2. Conveno sobre Diversidade Biolgica;
3. Medida Provisria n. 2.186-16/2001;
4. Decreto n. 4.339/2002.
Leitura Indicada
Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental, 11 Edio, Editora Lumen Juris,
(2008), pp. 389-428;
dis Milar, Direito do Ambiente, 5 edio, Editora Revista dos Tribunais, (2007),
pp. 547-569.
Jurisprudncia
Agravante: Ministrio Pblico vs. Agravados: Defensoria Pblica do Estado de So
Paulo, Prefeitura Municipal de So Luiz do Paraitinga, VCP Votorantin Celulose e
Papel S.A, Suzano Papel e Celulose e Estado de So Paulo. AI n. 759.399-5/8, Cmara
Especial do Meio Ambiente, TJ-SP, Julgamento 28/Ago./2008, DJ-SP 11/Set./2008.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 84
Ementa
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ao civil pblica grandes plantaes de
eucalipto e devastao ambiental Deciso que indeferiu a liminar e no acolheu o pe-
dido de extino da ao Legitimidade da Defensoria Pblica Estadual para propor
ao civil pblica (Lei 7.347/85, artigo 5, II) Recurso desprovido.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 85
AULA 13. GUA
Historicamente, a gua foi considerada um recurso natural renovvel e ilimitado.
Contudo, com o crescimento demogrfco acelerado, o surgimento de novas fontes de
poluio e polticas pblicas insustentveis, as presses sobre este recurso natural, vital
prpria vida no planeta, tornaram-se fonte de extrema preocupao. O tratamento da
gua como um recurso ilimitado e passvel de ser apropriado gratuitamente, acabou por
infuenciar inmeros sistemas legais ao redor do mundo, contribuindo para polticas
pblicas desastrosas na gesto deste recurso natural to precioso, quanto vital.
A partir do momento em que gua passa a ser encarada como um recurso renovvel,
porm limitado, houve a necessidade de reconstruo dos ordenamentos jurdicos para
adequarem e harmonizarem noes econmicas e preservacionistas. Esta mudana
refetida por uma tendncia atual de maior interveno do Estado por meio do exerccio
cada vez maior do seu poder regulatrio. Em razo disso, no Brasil, surge um intricado
sistema legal e institucional responsvel pela gesto dos recursos hdricos e que passa a
ser tratado como matria inerente ao Direito de guas.
A Constituio Federal prev em seu artigo 22, IV, competncia privativa da Unio
para legislar sobre guas, energia, regime dos portos e navegao lacustre, fuvial e ma-
rtima. O pargrafo nico do referido artigo determina que lei complementar pode
autorizar os Estados a legislar sobre questes especfcas destas matrias. Entretanto, tal
lei ainda no foi editada permanecendo, portanto, a competncia da Unio.
De acordo com o artigo 20 da Constituio, so bens da Unio:
39404142III os lagos, rios e quaisquer correntes de gua em terrenos de
seu domnio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros
pases, ou se estendam a territrio estrangeiro ou dele provenham, bem como os
terrenos marginais e as praias fuviais; os potenciais de energia hidrulica
43VIII os potenciais de energia hidrulica;
Tambm cabe Unio, segundo o artigo 21, incisos XII, alneas b, d e f, da Consti-
tuio Federal, explorar diretamente ou mediante autorizao, concesso ou permisso:
os servios e instalaes de energia eltrica e o aproveitamento energtico dos cursos de
gua, em articulao com os Estados onde se localizam os potenciais hidroenergticos;
os servios de transporte ferrovirio e aquavirio entre portos brasileiros e fronteiras
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Territrio; os portos martimos,
fuviais e lacustres.
Outras importantes funes atribudas Unio em matria de gua dizem respeito
instituio do sistema nacional de gerenciamento de recursos hdricos e defnio de
critrios de outorga de direitos de seu uso e a execuo dos servios de polcia martima,
aeroporturia e de fronteira, previstos, respectivamente, no artigo 21, incisos XIX e
XXII, da Constituio.
As guas estaduais constituem bens pblicos, cujo domnio pertence aos prprios
Estados, cabendo a estes a gesto e autotutela administrativa do bem em questo, o que
muitas vezes feito mediante lei. Constituem bens dos Estados as guas superfciais
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 86
39
ANTUNES, p. 719.
ou subterrneas, fuentes, emergentes e em depsito, ressalvadas, neste caso, na forma
da lei, as decorrentes de obras da Unio (artigo 26, I da Constituio). Assim, embora
possuam vasto domnio hdrico, os Estados apenas detm competncia para produzir
normas administrativas sobre as guas do seu domnio, inclusive atravs de lei, quando
necessrio. Dessa forma, comum observarmos disposies sobre guas nas Constitui-
es Estaduais.
Em relao aos Municpios, como no possuem guas do seu domnio, compete a
estes apenas gerir a drenagem urbana e, em alguns casos, rural, com base na compe-
tncia legislativa para tratar de assuntos de interesse local e suplementar a legislao
federal e estadual no que couber, de acordo com os artigos 29 e 30, incisos I e II, da
Constituio.
4546O Direito de guas regido no Brasil pela Lei 9.433/97, que instituiu a Pol-
tica Nacional de Recursos Hdricos (PNRH). A Lei 9.433/97 estabelece em seu art. 1,
os princpios basilares da PNRH, so eles:
Art. 1 A Poltica Nacional de Recursos Hdricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I a gua um bem de domnio pblico;
II a gua um recurso natural limitado, dotado de valor econmico;
III em situaes de escassez, o uso prioritrio dos recursos hdricos o
consumo humano e a dess edentao de animais;
IV a gesto dos recursos hdricos deve sempre proporcionar o uso mlti-
plo das guas;
V a bacia hidrogrfca a unidade territorial para implementao da Pol-
tica Nacional de Recursos Hdricos e atuao do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hdricos;
VI a gesto dos recursos hdricos deve ser descentralizada e contar com a
participao do Poder Pblico, dos usurios e das comunidades.
A partir da leitura dos supracitados princpios possvel perceber uma nova proteo
s guas em detrimento da estabelecida pelo Cdigo de guas de 1934. Sobre o tema
aborda Antunes
39
:
O principal aspecto que pode ser compreendido destes princpios que a nova con-
cepo legal busca encerrar com a verdadeira apropriao privada e graciosa dos recursos
hdricos. Com efeito, sabemos que a indstria e a agricultura so os grandes usurios
dos recursos hdricos. Normalmente, a gua captada, utilizada e devolvida para o seu
local de origem, sem que aqueles que auferem vantagens e dividendos com a sua uti-
lizao paguem qualquer quantia pela atividade. E mais, a recuperao e manuteno
das boas condies sanitrias e ambientais dos recursos hdricos, conspurcados pelas
diversas atividades econmicas que deles dependem, um encargo de toda a sociedade
que, com seus impostos, subsidia de forma inaceitvel diversas atividades privadas.
Constituem objetivos da Poltica Nacional de Recursos Hdricos, segundo o art. 2
da Lei em comento:
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 87
I assegurar atual e s futuras geraes a necessria disponibilidade de
gua, em padres de qualidade adequados aos respectivos usos;
II a utilizao racional e integrada dos recursos hdricos, incluindo o
transporte aquavirio, com vistas ao desenvolvimento sustentvel;
III a preveno e a defesa contra eventos hidrolgicos crticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
Finalmente cabe destacar que a PNRH fxa instrumentos para tornar a Po-
ltica efetiva:
I os Planos de Recursos Hdricos;
II o enquad r amento dos corpos de gua em classes, segundo os usos pre-
ponderantes da gua;
III a outorga dos direitos de uso de recursos hdricos;
IV a cobrana pelo uso de recursos hdricos;
V a compensao a municpios;
VI o Sistema de Informaes sobre Recursos Hdricos.
Tema importante a ser destacado em matria de gua diz respeito ao controle de sua
quantidade e qualidade. O primeiro feito atravs de concesses e autorizaes para
derivao de gua. Compete ao titular do domnio da gua, ou seja, Unio, Estados ou
Distrito Federal, outorgar autorizao administrativa, com exceo de aproveitamento
de potenciais de energia hidrulica.
No tocante ao controle da qualidade da gua, o CONAMA classifcou as guas do
territrio brasileiro de acordo com sua qualidade, utilizando como referncia seu uso
predominante. Assim, as guas doces (salinidade igual ou inferior a 0,5%) foram divi-
didas em cinco classes: I classe especial; II Classe 1; III Classe 2; IV Classe
3; V Classe 4. As guas salinas (salinidade igual ou superior a 30 %) em quatro:
I Classe especial; II Classe 1; III Classe II; e IV Classe 3. Finalmente, as
salobras (salinidade superior a 0,5 % e inferior a 30 %) foram classifcadas em quatro:
I Classe especial; II Classe 1; III Classe 2; e IV Classe 3. No mbito da
regulao federal, destaca-se a Resoluo CONAMA n. 357/2005, que dispe sobre a
classifcao dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento.
Cabe Unio, atravs do Conselho Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) proce-
der ao enquadramento das guas federais nas classes e quanto s estaduais compete aos
prprios Estados, por meio do rgo estadual competente, sempre ouvindo as entidades
pblicas ou privadas interessadas.
Outro instrumento da Poltica Nacional de Recursos Hdricos que merece destaque
a cobrana pelo uso de recursos hdricos. No Brasil, as guas pblicas constituem bens
inalienveis, sendo apenas outorgado o direito ao seu uso. Vale destacar que a cobrana
feita no saneamento bsico, geralmente, corresponde remunera o pelo servio de
fornecimento, a includos os custos com o transporte, distribuio, entre outros, no
sendo cobrado o valor do bem econmico gua. A cobrana pelo consumo da gua
baseia-se no princpio do usurio-pagador e constitui mecanismo fundamental para a
alocao efciente dos recursos hdricos.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 88
ATIVIDADES
1. Qual a racionalidade na imposio de cobrana pelo uso da gua?
2. Qual o regime jurdico de propriedade aplicvel aos recursos hdricos no
Brasil?
3. De qual(is) ente(s) da Federao a competncia legislativa e administrativa
sobre guas? Explique.
4. Como conciliar a gesto dos recursos hdricos com as necessidades de futuras
geraes?
5. Qual o princpio do direito ambiental que est ligado instrumentalizao
da racionalizao do uso dos recursos hdricos. Na prtica, como isto feito?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, Artigos 20, III, V e VI, 26, I, 21, XIX, 22, IV;
2. Decreto 24.643/1934 (Cdigo de guas);
3. Decreto-lei 852/1938;
4. Cdigo Florestal, Lei 4.771/65, Artigo 2, a, b e c;
5. Decreto-lei 221/1967 (Cdigo de Pesca);
6. Lei 9.433/1997 (Poltica Nacional de Recursos Hdricos e Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hdricos).
Doutrina
Em suas mais variadas formas e localizaes doces, superfciais ou subterrneas, sal-
gadas, salobras, em geleiras ou atmosfricas , a gua na Terra praticamente a mesma
durante os ltimos milhes de anos. As mudanas de local, qualidade e estado decorrem de
fatores naturais e/ou humanos os mais diversos, que acabam recebendo a participao do
homem para ameniz-los, elimin-los ou redirecion-los, de acordo com as necessidades e
possibilidades que se apresentam, ou at para agrav-los.
(...)
O direito de guas pode ser conceituado como conjunto de princpios e normas jurdicas
que disciplinam, uso, aproveitamento, a conservao e preservao das guas, assim como
a defesa contra suas danosas conseqncias. De incio, denominava-se direito hidrulico.
A estreita vinculao das normas jurdicas relativas s guas com o ciclo hidrolgico, que
desconhece limites no seu percurso, faz com que o direito de guas contenha normas tradi-
cionalmente colocadas no campo do direito privado e no do direito pblico. Suas fontes so a
legislao, a doutrina, a jurisprudncia e o costume.
[Cid Tomanik Pompeu, Direito de guas no Brasil, Revista dos Tribunais, 2006,
pp. 35 e 39.]
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 89
Leitura Indicada
MILAR, dis. Direito do Ambiente. 5 edio. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
pp. 463-499.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11 Edio. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, pp. 699-735.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 Edio. So Paulo:
Malheiros, 2008, pp. 441-529.
POMPEU, Cid Tomanik. Direito de guas no Brasil. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2006, pp. 35 e 39.
Jurisprudncia
Recorrente: Ministrio Pblico do Estado de So Paulo vs. Recorrido: Henrique
Hessel Roschel e Outros (3), Recurso Especial n. 333.056-SP (2001/0087209-0), 2
Turma, STJ, Julgamento 13/12/2005, DJ 06/2/2006.
Ementa
ADMINISTRATIVO. AO CIVIL PBLICA. LOTEAMENTO IRREGU-
LAR. REA DE MANANCIAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICPIO E DO
ESTADO. PODER-DEVER. ARTS. 13 E 40 DA LEI N. 6.766/79.
1. As determinaes contidas no art. 40 da Lei 6.766/99 consistem num dever-po-
der do Municpio, pois consoante dispe o art. 30, VIII, da Constituio da Repblica,
compete-lhe promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupao do solo urbano.
2. Da interpretao sistemtica dos arts. 13 da Lei n 6.766/79 e 225 da CF, extrai-
se a necessidade de o Estado interferir, repressiva ou preventivamente, quando o lotea-
mento for edifcado em reas tidas como de interesse especial, tais como as de proteo
aos mananciais.
3. Recurso especial provido.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 90
AULA 14. AR E ATMOSFERA (MUDANA CLIMTICA)
Juntamente com a gua, o ar outro elemento natural vital para o ser humano. A
sua contaminao causa efeitos nocivos imediatos e impactos signifcativos na sade dos
seres humanos. Sua utilizao se d pela forma de despejo de substncias qumicas
poluentes. Porm, sua capacidade de absoro limitada e a sua contaminao ocorre
de forma acelerada.
Em alguns centros metropolitanos, a poluio atmosfrica chega a ser literalmen-
te visvel. No incomum a populao dos grandes centros utilizarem mscaras para
circular nas ruas. Alm dos prejuzos diretos sade da populao, a qualidade do ar
est intimamente ligada ao sadio funcionamento de outros sistemas ecolgicos. Porm,
a difcil tarefa de estabelecimento de relaes de causa e efeito, bem assim, interesses
econmicos na utilizao deste precioso recurso, so fatores que contribuem para as
imperfeies legislativas e executivas no combate poluio atmosfrica.
No mbito da regulao do ar no Brasil, algumas das mais relevantes resolues in-
cluem: Res. CONAMA n. 18/86 e n. 315/2002 que dispem o programa de controle
de poluio do ar por veculos automotores (PROCONVE); Res. CONAMA n. 5/89
que dispe sobre o programa nacional de controle da poluio do ar (PRONAR); Res.
CONAMA n. 3/90 e n. 8/90 que dispem sobre os padres de qualidade do ar previstos
no PRONAR; e Res. n. 382/2006 que estabelece os limites mximos de emisso de po-
luentes atmosfricos para fontes fxas. No mbito da legislao federal, alguns diplomas
que se destacam so: Leis n. 8.723/1993 e n. 10.203/2001 que dispem sobre a reduo
de emisso de poluentes por veculos automotores.
No contexto especfco da tutela da atmosfera, importante passo foi dado pelo legis-
lativo federal com a promulgao da Lei 12.187/2009 que institui a Poltica Nacional
de Mudana Climtica (PNMC). A PNMC imps metas voluntrias de reduo de
emisses de gases de efeito estufa e foi responsvel por diversos instrumentos normati-
vos em mbito estadual.
O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, promulgou recentemente a sua Poltica
Estadual sobre Mudana do Clima (PEMC-RJ). A Lei que instituiu a PEMC-RJ
entrou em vigor no dia 15 de abril de 2010. Seu principal objetivo promover a estabi-
lizao das concentraes de gases de efeito estufa na atmosfera em nveis que impeam
interferncias humanas perigosas ao sistema climtico, mas ressaltando tambm a com-
patibilizao com o desenvolvimento econmico.
ATIVIDADES
1. Como pode ser feita a compatibilizao entre o desejo de grandes centros
de atrair um parque industrial que gere empregos e movimente a economia
local com os objetivos de preservao da sadia qualidade do ar?
2. O que so os Padres de Qualidade do Ar e sobre qual rgo recai a compe-
tncia para institu-los?
3. Do ponto de vista do arcabouo legal e institucional brasileiro, como o ar e
atmosfera so tutelados? Quais os pontos negativos e positivos desta estrutura.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 91
4. Existe alguma espcie de compromisso internacional que obrigue o Brasil a
adotar medidas de controle contra a poluio do ar? Caso positivo, identif-
que 3 deles fundamentando a resposta.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal, artigos 23, IV, 24, VI, 30, II, 225, caput;
2. Leis n. 8.723/1993 e n. 10.203/2001;
3. Resolues CONAMA 18/86; 005/1989; 003/1990; 008/1990 e 382/2006;
4. Art. 27 da Lei 4.771/65;
5. Art. 54 da Lei 9.605/98.
Doutrina
Ligado estreitamente aos processos vitais de respirao e fotossntese, evaporao trans-
pirao, oxidao e aos fenmenos climticos e meteorolgicos, o recurso ar mais am-
plamente, a atmosfera tem um signifcado econmico, alm do biolgico ou ecolgico, que
no pode ser devidamente avaliado. Enquanto corpo receptor de impactos, o recurso que
mais rapidamente se contamina e mais rapidamente se recupera dependendo, evidente-
mente, de condies favorveis.
[dis Milar, Direito do Ambiente, 5 edio, Revista dos Tribunais, 2007, p.204.]
Leitura Indicada
MILAR, dis. Direito do Ambiente. 5 edio. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
pp. 204-214.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 Edio. So Paulo:
Malheiros, 2008, pp. 534-561.
Jurisprudncia
Recorrente: Petrleo Brasileiro S/A PETROBRS vs. Recorrido: Departamen-
to de guas e Energia Eltrica do Estado de So Paulo DAEE, Recurso Especial n.
399.355-SP (2001/0196898-0), 1 Turma, STJ, Julgamento 11/Nov./2003, DJ 15/
Dez./2003.
Ementa
ADMINISTRATIVO DIREITO AMBIENTAL REGULAMENTO PA-
DRES DE QUALIDADE AMBIENTAL ADOO DE CRITRIOS INSE-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 92
GUROS DECRETO 8.468/76 DO ESTADO DE SO PAULO ILEGALI-
DADE LEI 6.938/81.
O Decreto 8.468/76 do Estado de So Paulo, incidiu em ilegalidade, contrariando
o sistema erigido na Lei Federal 6.938/81, quando adotou como padres de medida de
poluio ambiental, a extenso da propriedade e o olfato de pessoas credenciadas.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 93
MDULO IV. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Conforme reiteradamente exposto em tpicos anteriores, o bem ambiental com-
plexo, pois composto de diversos elementos naturais e, conforme o ordenamento jur-
dico, de elementos criados artifcialmente pelo homem. Pelo fato desses elementos apre-
sentarem intricada relao com a vida humana, esto constantemente sujeitos a serem
alterados e/ou modifcados. Acontece, porm, que a noo clssica de dano pressupe
uma ao negativa, ou seja, prejudicial ao estado em que se encontrava o bem antes do
evento danoso. Em se tratando do bem ambiental e dos elementos que o compem, a
caracterizao de um dano ameaada pelo alto grau de subjetividade no juzo de valor
que, por sua vez, varia conforme o interesse em jogo. Por exemplo: o que seria um meio
ambiente ecologicamente equilibrado? Quem defne quais os critrios para se atingir
um meio ambiente ecologicamente equilibrado? A cincia? Mas por vezes a prpria ci-
ncia contraditria. Conseqentemente, a prpria caracterizao de um determinado
dano ambiental no matria pacfca. Na mesma esteira, muitos danos ao meio am-
biente so de longa maturao, no sendo sentidos, seno depois de transcorridos lon-
gos perodos de tempo. Em todas essas hipteses, h, portanto, signifcativa difculdade
de estabelecimento de nexo causal, tpico da relao entre o dano e a responsabilidade
civil clssica.
Por outro lado, quando efetivamente constatada a existncia de um dano ao meio
ambiente como, por exemplo, inequvoco derramamento de substncia txica que afeta
a sade da populao e os atributos ecolgicos dos elementos diretamente afetados pelo
vazamento, impe-se a construo de uma responsabilidade especial que considere a
complexidade anteriormente narrada do bem ambiental. Para tanto, a Constituio Fe-
deral de 1988 estabelece as linhas gerais para uma trplice responsabilizao: no campo
penal, administrativo e reparatrio, bem assim a legislao infraconstitucional, mais
precisamente, a Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente (Lei 6,938/81) e a Lei dos
Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998).
Dessa formas os objetivos deste mdulo so:
Entender a noo de dano ambiental luz da complexidade do bem ambiental
Trabalhar as possibilidades reparatrias diante de um dano ambiental.
Identifcar as difculdades da aplicao da responsabilidade civil aos danos cau-
sados ao meio ambiente.
Examinar as conseqncias sancionatrias imputadas pelo ordenamento jurdi-
co brasileiro ao responsvel pelo dano ambiental.
Conhecer as condutas lesivas ao meio ambiente que do ensejo a responsabili-
dade penal.
Analisar as possibilidades de atuao da administrao pblica na imposio de
sanes administrativas.
Articular a aplicao das responsabilidades civil, penal e administrativa.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 94
40
Art. 225 da CF.
41
Art. 225, 3 da CF: As condutas
e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitaro os infratores,
pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes
penais e administrativas, independen-
temente da obrigao de reparar os
danos causados.
42
Antonio Herman V. Benjamin. Res-
ponsabilidade Civil pelo Dano Ambien-
tal. Revista de Direito Ambiental, ano
3, janeiro-maro de 1998. P. 9.
AULA15. RESPONSABILIDADE COMO TUTELA DO RISCO
O risco um fenmeno afeto transformao dos modelos tecnolgicos e de
produo que caracterizam a sociedade moderna. Difere-se do perigo, pois que se refere
s situaes futuras e incertas. Apesar de no ser possvel afastar integralmente os riscos
produzidos pela sociedade, mecanismos de gesto dos riscos so viveis e cada vez mais
desejveis.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial sadia qualidade de vida,
direito de todos e sua defesa e preservao dever do Poder Pblico e da coletividade
40
.
Muitas vezes os danos provenientes da ausncia da observncia do dever constitucional
de proteo ambiental so irreversveis, no sendo, dessa forma, possvel repar-los.
neste contexto de irreparabilidade e imprevisibilidade do dano ambiental que surge a
responsabilidade ambiental.
Tendo em vista a preocupao com a produo de danos futuros, a responsabilidade
ambiental estimula os agentes econmicos a exercerem suas atividades de forma mais
efciente, na medida em que a verifcao do dano poder implicar na trplice responsa-
bilizao (penal, administrativa e civil) do agente
41
.
Assim sendo, as externalidades ambientais so incorporadas aos custos de produo,
posto que os agente econmicos so estimulados a desenvolverem formas menos dano-
sas e perigosas de exercerem suas respectivas atividades
42
, reduzindo, portanto, os riscos
ambientais, diminuindo, conseqentemente, os danos ao meio ambiente. Diante das
demandas da sociedade, a responsabilidade ambiental surge como importante instru-
mento para a regulao dos riscos.
ATIVIDADES
1) De que forma a responsabilidade ambiental pode ser entendida como um
instrumento de mitigao do risco do dano ambiental?
2) Pode a responsabilidade ser utilizada como instrumento para evitar que o
tomador do risco assuma apenas o nvel de risco que aceitvel?
3) Como que se defne o nvel de risco aceitvel?
4) No que consistiria uma anlise custo-benefcio do risco ambiental?
5) De que forma a tutela do risco pode atuar inibindo e/ou incentivando anli-
ses custo-benefcio?
6) De que forma o gestor pblico pode gerir a anlise custo-benefcio realizada
pelo empreendedor para que ela opere como efetivo instrumento de mitiga-
o do risco ambiental?
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 95
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
Lei 9.605/98
Doutrina
A sociedade capitalista e o modelo de explorao capitalista dos recursos economicamente
apreciveis se organizam em torno das prticas e dos comportamentos potencialmente produ-
tores de situaes de risco. Esse modelo de organizao econmica, poltica e social submete e
expe o ambiente, progressiva e constantemente, ao risco.
O risco, hoje, o dado que responde pelos maiores e mais graves problemas e difculdades
nos processos de implementao de um nvel adequado de proteo jurdica do ambiente (...).
O dano ambiental um desses novos problemas produzidos pelos modelos de organizao
social de risco, e que se relacionam de forma mais prxima com a pretenso deste trabalho.
H a difuso subjetiva, temporal e espacial dos estados de perigo e das situaes de risco, a
qual qualifca o dano ao ambiente sob uma perspectiva de superao dos esquemas relacio-
nais da cincia jurdica tradicional. Basta para exemplifcar a afrmao a observao da
emergncia do dano pessoal e do dano global, que cada vez mais tm condies de projetar
potencialmente seus efeitos no tempo, sem que se garantam certeza e controle absoluto sobre
a informao de sua qualidade de periculosidade.
Tal situao importa em reconhecer a multiplicao annima das situaes de danos invis-
veis, furtivos e annimos, cuja presena, acumulao e progresso do processo degradador podem
ser mesmo completamente desconhecidos dos atores do ambiente democrtico e de seus atingidos.
Reconhece-se, assim, a possibilidade da proliferao annima de situaes de risco e de
perigo, das vtimas potenciais, e, sobretudo, da possibilidade de que a potncia de vitimiza-
o no se adstrinja exclusivamente ao presente, e muito menos se circunscreva a um mbito
tico que limite sua compreenso a partir do paradigma humano. No s os atores sociais
presentes e humanos so as vtimas potenciais desses processos invisveis e deles desconhecidos.
A invisibilidade e o anonimato dos estados de risco e de perigo revelam seu aspecto nocivo
e dogmaticamente mais tormentoso como problema, quando se admite que so futuras ge-
raes, e o complexo de seus interesses e direitos intergeracionais, que atualmente se impem
como o principal problema produzido pelas sociedades de risco, e, da mesma forma, o princi-
pal problema a ser enfrentado pelo Direito do Ambiente a partir de um modelo efciente de
equalizao otimizada e procedimental desses desafos.
Leite, Jos Rubens Morato. Direito ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2004. P. 123-124.
Leitura Indicada
LEITE, Jos Rubens Morato. Direito ambiental na sociedade de risco. 2 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2004. P. 123-132.
GUERRA, Sidney e Guerra, Srgio. Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: F-
rum, 2009. P. 19-37.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 96
Jurisprudncia
Recorrente: Ruma Administrao e Comrcio de Imveis Ltda. vs. Recorrido: Mi-
nistrio Pblico, Agravo de Instrumento n. 2004.002441-0, de So Francisco do Sul,
Primeira Cmara de Direito Pblico, TJSC, Julgamento 27/Maio/2004.
Ementa
AO CAUTELAR EM MATRIA AMBIENTAL LIMINAR CONCEDIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO LICENA E AUTORIZAO DE CORTE
EXPEDIDOS EM DESACORDO COM O RELATRIO DE VISTORIA.
O art. 225 da CRFB prev que o Poder Pblico, com o fto de garantir um meio
ambiente equilibrado, pode exigir, na forma da lei, para instalao de obra ou atividade
potencialmente ensejadora de signifcativa leso ao meio ambiente, estudo prvio de
impacto.
No caso em tela, a licena e autorizao de corte obtidos pela agravante se encon-
tram em frontal oposio ao relatrio de impacto ambiental efetuado in loco, uma vez
que naquele documento consta expressamente a proibitiva de supresso de rvores, fo-
restas ou qualquer forma de vegetao de Mata Atlntica, bem como de conjunto de
plantas em estgio de regenerao mdio ou elevado, vedaes estas, contidas na Lei n.
4774/65, Decreto n. 750/93 e resoluo CONAMA n. 237/97.
Destarte, no pode a recorrente pretender, escorada em licena e autorizao que
no levaram em conta a realidade, continuar a explorar e suprimir a vegetao da rea,
pelo menos at a realizao de um estudo de impacto ambiental.
AMBIENTAL PROTEO ANTECIPADA CONTROLE DO RISCO DE
DANO APLICAO DOS PRINCPIOS DA PRECAUO E PREVENO.
Frente ao atual conceito de proteo ambiental trazido pela CRFB, percebe-se a
importncia atribuda antecipao no que tange ao controle do risco de dano, no-
tadamente com a aplicao dos princpios. O princpio da preveno tem seu mbito
gravitacional dirigido s hipteses em que se pode vislumbrar um perigo concreto, ou
melhor, onde o risco de dano mais palpvel. O princpio da precauo, por sua vez,
atua no caso de perigo abstrato, hipteses em que no se pode ter noo exata das con-
seqncias advindas do comportamento do agente.
Por este vis, prefervel o adiamento temporrio das atividades eventualmente
agressivas ao meio ambiente, a arcar com os prejuzos em um futuro prximo, ou ainda,
pleitear reparao dos danos, a qual, nesta seara, torna-se normalmente complicada e,
muitas vezes, inefciente.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 97
43
Nicolao Dino Costa Neto, Flavio Dino
de Castro Costa e Ney de Barros Bello Fi-
lho. Crimes e Infraes Administrativas
Ambientais. Braslia: Braslia Jurdica,
2000. P. 324 e 325.
44
dis Milar, Direito do Ambiente. 5
edio reformulada, atualizada e am-
pliada. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. P. 837.
AULA 16. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
Como visto anteriormente, a proteo ao meio ambiente materializada, dentre ou-
tras formas, pela fxao de responsabilidade administrativa, penal e civil do poluidor.
Tais formas de responsabilizao so concretizadas a partir de aes de cunho preventi-
vo, reparatrio e repressivo.
A responsabilidade administrativa classifcada como mecanismo de represso con-
duzido pelo Poder Pblico, atravs de seu poder de polcia, em face de condutas consi-
deradas lesivas ao meio ambiente.
Segundo o art. 70 da Lei 9.605/1998, infrao administrativa ambiental consiste em
toda ao ou omisso que viole as regras jurdicas de uso, gozo, promoo, proteo e
recuperao do meio ambiente. Como pode ser observado, a lei tipifcou as infraes
ambientais de forma aberta e genrica, conferindo alto grau de discricionariedade ao
agente pblico no enquadramento de condutas lesivas como infraes administrativas.
Sobre o tema afrma Nicolao Dino de Castro e Costa
43
: A utilizao de tipos abertos
e de normas penais em branco constitui um mal necessrio, para que seja possvel asse-
gurar maior efetividade tutela penal ambiental. Ora, se pode ser sustentada a compati-
bilidade deste ponto de vista com a ordem jurdica, em se tratando da seara penal, com
muito mais razoabilidade tal pode ocorrer cuidando-se das infraes administrativas.
A partir da leitura do art. 70 da Lei de Crimes Ambientais, supracitado, possvel
extrair o pressuposto para a confgurao da responsabilidade administrativa, qual seja,
praticar conduta ilcita, ou seja, em dissonncia com o ordenamento legal. Esta a
principal diferena da responsabilidade administrativa para a civil, j que nesta ltima
no necessrio que a conduta seja ilcita, basta a verifcao de dano ao meio ambiente.
Seguindo este entendimento, afrma dis Milar
44
: Refetindo mais detidamente
sobre a matria, conclumos que a essncia da infrao ambiental no o dano em si,
mas sim o comportamento em desobedincia a uma norma jurdica de tutela do am-
biente. Se no h conduta contrria legislao posta, no se pode falar em infrao
administrativa. Hoje entendemos que o dano ambiental, isoladamente, no gerador
de responsabilidade administrativa; contrario sensu, o dano que enseja responsabilidade
administrativa aquele enquadrvel como o resultado descrito em um tipo infracional
ou o provocado por uma conduta omissiva ou comissiva violadora de regras jurdicas.
Nesse sentido, p. ex., se uma indstria emite poluentes em conformidade com a sua
licena ambiental, no poder ser penalizada administrativa e penalmente caso o rgo
licenciador venha a constatar, em seguida, que o efeito sinrgico do conjunto das ativi-
dades industriais desenvolvidas em determinada regio est causando dano ambiental,
no obstante a observncia dos padres legais estabelecidos em norma tcnico-jurdica.
No exemplo acima apresentado, o empreendedor apesar de no ter praticado qual-
quer conduta ilegal, poder sofrer responsabilidade civil, j que danos ambientais foram
produzidos. Ainda nesta situao, o Estado tambm poder ser responsabilizado soli-
dariamente, visto que a lhe cabe defnir padres de qualidade adequados a garantir a
proteo do meio ambiente.
O art. 72 da Lei 9.605/1998 estabelece as sanes legais a serem aplicadas em caso
de verifcao de infrao administrativa, so elas: advertncia; multa simples; multa
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 98
45
Lei 6.938/1981, art. 9, IX.
diria; apreenso dos animais, produtos e subprodutos da fauna e fora, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veculos de qualquer natureza utilizados na infrao; des-
truio ou inutilizao do produto; embargo de obra ou atividade; demolio de obra;
suspenso parcial ou total de atividade; e restritiva de direitos.
No que diz respeito competncia para defnir infraes administrativas e suas pe-
nalidades, o artigo 24 da CF/88 atribui competncia concorrente Unio, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municpios (em razo do disposto no artigo 30, inciso II, da
CF). Cabe destacar, todavia, que em relao defnio dos crimes ambientais e suas
respectivas penas, somente a Unio poder legislar, j que possui competncia privativa
em matria penal. J em relao gesto do meio ambiente, o art. 23 da CF/88, atribui
competncia administrativa comum aos Entes Federativos para a proteo do meio
ambiente e combate da poluio em qualquer de suas formas.
Considerando a diviso de competncias, alm das infraes administrativas elen-
cadas pelos artigos 70 a 76 da Lei 9.605/1998, tambm devem ser observadas aquelas
constantes das leis estaduais, municipais e distritais relativas proteo ambiental.
ATIVIDADES
1. De que forma a imposio de sanes administrativas pode ser instrumento
efcaz na preveno de aes lesivas ao meio ambiente?
2. Qual(is) rgo(s) possui(em) competncia para defnio de infraes admi-
nistrativas e suas sanes?
3. O elemento subjetivo (dolo ou culpa) de observncia obrigatria em todas
as sanes aplicadas s infraes administrativas ambientais?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Lei 9.605/1998
2. Decreto 3.179/1999
Doutrina
Para a implementao da Poltica Nacional do Meio Ambiente, e fundando-se no princ-
pio do poluidor-pagador, alm de consagrar o dever do poluidor de reparar o dano resultante
de sua atividade, elencou o legislador, ao lado de alguns instrumentos de cunho preventivo
(p. Ex., o estabelecimento de padres de qualidade ambiental, avaliao de impactos am-
bientais e o licencimanto ambiental), as penalidades disciplinares ou compensatrias ao
no cumprimento das medidas necessrias preservao ou correo da degradao ambien-
tal,
45
de ndole eminentemente repressiva.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 99
De fato, a defesa do meio ambiente desenvolve-se simultaneamente a partir de aes de
ndole preventiva, reparatria e repressiva.
(...) a importncia da regulamentao dos ilcitos administrativos e criminais, em mat-
ria de tutela ambiental, reside no fato de que essas esferas de responsabilidade no dependem
da confgurao de um prejuzo, podendo coibir condutas que apresentem mera pontecia-
lidade de dano ou mesmo de risco de agresso aos recursos ambientais. Exemplo disso a
tipifcao, como crime e como infrao administrativa, da conduta de operar atividade sem
a licena ambiental exigvel.
Na vasta principiologia do Direito Ambiental, o j estudado princpio do controle do
poluidor pelo Poder Pblico aparece aqui como de maior interesse; ele materializa-se no
exerccio do poder de polcia administrativa, que, constatando a prtica de uma infrao,
faz instaurar o processo ed apurao da responsabilidade do agente.
[Milar, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5 ed. ref.,
atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 827-828.]
Leitura Indicada
MILAR, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5 ed. ref.,
atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 820-850.
Jurisprudncia
Recorrente: Petrleo Brasileiro S/A Petrobrs vs. Recorrido: Estado do Rio de Ja-
neiro, Recurso Especial n. 467.212-RJ (2002/0106671-6), 1 Turma, STJ, Julgamento
28/Out./2003, DJ 15/Dez./2003.
Ementa
ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. SANO ADMINISTRATIVA.
IMPOSIO DE MULTA. AO ANULATRIA DE DBITO FISCAL. DERRA-
MAMENTO DE LEO DE EMBARCAO ESTRANGEIRA CONTRATADA
PELA PETROBRS. COMPETNCIA DOS RGOS ESTADUAIS DE PROTE-
O AO MEIO AMBIENTE PARA IMPOR SANES. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. LEGITIMIDADE DA EXAO.
1.(...)O meio ambiente, ecologicamente equilibrado, direito de todos, protegido
pela prpria Constituio Federal, cujo art. 225 o considera bem de uso comum do
provo e essencial sadia qualidade de vida. (...) Alm das medidas protetivas e preser-
vativas previstas no 1, incs. I-VII do art. 225 da Constituio Federal, em seu 3 ela
trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio
ambiente, ao dispor: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitaro os infratores, pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes penais e administrativas,
independentemente da obrigao de reparar os danos causados. Neste ponto a Consti-
tuio recepcionou o j citado art. 14, 1 da Lei n. 6.938/81, que estabeleceu respon-
sabilidade objetiva para os causadores de dano ao meio ambiente, nos seguintes termos:
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 100
sem obstar a aplicao das penalidades previstas neste artigo, o poluidor obrigado,
independentemente de existncia de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. [grifos nossos] (Sergio Cava-
lieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil)
2. As penalidades da Lei n. 6.938/81 incidem sem prejuzo de outras previstas na
legislao federal, estadual ou municipal (art. 14, caput) e somente podem ser aplicadas
por rgo federal de proteo ao meio ambiente quando omissa a autoridade estadual
ou municipal (art. 14, 2). A ratio do dispositivo est em que a ofensa ao meio am-
biente pode ser bifronte atingindo as diversas unidades da federao
3. Capitania dos Portos, consoante o disposto no 4, do art. 14, da Lei n.
6.938/81, ento vigente poca do evento, competia aplicar outras penalidades, pre-
vistas na Lei n. 5.357/67, s embarcaes estrangeiras ou nacionais que ocasionassem
derramamento de leo em guas brasileiras.
4. A competncia da Capitania dos Portos no exclui, mas complementa, a legitimi-
dade fscalizatria e sancionadora dos rgos estaduais de proteo ao meio ambiente.
5. Para fns da Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981, art 3, qualifca-se como po-
luidor a pessoa fsica ou jurdica, de direito pblico ou privado, responsvel, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradao ambiental.
6.Sob essa tica, o fretador de embarcao que causa dano objetivo ao meio ambien-
te responsvel pelo mesmo, sem prejuzo de preservar o seu direito regressivo e em
demanda infensa administrao, inter partes, discutir a culpa e o regresso pelo evento.
7. O poluidor (responsvel direto ou indireto), por seu turno, com base na mesma
legislao, art. 14 sem obstar a aplicao das penalidades administrativas obri-
gado, independentemente da existncia de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
8. Merecem tratamento diverso os danos ambientais provocados por embarcao
de bandeira estrangeira contratada por empresa nacional cuja atividade, ainda que de
forma indireta, seja a causadora do derramamento de leo, daqueles danos perpetrados
por navio estrangeiro a servio de empresa estrangeira, quando ento resta irretorquvel
a aplicao do art. 2, do Decreto n. 83.540/79.
9.De toda sorte, em ambos os casos h garantia de regresso, porquanto, mesmo na
responsabilidade objetiva, o imputado, aps suportar o impacto indenizatrio no est
inibido de regredir contra o culpado.
10. In casu, discute-se to-somente a aplicao da multa, vedada a incurso na ques-
to da responsabilidade ftica por fora da Smula 07/STJ.
11. Recurso especial improvido.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 101
46
dis Milar, Direito do Ambiente. 5
edio reformulada, atualizada e am-
pliada. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. P. 921.
AULA 17. RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL
A responsabilizao penal tem como objetivo precpuo tutelar o bem jurdico meio
ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina o art. 225, caput, da Cons-
tituio Federal. Tal conceito abrange o meio ambiente natural, artifcial e cultural.
Os crimes ambientais e suas respectivas sanes so fxados pela Lei 9.605/98. No
entanto, cabe ressaltar que ainda vigoram outros tipos de natureza penal previstos no
Cdigo Penal, na Lei de Contravenes Penais, no Cdigo Florestal, na Lei 6.453/1977
e na Lei 7.643/1987.
Tendo em vista a complexidade e multidisciplinaridade das questes ambientais,
muitas vezes os tipos penais ambientais so orientados pela tcnica legislativa conhecida
como norma penal em branco, sendo necessrio, portanto, para sua aplicao a interpreta-
o conjunta de alguns algumas leis, inclusive administrativas, j que o dispositivo penal
especfco mostra-se incompleto, requerendo complementao. Nesse sentido, afrma
dis Milar
46
(...) o comportamento proibido vem enunciado de forma vaga, chamando
por complementao ou integrao atravs de outros dispositivos legais ou atos normati-
vos extravagantes. Nem poderia ser diferente em matria, como a em discusso, regulada
predominantemente por normas e instituies de Direito Administrativo.
O crime ambiental pode ser praticado a ttulo doloso ou culposo. O primeiro ocorre
quando o agente deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo. J o crime culposo
verifcado nas hipteses em que o agente produz o resultado danoso em razo de sua
conduta imprudente, negligente ou imperita. De acordo com a Lei 9.605/1998, podem
ser apresentados como exemplo de tipos penais culposos aqueles previstos nos artigos.
38, 40, 41, 49, 54, 56, 62, 67, 68 e 69-A da referida legislao.
Outro ponto importante a ser destacado diz respeito ao sujeito ativo dos crimes am-
bientais. Podem fgurar no plo ativo das condutas tipifcadas como crimes ambientais
qualquer pessoa, fsica ou jurdica. A incluso da responsabilizao das pessoas jurdicas
foi importante inovao trazida pela Lei 9.605/1998, na medida em que os crimes
ambientais so predominantemente cometidos por grandes empresas. O artigo 3 da
Lei em comento estabelece: as pessoas jurdicas sero responsabilizadas administrativa,
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infrao seja co-
metida por deciso de seu representante legal ou contratual, ou de seu rgo colegiado,
no interesse ou benefcio da sua entidade. Determina ainda, em seu pargrafo nico
que a responsabilidade das pessoas jurdicas no exclui a das pessoas fsicas, autoras,
coautoras ou partcipes do mesmo fato.
Como visto, o legislador brasileiro superou o entendimento de que somente pessoas
fsicas poderiam ser sujeitos ativos de crimes e a responsabilizao penal da pessoa ju-
rdica vem sendo aplicada pelos Tribunais. Vale destacar importante precedente da 5
turma do Superior Tribunal de Justia, nos autos do Recurso Especial 564.960/SC, cujo
relator Ministro Gilson Dipp, que assim se posicionou ao determinar o recebimento de
denncia em face de empresa acusada de poluir o leito de um rio: no obstante alguns
obstculos a serem superados, a responsabilidade penal da pessoa jurdica um preceito
constitucional, posteriormente estabelecido, de forma evidente, na Lei ambiental, de
modo que no pode ser ignorado. Difculdades tericas para sua implementao exis-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 102
47
Machado, Paulo Afonso Leme Ma-
chado. Direito Ambiental Brasileiro. 16
edio, revista, atualizada e ampliada.
So Paulo: Malheiros, 2008. P. 696-697.
48
Esta e a prxima questo foram ex-
tradas da seguinte obra: Antnio F. G.
Beltro, Manual de Direito Ambiental,
Editora Mtodo, 2008, p. 263.
tem, mas no podem confgurar obstculos para sua aplicabilidade prtica na medida
em que o Direito um cincia dinmica, cujas adaptaes sero realizadas com o fm de
dar sustentao opo poltica do legislador. Desta forma, a denncia oferecida contra
a pessoa jurdica de direito privado deve ser acolhida, diante de sua legitimidade para
fgurar no plo passivo da relao processual-penal.
Outra peculiaridade trazida pela Lei 9.605/1998 a expressa previso da desconsi-
derao da personalidade da pessoa jurdica. Tambm conhecida como disregard doctri-
ne, a desconsiderao da pessoa jurdica ambiental diferencia-se da regra geral insculpi-
da pelo artigo 50 do Cdigo Civil, j que para sua aplicao basta que a personalidade
jurdica constitua obstculo ao ressarcimento de prejuzos causados qualidade do meio
ambiente.
Em suma, podem ser apontadas como principais inovaes trazidas pelas Leis
9.605/1998 e 6.938/8: a responsabilizao penal das pessoas jurdicas; a opo pela no
utilizao do encarceramento como regra geral para as pessoas fsicas que cometerem
crimes contra o meio ambiente; a criminalizao do poluidor indireto; a fxao da res-
ponsabilidade solidria; a criminalizao das instituies fnanceiras; e a valorizao da
participao da Administrao Pblica, por meio de autorizaes, permisses e licenas
47
.
ATIVIDADES
1. Qual a inteno implcita na responsabilizao penal de condutas lesivas ao
meio ambiente?
2. Podem as pessoas coletivas ser punidas pela prtica de crimes ecolgicos?
3. Questo retirada do concurso para Procurador do MP do TCE/MG, 2007
48
:
Dentre os crimes ambientais, NO admite a modalidade culposa o de
a. Conceder a funcionrio pblico licena em desacordo com as normas am-
bientais para obra cuja realizao dependa de ato autorizativo do Poder P-
blico.
b. Causar poluio de qualquer natureza em nveis tais que possam resultar
em danos sade humana.
c. Deixar, aquele que tiver o dever contratual de faz-lo, de cumprir obriga-
o de relevante interesse ambiental.
d. Destruir bem especialmente protegido por lei.
e. Fazer o funcionrio pblico afrmao falsa em procedimento de autoriza-
o de licenciamento ambiental.
4. Questo retirada do concurso para Procurador Municpio Manaus, 2006:
NO circunstncia agravante da pena pela prtica de crime ambiental, tal
como defnido pela Lei n. 9.605/98, ter o agente cometido o crime
a. Em domingos e feriados, ou noite.
b. Em razo de sua baixa instruo ou escolaridade.
c. Dentro de unidade de conservao.
d. Para obter vantagem pecuniria.
e. Abusando de licena que lhe tenha sido regularmente concedida.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 103
49
Art. 225, caput, c/c o art. 5., 2,
da CF.
50
Ivette Senise Ferreira. Tutela penal
do patrimnio cultural. So Paulo: RT,
1995, p. 68.
51
John Erickson. Nosso planeta est
morrendo. Trad. Jos Carlos Barbosa dos
Santos. So Paulo: Makron, McGraw-
Hill, 1992, p. 210.
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Lei 9.605/98
2. Lei 9.099/95
Doutrina
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na sua concepo moderna
um dos direitos fundamentais da pessoa humana
49
, o que, por si s, justifca a imposio
de sanes penais s agresses contra ele perpetradas, como extrema ratio. Em outro modo
de dizer, ultima ratio da tutela penal ambiental signifca que esta chamada a intervir
somente nos casos em que as agresses aos valores fundamentais da socidade alcancem o ponto
do intolervel ou sejam objeto de intensa reprovao do corpo social.
50
Ora, presercar e restabelecer o equilbrio ecolgico em nossos dias questo de vida ou
morte. Os riscos globais, a extino de espcies animais e vegetais, assim como a satisfao
de novas necessidades em termos de qualidade de vida, deixam claro que o fenmeno bio-
lgico e suas manifestaes sobre o Planeta esto sendo perigosamente alterados. E as con-
sequencias desse processo so imprevisveis, j que as rpidas mudanas climticas, (...) a
menor diversidade de espcies far com que haja menor capacidade de adaptao por causa
da menor viabilidade gentica e isto estar limitando o processo evolutivo, comprometendo
inclusive a viabilidade de sobrevivncia de grandes contingentes populacionais da espcie
humana.
51
Por isso, arranhada estaria a dignidade do Direito Penal caso no acudisse a esse
verdadeiro clamor social pela criminalizao do direito natural de ser humano.
Atenta a isso, nossa Lei Maior, em seu art. 225, 3., estabeleceu que as condutas e
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitaro os infratores, pessoas fsicas ou
jurdicas, a sanes penais e administrativas, independentemente da obrigao de raparar os
danos causados.
(...)
Para a plena efetividade daquela norma programtica, faltava um tratamento adequado
da responsabilidade penal e administrativa, espao este agora preenchido com a incorporao
ao ordenamento jurdico da Lei 9.605/1998, que dispe sobre sanes penais e administra-
tivas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Fechou-se, ento, o cerco contra o poluidor.
[Milar, dis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5 ed ref.,
atual. E amp. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 913-914.]
Leitura Indicada
MILAR, dis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudncia, glossrio. 5 ed ref.,
atual. e amp. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 913-957.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 ed., rev., atual. e
amp. So Paulo: Malheiros, 2008. P. 696-709.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 104
Jurisprudncia
Recorrente: Ministrio Pblico do Estado de Santa Catarina vs. Recorrido: Ar-
tepinus Indstria e Comrcio de Madeiras Ltda., Recurso Especial n. 800817-SC
(2005/0197009-0), 6 Turma, STJ, Julgamento 04/Fev./2010, DJ 22/Fev./2010.
Ementa
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. OFERE-
CIMENTO DA DENNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURDICA.
RESPONSABILIZAO SIMULTNEA DO ENTE MORAL E DA PESSOA FSI-
CA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Aceita-se a responsabilizao penal da pessoa jurdica em crimes ambientais, sob a
condio de que seja denunciada em coautoria com pessoa fsica, que tenha agido com
elemento subjetivo prprio. (Precedentes)
2. Recurso provido para receber a denncia, nos termos da Smula n 709, do STF:
Salvo quando nula a deciso de primeiro grau, o acrdo que prov o recurso contra a
rejeio da denncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 105
52
dis Milar, Direito do Ambiente. 5
edio reformulada, atualizada e am-
pliada. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. P. 896.
AULA 18. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
A Responsabilidade Civil Ambiental constitui modalidade especfca de responsabi-
lizao, j que as caractersticas e peculiaridades do dano ambiental exigem adaptaes
e substanciais alteraes do regime de responsabilidade civil clssico para que o meio
ambiente seja devidamente tutelado.
Sobre o tema, afrma dis Milar
52
: Imaginou-se, no incio da preocupao com
o meio ambiente, que seria possvel resolver os problemas relacionados com o dano a
ele infigido nos estreitos da teoria da culpa. Mas, rapidamente, a doutrina, a jurispru-
dncia e o legislador perceberam que as regras clssicas de responsabilidade, contidas
na legislao civil de ento, no ofereciam proteo sufciente e adequada s vtimas do
dano ambiental, relegando-as no mais das vezes, ao completo desamparo. Primeiro, pela
natureza difusa deste, atingindo, via de regra, uma pluralidade de vtimas totalmente
desamparadas pelos institutos ortodoxos do Direito Processual Clssico, que s ense-
javam a composio do dano individualmente sofrido. Segundo, pela difculdade de
prova da culpa do agente poluidor, quase sempre coberto por aparente legalidade ma-
terializada em atos do Poder Pblico, como licenas e autorizaes. Terceiro, porque no
regime jurdico do Cdigo Civil, ento aplicvel, admitiam-se as clssicas excludentes
de responsabilizao, como por exemplo, o caso fortuito e a fora maior. Da a neces-
sidade da busca de instrumentos legais mais efcazes, aptos a sanar a insufcincia das
regras clssicas perante a novidade de abordagem jurdica do dano ambiental.
Diante deste desafo de buscar instrumentos legais mais efcazes para a proteo am-
biental, o legislador brasileiro, atravs da Lei 6.938/1981, instituiu a Poltica Nacional
do Meio Ambiente, a qual prev regime de responsabilidade civil adequado ao dano
ambiental, na medida em que o princpio da responsabilidade subjetiva, baseada na
culpa, substitudo pelo regime objetivo, fundado no risco da atividade.
De acordo o art. 14, 1, da Lei 6.938/81: Sem obstar a aplicao das penalidades
previstas neste artigo, o poluidor obrigado, independentemente da existncia de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministrio Pblico da Unio e dos Estados ter legitimidade para propor
ao de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Para que um agente seja responsabilizado objetivamente, portanto, basta a verifca-
o do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
O dano aquele proveniente de uma ao ou omisso que provoque de maneira direta
ou indireta, degradao do meio ambiente. Dado o seu alcance coletivo, em razo do
carter difuso do bem jurdico tutelado (meio ambiente), o dano ambiental pode ter
repercusso patrimonial e extrapatrimonial. Alm disso, so passveis de composio os
danos materiais e imateriais, conforme dispe o artigo 1 da Lei 7.347/1985.
Alm da identifcao do dano, preciso verifcar se existe nexo de causalidade entre
a conduta praticada pelo agente (que pode ser pessoa fsica ou jurdica) e o resultado
danoso produzido. Apesar de no ser necessria aferio da inteno do agente, es-
sencial que o dano tenha sido causado em razo da ao ou omisso deste. Ocorre que,
estabelecer o nexo de causalidade em matria ambiental no tarefa das mais fcies em
razo da complexidade do dano, o qual pode ser produzido em decorrncia de mltiplas
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 106
53
dis Milar, Direito do Ambiente. 5
edio reformulada, atualizada e am-
pliada. So Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. P. 903.
causas e fontes. Segundo dis Milar
53
, no fcil, no entanto, em matria ambiental,
a determinao segura do nexo causal, j que os fatos da poluio por sua complexida-
de, permanecem muitas vezes camufados no s pelo anonimato, como tambm pela
multiplicidade de causas, das fontes e de comportamentos, seja por sua tardia consuma-
o, seja pelas difculdades tcnicas e fnanceiras de sua aferio, seja, enfm, pela longa
distncia entre a fonte emissora e o resultado lesivo, alm de outros fatores.
Importa ressaltar que a responsabilizao civil do poluidor no exclui a sua responsa-
bilidade penal e/ou administrativa, conforme determina o artigo 225, 3, da CF/88.
Isso por que a o ordenamento jurdico ptrio privilegia a restaurao do bem lesado e
no apenas a imposio de punio ao causador do dano. Havendo mais de um causa-
dor do dano, aplica-se a solidariedade prevista pelo art. 942, caput, segunda parte, do
Cdigo Civil. O dever de reparar estende-se aos scios da pessoa jurdica causadora do
dano e ao Estado em casos de omisso do dever de fscalizar. Neste caso, a responsabi-
lidade se dar de forma subsidiria. Aos causadores do dano que efetivamente pagarem
pela reparao, fca resguardado o direito de regresso aos co-responsveis.
A previso de responsabilizao da pessoa jurdica inovao importante e no ex-
clui a de outras fsicas que tenham participao e/ou infuncia na ocorrncia do dano.
Sempre que a pessoa jurdica for considerada um obstculo reparao, poder ser
desconstituda, segundo os termos do art. 4, nico da Lei em comento.
Finalmente importa destacar que a ao civil pblica e a ao popular constituem os
principais meios processuais para a reparao dos danos ambientais.
ATIVIDADES
1. Em que consiste a noo de dano ambiental?
2. Ser que s o Estado titular do direito indenizao por danos ao ambien-
te, ou tambm os cidados (individualmente considerados ou associados)
podero ser titulares de tal direito?
3. Como est confgurada a responsabilidade civil na Lei 6.938/1981 (Poltica
Nacional do Meio Ambiente)?
4. D exemplos de difculdades na aplicao da responsabilidade civil aos danos
causados ao ambiente.
5. Qual(is) a(s) distino(es) fundamental(is) entre responsabilidade civil e
sano administrativa?
MATERIAL COMPLEMENTAR (BIBLIOTECA VIRTUAL)
Legislao
1. Constituio Federal de 1988, artigo 225;
2. Lei 6.938/1981;
3. Lei 9.605/1998.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 107
Doutrina
A partir do momento em que as preocupaes ambientais comearam a encontrar eco
no mundo do Direito e em que surgiram normas jurdicas a tutelar o novo bem jurdico
(que constitui tambm um direito fundamental), teriam obviamente de surgir tambm dis-
posies legais a ocupar-se da violao das normas destinadas tutela do ambiente, assim
fazendo o seu aparecimento a categoria do ilcito ambiental.
Para Postiglione (Ambiente: suo signifcato giuridico unitario, Rivista Trimestrale di
Diritto Publico, anno XXXV (1985), p. 51), o dano ambiental o prejuzo trazido s
pessoas, aos animais, s plantas e aos outros recursos naturais (gua, ar e solo) e s coisas (...)
que consiste numa ofensa do direito ao ambiente, traduzindo-se tambm numa violao
em concreto dos standards de aceitabilidade estabelecidos pelo legislador.
(...)
A responsabilidade civil um instituto cuja antiguidade remonta ao Direito Romano
mas que tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, adaptando-se s necessidades postas pelas
sociedades modernas. Mesmo assim ele revela-se, em muitos casos, um meio inadequado de
lidar com os atentados ao ambiente. Inadequado pelas difculdades de prova dos seus rigoro-
sos pressupostos, mesmo quando as razes de justia permitam prescindir daquele cuja prova
poder ser mais difcil: a culpa. A responsabilidade objectiva, pelo risco ou por factos lcitos,
, sem dvida, um grande avano no sentido da correspondncia do instituto s necessidades
da vida moderna, sem perda de justia intrnseca. Porm, no ainda sufciente para cobrir
todas as situaes de dano que, cada vez com mais frequncia, ocorrem e que, por falta de
prova de um ou outro pressuposto, fcam impunes e por indemnizar. A soluo parece passar
pela aposta em novos instrumentos jurdicos para a proteco do ambiente.
[Jos Joaquim Gomes Canotilho (coordenador), Introduo ao Direito do Ambiente,
Universidade Aberta, 1998, p. 29 e 139.]
Leitura Indicada
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11 Edio. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, pp. 234-242 e 201-215.
BELTRO, Antnio F. G. Manual de Direito Ambiental. So Paulo: Mtodo, 2008,
pp. 242-261
CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes Canotilho (coordenador). Introduo ao Direito
do Ambiente. Universidade Aberta, 1998, pp. 29-33 e 139-134.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 3 Edio.
So Paulo: Saraiva, 2002, pp. 321-337.
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16 Edio. So Paulo:
Malheiros, 2008, pp. 341-368 e 696-731.
MILAR, dis. Direito do Ambiente. 5 edio. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
pp. 809-957.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 108
Jurisprudncia
Recorrente: Oswaldo Alfredo Cintra vs. Recorrido: ADEAM Associao Brasileira
de Defesa Ambiental, Recurso Especial n. 745.363-PR (2005/0069112-7), 1 Turma,
STJ, Julgamento 20/Set./2007, DJ 18/Out./2007.
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIETNAIS. AO
CIVIL PBLICA. RESPONSANTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIO. MA-
TAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAO DE JURISPRUDNCIA. ART. 476
DO CPC. FACULDADE DO RGO JULGADOR.
1. A responsabilidade pelo dano ambiental objetiva, ante a ratio essendi da Lei
6.938/81, que em seu art. 14, 1, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar
ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigao
persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ: RESP 826976/PR, Relator Ministro
Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504626/ PR, Relator Ministro Fran-
cisco Falco, DJ de 17.05.2004; RESP 263383/PR, Relator Ministro Joo Otvio de
Noronha, DJ de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ
de 22.04.2003.
2. A obrigao de reparao dos danos ambientais proter rem, por isso que a Lei
8.171/91 vigora para todos os proprietrios rurais, ainda que no sejam eles os res-
ponsveis por eventuais desmatamentos anteriores, mxime porque a referida norma
referendou o prprio Cdigo Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitao
administrativa s propriedades rurais, obrigando os seus proprietrios a institurem re-
as de reservas legais, de no mnimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse
coletivo. Precedente do STJ: RESP 343.741/ PR, Relator Ministro Franciulli Netto,
DJ de 07.10.2002.
3. Paulo Afonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta
que (...)A responsabilidade objetiva ambiental signifca que quem danifcar o ambien-
te tem o dever jurdico de repar-lo. Presente, pois, o binmio dano/reparao. No
se pergunta a razo da degradao para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A
responsabilidade sem culpa tem incidncia na indenizao ou na reparao dos danos
causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade (art. 14, III,
da Lei 6.938/81). No interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que
degrada, pois no h necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se
quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lgico-
jurdico da imputao civil objetiva ambiental!. S depois que se entrar na fase do
estabelecimento do nexo de causalidade entre a ao ou omisso e o dano. contra
Direito enriquecer-se ou ter lucro custa da degradao do meio ambiente.
O artigo 927, pargrafo nico, do CC de 2002, dispe: Haver obrigao de re-
parar o dano, independentemente de culpa, nos casos especifcados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem. Quanto primeira parte, em matria ambiental, j
temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto segunda
parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabili-
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 109
dade no tenha sido especifcado em lei, o juiz analisar, caso a caso, ou o Poder Pblico
far a classifcao dessas atividades. a responsabilidade pelo risco da atividade. Na
conceituao do risco aplicam-se os princpios da precauo, da preveno e da repa-
rao. Repara-se por fora do Direito Positivo e, tambm, por um princpio de Direito
Natural, pois no justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a
obteno da prova da responsabilidade, sem se exigir a inteno, a imprudncia e a ne-
gligncia para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja leso ou destruio
ter conseqncias no s para a gerao presente, como para a gerao futura. Nenhum
dos poderes da Repblica, ningum, est autorizado, moral e constitucionalmente, a
concordar ou a praticar uma transao que acarrete a perda de chance de vida e de sade
das geraes (...) in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12 ed., 2004, p.
326-327.
4. A Constituio Federal consagra em seu art. 186 que a funo social da proprie-
dade rural cumprida quando atende, seguindo critrios e graus de exigncia estabele-
cidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o da utilizao adequada dos recursos
naturais disponveis e preservao do meio ambiente.
5. cedio em sede doutrinria que se reconhece ao rgo julgador da primazia da
suscitao do incidente de uniformizao discricionariedade no exame da necessidade
do incidente porquanto, por vezes suscitado com intuito protelatrio.
6. Sobre o thema leciona Jos Carlos Barbosa Moreira, in Comentrios ao Cdigo
de Processo Civil, Vol. V, Forense, litteris: No exerccio da funo jurisdicional, tm os
rgos judiciais de aplicar aos casos concretos as regras de direito. Cumpre-lhes, para
tanto, interpretar essas regras, isto , determinar o seu sentido e alcance. Assim se fxam
as teses jurdicas, a cuja luz ho de apreciar-se as hipteses variadssimas que a vida ofe-
rece considerao dos julgadores.(...)
Nesses limites, e somente neles, que se pe o problema da uniformizao da ju-
risprudncia. No se trata, nem seria concebvel que se tratasse, de impor aos rgos
judicantes uma camisa-de-fora, que lhes tolhesse o movimento em direo a novas
maneiras de entender as regras jurdicas, sempre que anteriormente adotada j no cor-
responda s necessidades cambiantes do convvio social. Trata-se, pura e simplesmente,
de evitar, na medida do possvel, que a sorte dos litigantes e afnal a prpria unidade do
sistema jurdico vigente fquem na dependncia exclusiva da distribuio do feito ou do
recurso a este ou quele rgo (...) p. 04-05.
7. Deveras, a severidade do incidente tema interditado ao STJ, ante o bice erigido
pela Smula 07.
8. O pedido de uniformizao de jurisprudncia revela carter eminentemente
preventivo e, consoante cedio, no vincula o rgo julgador, ao qual a iniciativa do
incidente mera faculdade, consoante a ratio essendi do art. 476 do CPC. Preceden-
tes do STJ: AgRg nos EREsp 620276/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de
01.08.2006; EDcl nos EDcl no RMS 20101/ES, Relator Ministro Castro Meira, DJ de
30.05.2006 e EDcl no AgRg nos EDcl no CC 34001/ES, Relator Ministro Francisco
Falco, DJ de 29.11.2004.
9. Sob esse ngulo, cumpre destacar, o mencionado incidente no ostenta natureza
recursal, razo pela qual no se admite a sua promscua utilizao com ntida feio
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 110
recursal, especialmente porque o instituto sub examine no servil apreciao do caso
concreto, ao revs, revela meio hbil discusso de teses jurdicas antagnicas, objeti-
vando a pacifcao da jurisprudncia interna de determinado Tribunal.
10. Recurso especial desprovido.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 111
RMULO SAMPAIO
Doutor e Mestre (LL.M.) em Direito Ambiental pela Pace University School of
Law. Mestre em Direito Econmico e Social pela Pontifcia Universidade Catlica
do Paran (PUC-PR). Bacharel em Direito pela Pontifcia Universidade Catlica do
Paran (PUC-PR). Professor das disciplinas de Direito Ambiental. Coordenador
Acadmico do Programa de Direito e Meio Ambiente da FGV Direito Rio.
DIREITO AMBIENTAL
FGV DIREITO RIO 112
FICHA TCNICA
Fundao Getulio Vargas
Carlos Ivan Simonsen Leal
PRESIDENTE
FGV DIREITO RIO
Joaquim Falco
DIRETOR
Srgio Guerra
VICE-DIRETOR DE PS-GRADUAO
Evandro Menezes de Carvalho
VICE-DIRETOR DA GRADUAO
Thiago Bottino do Amaral
COORDENADOR DA GRADUAO
Rogrio Barcelos Alves
COORDENADOR DE METODOLOGIA E MATERIAL DIDTICO
Paula Spieler
COORDENADORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE RELAES INSTITUCIONAIS
Andre Pacheco Mendes
COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO
Marcelo Rangel Lennertz
COORDENADOR DO NCLEO DE PRTICA JURDICA CLNICAS
Cludia Pereira Nunes
COORDENADORA DO NCLEO DE PRTICA JURDICA OFICINAS
Mrcia Barroso
NCLEO DE PRTICA JURDICA PLACEMENT
Diogo Pinheiro
COORDENADOR DE FINANAS
Rodrigo Vianna
COORDENADOR DE COMUNICAO E PUBLICAES
Milena Brant
COORDENADORA DE MARKETING ESTRATGICO E PLANEJAMENTO
Você também pode gostar
- Cap 7: Memória - GazzanigaDocumento35 páginasCap 7: Memória - GazzanigaGodar100% (2)
- A dedução do valor do passivo ambiental na desapropriação por descumprimento da função socioambiental da propriedade ruralNo EverandA dedução do valor do passivo ambiental na desapropriação por descumprimento da função socioambiental da propriedade ruralAinda não há avaliações
- Tratado Sobre o Principio Da Seguranca JuridicaDocumento3 páginasTratado Sobre o Principio Da Seguranca JuridicaEsAinda não há avaliações
- #Apostila DPU - Defensoria Pública Da União (2016) - Curso Clique JurisDocumento153 páginas#Apostila DPU - Defensoria Pública Da União (2016) - Curso Clique JurisRenanAinda não há avaliações
- Livro Concorrenciasprefacio PDFDocumento261 páginasLivro Concorrenciasprefacio PDFDiego de AndradeAinda não há avaliações
- Direito do Estado, Inovação Tecnológica e Desenvolvimento: estudos em homenagem à professora Cleonice Alexandre Le BourlegatNo EverandDireito do Estado, Inovação Tecnológica e Desenvolvimento: estudos em homenagem à professora Cleonice Alexandre Le BourlegatAinda não há avaliações
- A Ordem e Decência No Culto OkDocumento8 páginasA Ordem e Decência No Culto OkPU4LAU RadioamadorAinda não há avaliações
- Responsabilidade por Danos Ambientais: Uma Comparação entre Brasil e Alemanha – Legislação e Casos ConcretosNo EverandResponsabilidade por Danos Ambientais: Uma Comparação entre Brasil e Alemanha – Legislação e Casos ConcretosAinda não há avaliações
- Direito Público - análises e confluências teóricas: Volume 1No EverandDireito Público - análises e confluências teóricas: Volume 1Ainda não há avaliações
- Responsabilidade Internacional do Estado pelas consequências de atos prejudiciais não proibidos no Direito InternacionalNo EverandResponsabilidade Internacional do Estado pelas consequências de atos prejudiciais não proibidos no Direito InternacionalAinda não há avaliações
- 01 - O Regime Jurídico Administrativo PDFDocumento0 página01 - O Regime Jurídico Administrativo PDFGilberto SayeghAinda não há avaliações
- Acordao 4623 - 2015Documento6 páginasAcordao 4623 - 2015mcel_2aAinda não há avaliações
- Norberto BobbioDocumento29 páginasNorberto BobbioDébora OliveiraAinda não há avaliações
- E-Book - Direito Administrativo PDFDocumento274 páginasE-Book - Direito Administrativo PDFPaulo PoftAinda não há avaliações
- Lei 9784Documento240 páginasLei 9784Elenildes Feitosa SousaAinda não há avaliações
- Princípio Da ImparcialidadeDocumento4 páginasPrincípio Da ImparcialidadeJosé IgorAinda não há avaliações
- Contabilidade Geral e PúblicaDocumento224 páginasContabilidade Geral e PúblicamilharesiAinda não há avaliações
- Lei 8.112 Completa PDFDocumento156 páginasLei 8.112 Completa PDFFernando FalleirosAinda não há avaliações
- Direito Processual Civil STFDocumento58 páginasDireito Processual Civil STFwpaulvAinda não há avaliações
- Supremacia ConstitucionalDocumento18 páginasSupremacia ConstitucionalPanzerDogoAinda não há avaliações
- Estudos Contemporaneos Sobre o Codigo de PDFDocumento406 páginasEstudos Contemporaneos Sobre o Codigo de PDFSIDNEY PINTO DE TOLEDOAinda não há avaliações
- Segurança Jurídica e Proteção Da Confiança Legítima No Direito Administrativo (Patrícia Baptista)Documento438 páginasSegurança Jurídica e Proteção Da Confiança Legítima No Direito Administrativo (Patrícia Baptista)Juliano MachadoAinda não há avaliações
- Ivan Lira de Carvalho - A Interpretação Da Norma JurídicaDocumento15 páginasIvan Lira de Carvalho - A Interpretação Da Norma JurídicajairomouraAinda não há avaliações
- TCC CIVIL - Reconhecimento e Dissolução Da União Estável e Seus Efeitos PatrimoniaisDocumento62 páginasTCC CIVIL - Reconhecimento e Dissolução Da União Estável e Seus Efeitos PatrimoniaisFernando Leite100% (1)
- Focus 08jun2023-1Documento40 páginasFocus 08jun2023-1Pedro CavalcantiAinda não há avaliações
- Fabiano Godinho Faria - Globo 50 Anos, A Farsa Também EnvelheceDocumento226 páginasFabiano Godinho Faria - Globo 50 Anos, A Farsa Também Envelhececlamarion100% (1)
- Marilena Chauí e A Democracia em Perigo O Neoliberalismo (De Bolsonaro) É A Nova Forma de TotalitarDocumento12 páginasMarilena Chauí e A Democracia em Perigo O Neoliberalismo (De Bolsonaro) É A Nova Forma de TotalitarAna DrensAinda não há avaliações
- A Lei e A Sua Prova Professor Renato Borelli 2020 LEI 9784Documento60 páginasA Lei e A Sua Prova Professor Renato Borelli 2020 LEI 9784Danielle MontesAinda não há avaliações
- Uniao Estavel e Seus Efeitos Patrimoniais PDFDocumento163 páginasUniao Estavel e Seus Efeitos Patrimoniais PDFrickwcwAinda não há avaliações
- Enunciados PGE RJDocumento8 páginasEnunciados PGE RJCavaleiroBrancoAinda não há avaliações
- Princípio Do Contraditório e Da Ampla DefesaDocumento45 páginasPrincípio Do Contraditório e Da Ampla DefesaIvania FigueiredoAinda não há avaliações
- As Grandes DicotomiasDocumento12 páginasAs Grandes Dicotomiasanon-314634100% (1)
- Avila, Humberto - Distinção Entre Principios e Regras e A Redefinicao Do Dever de ProporcionalidaDocumento36 páginasAvila, Humberto - Distinção Entre Principios e Regras e A Redefinicao Do Dever de ProporcionalidaJulioEdstronAinda não há avaliações
- Exercícios Lei.9784Documento4 páginasExercícios Lei.9784Aline *Materiais de estudo para concursos*Ainda não há avaliações
- Representação MPF Verbas Públicas Eleição Mesa PDFDocumento9 páginasRepresentação MPF Verbas Públicas Eleição Mesa PDFRaphael VeledaAinda não há avaliações
- Carta Capital #1254 Ed. Especial - 12abr23Documento68 páginasCarta Capital #1254 Ed. Especial - 12abr23Caio CsermakAinda não há avaliações
- Revista de Direito Agrário N° 20Documento252 páginasRevista de Direito Agrário N° 20Cândido Neto da Cunha100% (1)
- Caros - Amigos 146 2009-05Documento49 páginasCaros - Amigos 146 2009-05Guilherme AlexandreAinda não há avaliações
- Anotações de Direito Processual Civil - Fredie Didier JRDocumento508 páginasAnotações de Direito Processual Civil - Fredie Didier JRVanessa MancinoAinda não há avaliações
- Representação - Repressão Dos Povos Indígenas PL 490Documento11 páginasRepresentação - Repressão Dos Povos Indígenas PL 490Carlos Estênio BrasilinoAinda não há avaliações
- Revista Defesa Da Probidade Administrativa PDFDocumento310 páginasRevista Defesa Da Probidade Administrativa PDFMarcusBrenerAinda não há avaliações
- Direito de FamiliaDocumento583 páginasDireito de FamiliaGuilherme Bonemberger100% (1)
- A Constitucionalização Do Processo Penal BrasileiroDocumento62 páginasA Constitucionalização Do Processo Penal BrasileiroAntonio Eduardo Ramires SantoroAinda não há avaliações
- 1.2.1. Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 01 - SISTEMADocumento24 páginas1.2.1. Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 01 - SISTEMAJanildo Da Silva Arantes ArantesAinda não há avaliações
- Direito e Marxismo Políticas PublicasDocumento319 páginasDireito e Marxismo Políticas PublicasLucas BalconiAinda não há avaliações
- Apostila de Direito de Família 2022Documento146 páginasApostila de Direito de Família 2022Tiago NeresAinda não há avaliações
- Comissões de representantes dos trabalhadores dentro das empresas: contornos jurídicos e práticosNo EverandComissões de representantes dos trabalhadores dentro das empresas: contornos jurídicos e práticosAinda não há avaliações
- Elementos de Direito Administrativo Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Afrânio de SáNo EverandElementos de Direito Administrativo Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Afrânio de SáAinda não há avaliações
- Abuso de Autoridade: Reflexões sobre a Lei 13.869/2019No EverandAbuso de Autoridade: Reflexões sobre a Lei 13.869/2019Ainda não há avaliações
- Direitos do Consumidor: Prático e ExemplificadoNo EverandDireitos do Consumidor: Prático e ExemplificadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Resumão Lei 8.429/92 - Improbidade AdministrativaNo EverandResumão Lei 8.429/92 - Improbidade AdministrativaAinda não há avaliações
- Constituição Anotada: Dos Princípios Fundamentais Aos Direitos E Deveres Individuais E Coletivos (artigos 1º Ao 5º), E Outros Temas (artigos 62, 97 E 100)No EverandConstituição Anotada: Dos Princípios Fundamentais Aos Direitos E Deveres Individuais E Coletivos (artigos 1º Ao 5º), E Outros Temas (artigos 62, 97 E 100)Ainda não há avaliações
- O pluralismo jurídico e os movimentos sociais: um caminho para o acesso à justiça e garantia dos direitos fundamentais:No EverandO pluralismo jurídico e os movimentos sociais: um caminho para o acesso à justiça e garantia dos direitos fundamentais:Ainda não há avaliações
- Os Impactos dos Modelos Gerenciais na Administração PúblicaNo EverandOs Impactos dos Modelos Gerenciais na Administração PúblicaAinda não há avaliações
- Direito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiNo EverandDireito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil por Dano Ambiental: Descarte Incorreto de Lâmpadas FluorescentesNo EverandResponsabilidade Civil por Dano Ambiental: Descarte Incorreto de Lâmpadas FluorescentesAinda não há avaliações
- A efetividade dos direitos fundamentais à habitação, meio ambiente urbano e participação popular e as obras urbanas de suporte aos megaeventos esportivosNo EverandA efetividade dos direitos fundamentais à habitação, meio ambiente urbano e participação popular e as obras urbanas de suporte aos megaeventos esportivosAinda não há avaliações
- GramáticaDocumento20 páginasGramáticaLatifo RodaAinda não há avaliações
- Aula 03 EntomologiaDocumento13 páginasAula 03 EntomologiaEduardoAinda não há avaliações
- Letra Quao Grande Es TuDocumento5 páginasLetra Quao Grande Es TuEzequias MartinsAinda não há avaliações
- Hist9 BQ 00006Documento7 páginasHist9 BQ 00006Marisa MontesAinda não há avaliações
- Plano de EnsinoDocumento2 páginasPlano de EnsinoKarine AraújoAinda não há avaliações
- Relatorio de Dosagem de Triglicerides e As DislipidemiasDocumento11 páginasRelatorio de Dosagem de Triglicerides e As DislipidemiasJohnny Percussionista100% (3)
- OralismoDocumento2 páginasOralismofranciele lodettiAinda não há avaliações
- ENCONTRO 30 MAIO CAPÍTULO 3 Parte 2Documento2 páginasENCONTRO 30 MAIO CAPÍTULO 3 Parte 2Kelle Figueiredo KelleAinda não há avaliações
- Vol 4 - Conservação e TransformaçãoDocumento244 páginasVol 4 - Conservação e TransformaçãoEliakim LopesAinda não há avaliações
- Dissertação Mestrado Octávio Sacramento PDFDocumento191 páginasDissertação Mestrado Octávio Sacramento PDFGuilherme SantanaAinda não há avaliações
- Circuitos SequenciaisDocumento18 páginasCircuitos SequenciaisAntonio Carlos CardosoAinda não há avaliações
- Direito Publico PDFDocumento532 páginasDireito Publico PDFSalomão MottaAinda não há avaliações
- SAVANA 1278.text - MarkedDocumento26 páginasSAVANA 1278.text - MarkedAndre Bonifacio VilanculoAinda não há avaliações
- Aula 11Documento3 páginasAula 11Charlles PimentaAinda não há avaliações
- DASTON, Lorraine. Historicidade e ObjetividadeDocumento29 páginasDASTON, Lorraine. Historicidade e ObjetividadeRaphael Leon de VasconcelosAinda não há avaliações
- Salmo 126Documento4 páginasSalmo 126Maurício Santos Luana TottiAinda não há avaliações
- Av Final LeituraDocumento7 páginasAv Final Leiturakelli schmidtAinda não há avaliações
- Breve Resumo Da Proposta de Tema para MonografiaDocumento5 páginasBreve Resumo Da Proposta de Tema para MonografiaFlavio CamiloAinda não há avaliações
- A Cruz de JesusDocumento3 páginasA Cruz de JesussrlucianobabosaAinda não há avaliações
- MATH 1303 Linear Algebra - PTDocumento142 páginasMATH 1303 Linear Algebra - PTCrimildo MoisesAinda não há avaliações
- Extração de Óleos Essenciais Das PlantasDocumento3 páginasExtração de Óleos Essenciais Das PlantasMorgana GiattiAinda não há avaliações
- Portfolio Filosofia e Sociologia Aplicadaà Saúde Saude 2020 3Documento3 páginasPortfolio Filosofia e Sociologia Aplicadaà Saúde Saude 2020 3washington meloAinda não há avaliações
- Capacitacao e Higiene PessoalDocumento44 páginasCapacitacao e Higiene PessoalCíntia Oliveira EstrellaAinda não há avaliações
- Ficha Acido BaseDocumento4 páginasFicha Acido Basejoao sequeiraAinda não há avaliações
- Ebook Gestão Clínica PDFDocumento15 páginasEbook Gestão Clínica PDFKleber Araujo100% (1)
- Registos de Educação de Infância 18-19 BloguefólioDocumento72 páginasRegistos de Educação de Infância 18-19 Bloguefóliokapabytes260990% (10)
- Psicologia e Trabalho Aula 1Documento30 páginasPsicologia e Trabalho Aula 1Tuhany SabinoAinda não há avaliações
- BL 4 PortuguêsDocumento3 páginasBL 4 PortuguêsCaic JorgeAinda não há avaliações