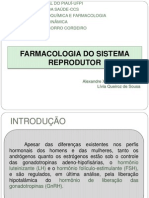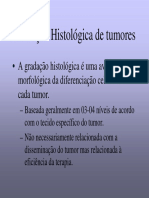Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Diet and Cancer: An Epidemiological View: Dieta e Câncer: Um Enfoque Epidemiológico
Diet and Cancer: An Epidemiological View: Dieta e Câncer: Um Enfoque Epidemiológico
Enviado por
JuniorSilvestreCampostriniNettoAlvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diet and Cancer: An Epidemiological View: Dieta e Câncer: Um Enfoque Epidemiológico
Diet and Cancer: An Epidemiological View: Dieta e Câncer: Um Enfoque Epidemiológico
Enviado por
JuniorSilvestreCampostriniNettoAlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIETA E CNCER | 491
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
1
Disciplina de Nutrio e Metabolismo, Departamento de Pediatria, Universidade Federal de So Paulo, Escola Paulista de
Medicina. Rua Loefgreen, 1647, 04040-032, So Paulo, SP, Brasil. Correspondncia para/Correspondence to: A. GARFOLO.
E-mail: adrigarofolo@hotmail.com; nutsec@yahoo.com.br
2
Doutorandas em Nutrio, Curso de Ps-Graduao em Nutrio, Departamento de Pediatria, Universidade Federal de So
Paulo, Escola Paulista de Medicina. So Paulo, SP, Brasil.
3
Curso de Ps-Graduao em Nutrio, Departamento de Pediatria, Universidade Federal de So Paulo, Escola Paulista de
Medicina. So Paulo, SP, Brasil.
4
Curso de Ps-Graduao, Disciplina Sade Pblica, Universidade Santo Amaro. Av. Enas de Siqueira Neto, 340, Jd. Imbuas,
04829-300, So Paulo, SP, Brasil.
REVISO | REVIEW
Dieta e cncer: um enfoque epidemiolgico
Diet and cancer: An epidemiological view
Adriana GARFOLO
1
Carla Maria AVESANI
2
Ktia Gavranich CAMARGO
2
Maria Elisa BARROS
2
Sandra Regina Justino SILVA
2
Jos Augusto de Aguiar Carrazedo TADDEI
1,4
Dirce Maria SIGULEM
3 ,4
R E S U M O
Epidemiologistas que estudam cncer tm observado que a sua prevalncia no mundo tem aumentado de
maneira significativa no ltimo sculo. Acredita-se que este resultado est relacionado, entre outros aspectos,
com a industrializao e a urbanizao ocorridas neste perodo. De fato, a morbi-mortalidade associada ao
cncer observada em pases desenvolvidos maior do que em pases em desenvolvimento. Alm disso,
algumas formas especficas de cncer, como o de clon e reto, prstata e mama feminina, so mais freqentes
em pases desenvolvidos, enquanto outras, como de estmago, esfago e colo de tero tm maior incidncia
nos pases em desenvolvimento. Padres distintos de cncer tambm so observados entre indivduos que
emigram para um novo pas ou regio. Com base em estudos epidemiolgicos, analisou-se a relao entre
cncer e nutrio, e algumas modificaes na alimentao que podem prevenir alguns tipos de cnceres.
Termos de Indexao: neoplasias, mortalidade, nutrio, epidemiologia, dieta.
A B S T R A C T
Recent data have shown that the prevalence of cancer in the world has significantly risen in the last century.
Cancer epidemiologists believe that it is related to the industrialization and urbanization that occurred during
492 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
this period. In fact, the cancer incidence and mortality observed in developed countries are higher than in
non-developed countries. Moreover, some specific sites of cancer such as colon-rectum, prostate and female
mama are more pronounced in developed countries, whereas others as stomach, esophagus and cervix are
prevalent in non-developed countries. Different patterns of cancer are also observed among migrants when
they migrate to a new country or region. Based on epidemiological data, the association between cancer and
diet was analyzed, as well as the changes in some food intake patterns and how they can prevent some types
of cancer in the future.
Index terms: neoplasms, mortality, nutrition, epidemiology, diet.
I N T R O D U O
O cncer definido como uma enfermi-
dade multicausal crnica, caracterizada pelo
crescimento descontrolado das clulas
1
. Sua
preveno tem tomado uma dimenso importante
no campo da cincia, uma vez que recentemente
foi apontada como a pri mei ra causa de
mortalidade no mundo
1,2,3
.
O desenvolvimento de vrias das formas
mais comuns de cncer resulta de uma interao
entre fatores endgenos e ambientais, sendo o
mais notvel desses fatores a dieta
1,2
. Acredita-se
que cerca de 35% dos diversos tipos de cncer
ocorrem em razo de dietas inadequadas
4
.
poss vel i denti fi car, por mei o de estudos
epidemiolgicos, associaes relevantes entre
alguns padres alimentares observados em
diferentes regies do globo e a prevalncia de
cncer
5,6
. Outros fatores ambientais, tais como o
tabagismo
7,8
, a obesidade
2,7
, a atividade fsica
9
e
a exposio a tipos especficos de vrus, bactrias
e parasitas, alm do contato freqente com
algumas substncias carcinognicas como
produtos de carvo e amianto
8
, tambm merecem
ser salientados.
O Comit de Peritos da World Cancer
Research Fund registra medidas - alm do aumento
da atividade fsica, da manuteno de peso
corporal adequado e do no uso de tabaco - que
promovem modificaes para que se adote uma
dieta mais saudvel e capaz de reduzir cerca de
60% a 70% a incidncia de cncer no mundo
1
.
O objetivo deste artigo foi elaborar uma
reviso, com base em estudos epidemiolgicos,
sobre a relao entre dieta e cncer e sobre
algumas modificaes na alimentao que podem
prevenir alguns tipos de cncer.
E P I D E M I O L O G I A D O
C N C E R N O M U N D O
Mdicos do Egito antigo (3000 a.C.)
registraram doenas que, dadas suas caracte-
rsticas, provavelmente podiam ser classificadas
como cncer. Hipcrates (377 a.C.) tambm
descreveu enfermidades que se assemelhavam
aos cnceres de estmago, reto, mama, tero,
pele e outros rgos
1
. Portanto, a presena do
cncer na humanidade j conhecida h milnios.
No entanto, registros que designam a causa das
mortes como cncer passaram a existir na Europa
apenas a partir do sculo XVIII. Desde ento,
observou-se o aumento constante nas taxas de
mortalidade por cncer, que parecem acentuar-
-se aps o sculo XIX, com a chegada da
industrializao
2
.
Com base em informaes da International
Agency for Research on Cancer, estimava-se que
em 1996 surgiram mais de 10 milhes de novos
casos no mundo. Os oito tipos mais comuns de
cncer no sexo masculino so os de pulmo,
estmago, clon e reto, prstata, boca e faringe,
fgado, esfago e bexiga. As mulheres so mais
atingidas pelos cnceres de mama, colo de tero,
clon e reto, estmago, pulmo, boca e faringe,
ovrio e endomtrio
1
.
Segundo a Organizao Mundial de
Sade, a distribuio de mortes por cnceres pelo
mundo no homognea. A mortalidade total
DIETA E CNCER | 493
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
acarretada por cnceres foi de 12,6% em 2000;
21,6% e 9,8% nos pases desenvolvidos e em
desenvolvimento, respectivamente. Para os anos
entre 1960 e 2000, os dados mostram um
aumento de 15% para 25% de mortalidade nos
pases desenvolvidos. J nos pases em desenvolvi-
mento, observaram-se taxas menores e crescentes,
que alcanaram 6% em 1985 e 9% em 1997,
com uma expectativa de aumentar, de 5,4
milhes em 2000, para 9,3 milhes em 2020, de
acordo com projees populacionais
2,10
.
Nas diferentes taxas de incidncia e
mortalidade de diversos tipos de cncer no mundo,
pode-se constatar que no existe um padro
global para a ocorrncia de cncer, tendo impor-
tncia na determinao desse quadro, a exposio
a fatores ambientais relacionados urbanizao,
como dieta e estilo de vida (Tabela 1).
Outro dado que corrobora tal suposio
a mudana no padro de incidncia de cncer
em migrantes. Com o passar do tempo, os
migrantes passam a apresentar taxas de incidncia
e de mortalidade de cncer semelhantes s
observadas no novo pas
8
. Parki n et al .
11
verificaram que as taxas de incidncia de cncer
de estmago, coloretal e de prstata em homens
chineses, diferiam de forma relevante, depen-
dendo de qual novo local adotaram para viver. As
taxas de cncer de estmago nos chineses que
moravam em Xangai eram maiores, quando
comparadas quel as mani festadas pel as
populaes chinesas residentes em Cingapura,
Hong Kong e EUA. Ainda mais marcantes foram
as diferenas constatadas para a incidncia do
cncer de prstata, que chegavam a ser 10 a 15
vezes maiores entre chineses que residiam nos
Tabela 1. Maiores taxas de incidncia e de mortalidade de diversos tipos de cncer no mundo*.
Pulmo
Esfago
Estmago
Clon e reto
Mama
Prstata
Sul da frica
Amrica do Sul
Ocidente da sia
Amrica do Norte
Europa
Austrlia
Sul da frica
China
Amrica do Sul
China
Japo
Japo
Europa Ocidental
Amrica do Norte
Austrlia
Norte da frica
Amrica do Sul
Ocidente da sia
Europa
Amrica do Norte
Austrlia
Ocidente da Europa
Amrica do Norte
Austrlia
39
40
40
> 40
> 40
> 40
40
22
40
40
> 40
30
30
> 40
> 40
-
-
-
-
-
-
40
> 40
40
5
5
12
28
12
12
15
12
20
25
38
12
25
38
38
> 40
> 40
> 40
> 40
> 40
> 40
-
-
-
Localidade Cncer
38
40
> 40
> 40
> 40
> 40
30
22
35
> 40
43
20
20
20
22
-
-
-
-
-
-
12
19
19
10
5
8
21
12
12
10
12
19
20
20
17
12
12
19
35
22
20
20
12
21
-
-
-
Feminino Masculino Feminino Masculino
Incidncia
Mortalidade
(
*
)
Taxas de incidncia e mortalidade: para cada 100 mil habitantes ajustadas para idade.
Fonte: Adaptado de World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research
1
.
494 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
EUA, em comparao com os chineses habitantes
de Xangai.
Segue-se a anlise que relaciona dieta e
cncer, com base nas taxas de incidncia e de
mortalidade, ajustadas para idade (Tabela 1).
Recomenda-se que esses dados sejam examinados
com cautela, pois as diferenas observadas nas
taxas de incidncia podem ser um artefato
resultante da maior ou menor disponibilidade de
instrumentos diagnsticos. Contudo, no que se
refere variao geogrfica da mortalidade, esta
pode, em parte, ser conseqncia de maior ou
menor acesso a servios mdicos. Alm disso, a
elaborao da taxa de incidncia e de mortalidade
depende dos seus registros, que podem ser
precrios em algumas regies do mundo.
Uma das maiores taxas de incidncia a
do cncer de pulmo, tanto nos pases desen-
volvidos, quanto naqueles em desenvolvimento,
princi pal mente, na popul ao mascul i na
7
(Tabela 1).
De acordo com o World Cancer Research
Fund, as taxas de cncer de esfago alcanaram
480 mil casos novos em 1996, o equivalente a
4,6% de todos os cnceres. O aumento tem sido
mais acentuado nos pases da Europa Ocidental e
na Amrica do Norte. importante notar que as
taxas da doena verificadas entre homens chegam
a ser cerca de duas vezes maiores que aquelas
observadas entre as mulheres. Acredita-se que o
risco de desenvolver cncer de esfago
potencializado, principalmente, pelo fumo e pelo
consumo de bebida alcolica
10
(Tabela 1).
No que se refere ao cncer de estmago,
a segunda neoplasia de incidncia mais comum
e causa de morte por cncer no mundo. A
estimativa de 1 milho de casos em 1997,
contribuindo para 10% dos casos novos de
cncer
1
. Quando se compara os dados obtidos
junto a homens e mulheres, observa-se uma ntida
diferena entre os sexos, com maior incidncia e
mortalidade entre os homens (Tabela 1).
No entanto, um dos poucos tumores cuja
incidncia e mortalidade vm registrando marcado
declnio em vrios pases. Analisando globalmente,
as taxas de incidncia do cncer de estmago
reduziram-se cerca de 30% no perodo de 1960 a
1985
12
. ndia, China e Amrica do Norte foram
regies que apresentaram as maiores redues,
provavelmente relacionadas ao maior consumo
de vegetais e frutas, entre outros fatores
7
.
As maiores taxas de incidncia do cncer
de clon e reto foram encontradas na Europa, na
Amrica do Norte e na Austrlia at 1996. Nesse
mesmo ano, a mortalidade estimada foi de 510
mil pessoas
1
.
O cncer de mama feminina o de maior
incidncia nessas populaes. Uma estimativa de
910 mil casos novos ocorreu em 1996, ou seja,
9% em relao totalidade dos casos novos de
cncer. A taxa de incidncia mundial vem
aumentando, principalmente nas sociedades mais
desenvolvidas. Acredita-se que o aumento no
aparecimento da doena esteja associado ao
desenvolvimento econmico (Tabela 1). No
perodo de 1960 a 1985, o Japo foi o pas que
apresentou o maior aumento na taxa de incidncia
de cncer no mundo
2
.
Com o quarto lugar de incidncia entre os
homens e o stimo como causa de morte, o cncer
de prstata contribuiu para 400 mil casos novos
no mundo em 1996. As taxas mais elevadas foram
encontradas na Europa, Amrica do Norte e
Austrlia. Nos ltimos anos, as taxas de incidncias
registradas esto aumentando em muitas regies
do globo, em parte relacionadas com os progressos
do di agnsti co. Sua i nci dnci a aumenta,
particularmente, aps os 60-70 anos
8
.
Os referidos tipos de cncer (clon e reto,
mama e prstata) apresentam dois pontos em
comum. Em primeiro lugar, as maiores taxas de
incidncia foram encontradas nos pases de maior
desenvol vi mento econmi co e tendem a
aumentar nas naes em processo de transio
econmica. Ocupando a segunda posio,
observam-se taxas de incidncia maiores do que
as de mortalidade (Tabela 1). Esta discrepncia
pode ter sido condicionada pelos avanos, tanto
nos equipamentos diagnsticos, como no prprio
tratamento da doena, que permitem um
DIETA E CNCER | 495
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
aumento no tempo de sobrevida
1
. Em resumo, as
taxas de incidncia e mortalidade de cncer
demonstraram aumento no mundo, principalmen-
te nas regies com estilos de vida essencialmente
urbanos. As anlises alertam e reforam a
importncia da adoo de medidas de preveno,
capazes de reverter a situao.
E P I D E M I O L O G I A D O C N C E R
N O B R A S I L
No Brasil, o cncer a segunda causa de
morte por doena, apenas superada pelas doenas
cardiovasculares. A incidncia do cncer,
expressiva quando comparada a valores interna-
cionais, tambm exibe um perfil prprio, diferente
do observado em outros pases
11,13
. Verifica-se, por
exemplo, a existncia concomitante de tumores
tpicos das reas pouco desenvolvidas, com
aqueles de alta incidncia em pases desenvolvi-
dos, fruto da coexistncia de fatores de risco
tradicionais e modernos, aos quais a populao
brasileira se encontra exposta.
De acordo com o Ministrio da Sade, para
o ano de 2002, em todo o territrio nacional,
seriam registrados 305 330 casos novos de cncer
(150 450 para o sexo masculino e 154 880 para o
feminino) e 117 550 mortes (63 330 para os
homens e 54 220 para as mulheres). A populao
brasileira, provavelmente, ser acometida, priori-
tariamente, pelo cncer de pele no-melanoma,
seguido pelas neoplasias malignas de mama
feminina, estmago, pulmo e prstata
14
.
Cncer de mama feminina e colo de tero
De acordo com o observado na populao
mundial, os tumores de colo uterino e da mama
feminina so os de maior incidncia e causa
consi dervel de mortal i dade nas regi es
brasileiras
15,16
. Tal realidade revela a peculiaridade
da transio epidemiolgica do pas, vivenciada
nas ltimas dcadas.
No perodo de 1979 a 1998, as taxas de
mortalidade por cncer de mama e de colo de
tero apresentaram um aumento percentual de
68% e 29%, respectivamente. Este aumento,
observado por meio de sries temporais, reflete a
crescente prevalncia da exposio a fatores de
risco de cncer de mama, devido ao intenso
processo de urbanizao da populao brasileira.
Tal urbanizao caracteriza-se pelo aumento do
consumo de alimentos industrializados, reduo
da atividade fsica e mudanas no comportamento
reprodutivo (nuliparidade e idade avanada na
primeira gestao), alm da precariedade dos
servios de sade o que impede o acesso ao
exame de Papanicolaou, de alta eficcia na
deteco das leses iniciais do cncer de colo de
tero
14
.
A estimativa do Ministrio da Sade para
casos novos em 2001, apontou maior incidncia
de cncer de mama nas Regies Nordeste e
Sudeste e de colo uterino na Regio Norte do
Brasil. Com relao mortalidade, estima-se que
as neoplasias malignas da mama feminina seriam
responsveis pelo maior nmero de mortes nas
Regies Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul
em 2001. Na Regio Nordeste do pas prev-se o
maior coeficiente de mortalidade por cncer de
colo uterino. Para o pas como um todo em 2001,
continuariam se destacando entre as maiores taxas
de incidncia e de mortalidade nas mulheres, as
neoplasias de mama e de tero
14
. Segundo o
Instituto Nacional do Cncer (INCA), a maior causa
de mortalidade das mulheres dever ser o cncer
de mama, com expectativa de incidncia de 31
590 casos novos no ano de 2002
17
.
Cncer de pulmo
Como citado anteriormente, o cncer de
pulmo continua sendo reconhecido como
responsvel pelo maior nmero de mortes por
cncer no mundo
15,16
. De acordo com os dados
gerados pelo Sistema de Informao sobre
Mortalidade do Ministrio da Sade, entre 1979
e 1998, as taxas de mortalidade por esta neoplasia
496 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
apresentaram uma variao percentual relativa
de 56% para o sexo masculino e de 108% para o
feminino. Isto indica que, no Brasil, entre os
tumores malignos, este cncer representa a
principal causa de mortes entre homens e a
segunda mais freqente em mulheres. Sua
incidncia est entre as cinco mais elevadas em
ambos os sexos. Com relao mortalidade, este
cncer lidera as taxas dos bitos para o sexo
masculino, na totalidade das regies brasileiras
14
.
Alm disso, as estimativas do INCA para o
ano 2002 so consistentes com a taxa mundial e
indicam que, entre as neoplasias, o tumor maligno
de pulmo ser a primeira causa de morte entre
os homens e a segunda mais freqente entre as
mulheres
14,17
.
Cncer de estmago
No Brasil, o cncer de estmago ainda
ocupa o quinto lugar como causa de morte e de
casos novos da doena, em ambos os sexos.
Entretanto, observa-se que, no perodo de 1979 a
1998, as taxas de mortalidade diminuram, de
forma semelhante para homens e mulheres,
correspondendo a uma variao inferior a 10%
14
.
A mortalidade por cncer de estmago em
imigrantes japoneses no Brasil, em comparao
com os coeficientes observados na populao
nativa de ambos os pases sugere influncia
ambiental na modificao do risco de morte para
esse tumor
18
.
O padro geogrfico da ocorrncia de casos
novos e mortes estimadas para o ano 2001, previa
que para os homens, o cncer de estmago
ocuparia a segunda posio na Regio Norte,
seguindo-se as Regies Sudeste e Sul
14
.
Cncer de clon e reto
Outras neoplasias que merecem anlises
comparativas em relao ao seu padro de
distribuio no pas, so os tumores malignos de
clon e reto. Encontram-se entre as cinco primeiras
causas de morte por cncer na populao
brasileira. A distribuio percentual de tumores
malignos de clon e reto aproxima-se dos registros
encontrados nos pases altamente industrializados.
A anlise dos dados relativos mortalidade
demonstra considervel elevao nos ltimos 20
anos (1979/98), estimando-se que, em 2001, as
taxas de incidncia e mortalidade por tumores de
clon e reto independente do sexo, seriam mais
freqentes nas Regies Sudeste e Sul do pas
14
.
Cncer de prstata
No Brasil, a mortalidade por cncer de
prstata tambm aumentou ao longo das duas
ltimas dcadas, equivalente a uma variao
percentual relativa de 139%. Para o ano de 2002
previu-se que o cncer de prstata seria a segunda
causa de mortalidade e teria o primeiro lugar na
incidncia entre os homens, com 20 820 casos
novos
14,17
.
A L I M E N T A O C O M O F A T O R
D E R I S C O E D E P R E V E N O
D O C N C E R
H vrias evidncias de que a alimentao
tem um papel importante nos estgios de
iniciao, promoo e propagao do cncer,
destacando-se entre outros fatores de risco. Entre
as mortes por cncer atribudas a fatores
ambientais, a dieta contribui com cerca de 35%,
seguida pelo tabaco (30%) e outros, como
condies e tipo de trabalho, lcool, poluio e
aditivos alimentares, os quais contribuem com
menos do que 5%. Acredita-se que uma dieta
adequada poderia prevenir de trs a quatro milhes
de casos novos de cnceres a cada ano
19
.
Inqurito alimentar na pesquisa do
cncer
Nos estudos que envolvem cncer e dieta
em diversas populaes, um dos temas mais
DIETA E CNCER | 497
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
discutidos a existncia de uma diferena na
incidncia das vrias formas de cncer, que pode
estar relacionada s variaes na ingesto de
determinados componentes da dieta
20
. A base
para responder a esta e outras questes referentes
ao cncer tem sido a epidemiologia. No entanto,
o instrumento dessa rea fica sujeito a limitaes,
quando visa identificar o real papel da alimentao
no cncer
21,22
.
Uma das grandes limitaes que podem
conduzir a erros ou vieses a escolha do inqurito
diettico adotado nos estudos
6,21,23,24,25
, uma vez
que estes dependem tanto das informaes
fornecidas pelos entrevistados, quanto da
habilidade do entrevistador em estimar o
porcionamento correto do alimento consumido.
No entanto, empregam-se esses levantamentos,
valorizando alguns nutrientes isoladamente,
enquanto que a populao, de forma geral,
consome alimentos como combinaes de um
grande nmero de compostos
20
. Por isso,
complexo e merece anlise cautelosa atribuir um
papel carcinognico ou anticarcinognico a um
nico fator da dieta.
Considerando-se ainda, que outros fatores
cancergenos no-dietticos podem ocorrer
simultaneamente, so inmeras as possibilidades
de equvocos nos estudos que envolvem fatores
de risco e cncer.
Apesar dos erros inerentes ao levanta-
mento da ingesto habitual, no possvel ignorar
o valor do inqurito alimentar. Trata-se de um
instrumento que permite o conhecimento do
padro alimentar e da sua variao temporal para
diferentes populaes mundiais. Com ele,
possvel identificar as modificaes temporais no
hbito alimentar e estimar o seu impacto sobre a
ocorrncia do cncer, tanto em grupos popula-
cionais isolados, como em comparaes entre
populaes de diversas regies e pases. Desta
forma, pode-se observar a influncia negativa da
incorporao da dieta ocidental moderna (elevada
em gordura e alimentos industrializados e pobre
em fibras), no desenvolvimento das diversas
formas de cncer nos pases desenvolvidos e em
desenvolvimento
1
.
De acordo com o exposto, provvel que
os resultados de estudos populacionais sobre o
papel dos alimentos como fator de risco tenham
sido mais eficazes em demonstrar a reduo do
risco de cncer, do que as pesquisas isoladas sobre
determinados nutrientes
26,27
.
Alguns componentes relacionados ali-
mentao - relevantes como fatores de preveno
ou risco para o desenvolvimento do cncer - so
abordados a seguir.
Frutas e hortalias
As frutas e as hortalias tm assumido
posio de destaque nos estudos que envolvem a
preveno do cncer. Van Duyn & Pivonka
28
destacaram as evidncias epidemiolgicas de que
o consumo de frutas e hortalias tem um efeito
protetor contra diversas formas de cncer. O
referido estudo foi baseado em uma extensa
anlise de pesquisas epidemiolgicas mundiais,
realizadas de forma independente por comits de
especialistas do World Cancer Research Fund and
the American Institute for Cancer Research
1
e do
Chief Medical Officers Committee on Medical
Aspects of Food and Nutrition Policy
29
. Observa-
-se (Quadro 1), que os registros dos comits
apresentaram divergncias. Contudo, pode-se
verificar evidncias do efeito protetor do consumo
de hortalias e frutas sobre diversos tipos de cncer.
Fazendo uma proj eo na esti mati va de
preveno, pode-se supor que o aumento no
consumo de frutas e hortalias promove uma
reduo na incidncia global de cncer, que varia
de 7% (esti mati va conservadora) a 31%
(estimativa otimista) (Figura 1)
1
. Tendo por base
os resultados das pesquisas avaliadas, os comits
foram unnimes em recomendar o aumento na
ingesto de frutas e hortalias, visando a
preveno do desenvolvimento do cncer
29
.
Estudos sobre cncer de esfago
30
e
pulmo
31
tm corroborado o papel preventivo da
ingesto de frutas e hortalias contra essas
doenas. Recentemente, foi demonstrado que
mesmo o aumento moderado na ingesto de
498 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
frutas e hortalias apresenta proteo significante
contra o cncer de clon e reto, particularmente
em indivduos com consumo inferior a duas
pores por dia
32
. Porm, ainda no est claro
qual o determinante anticarcinognico das frutas
e hortalias, uma vez que so fontes de vitaminas,
minerais, fibras, fitoqumicos e de outros
componentes.
Quadro 1. Evidncias epidemiolgicas do efeito protetor do consumo de frutas e hortalias sobre o risco de cncer.
Esfago
Pulmo
Estmago
Clon e reto
Mama feminina
Endomtrio
Colo de tero
Prstata
AICR
Convincente
Convincente
Convincente
Convincente
Provvel
Possvel
Possvel
Possvel
COMA
Consistncia forte
Consistncia fraca
Consistncia moderada
Consistncia moderada
Consistncia moderada
Insuficiente
Consistncia forte, porm dados
limitados
Consistncia moderada
AICR
Convincente
Convincente
Convincente
Provvel
Possvel
Possvel
COMA
Consistncia forte
Consistncia moderada
Consistncia moderada
Inconsistente, dados limitados
Consistncia fraca
Insuficiente
Consistncia forte, porm dados
limitados
Inconsistente
AICR = American Institute for Cancer Research; COMA = Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy (British Departament of
Health).
Fonte: Adaptado de Van Duyn & Pivonka
28
.
Tipos de Cncer
Hortalias
Frutas
0
20
40
60
80
100
120
250 400 500
Ingesto diria de frutas e hortalias (g)
P
r
o
j
e
o
d
e
i
n
c
i
d
n
c
i
a
d
e
c
a
n
c
r
(
%
)
Conservadora Ideal Otimista
7%
23%
31%
Projeo conservadora: supe que o tabaco e o consumo de
lcool influenciam no risco de cncer, independentemente do
efeito protetor da dieta.
Projeo ideal: estimativa intermediria, considerada ideal
(Best Guess) em relao reduo de incidncia.
Projeo otimista: com base na literatura, projeta uma redu-
o baseada no risco relativo de cada tipo de cncer, para
todos os cnceres.
Fibras
H algumas dcadas tem sido enfatizado
o efeito protetor da fibra alimentar contra o cncer
de clon e reto. Este conceito foi sugerido por
Burkitt
33
em 1971, que relacionou a elevada
ingesto de fibras com a baixa incidncia desse
tipo de cncer entre a populao do leste da
frica. A World Cancer Research Fund
1
, aps
desenvolver metanlise, envolvendo 129 estudos
e analisar outros 13 de caso-controle, considerou
convincente a associao das fibras alimentares
com a reduo do risco de cncer de clon e reto.
Entretanto, em dois estudos longitudinais
envol vendo popul aes de vri os pa ses,
obtiveram-se resultados controversos. Um deles
demonstrou que as fibras alimentares reduziram
em 33% o risco de mortalidade por cncer de
clon e reto
34
, enquanto que em outra pesquisa
no foi observada a mesma associao
35
. A
dificuldade em avaliar a relao entre fibra da
dieta e cncer pode estar relacionada aos diversos
tipos de fibras encontrados na composio dos
alimentos
21,36
. Embora plausvel que haja um efeito
protetor contra o cncer em alguns tipos de fibras,
ainda necessrio maior nmero de investigaes
que visem identificar as fontes reais do efeito
anticarcinognico, presentes nas frutas, hortalias
e gros
36
.
Figura 1. Preveno do cncer pela dieta: consumo de frutas.
DIETA E CNCER | 499
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
Fitoqumicos
Os resultados das pesquisas que envolvem
os fitoqumicos, representam um grande avano
na elucidao do papel preventivo do alimento,
no combate ao cncer. Inmeros fitoqumicos,
como isoflavonas (genistena, daidzena), lignanas
(matairesinol, secoisolariciresinol), terpenos e
carotenides entre outros, presentes em diversos
alimentos, so identificados como tendo papel
preventivo contra vrias formas de cncer
7,21,28,37
.
Os fitoqumicos podem interferir direta ou
indiretamente na preveno do cncer, uma vez
que parti ci pam em di versas etapas do
metabolismo; por exemplo, atuando como
antioxidantes ou na reduo da proliferao de
clulas cancergenas
21,28,36
. A soja, bem como seus
derivados, so apontados como tendo um efeito
protetor em relao s vrias formas de cncer,
tanto naqueles hormnio-relacionados, quanto em
outros tipos de neoplasias
38,39
.
O seu papel preventivo contra o cncer de
mama feminina, observado nas populaes que
fazem uso habitual da soja, tem como possvel
explicao o seu elevado teor de isoflavona. Essa
substncia revela comportamento semelhante ao
do medicamento tamoxifen, utilizado no
tratamento desta neoplasia
40,41
. No entanto,
chama-se a ateno para a existncia de diferentes
gros de soja, em que a quantidade e os tipos de
isoflavonas so distintos. Isto pode justificar as
divergncias encontradas nos diversos estudos. Por
outro lado, uma segunda gerao de alimentos
contendo soja, como hambrguer, salsicha, iogurte
e quei j o, apresenta teores di ferentes de
isoflavonas, menores, quando comparados aos
encontrados naturalmente na alimentao
asitica
38,39
.
Portanto, h necessi dade de mai s
investigaes envolvendo os biomarcadores, para
elucidar-se o papel dos fitoqumicos na preveno
do cncer, antes de recomend-los especifica-
mente como anticancergenos, que devem fazer
parte da alimentao habitual.
Gordura
O papel do lipdio na carcinognese pode
variar de acordo com a origem e composio
21,42
.
Entre os cnceres associados ao excesso
de ingesto de gordura, destacam-se o de clon
e reto. Acredita-se que a elevada ingesto de
gordura promove aumento na produo de cidos
biliares, que so mutagnicos e citotxicos
1
.
A World Cancer Research Fund
1
concluiu,
por meio da anlise de estudos de coorte e caso-
-controle, no haver evidncia consistente da
associao de dietas ricas em gordura com o risco
de cncer de clon e reto. Em outros estudos
analticos tambm no foram encontradas
evidncias que comprovem a relao entre
ingesto de gordura e esse tipo de cncer.
Resultados semelhantes foram igualmente
observados para os cnceres de prstata e de
pulmo
21,36,40
.
Por outro lado, associao positiva entre
cncer de mama e ingesto de gorduras
apontada pela National Academy of Sciences. Nos
estudos experi mentai s e nas metanl i ses
publicadas at a dcada de oitenta, foram
demonstradas correlaes entre o maior consumo
de energia e gorduras dietticas totais com o
aumento do risco de cncer de mama
43
. No
entanto, os estudos epidemiolgicos desenvolvidos
nos anos posteriores, no forneceram evidncias
conclusivas dessa associao
7,25,44,45,46
.
Assim, foi sugerido que o padro metab-
lico de diferentes cidos graxos seja investigado
como possvel determinante do cncer de mama
feminina
42
.
Obesidade e atividade fsica
A obesidade tem sido associada ao
aumento global do risco de cncer. Peto
8
ressaltou
que 5% da incidncia de cncer na Europa poderia
ser evitada com um ndice de Massa Corporal
(IMC) mximo de 25kg/m. Estes dados so
preocupantes, visto que para a populao
500 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
brasileira, a estimativa de sobrepeso (IMC de
25kg/m a 29,9kg/m) e obesidade (IMC>30kg/m)
de 32% e 8%, respectivamente
47
.
A obesidade no perodo de ps-menopausa
pode potencializar o risco de cncer de mama,
principalmente quando a gordura est localizada
na regio abdominal. Existem evidncias de que
os cnceres de mama e endomtrio esto
associados com o excesso de peso corporal,
refletindo tambm elevada ingesto energ-
tica
21,44
. Segundo a World Health Organization, a
obesidade, por si s, apresenta associao positiva
com o risco de cncer de endomtrio
43
, tendo sido
demonstrado na Europa que 39% desse tipo de
cncer est associado ao excesso de peso
32
.
A atividade fsica tambm ocupa um papel
importante na proteo contra diversas formas de
neoplasias, como de mama feminina, clon e
endomtrio. No entanto, aps o diagnstico de
cncer de mama feminina, o potencial benfico
da atividade fsica ainda no foi comprovado
9
.
Thune & Furberg
48
observaram uma relao
inversa entre a atividade fsica moderada e o
cncer de clon.
Preparo, conservao e
armazenamento de alimentos
Outros aspectos a serem considerados na
preveno do cncer, so os mtodos de preparo
e conservao dos alimentos, visto que ambos,
quando adotados, podem colaborar de forma
direta ou indireta no desenvolvimento de certos
tipos de neoplasias.
O emprego inadequado de alguns mtodos
de conservao de alimentos fator de risco,
principalmente, para os cnceres de estmago e
esfago - como conservas, picles e defumados,
contendo grande quantidade de nitratos e
nitritos - quando so consumidos rotineiramente,
como hbito alimentar do indivduo
1,44,49
. O
Departamento de Sade dos Estados Unidos
tambm considera que existe uma associao de
risco moderadamente consistente entre o
consumo de carnes processadas e o cncer de
clon
38
.
Est bem documentado que os compostos
N-nitrosos e o nitrato induzem formao tumoral
por meio da sua transformao em nitrito, um
xido desestabilizado, levando ao aumento na
produo de radicais livres e leso celular. O nitrito,
que pode ser formado endogenamente, tambm
provm das carnes curadas (conservadas com
nitrito de sdio), embutidos e alguns vegetais
(espinafre, batata, beterraba, alface, tomate,
cenoura, nabo, couve-flor, repolho, rabanete, etc.)
que contm nitrato, o qual transformado em
nitrito pela ao da saliva
50
. Os mecanismos
postulados para o aumento do risco do cncer de
estmago com o consumo de compostos nitrosos
esto associados ao aumento de radicais livres,
que promovem leso celular com reduo na
produo de muco, um fator de proteo mucosa
gstrica
1
.
Mtodos de preservao e preparo de
carnes, que acarretam a formao de aminas
heterocclicas, alm dos nitritos, tambm foram
associados ao maior risco de cnceres do trato
gastrintestinal
51,52
. Por exemplo, preparar as carnes
com temperaturas elevadas, produzindo um suco
queimado, ou expor a carne diretamente ao fogo,
como durante o preparo do churrasco, tem sido
desaconselhado pela World Cancer Research
Fund, por produzir componentes carcinognicos
na superfcie do alimento e aumentar o risco de
cncer do estmago
53
. A presena de elevada
quantidade de benzo [a] pirenos - hidrocarboneto
cclico aromtico nos alimentos, considerado um
potente carcinognico - tambm correlacionada
com essas formas de preparaes e parece
associar-se com o risco aumentado de cncer do
trato gastrintestinal
54
.
Num estudo de caso-controle realizado
entre japoneses, Takezaki et al.
55
observaram que
o consumo de peixe influenciou no risco de
desenvolver dois tipos de cncer de pulmo. A
reduo do risco de carcinoma de pequenas
clulas e de tumor de squamous cells, foi associada
ao consumo de peixe cru ou cozido, mais de 1 a
2 vezes por semana. Entretanto, o consumo de
DIETA E CNCER | 501
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
peixe desidratado ou conservado com sal associou-
-se ao aumento de 1,3 a 2,8 vezes no risco dos
mesmos tipos de cnceres.
O leo de peixe, quando exposto ao ar,
luz ou ao calor sofre uma rpida degradao
devido a peroxidao lipdica e a outras alteraes
qumicas. Como alimento conservado, para ser
consumido vrios dias aps o processo, pode
apresentar reduo nas concentraes de cidos
graxos poliinsaturados-PUFAs da famlia mega 3,
que um fator protetor contra o cncer. Alm
disso, o alimento conservado possui vrios tipos
de contaminantes (aditivos alimentares e resduos
qumicos da agricultura), que poderiam ter efeito
carcinognico
56
.
No estudo de Takezaki et al.
55
, foi observa-
do tambm um aumento no risco de cncer de
pulmo com o consumo de outros alimentos em
conserva, como o repolho Chins, conservado em
salmoura.
Quanto aos alimentos, outro aspecto
importante o processo de armazenamento. Este
deve ser adequado para prevenir o desenvolvi-
mento de certos tipos de fungos que produzem a
aflatoxina, uma substncia altamente carcinog-
nica, sendo apontada como um dos fatores de
risco para o desenvolvimento de tumores
hepticos
1,44
.
R E C O M E N D A E S
Como exposto, estudos epidemiolgicos
tm apontado o papel protetor da dieta contra o
desenvolvimento do cncer. O Comit de peritos
da World Cancer Research Fund, em associao
com o do American Institute for Cancer Research,
desenvolveram um painel contendo as principais
recomendaes, visando a preveno do cncer
1,57
(Quadro 2). Essas recomendaes so baseadas
nos princpios apresentados a seguir:
- Quantidade: sempre que possvel efetuar
recomendaes fornecendo a quantidade de
alimento que dever ser consumida.
- Limite de ingesto: as recomendaes
devem expressar os limites mnimo e mximo a
serem ingeridos.
- Populaes: atender grupos popula-
cionais e indivduos, de forma compatvel com a
diversidade cultural.
- Alimentos: baseadas em grupos alimen-
tares e no em nutrientes especficos.
- Aceitabilidade biolgica: so baseadas
em dados epidemiolgicos, experimentais e em
mecanismos biolgicos aceitveis.
C O N S I D E R A E S F I N A I S
A maior parte dos dados que relacionam
di eta e cncer est baseada em estudos
epidemiolgicos, sendo que poucos resultados
provm de estudos prospectivos. importante
ressaltar que estudos retrospectivos tm suas
limitaes, como por exemplo, os vieses de
memria. Em geral, os indivduos afetados pela
doena tendem a recordar-se com maior facilidade
da exposio aos alimentos, do que os do grupo
controle.
Esses estudos tambm sofrem vieses de
variveis de confuso, pela auto-seleo dos
indivduos. Geralmente, pessoas que buscam
hbito alimentar salutar, tambm tendem a
apresentar um estilo de vida mais saudvel, como
por exemplo, a prtica de atividade fsica e o
no-tabagismo.
Apesar disso, os benefcios decorrentes das
modificaes no estilo de vida, incluindo-se as
modificaes dietticas, para reduo mundial dos
coeficientes de incidncia e mortalidade de cncer,
j esto amplamente documentados. A adoo
de hbitos saudveis, incluindo a alimentao,
constitui fator de proteo contra o desenvolvi-
mento de vrios cnceres. Entretanto, os nutrientes
especficos, responsveis pelos mecanismos
anticarcinognicos, ainda no foram completa-
mente identificados, fazendo-se necessria a
pesquisa, principalmente, no mbito nacional. A
502 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
aplicao de inquritos prospectivos, com controle
das variveis de confuso, alm da validao e
padronizao dos questionrios, que devero ser
aplicados muitas vezes para aumentar a confiabi-
lidade dos resultados so algumas metas para a
elucidao do papel da dieta no desenvolvimento
do cncer.
As informaes e recomendaes aqui
apresentadas, visam auxiliar o profissional da rea
Quadro 2. Recomendaes propostas pelo WCRF em associao com o AICR.
Recomendaes
1. Variedade e equilbrio
2. Peso saudvel
3. Atividade fsica
4. Hortalias e frutas
5. Cereais, leguminosas, razes e tubrculos
6. Consumo de lcool
7. Carne bovina
8. Gorduras
9. Ervas e temperos naturais
10. Estocagem
11. Refrigerao
12. Aditivos e resduos
13. Mtodo de preparo
14. Suplementos
15. Cigarro e tabaco
Orientaes gerais
Escolher uma alimentao variada e baseada predominantemente em verduras,
legumes e frutas, com a utilizao mnima de alimentos processados e acares
simples.
Evitar o excesso de peso e o peso muito inferior ao recomendado para a idade.
Dedicar uma hora diria para caminhada ou exerccios similares e uma hora, pelo
menos uma vez por semana, para exerccios mais intensos.
Ingerir 400g a 800g, ou 5 ou mais pores de frutas e verduras por dia.
Ingerir 600g a 800g ou mais de sete pores dirias de cereais variados, leguminosas,
razes, tubrculos e verduras. Evitar alimentos processados e limitar o consumo de
acar refinado.
O consumo de lcool no recomendado. Contudo, o limite para o sexo masculino
de dois copos de vinho por dia e um para a sexo feminino.
Limitar o consumo de carne vermelha para menos de 80 gramas diariamente,
podendo substituir a carne bovina por peixe, frango ou carne de animais no-
-domesticados. Utilizar mtodos de preparo com temperaturas mais baixas, como
grelhado, assado ou cozido. Nunca expor o alimento diretamente ao fogo.
Limitar o consumo de alimentos gordurosos, principalmente se for de origem
animal. Recomenda-se at 30% do Valor Calrico Total (VCT), com reduo do
consumo de gorduras saturadas (< 3g/100g do alimento) e colesterol. Tentar
incluir leo de oliva, peixe e castanhas na dieta.
Limitar o consumo de alimentos com excesso de sal e o uso de temperos prontos.
Preferir ervas e temperos naturais.
No consumir alimentos estocados por muito tempo, principalmente amendoim e
derivados, em razo do risco de contaminao com micotoxinas.
Utilizar a refrigerao ou outros mtodos adequados para preservar alimentos
perecveis, evitando a salga e o vinagre.
Consumir alimentos que possuam somente os aditivos e contaminantes previstos
pela legislao vigente.
Evitar alimentos em conserva ou salmoura, bem como os curados ou defumados, a
carne de churrasco e alimentos tostados. Preferir carne ou peixe grelhados, assados
ou cozidos.
No so necessrios suplementos para indivduos que seguem estas recomendaes.
No fumar ou mascar fumo.
Fonte: Adaptada do World Cancer Research Fund (WCRF) e American Institute for Cancer Research (AICR)
1,57
.
.
da sade nas orientaes populao, para
prevenir o desenvolvimento de diferentes tipos de
cncer.
R E F E R N C I A S
1. World Cancer Research Fund. Food, nutrition and
prevention of cancer: A global perspective.
Washington: American Institute for Cancer
Research; 1997. p.35-71, 508-40.
DIETA E CNCER | 503
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
2. World Health Organization. The World Health
Report 1998: Life in the 21st century a vision for
all. Geneva: WHO; 1998. p.61-111.
3. World Cancer Research Fund 2001 [cited 1 Nov
2001]. Available from: URL: http:\\www.wcrf.org
4. Doll R, Peto R. The causes of cancer: Quantitative
estimates of avoidable risks of cancer in the United
States today. J Natl Cancer Inst 1981; 66(6):
1191-308.
5. Byers T. The role of epidemiology in developing
nutritional recommendations: Past, present, and
future. Am J Clin Nutr 1999; 69(6):1304S-8S.
6. Flegal KM. Evaluating epidemiologic evidence of
the effects of food and nutrient exposures. Am J
Clin Nutr 1999; 69(6):1339S-44S.
7. Mason J, Nitenberg G. Cancer & nutrition:
Prevention and treatment. New York: Karger; 2000.
Nestl Nutrition Workshop Series and Clinical &
Performance Program; n.4.
8. Peto J. Cancer epidemiology in the last century
and the next decade. Nature 2001; 411(6835):
390-5.
9. Rissanen A, Fogelholm M. Physical activity in the
prevention and treatment of other morbid
conditions and impairments associated with
obesity: Current evidence and research issues. Med
Sci Sports Exerc 1999; 31(11 Suppl):S635-45.
10. World Health Organization. National cancer
control programs: Pol i ci es and manageri al
guidelines. 2nd ed. Geneva: WHO; 2002.
11. Parkin DM, Muir CS. Cancer incidence in five
continents. Comparability and quality of data. IARC
Sci Publ 1992; 120:45-173.
12. Tominga S. Decreasing trend of stomach cancer in
Japan. Japan J Cancer Res 1987; 78:1-10.
13. Marigo C. Epidemiologia. In: Estratgias para o
control e de cncer. So Paul o: Fundao
Oncocentro de So Paulo; 1994. p.20-9.
14. Brasil. Ministrio da Sade. Instituto Nacional de
Cncer-I NCA. Esti mati va de i nci dnci a e
mortalidade por cncer. Rio de Janeiro: INCA; 2001.
15. Ferlay J, Parkin DM, Pisani P. Cancer incidence and
mortality worldwide. Lyon: IARC Press and WHO;
1998.
16. Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Estimates of the
worldwide incidence of 25 major cancers in 1990.
Int J Cancer 1999; 80(6):827-41.
17. A vitria da medicina [editorial]. Rev Cncer:
Panorama da Oncologia Atual 2002; 5(7):10-27.
18. De Souza JM, Gotlieb SL, Costa Junior ML, Laurenti
R, Mirra AP, Tsugane S, et al. Proportional cancer
incidence according to selected sites - comparison
between residents in the city of S. Paulo, Brazil:
Japanese and Brazilian/Portuguese descent. Rev
Saude Publica 1991; 25(3):188-92.
19. Glanz K. Behavioral research contributions and
needs in cancer prevention and control: Dietary
change. Prev Med 1997; 26(5 Pt 2):S43-S55.
20. Rivlin RS. Nutrition and cancer prevention: New
insights into the role of phytochemicals. Future
directions. Adv Exp Med Biol 2001; 492:255-62.
21. Greenwald P, Clifford CK, Milner JA. Diet and
cancer prevention. Eur J Cancer 2001; 37(8):
948-65.
22. Sempos CT, Liu K, Ernst ND. Food and nutrient
exposures: What to consider when evaluating
epidemiologic evidence. Am J Clin Nutr 1999;
69(6):1330S-8S.
23. Briefel RR, Flegal KM, Winn DM, Loria CM, Johnson
CL, Sempos CT. Assessing the nations diet:
Limitations of the food frequency questionnaire. J
Am Diet Assoc 1992; 92(8):959-62.
24. Sempos CT. Invited commentary: Some limitations
of semi-quantitative food frequency questionnaires.
Am J Epidemiol 1992; 135:1127-32.
25. Lee MM, Lin SS. Dietary fat and breast cancer. Annu
Rev Nutr 2000; 20:221-48.
26. Block G, Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables,
and cancer preventi on: A revi ew of the
epidemiological evidence. Nutr Cancer 1992;
12(1):1-29.
27. Bowen PE. Dietary intervention strategies: Validity,
execution and interpretation of outcomes. Adv Exp
Med Biol 2001; 492:233-53.
28. Van Duyn MA, Pivonka E. Overview of the health
benefits of fruit and vegetable consumption for
the dietetics professional: Selected literature. J Am
Diet Assoc 2000; 100(12):1511-21.
504 | A. GARFOLO et al.
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
29. Committee on Medical Aspects of Food and
Nutrition Policy (COMA). Epidemiology of diet in
rel ati on to speci fi c cancers. London: H.M.
Stationery Office; 1998. p.80-153. Report on Health
and Social Subjects, n.48.
30. Gallus S, Bosetti C, Franceschi S, Levi F, Simonato L,
Negri E, et al. Oesophageal cancer in women:
Tobacco, alcohol, nutritional and hormonal factors.
Br J Cancer 2001; 85(3):341-5.
31. Voorrips LE, Goldbohm RA, Verhoeven DT, Van
Poppe GA, Sturmans F, Hermus RJ, et al. Vegetable
and fruit consumption and lung cancer risk in the
Netherlands cohort study on diet and cancer.
Cancer Causes Control 2000; 11:101-15.
32. World Cancer Research Fund International. The
fat factor. Newsletter - on diet, nutrition and cancer.
Science News. 2002; 34:1.
33. Burkitt DP. Epidemiology of cancer of the colon
and rectum. Cancer 1971; 28(7):3-13.
34. Jansen MC, Bueno-de-Mesquita HB, Buzina R,
Fidanza F, Menotti A, Blackburn H, et al. Dietary
fiber and plant foods in relation to colorectal
cancer mortality: The Seven Countries Study. Int J
Cancer 1999; 81(2):174-9.
35. Fuchs CS, Giovannucci EL, Colditz GA, Hunter DJ,
Stampfer MJ, Rosner B, et al. Dietary fiber and the
risk of colorectal cancer and adenoma in women.
N Engl J Med 1999; 340(3):169-76.
36. Bosti ck RM. Nutri ti on and col on cancer
prevention. In: Mason JB, Nitenberg G. Cancer &
nutrition: Prevention and treatment. New York:
Karger; 2000. p.67-86. Nestl Nutrition Workshop
Series of Clinical & Performance Program, n.4.
37. Mucci LA, Tamimi R, Lagiou P, Trichopoulou A,
Benetou V, Spanos E, et al. Are dietary influences
on the risk of prostate cancer mediated through
the insulin-like growth factor system? BJU Int
2001; 87(9):814-20.
38. Birt DF. Soybeans and cancer prevention: A complex
food and a complex disease. Adv Exp Med Biol
2001; 492:1-10.
39. Wu AH. Soy and risk of hormone-related and other
cancers. Adv Exp Med Biol 2001; 492:19-28.
40. Griffiths K, Adlercreutz H, Boyle P, Denis L,
Nicholson RI, Morton MS. Nutrition and cancer.
Oxford: Isis Medical Media; 1996.
41. Cuzick J. Future possibilities in the prevention of
breast cancer: Breast cancer prevention trials. Breast
Cancer Res 2000; 2(4):258-63.
42. Pala V, Krogh V, Muti P, Chajes V, Riboli E, Micheli
A, et al. Erythrocyte membrane fatty acids and
subsequent breast cancer: A prospective Italian
study. J Natl Cancer Inst 2001; 93(14):1088-95.
43. World Health Organization. Diet, nutrition and the
prevention of chronic diseases. A report of the
WHO Study Group on di et, nutri ti on and
prevention of non-communicable diseases.
Geneva: WHO; 1990. Technical Report, Series 797.
44. Cooper GM. The cancer book. Boston: Jones &
Bartlett; 1993.
45. Greenwald P, Sherwood K, McDonald SS. Fat, caloric
intake, and obesity: Lifestyle risk factors for breast
cancer. J Am Diet Assoc 1997; 97(7 Suppl):
S24-S30.
46. Greenwald P. Role of dietary fat in the causation of
breast cancer: Point. Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev 1999; 8(1):3-7.
47. Brasil. Ministrio da Sade. Portaria n. 144/GM,
de 24 de fevereiro de 1999. Dia nacional de
combate obesidade [citado nov 2000]. Disponvel
em: URL: http// www.sade.gov.br/portarias/1999
http\\Portaria
48. Thune I, Furberg AS. Physical activity and cancer
risk: Dose-response and cancer, all sites and site-
-specific. Med Sci Sports Exerc 2001; 33(6
Suppl):S530-50.
49. Palli D, Russo A, Ottini L, Masala G, Saieva C,
Amorosi A, et al. Red meat, family history, and
increased risk of gastric cancer with microsatellite
instability. Cancer Res 2001; 61(14):5415-9.
50. Bunin GR. Maternal diet during pregnancy and
risk of brain tumors in children. Int J Cancer Suppl
1998; 11:23-5.
51. Lang NP, Butler MA, Massengill J, Lawson M, Stotts
RC, Hauer-Jensen M, et al. Rapid metabolic
DIETA E CNCER | 505
Rev. Nutr., Campinas, 17(4):491-505, out./dez., 2004 Revista de Nutrio
phenotypes for acetyltransferase and cytochrome
P4501A2 and putative exposure to food-borne
heterocyclic amines increase the risk for colorectal
cancer or polyps. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
1994; 3(8):675-82.
52. Roberts-Thomson IC, Ryan P, Khoo KK, Hart WJ,
McMi chael AJ, Butl er RN. Di et, acetyl ator
phenotype, and risk of colorectal neoplasia. Lancet
1996; 347(9012):1372-4.
53. World Cancer Research Fund. Diet and health
recommendations for the prevention of cancer.
Information Series One. London; 1998. p.1-33.
54. Kazerouni N, Sinha R, Hsu CH, Greenberg A,
Rothman N. Analysis of 200 food items for
benzo[a]pyrene and estimation of its intake in an
epidemiologic study. Food Chem Toxicol 2001;
39(5):423-36.
55. Takezaki T, Hirose K, Inoue M, Hamajima N, Yatabe
Y, Mitsudomi T, et al. Dietary factors and lung
cancer risk in Japanese, with special reference to
fish consumption and adenocarcinomas. Br J
Cancer 2001; 84(9):1199-206.
56. Porter NA, Caldwell SE, Mills KA. Mechanisms of
free radical oxidation of unsaturated lipids. Lipids
1995; 30(4):277-90.
57. World Cancer Research Fund. The anti-cancer diet
and lifestyle plan. Newsletter - on diet, nutrition
and cancer - 2002; 48:4-5.
Recebido para publicao em 15 de agosto de 2002 e
aceito em 14 de outubro de 2003.
Você também pode gostar
- Incontinencia Urinaria ArtigosDocumento47 páginasIncontinencia Urinaria Artigosrafaela sales100% (2)
- Folder Nov Azul 18Documento2 páginasFolder Nov Azul 18Wellington Luis100% (6)
- Ebook Nov21Documento19 páginasEbook Nov21José Ilton lima100% (1)
- Câncer de PróstataDocumento11 páginasCâncer de PróstataLucas PereiraAinda não há avaliações
- Brócolis Reduz Risco de Câncer Agressivo Na Próstata - Nutrição - AlimentosDocumento3 páginasBrócolis Reduz Risco de Câncer Agressivo Na Próstata - Nutrição - Alimentosapi-3846009Ainda não há avaliações
- Slides Onco Prostata e PenisDocumento28 páginasSlides Onco Prostata e PenisVagner Cardoso da SilvaAinda não há avaliações
- TMG - IpogalDocumento14 páginasTMG - IpogalNelitoAinda não há avaliações
- Prova - Saúde Do HomemDocumento5 páginasProva - Saúde Do HomemzapAinda não há avaliações
- Trabalho de Radioterapia - ConformacionalDocumento22 páginasTrabalho de Radioterapia - ConformacionalSandro Henrique Neiva100% (2)
- T S Willey e Bent Formby - Apague A Luz! Durma Melhor e Perca Peso-LIVRO - Até À Página 100Documento99 páginasT S Willey e Bent Formby - Apague A Luz! Durma Melhor e Perca Peso-LIVRO - Até À Página 100api-3830837100% (1)
- A Cidade Ubatuba 18 19 Novembro 2023Documento14 páginasA Cidade Ubatuba 18 19 Novembro 2023BIELDABL066Ainda não há avaliações
- Página 1 de 4Documento4 páginasPágina 1 de 4Tuba ArtelloAinda não há avaliações
- Rastreamento de Câncer SlidesDocumento54 páginasRastreamento de Câncer SlidesAmanda AnjosAinda não há avaliações
- UrologiaDocumento111 páginasUrologiaMaria YaelAinda não há avaliações
- Folder Novembro Azul Site PDFDocumento2 páginasFolder Novembro Azul Site PDFbruna100% (1)
- Guia Rede AbertaDocumento148 páginasGuia Rede AbertaEjaEjaAinda não há avaliações
- Fundamentos para Reabilitação Oral IIIDocumento84 páginasFundamentos para Reabilitação Oral IIINany OliveiraAinda não há avaliações
- Atividade Sobre Rastreamento - Saúde ColetivaDocumento6 páginasAtividade Sobre Rastreamento - Saúde ColetivaCamilla Kallás HuebAinda não há avaliações
- Uropatia ObstrutivaDocumento4 páginasUropatia ObstrutivaSamir NozawaAinda não há avaliações
- BIO12 NL1 (Teste1) Out.2022Documento9 páginasBIO12 NL1 (Teste1) Out.2022InêsAinda não há avaliações
- SEMINARIO ReprodutorDocumento65 páginasSEMINARIO ReprodutorAilson SilvaAinda não há avaliações
- Programa de Atenção Integral À Saúde Do IdosoDocumento20 páginasPrograma de Atenção Integral À Saúde Do IdosoMaria Eduarda Lima LopesAinda não há avaliações
- Testemunho de Problemas Na Prostata e PSA AltoDocumento2 páginasTestemunho de Problemas Na Prostata e PSA Altoleptix8588Ainda não há avaliações
- Estudo de Caso DanielaDocumento26 páginasEstudo de Caso DanielaDaniela Guirado TavaresAinda não há avaliações
- Tecnicos em Radioterapia - Cap6Documento16 páginasTecnicos em Radioterapia - Cap6Ana Paula IoostAinda não há avaliações
- JBR 03-10-2019Documento12 páginasJBR 03-10-2019rubikitoAinda não há avaliações
- Cirurgia AVANÇADADocumento168 páginasCirurgia AVANÇADARudinei JuniorAinda não há avaliações
- Orientacoes Rol Planserv Abril 2018 1Documento21 páginasOrientacoes Rol Planserv Abril 2018 1Daniela RodriguesAinda não há avaliações
- Citologia UrináriaDocumento6 páginasCitologia UrináriaRayanne FrotaAinda não há avaliações
- 13b Aulaheli PDFDocumento25 páginas13b Aulaheli PDFThiago Henrique OliveiraAinda não há avaliações