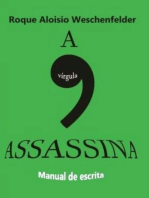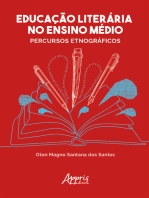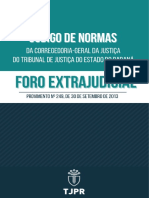Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Portugues
Portugues
Enviado por
Leandro FernandesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Portugues
Portugues
Enviado por
Leandro FernandesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
Este livro pblico - est autorizada a sua reproduo total ou parcial.
LNGUA PORTUGUESA
E LITERATURA
ENSINO MDIO
Governo do Estado do Paran
Roberto Requio
Secretaria de Estado da Educao
Mauricio Requio de Mello e Silva
Diretoria Geral
Ricardo Fernandes Bezerra
Superintendncia da Educao
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Departamento de Ensino Mdio
Mary Lane Hutner
Coordenao do Livro Didtico Pblico
Jairo Maral
Depsito legal na Fundao Biblioteca Nacional, conforme Decreto Federal n.1825/1907,
de 20 de Dezembro de 1907.
permitida a reproduo total ou parcial desta obra, desde que citada a fonte.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
Avenida gua Verde, 2140 - Telefone: (0XX) 41 3340-1500
e-mail: dem@seed.pr.gov.br
80240-900 CURITIBA - PARAN
Catalogao no Centro de Editorao, Documentao e Informao Tcnica da SEED-PR
Lngua Portuguesa e Literatura / vrios autores. Curitiba: SEED-PR, 2006. p 208.
ISBN: 85-85380-38-1
1. Lngua portuguesa. 2. Literatura. 3. Ensino mdio. 3. Ensino de lngua portuguesa. 4.
Ensino de literatura. I. Folhas. II. Material de apoio pedaggico. III. Material de apoio terico.
IV. Secretaria de Estado da Educao. Superintendncia da Educao. V. Ttulo.
CDU 806.90+373.5
2. Edio
IMPRESSO NO BRASIL
DISTRIBUIO GRATUITA
Autores
Antonio Eduardo Leito Navarro Lins
Carmen Rodrigues Fres Pedro
Luciana Cristina Vargas da Cruz
Maria de Ftima Navarro Lins Paul
Rosa Elena Bueno
Rosana Guandalin
Suely Marcolino Peres
Equipe tcnico-pedaggica
Antnio Eduardo Leito Navarro Lins
Donizete Aparecido Batista
Edilson Jos Krupek
Iris Mirian Miranda do Vale
Keila Vieira de Lima
Luciana Cristina Vargas da Cruz
Maria de Ftima Navarro Lins Paul
Mougly da Luz Queiroz
Solange Maria do Nascimento
Assessora do Departamento de Ensino Mdio
Agnes Cordeiro de Carvalho
Coordenadora Administrativa do Livro Didtico Pblico
Edna Amancio de Souza
Equipe Administrativa
Mariema Ribeiro
Sueli Tereza Szymanek
Tcnicos Administrativos
Alexandre Oliveira Cristovam
Viviane Machado
Consultores
Altair Pivovar UFPR
Cleverson Ribas Carneiro UFPR
Consultor de direitos autorais
Alex Sander Hostyn Branchier
Leitura crtica
Alba Maria Perfeito - UEL
Reviso Textual
Antnio Eduardo Leito Navarro Lins
Elizabeth Maria Hoffmann
Luciana Cristina Vargas da Cruz
Maria de Ftima Navarro Lins Paul
Projeto Grco e Capa
Eder Lima / cone Audiovisual Ltda
Editorao Eletrnica
cone Audiovisual Ltda
2007
Carta do Secretrio
Este Livro Didtico Pblico chega s escolas da rede como resultado
do trabalho coletivo de nossos educadores. Foi elaborado para atender
carncia histrica de material didtico no Ensino Mdio, como uma
iniciativa sem precedentes de valorizao da prtica pedaggica e dos
saberes da professora e do professor, para criar um livro pblico, acessvel,
uma fonte densa e credenciada de acesso ao conhecimento.
A motivao dominante dessa experincia democrtica teve origem na
leitura justa das necessidades e anseios de nossos estudantes. Caminhamos
fortalecidos pelo compromisso com a qualidade da educao pblica e
pelo reconhecimento do direito fundamental de todos os cidados de
acesso cultura, informao e ao conhecimento.
Nesta caminhada, aprendemos e ensinamos que o livro didtico no
mercadoria e o conhecimento produzido pela humanidade no pode ser
apropriado particularmente, mediante exibio de ttulos privados, leis
de papel mal-escritas, feitas para proteger os vendilhes de um mercado
editorial absurdamente concentrado e elitista.
Desaados a abrir uma trilha prpria para o estudo e a pesquisa,
entregamos a vocs, professores e estudantes do Paran, este material de
ensino-aprendizagem, para suas consultas, reexes e formao contnua.
Comemoramos com vocs esta feliz e acertada realizao, propondo,
com este Livro Didtico Pblico, a socializao do conhecimento e dos
saberes.
Apropriem-se deste livro pblico, transformem e multipliquem as suas
leituras.
Mauricio Requio de Mello e Silva
Secretrio de Estado da Educao
Aos Estudantes
Agir no sentido mais geral do termo signica tomar ini-
ciativa, iniciar, imprimir movimento a alguma coisa. Por
constiturem um initium, por serem recm-chegados e ini-
ciadores, em virtude do fato de terem nascido, os homens
tomam iniciativa, so impelidos a agir. (...) O fato de que o
homem capaz de agir signica que se pode esperar de-
le o inesperado, que ele capaz de realizar o innitamente
improvvel. E isto, por sua vez, s possvel porque cada
homem singular, de sorte que, a cada nascimento, vem
ao mundo algo singularmente novo. Desse algum que
singular pode-se dizer, com certeza, que antes dele no
havia ningum. Se a ao, como incio, corresponde ao fa-
to do nascimento, se a efetivao da condio humana
da natalidade, o discurso corresponde ao fato da distino
e a efetivao da condio humana da pluralidade, isto ,
do viver como ser distinto e singular entre iguais.
Hannah Arendt
A condio humana
Este o seu livro didtico pblico. Ele participar de sua trajetria pelo
Ensino Mdio e dever ser um importante recurso para a sua formao.
Se fosse apenas um simples livro j seria valioso, pois os livros regis-
tram e perpetuam nossas conquistas, conhecimentos, descobertas, so-
nhos. Os livros documentam as mudanas histricas, so arquivos dos
acertos e dos erros, materializam palavras em textos que exprimem, ques-
tionam e projetam a prpria humanidade.
Mas este um livro didtico, caracteriza-se pelo ensinar e aprender.
a idia mais comum a respeito de um livro didtico. Porm, o Livro Di-
dtico Pblico diferente. Ele foi escrito a partir de um conceito inova-
dor de ensinar e de aprender. Com ele, como apoio didtico, seu profes-
sor e voc faro muito mais do que seguir o livro. Vocs ultrapassaro
o livro. Sero convidados a interagir com ele e desaados a estudar alm
do que ele traz em suas pginas.
Neste livro h uma preocupao em escrever textos que valorizem o
conhecimento cientco, losco e artstico, bem como a dimenso his-
trica das disciplinas de maneira contextualizada, ou seja, numa lingua-
gem que aproxime esses saberes da sua realidade. um livro diferente
porque no tem a pretenso de esgotar contedos, mas discutir a reali-
dade em diferentes perspectivas de anlise; no quer apresentar dogmas,
mas questionar para compreender. Alm disso, os contedos abordados
so alguns recortes possveis dos contedos mais amplos que estruturam
e identicam as disciplinas escolares. O conjunto desses elementos que
constituem o processo de escrita deste livro denomina cada um dos tex-
tos que o compem de Folhas.
Em cada Folhas vocs, estudantes, e seus professores podero cons-
truir, reconstruir e atualizar conhecimentos das disciplinas e, nas veredas
das outras disciplinas, entender melhor os contedos sobre os quais se
debruam em cada momento do aprendizado. Essa relao entre as dis-
ciplinas, que est em aprimoramento, assim como deve ser todo o pro-
cesso de conhecimento, mostra que os saberes especcos de cada uma
delas se aproximam, e navegam por todas, ainda que com concepes e
recortes diferentes.
Outro aspecto diferenciador deste livro a presena, ao longo do tex-
to, de atividades que conguram a construo do conhecimento por meio
do dilogo e da pesquisa, rompendo com a tradio de separar o espao
de aprendizado do espao de xao que, alis, raramente um espao de
discusso, pois, estando separado do discurso, desarticula o pensamento.
Este livro tambm diferente porque seu processo de elaborao e
distribuio foi concretizado integralmente na esfera pblica: os Folhas
que o compem foram escritos por professores da rede estadual de en-
sino, que trabalharam em interao constante com os professores do De-
partamento de Ensino Mdio, que tambm escreveram Folhas para o li-
vro, e com a consultoria dos professores da rede de ensino superior que
acreditaram nesse projeto.
Agora o livro est pronto. Voc o tem nas mos e ele prova do valor
e da capacidade de realizao de uma poltica comprometida com o p-
blico. Use-o com intensidade, participe, procure respostas e arrisque-se a
elaborar novas perguntas.
A qualidade de sua formao comea a, na sua sala de aula, no traba-
lho coletivo que envolve voc, seus colegas e seus professores.
Rap da Lngua Portuguesa .............................................................10
Apresentao .............................................................................12
Contedo Estruturante: O Discurso como prtica social:
oralidade, leitura, escrita, literatura.
1 Procura-se um Crime ...................................................................17
2 O Labirinto da Linguagem Jurdica ..................................................29
3 Discursos da Negritude .................................................................43
4 Pescando Signicados. .................................................................55
5 Sonhando com a Casa Prpria. ......................................................65
6 Palavras .....................................................................................77
7 Sobre A Modernidade ou como ler um livro.......................................89
Sumrio
8 A Mquina do Tempo .................................................................101
9 Estratgias de manifestar opinio ...................................................111
10 Quem conta um conto ................................................................123
11 Voc um Chato ......................................................................137
12 Linguagem Cientca e Linguagem Cotidiana Maneiras de Dizer. .......149
13 Variao Lingstica ....................................................................157
14 Mltiplas Signicaes ................................................................171
15 Mercado de Trabalho: Que Bicho esse? .......................................181
16 Vrgulas e Signicado ..................................................................191
10
Ensino Mdio
Apresentao
Rap da Lngua Portuguesa
(A linguagem em ritmo)
Leitura, escrita, literatura, oralidade
A linguagem no ritmo da multiplicidade.
Vem com a gente, galera, vem pra conhecer
A linguagem em uso o que vimos lhe trazer.
Na sala de aula era assim...
Aluno e professor. A Lngua? Regras sem m...
Ai, que texto grande!! No consigo entender!!
Vale quanto, professor? Cai na prova?
Vou ter mesmo que ler?
Ai, que coisa chata! No tem gura? Olha o tamanho da letra...
em dupla, professor? Vou ter mesmo que fazer?
Escreve direito, menino!
No assassina o portugus!
Caneta na mo copiando a lio!
Sentado na cadeira!
Isso no lugar de brincadeira!
Essas so idias que precisam mudar!
O livro didtico pblico est a pra inquietar
Para formar sem fazer conformar
Pois a realidade precisamos transformar.
Se liga, meu irmo,
No que vamos te dizer,
Somos todos iguais
E diferentes pra valer
Tamo na atividade!
Tamo a pra aprender!
Este o Rap da Lngua Portuguesa
Vem com a gente aprender
Usar a lngua com destreza
Oralidade, leitura e escrita
Desenvolver o pensar sem maldade
Mas tambm sem ingenuidade.
E tudo ler, do romance ao cordel.
O que aceita o papel, ler.
Com todos os tipos de textos, aprender.
Experimentar da lngua o potencial
Que tal?
s entrar e abrir a janela-
-texto que d para o pensamento
11
Lngua Portuguesa
L
N
G
U
A
P
O
R
T
U
G
U
E
S
A
E logo a imaginao acelera
Aprimorando o movimento
Do aprender.
Vem com a gente, galera, vem pra conhecer
A proposta nova que vimos lhe trazer.
Leitura, escrita, literatura e oralidade
Para a construo de uma nova sociedade.
Voc a personagem principal
Do texto e do contexto
s entrar e abrir a janela
Para os mundos da linguagem.
Ler conhecer, pensar reetir
Todos modos de interagir.
Interagir com o mundo e sua multiplicidade:
O cinema, o trabalho, a TV, a msica
A linguagem e toda a sua variedade.
E pra car mais bacana, a interdisciplinaridade.
Interaja com os elementos
Ampliando seus conhecimentos.
Usar a lngua pra falar
Usar a lngua pra ar
Aar todo o seu ser.
Oralidade, leitura, escrita
Ajudam a fazer quem somos
Pois so as prticas com as quais lidamos.
Ns crescemos com a lngua que usamos.
Eu erro, tu erras, ns erramos.
Errar no pecado.
, na verdade, tentativa de aprendizado.
Preconceito lingstico roubada.
Melhor errar do que no fazer nada!
Leitura, escrita, literatura, oralidade
A linguagem no ritmo da multiplicidade.
Vem com a gente, galera, vem pra conhecer
A linguagem em uso o que vimos lhe trazer.
Os autores
12
Ensino Mdio
Apresentao
A
p
r
e
s
e
n
t
a
o
Este material foi feito para voc, estudante do Ensino Mdio da Re-
de Pblica Estadual. um convite para promover sua interao com
o mundo. , em grande parte, resultado da nossa experincia em sala
de aula e de uma cuidadosa reexo sobre as Diretrizes Curriculares
de Lngua Portuguesa do Ensino Mdio. Assim, nas atividades propos-
tas ao longo deste livro, procuramos contemplar as prticas da orali-
dade, da escrita e da leitura, sem nos esquecermos da literatura e sua
especicidade.
Para que trabalhar oralidade na escola? Ora, alm da sua fala coti-
diana, so inmeras as circunstncias em que voc precisa se expres-
sar oralmente com um maior grau de formalidade: numa entrevista de
seleo para um emprego, voc no pode se expressar da mesma ma-
neira como voc fala com um amigo, em uma festa ou nos intervalos
de aulas. Assim, tambm, manifestar opinies em debates, troca e ex-
posio de idias em ambiente de trabalho, apresentaes de semin-
rios, transmitir informaes, defesa de pontos de vista (argumentao)
so situaes que exigem mais formalidade. O prprio contar histrias
ou narrar as prprias experincias, dependendo da situao, exigem
cuidados com a clareza do que se est dizendo.
Alm disso, o trabalho com a oralidade permite analisar a lingua-
gem enquanto discurso falado, ensinando-nos, tambm, a ouvir e a ler.
Ao tentarmos entender o que diz o locutor de um telejornal , estamos
aprimorando nosso ouvir, a nossa compreenso acerca daquilo que
foi dito; ao buscarmos a melhor maneira de recitar um poema, esta-
mos trabalhando a oralidade no sentido de ler. A fala um instrumen-
to fundamental na defesa dos direitos, ela pode servir tanto para inti-
midar quanto para demonstrar poder perante o outro. O trabalho com
a oralidade visa, assim, desenvolver o falar com uncia em diferentes
situaes, adequando a linguagem s circunstncias (interlocutores, as-
sunto, intenes), aproveitando os recursos expressivos da lngua.
13
Lngua Portuguesa
L
N
G
U
A
P
O
R
T
U
G
U
E
S
A
Para que trabalhar a escrita? Ora, por meio da escrita que o ho-
mem registra toda a aventura humana, deixa sua marca registrada na
histria. Buscamos, neste livro, mostrar-lhe que h instncias que re-
querem o uso da escrita com maior ou menor formalidade.
Escrever inventar, a cada momento, a prpria identidade, dizer
de si e do mundo, para si e para o mundo. Escrever ordenar o pen-
samento; buscar compreender-se e compreender o mundo.
Apoderar-se dessa forma de expresso da linguagem direito de
todos e dever da escola. Diante disso, procuramos propiciar a voc ex-
perincia com a escrita de diferentes gneros discursivos.
Leitura? Para qu? Para vivenciar experincias com essa diversida-
de textual: crnicas, piadas, poemas, causos populares, textos de opi-
nio, reportagens, charges, histrias em quadrinhos, teatro, cordel, ro-
mances, contos, textos instrucionais, percebendo, em cada um deles,
a presena de um sujeito histrico e de uma inteno. A leitura desses
textos ir ajud-lo, gradativamente, a ampliar seus horizontes, fazen-
do-o perceber as vrias nuances no trato com as palavras, sempre en-
volto em intenes. importante acrescentar, ainda, que as prticas de
leitura devem lhe proporcionar tanto a construo do sentido do tex-
to quanto a percepo das relaes de poder inerentes a ele. A leitura,
nessa perspectiva, no pode estar dissociada da vida. Nesse sentido,
no possvel restringir a leitura ao que o autor quis dizer, mas apri-
morar a reexo: o importante o que o texto diz a voc, leitor, pois
a sua interao com o texto que vai atribuir sentidos leitura. Um alu-
no, bom leitor, no se contenta com a seleo de textos feita pelo pro-
fessor, ele mistura as suas leituras com aquelas que o professor solici-
tou. Dessa mistura que advm os sentidos daquilo que se l.
Procuramos, neste trabalho, mostrar que a lngua vida, est pre-
sente em todas as nossas relaes sociais e abrange, alm dos textos
escritos e falados, a integrao da linguagem verbal com as outras lin-
guagens: as artes visuais, a msica, o cinema, o teatro, a fotograa, o
14
Ensino Mdio
Apresentao
vdeo, a televiso, o rdio, a publicidade, os quadrinhos, as charges, a
multimdia e todas as formas infogrcas ou qualquer outro meio lin-
guageiro criado pelo homem.
Os textos presentes neste livro provm de diferentes fontes. Alguns
deles, como poemas, crnicas, contos, letras de msicas, charges, inte-
gram o patrimnio cultural da Lngua Portuguesa.
fundamental, portanto, que voc compreenda toda a multiplicida-
de da linguagem, perceba que a lngua no somente de uso escolar,
est presente em todos os momentos do seu cotidiano e por meio
dela que voc se mantm plugado no mundo e, mais que isso, nela e
com ela que voc se constitui, que voc se constri como pessoa. Lem-
bramos, aqui, uma frase do poeta portugus Fernando Pessoa, quando
disse: Minha Ptria a Lngua Portuguesa. Enm, nossa inteno
explicitar que a linguagem, como disse o lsofo Hegel, o universo
no qual nascemos e o suporte para todo o conhecimento.
Com esse olhar, buscamos desenvolver atividades que proporcio-
nem experincias reais de uso da linguagem. Ao realiz-las, voc se
confrontar com diferentes prticas discursivas como falar, ler, gestuali-
zar, representar e escrever. Ao optarmos por essa metodologia, preten-
demos ampliar seu universo de informaes e mobiliz-lo para a pes-
quisa, a investigao, o levantamento de hipteses, num trabalho mais
ecaz com a lngua.
O trabalho com a linguagem, visto sob essa perspectiva, viabiliza a
sua participao na histria de forma mais ativa e transformadora, ins-
trumentalizando-o para construir julgamentos coerentes, emitir opini-
es, dialogar com outros textos e, assim, produzir sua prpria forma
de pensar e agir no mundo com e pela linguagem.
A
p
r
e
s
e
n
t
a
o
15
Lngua Portuguesa
A m de provocar uma reexo mais aprofundada, os tpicos pro-
postos sempre iniciam com uma questo mobilizadora, com um pro-
blema, com a nalidade de estimular ou instigar a busca de respostas,
gerando uma atitude responsiva frente s situaes-problema.
A partir dessa busca de respostas, voc e seus colegas exercitam o
uso da linguagem, compreendendo o propsito das prticas lingsti-
cas e o contexto de sua produo. As atividades tambm tm o intuito
de propor o exerccio da Lngua em uso, bem como a reexo sobre
esse exerccio e as inmeras possibilidades que ele oferece no senti-
do de potencializar o pensamento, aprimorando a expresso oral e es-
crita.
Na sua passagem pela escola, no tenha medo de errar. A escola
o espao onde o erro pode e deve acontecer. a partir dos seus erros,
suas tentativas, seus acertos e desacertos com as estruturas dinmicas
da Lngua, que demandam sua preciso e sua criatividade, que o pro-
fessor desenhar o mapa daquilo que deve ser ensinado.
Considerando tudo o que foi exposto at aqui, importante dizer
que o trabalho com a linguagem no se esgota nas abordagens desen-
volvidas neste livro. Cada captulo aberto s inmeras intervenes,
s mltiplas associaes que o seu percurso de experincias como fa-
lante, escritor e leitor lhe permite realizar. Cada captulo aponta um ru-
mo, mas preciso construir a estrada.
Nossa expectativa que, ao interagir com este material, voc per-
ceba o quo fascinante o mundo da linguagem.
Os autores
L
N
G
U
A
P
O
R
T
U
G
U
E
S
A
16
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
17
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
1
PROCURA-SE
UM CRIME!
Carmen Rodrigues Fres Pedro
1
,
Suely Marcolino Peres
2
, Rosa Elena
Bueno
3
, Rosana Guandalin
4
, Maria de
Ftima Navarro Lins Paul
5
, Antnio
Eduardo Leito Navarro Lins
6
.
1
Colgio Estadual Castro Alves - Cornlio Procpio - PR
2
Colgio Estadual Olavo Bilac - Sarandi - PR
3
Colgio Estadual Helena Kolody - Colombo - PR
4
Colgio Estadual Narciso Mendes - Santa Isabel do Iva - PR
5
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
6
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
oc est caminhando pela rua e se
depara com esse cartaz xado em
um poste.
D para ajudar? Justique.
Luz interior
Helena Kolody
O brilho da lmpada
no interior da morada,
empalidece as estrelas.
18
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Com que inteno algum nesse caso, a polcia espalha cartazes deste tipo pelas ruas de uma
cidade?
Avalie o cartaz com seus colegas, levando em conta a inteno.
ATIVIDADE
O delegado da cidade de Mount Chasta, na Califrnia, constatou
que a elaborao do cartaz no est adequada e no cumpre a funo
de auxiliar na identicao e localizao da criminosa. Decidiu, ento,
para o bem da investigao, promover um concurso para que um novo
cartaz fosse elaborado. Para isso, publicou o seguinte edital:
EDITAL
A Delegacia de Mount Chasta, tendo em vista os problemas constatados no cartaz de PROCURADA,
expedido contra Joy Glassman, est realizando um concurso para a escolha de um cartaz substituto,
obedecendo s seguintes condies:
1. Devero participar do concurso todos os alunos da sala.
2. A entrega dos cartazes dever ser feita no dia ......, na sala ....... .
3. Os cartazes devero ser confeccionados em papel branco, tamanho A3.
4. Os cartazes podem conter cores.
5. Os trabalhos devero ser individuais.
6- Na confeco dos novos cartazes, os participantes devero sanar todos os problemas observados
no cartaz original.
7. Uma vez que a foto da acusada sumiu da delegacia, os participantes devero selecionar materiais
(recursos) para a elaborao do novo retrato falado, a partir do boletim de ocorrncia (B.O.). Para a
sua elaborao, recomenda-se a leitura atenta do B.O., que contm o depoimento da acusada.
8. O retrato falado poder ser executado com a colagem de recortes de revistas e jornais ou atravs
de desenhos.
9. A escolha do cartaz substituto obedecer os seguintes procedimentos:
9.1 Participaro da comisso julgadora todos os alunos da turma.
9.2 Os alunos organizar-se-o em comisses de quatro alunos (valendo grupos de trs ou cinco,
conforme a necessidade).
9.3 Cada comisso selecionar um cartaz e apresentar seu julgamento, por escrito, ao professor.
Nesse julgamento, devero constar as razes que levaram escolha do cartaz selecionado e
tambm as razes porque os demais cartazes foram recusados.
9.4 Ao professor caber fazer a leitura dos julgamentos e submeter os trabalhos classicados a um
debate geral, para a escolha nal.
10. Para a seleo dos cartazes, as comisses devero levar em conta os seguintes critrios:
19
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
10.1 A preocupao esttica (organizao, impacto visual, limpeza).
10.2 A clareza das informaes.
10.3 A adequao da linguagem aos propsitos do cartaz.
Nesta situao, voc pode descobrir-se um excelente cartazista! Elabore um novo cartaz, de acordo
com o edital.
ATIVIDADE
Na confeco do cartaz, o item 10.1 do edital aborda a preocupao
esttica recurso essencial para a composio do cartaz ou de um
quadro.
Um exemplo desse recurso a proporo, a relao das partes
entre si e de cada parte com o todo. Um cartaz medindo 70cm x 50cm
no poderia ter seu texto escrito com letras muito pequenas ou mostrar
uma imagem muito pequena, pois o resultado seria desproporcional,
ou seja, no haveria harmonia entre o suporte e o tamanho da letra ou
da imagem.
No caso de um cartaz com a inteno do nosso, o tipo de letra
tambm importante: as pessoas precisam entender a mensagem.
Assim, letras enfeitadas demais devem ser evitadas.
Outro elemento importante o uso da cor. A cor pode provocar
muitas sensaes no observador e precisa ser usada com um certo
cuidado, tendo em vista as intenes do cartaz. Muitas cores num
mesmo espao podem passar a sensao de poluio visual.
Um item interessante a questo da centralizao. Muitas vezes,
podemos achar que num cartaz como o de procura-se o ideal
seria colocar a imagem da procurada no centro geomtrico do cartaz.
Esta colocao, entretanto, no a mais adequada. Devemos procurar
o centro de interesse, ou seja, o local onde os olhos pousam em
primeiro lugar.
Para evitar o peso visual de um cartaz, preciso atentarmos para
o fato que em todas as formas visuais, a parte inferior signica, para
ns, a base. como se fosse a terra em que pisamos. Da decorrem
vrias qualicaes: imediatamente a margem inferior torna-se a linha
de base. Em conseqncia disso, toda a rea que a acompanha torna-se
visualmente mais pesada. Assim, qualquer indicao visual que entrar
na rea baixa, car carregada de peso[...] (Ostrower, 1999).
Essas indicaes devem contribuir para que seu cartaz cumpra a
inteno proposta.
amei em cheio
meio amei-o
meio no amei-o
(Paulo Leminski)
20
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Para confeccionar o cartaz, voc dever ler atentamente o boletim
de ocorrncia:
DEPOIMENTO DA ACUSADA
Me Fogo
O que tenho a dizer da minha condenao? injusta, ora. A sentena mais injusta j pro-
ferida nos Estados Unidos. O mnimo que posso dizer desse juiz que no conhece corao
de me. Ento, ele no sabe que uma me tem de fazer tudo por seu lho? Ser que a me
desse senhor no se esforou para que ele fosse juiz?
Bem, o meu Jason no queria ser juiz. Nem economista, nem professor. Quando decidiu
o que seria e me comunicou a sua deciso, quei desesperada. Mas ele falou com um entu-
siasmo to inamado sobre a prosso, que tive de ceder.
Depois de se formar com muitas honras, no foi difcil iniciar logo a to sonhada carreira.
Parecia muito feliz, mas um dia veio me procurar em prantos. O que foi? perguntei aita. Ja-
son soluava tanto que nem podia falar. Finalmente se acalmou e falou numa voz sumida:
Pouco trabalho...
De imediato compreendi seu drama. Mount Chasta uma cidade pequena, no tinha mui-
tas oportunidades a oferecer. Pior: todos os moradores dispensavam os servios do meu lho.
No porque ele no fosse competente na prosso que escolhera, mas porque os habitan-
tes de Mount Chasta eram todos muito cautelosos e previdentes. Chegava a ser algo patol-
gico o temor deles.
DELEGACIA DE MOUNT CHASTA BOLETIM DE OCORRNCIA N.01 PG. 1/2
HISTRICO
Joy Glassman, presa em Mount Chasta (Califrnia) por ajudar a carreira de seu lho, Jason Robertson,
foi solta aps pagar ana de US$10 mil, mas aguarda julgamento e pode ser condenada a 20 anos
de priso.
PESSOA ENVOLVIDA
NOME: Joy Glassman IDADE: 60 Anos
ENDEREO: 37 Forest Park Avenue PROFISSO: Aposentada
TRAOS FSICOS
ALTURA: 1,60m NARIZ: No diz nada de especial
PESO: 60 kg BOCA: De indiferena
OLHOS: Amendoados ROSTO: Triangular
OLHAR: Furtivo TESTA: Larga
SOBRANCELHAS: Convexas QUEIXO: Retangular
ORELHAS: Bem proporcionadas
SINAIS PESSOAIS: Marca de queimadura no superclio direito
CABELOS: Intencionalmente desalinhados
21
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
Que anlise voc faz destas informaes? Como elas podero contribuir com voc na elaborao
do cartaz?
O depoimento da acusada, que voc acabou de ler no boletim de ocorrncia, foi transposto de
um fato real. A leitura atenta e cuidadosa deste depoimento fornecer as pistas para que voc
descubra:
A prosso de Jason.
O crime da Sra. Glassman.
ATIVIDADE
Agora, faa a leitura do conto Uma vela para Dario, do escritor paranaense Dalton
Trevisan.
Uma vela para Dario
Dario vinha apressado, guarda-chuva no brao
esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o
passo at parar, encostando-se parede de uma ca-
sa. Por ela escorregando, sentou-se na calada, ainda
mida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo.
Fiquei consternada. Mas de imediato resolvi: aquele era o momento em que meu lho pre-
cisava de mim e eu no falharia. Ele teria a minha ajuda pronta e incondicional. A ajuda que
s uma me pode dar ao lho.
Mas... Ajudar em qu? Eu no podia andar pelas casas convencendo as pessoas a se
tornarem menos cautelosas. O que eu podia fazer e confesso que estremeci quando a idia
me ocorreu era arranjar uns servicinhos para meu lho.
No seria fcil. Ao contrrio do meu lho, o meu talento para servios dessa natureza era
praticamente nulo. Primeiro, por absoluta inexperincia. Depois, porque eu tinha realmente
muito medo.
A prova de fogo seria avaliar cuidadosamente todos os meus atos. As conseqncias no
poderiam ser nem to exageradas que submetessem meu lho a perigo, nem to pequenas
que ele as rejeitasse com desprezo. Tarefa espinhosa, portanto, mas o que no faz uma me
disposta a ajudar o seu lho?
Devo dizer que me sa extremamente bem. Em todos os casos meu Jason brilhou, o que
me encheu de entusiasmo. Comecei a pensar em coisas realmente grandes a municipali-
dade, quem sabe a Casa Branca, quem sabe o Capitlio. Foi a que me prenderam.
Uma injustia, como falei. Mas minha misso ainda no est encerrada. Os carcereiros
que se cuidem. Priso alguma pode resistir aos propsitos ardentes de uma me.
Adaptado de Moacyr Scliar
Vela
22
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Dois ou trs passantes rodearam-no e indagaram se no se sentia bem. Dario abriu a
boca, moveu os lbios, no se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que de-
via sofrer de ataque.
Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calada, e o cachimbo tinha apaga-
do. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abriu-lhe
o palet, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dario roncou feio
e bolhas de espuma surgiram no canto da boca.
Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos ps, embora no o pudesse ver. Os
moradores da rua conversavam de uma porta outra, as crianas foram despertadas e de pi-
jama acudiram janela. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calada, soprando
ainda a fumaa do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas no se via guar-
da-chuva ou cachimbo ao seu lado.
A velhinha de cabea grisalha gritou que ele estava morrendo. Um grupo o arrastou para
o txi da esquina. J no carro a metade do corpo, protestou o motorista: quem pagaria a cor-
rida? Concordaram chamar a ambulncia. Dario conduzido de volta e recostado parede
no tinha os sapatos nem o alnete de prola na gravata.
Algum informou da farmcia na outra rua. No carregaram Dario alm da esquina; a far-
mcia no m do quarteiro e, alm do mais, muito pesado. Foi largado na porta de uma peixa-
ria. Enxame de moscas lhe cobriu o rosto, sem que zesse um gesto para espant-las.
Ocupado o caf prximo pelas pessoas que vieram apreciar o incidente e, agora, comen-
do e bebendo, gozavam as delcias da noite. Dario cou torto como o deixaram, no degrau da
peixaria, sem o relgio de pulso.
Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os papis, retirados - com vrios objetos - de
seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do nome, idade; sinal de
nascena. O endereo na carteira era de outra cidade.
Registrou-se correria de mais de duzentos curiosos que, a essa hora, ocupavam toda a
rua e as caladas: era a polcia. O carro negro investiu a multido. Vrias pessoas tropearam
no corpo de Dario, que foi pisoteado dezessete vezes.
O guarda aproximou-se do cadver e no pde identic-lo os bolsos vazios. Restava
a aliana de ouro na mo esquerda, que ele prprio quando vivo s podia destacar ume-
decida com sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabeco.
A ltima boca repetiu Ele morreu, ele morreu. A gente comeou a se dispersar. Dario
levara duas horas para morrer, ningum acreditou que estivesse no m. Agora, aos que po-
diam v-lo, tinha todo o ar de um defunto.
Um senhor piedoso despiu o palet de Dario para lhe sustentar a cabea. Cruzou as
suas mos no peito. No pde fechar os olhos nem a boca, onde a espuma tinha desapare-
cido. Apenas um homem morto e a multido se espalhou, as mesas do caf caram vazias.
Na janela alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos.
Um menino de cor e descalo veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadver. Pa-
recia morto h muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva.
Fecharam-se uma a uma as janelas e, trs horas depois, l estava Dario espera do ra-
beco. A cabea agora na pedra, sem o palet, e o dedo sem a aliana. A vela tinha queima-
do at a metade e apagou-se s primeiras gotas da chuva, que voltava a cair.
(TREVISAN, 1979)
23
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
Renam-se em grupos e discutam as seguintes questes,
registrando por escrito as concluses:
O nico personagem que tem nome Dario. Quem ele?
possvel identic-lo? Por qu?
Que relao h entre o crime cometido pela senhora Joy
Glassman e as aes descritas no conto de Dalton Trevisan?
Entre estas aes, h as que podem ser consideradas
criminosas? Quais? Que leis foram infringidas? O que motivou
as pessoas a cometerem essas infraes?
A Senhora Glassman pode ser condenada a 20 anos de
priso, conforme se verica no Boletim de Ocorrncia. E no
caso de Dario, h alguma penalizao prevista para este(s)
crime(s)? Ela recair sobre quem?
Vocs j tiveram a oportunidade de desvendar o crime
cometido pela senhora Joy Glassman. O que levou a Senhora
Glassman a praticar o crime?
ATIVIDADE
SUGESTO
Se voc gostou desse conto do Dalton
Trevisan, autor curitibano, h outros livros
dele na biblioteca da sua escola:
*111 Ais;
*Cemitrio de Elefantes;
*Em Busca de Curitiba Perdida;
*Novelas nada exemplares;
*O Vampiro de Curitiba;
*Vozes do Retrato.
Construo, uma conhecida msica do cantor e compositor
brasileiro Chico Buarque de Holanda, tambm narra uma ocorrncia
que poderia ser tida como criminosa. A seguir, voc tem um fragmento
da letra. Busque a letra integral e faa a leitura.
CONSTRUO
Amou daquela vez como se fosse a ltima
Beijou sua mulher como se fosse a ltima
E cada lho seu como se fosse o nico
E atravessou a rua com seu passo tmido
Subiu a construo como se fosse mquina
Ergueu no patamar quatro paredes slidas
Tijolo com tijolo num desenho mgico
Seus olhos embotados de cimento e lgrima
Sentou pra descansar como se fosse sbado
Comeu feijo com arroz como se fosse um prncipe
Bebeu e soluou como se fosse um nufrago
Danou e gargalhou como se ouvisse msica
E tropeou no cu como se fosse um bbado
http://w
w
w.canalciencia.ibict.br
24
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
E utuou no ar como se fosse um pssaro
E se acabou no cho feito um pacote cido
Agonizou no meio do passeio pblico
Morreu na contramo atrapalhando o trfego
[...]
E utuou no ar como se fosse sbado
E se acabou no cho feito um pacote tmido
Agonizou no meio do passeio nufrago
Morreu na contramo atrapalhando o pblico
[...]
E utuou no ar como se fosse um prncipe
E se acabou no cho feito um pacote bbado
Morreu na contramo atrapalhando o sbado
Fonte: BUARQUE, Chico. <http://www.chicoburque.com.br/construo/index.html>
Escute a msica.
Perceba como o ritmo e a melodia de cada verso se repetem durante
toda a msica. Esta repetio, daquilo que em msica se chama clula
rtmica e meldica, contribui para a representao da monotonia da
colocao dos tijolos, um a um, num trabalho mecnico, repetitivo.
Quando lemos/escutamos uma msica com letra, importante que
no separemos uma da outra. Os elementos constitutivos deste tipo de
msica letra, ritmo, melodia e harmonia so um todo indissocivel
e so essenciais na construo de um sentido para o que se ouve.
No primeiro conto, os personagens so a Sra. Glassman e Jason, seu lho; no segundo conto,
temos Dario. Na letra de Construo, embora seja uma narrativa, no h nome para o personagem.
Qual a inteno deste anonimato?
Quais elementos do texto identicam a prosso e a condio de vida do personagem?
Que relao voc estabelece entre Construo e o conto de Dalton Trevisan, a partir do verso
morreu na contramo atrapalhando o pblico?
Qual a diferena entre os textos, na maneira como eles tratam da morte? Qual a reao das pessoas
ou o sentimento que a morte provoca?
Que efeito de sentido se tem com a repetio da expresso morreu na contramo?
Que palavras denem o cenrio da ocorrncia narrada em Construo?
ATIVIDADE
http
://w
w
w
.care.o
rg.eg
25
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
Quando as pessoas reetem e discutem sobre ocorrncias semelhantes quelas narradas
nos trs textos que lemos at agora, comum se ouvirem comentrios sobre a falta de
tica.
Responda: havia tica na conduta da Senhora Glassman, na atitude das pessoas que viram a morte
de Dario e no contexto social da morte do trabalhador de Construo?
ATIVIDADE
Para complementar sua resposta, leia o que Marilena Chau, lsofa brasileira, fala sobre
tica:
Considerando que a humanidade dos humanos reside no fato de serem racionais, dotados de
vontade livre, de capacidade para a comunicao e para a vida em sociedade, de capacidade para
interagir com a Natureza e com o tempo, nossa cultura e sociedade nos denem como sujeitos do
conhecimento e da ao, localizando a violncia em tudo aquilo que reduz um sujeito condio de
objeto. Do ponto de vista tico, somos pessoas e no podemos ser tratados como coisas. Os valores
ticos se oferecem, portanto, como expresso e garantia de nossa condio de sujeitos, proibindo
moralmente o que nos transforme em coisa usada e manipulada por outros.
A tica normativa exatamente por isso, suas normas visam impor limites e controles ao risco
permanente da violncia.
Os constituintes do campo tico
Para que haja conduta tica, preciso que exista o agente consciente, isto , aquele que conhece
a diferena entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vcio. A conscincia moral
no s conhece tais diferenas, mas tambm reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e
das condutas e de agir em conformidade com os valores morais, sendo por isso responsvel por suas
aes e seus sentimentos e pelas conseqncias do que faz e sente. Conscincia e responsabilidade
so condies indispensveis da vida tica. (CHAU, 2000)
A letra de Chico Buarque utiliza-se de palavras que exemplicam, representam bem a ltima orao
do primeiro pargrafo deste texto losco. Releia e identique as escolhas que o autor fez e que
materializam a coisicao do homem.
Para nalizar suas reexes, crie um boletim de ocorrncia que registre, a partir de um dos trs
textos, a morte da tica.
ATIVIDADE
26
Ensino Mdio
O discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Referncias Bibliogrcas:
CHAUI, M. Convite Filosoa. So Paulo: Editora tica, 2000.
OSTROWER, F. Acasos e criao artstica. Rio de Janeiro: Campus,
1995.
SCLIAR, M. Me fogo. In: Folha de So Paulo. Caderno Cotidiano. 10
ago. 1995.
TREVISAN, D. Vinte Contos Menores. Rio de Janeiro: Record, 1979.
Obras consultadas ONLINE
BUARQUE, C. Construo. Disponvel em: <http://www.chicoburque.
com.br/construo/index.html> Acesso em: 18 out. 2005
Disponvel em: <http://www.ufpel.edu.br/bvl/detalhe_livro.php?id_
livro=1708#> Acesso em: 18 out. 2005
ANOTAES
27
Procura-se um crime!
Lngua Portuguesa e Literatura
ANOTAES
28 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Sir Sidney Nolan. O Julgamento, 1970-1. Pintura sobre papel, 47.9 x 63.0
cm. Tate Gallery, Londres, Inglaterra. http://www.tate.org.uk
29
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
2
O LABIRINTO DA
LINGUAGEM JURDICA
Suely Marcolino Peres
1
1
Colgio Estadual Olavo Bilac - Sarandi - PR
noite sem sono
o cachorro late
um sonho sem dono
(Paulo Leminski)
CONTRATO DESCUMPRIDO
Preso romeno processa Deus por no salv-lo do
diabo
Um preso romeno est processando Deus por falhar em
salv-lo do Diabo. O prisioneiro, chamado Pavel M., acusa
Deus de traio, abuso e trco de inuncia, segundo a
imprensa local. As informaes so do site Espao Vital.
Segundo a notcia, o homem alega que o batismo um
contrato entre ele e Deus. E que Deus teria a obrigao de
manter o Diabo longe, assim como os problemas trazidos
por ele. A reclamao foi enviada para a Corte de Timisoara,
na Romnia, e foi encaminhada para o procurador-geral.
Prossionais do Direito j disseram que o processo ser
arquivado porque no possvel chamar Deus para depor.
O romeno cumpre 20 anos de priso por assassinato.
Segundo o preso, Deus mora no cu, mas pode ser
representado, na Terra, pela Igreja Ortodoxa Romena.
Revista Consultor Jurdico, 20 de outubro de 2005
avel est certo? Por qu?
30 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Essa notcia, sobre o processo que Pavel M. abriu contra Deus, foi retirada de seu contexto
original, onde foi veiculada em ingls.
Leia, abaixo, o texto original, com a ajuda de um dicionrio, e registre que informaes foram omitidas
na traduo para o Portugus. Essas informaes colaboram para uma compreenso melhor da
notcia? Em que aspectos?
ATIVIDADE
O denunciante alega que o batismo um contrato entre ele e
Deus. Veja o diz a Igreja Ortodoxa a respeito do batismo:
Os cristos ortodoxos mais observadores concebem o
batismo no apenas como um mero ritual ou evento social, mas
como um renascimento espiritual. Participam deste feliz evento
espiritual os pais primeiros mestres da f e da moral e os
primeiros modelos de f a quem Deus Todo-Poderoso conou
o dom da vida , o Padrinho (ou, de acordo com o costume
local, os padrinhos), que exerce tambm o papel de modelo
de f e moral durante o amadurecimento fsico e espiritual do(a)
alhado(a).
(http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/fe_ortodoxa/subsidios_pastorais2.htm. Acesso em: 19 abril 2006)
p
a
g
i
n
a
s
.
t
e
r
r
a
.
c
o
m
.
b
r
/
.
.
.
/
m
e
d
i
e
v
a
l
/
b
a
t
i
s
m
o
.
j
p
g
Prisoner sues God
A Romanian prisoner is suing God for failing to save him from the Devil. The inmate, named
as Pavel M. in media reports, accused God of cheating, abuse and trafc of inuence. His
complaint reads: I, the undersigned Pavel M., currently jailed at Timisoara Penitentiary serving
a 20 years sentence for murder, request legal action against God, resident in Heaven, and
represented here by the Romanian Orthodox Church, for committing the following crimes:
cheating, concealment, abuse against peoples interest, taking bribe and trafc of inuence.
The inmate argued that his baptism was an contract between him and God who was
supposed to keep the Devil away and keep him out of trouble.
He added: God even claimed and received from me various goods and prayers in
exchange for forgiveness and the promise that I would be rid of problems and have a better
life. But on the contrary I was, left in Devils hands.
The complaint was sent to the Timisoara Court os Justice and forwarded to the prosecutors
ofce. But prosecutors said it would probably be dropped and they were unable to subpoena
God to court.
http://www.ananova.com/news/story/sm_1576068.html
31
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
O batismo caracteriza mesmo um contrato? Esse texto doutrinrio sobre o batismo ortodoxo d
argumentos a Pavel para armar que Deus quebrou o contrato que tinha com ele?
Quais so os elementos de um contrato? Consulte o Cdigo Civil Brasileiro.
Aps a consulta, analise se houve mesmo um contrato entre Pavel e Deus.
ATIVIDADE
As situaes sociais e a conduta dos seres humanos, como a de
Pavel M., por exemplo, so regidas pelo Cdigo Civil. O Cdigo Civil
um instrumento que est disposio do cidado para garantir a defesa
e a cobrana dos direitos mais essenciais, como proteo do nome, da
vida privada e da sua imagem pessoal, que so considerados direitos
intransmissveis e irrenunciveis. Tambm regulamenta a adoo, a
responsabilidade civil dos pais em relao aos lhos e a emancipao.
Alm disso, aborda questes que tratam desde o nascimento at
a maioridade civil; do casamento religioso unio estvel; da
responsabilidade e danos a terceiros aos direitos de moradia; alm de
normas sobre os contratos mais usuais, como locao, prestao de
servios, ana e seguro. Mas no pra por a: o Cdigo Civil prev
condutas mesmo aps a morte, a m de preservar a ltima vontade e
xar o destino dos bens.
O Cdigo Civil teve origem na Frana, quando Napoleo, no intuito
de regular toda a vida privada dos cidados, editou, em 1803, o Cdigo
Civil que permanece em vigor at hoje. No caso do Brasil, quando
houve a Independncia, no se editou de imediato um Cdigo Civil,
permanecendo em vigor a legislao portuguesa.
O Brasil teve dois cdigos civis. O primeiro foi editado em
01/01/1916 e permaneceu em vigor at 2002, quando foi editado o
novo Cdigo Civil Brasileiro (Lei n 10.406, de 10/01/2002). Esse novo
Cdigo abandonou o sistema francs (Cdigo Mercantil napolenico,
de 1808) que adotava a clssica diviso das sociedades em mercantil e
civil, passando a adotar o sistema jurdico mais moderno, inspirado no
Cdigo Civil italiano, de 1942.
No batismo, o ser humano purica-se das impurezas do pecado, liberta-se da escravido
das paixes e renasce para uma vida espiritual. O batismo de tamanha fora espiritual que
se realiza apenas uma vez, apesar de que, aps o batismo, a vida do ser humano poder
no corresponder a uma elevada vocao crist. Sobre este ponto de vista, o batismo
pode se assemelhar a uma lamparina espiritual, acesa pelo Esprito Santo no corao do
ser humano. A chama desta lamparina pode ora aumentar, ora diminuir, mas nunca ser
totalmente extinguida. Nosso objetivo mais importante aumentar esta chama sagrada em
uma brilhante labareda.
(Bispo Alexandre. http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/bautism_p.htm. Acesso em 19 abril 2006)
32 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Com base nas discusses feitas at aqui, elabore as clusulas contratuais cujo descumprimento
teria provocado o rompimento do contrato entre Pavel e Deus e, conseqentemente, permitido a
abertura do processo.
ATIVIDADE
Fio de bigode vale mais do que um
contrato Voc j ouviu essa expresso?
Se voc ainda no ouviu, certamente seus
pais e seus avs j ouviram.
O contrato, atualmente, considerado o meio mais seguro de se
estabelecerem relaes jurdicas. O progresso, as inovaes tecnolgicas
e as necessidades socioeconmicas forjaram o nascimento de vrias
espcies de contratos, algumas difceis de serem regulamentadas,
representando o rico e imprevisvel cotidiano das relaes humanas.
Como Pavel M., milhares de pessoas realizam acordos diariamente
e, pelo que podemos perceber, todos so acordos efetuados com base
no papel assinado. A histria que voc ler, a seguir, aborda um desses
acordos rmados no papel e traz uma questo inusitada. O texto de
Luis Fernando Verssimo.
A Clusula do Elevador
Porque eram precavidos, porque queriam que sua unio desse certo, e principalmente
porque eram advogados, zeram um contrato nupcial. Um instrumento particular, s entre os
dois, separado das formalidades usuais de um casamento civil. Nele estariam explicitados os
deveres e os compromissos de cada um at que a morte ou o descumprimento de qualquer
uma das clusulas os separasse.
Passaram boa parte do noivado preparando o documento. Tudo correu bem at chegarem
clusula que tratava da delidade. Ele ponderou, chamando-a de cara colega entre risadas
(estavam na cama), que a obrigao de ser el deveria constar no contrato, claro, desde que
a clusula correspondente permitisse uma certa exibilidade.
Vejo que o nobre causdico advoga em sem-vergonhice prpria brincou ela, cutucando-o.
No o de bigode
To grande o defeito de
conar em todos, como o de
no conar em ningum
Sneca
Pesquise o signicado da expresso no o de bigode. Converse a respeito com pessoas idosas.
Traga a concluso para partilhar com os colegas da sala.
PESQUISA
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
m
a
z
i
n
g
m
a
g
i
c
s
h
o
w
.
c
o
m
/
H
a
m
i
l
t
o
n
c
o
n
t
a
c
t
.
h
t
m
33
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
No, no, disse ele. S acho que devemos levar em considerao as hipteses
heterodoxas. As eventualidades aleatrias. As circunstncias atenuantes. Em outras palavras,
as oportunidades imperdveis. E exemplicou:
Digamos que eu que preso num elevador com a Luana Piovani.
Sei.
S eu e ela.
Certo.
Depois de 10, 15 minutos, ela diz Calor, n? e desabotoa a blusa. Mais dez minutos
e ela tira toda a roupa. Mais cinco minutos e ela diz No adiantou e comea a abrir o zper
da minha cala...
Sim.
O contrato deveria prever que, em casos assim, eu estaria automaticamente liberado
dos seus termos restritivos.
Ela concordou, em tese, mas argumentou que a licena pleiteada deveria ser mais
especca, rechaando a sugesto dele de que o inciso expiatrio se referisse genericamente
Luana Piovani ou similar. Depois de alguma discusso, cou decidido que ele estaria
automaticamente liberado da obrigao contratual de ser el a ela no caso de car preso num
elevador com a Patrcia Pillar, a Luma de Oliveira, ou uma das duas (ou as duas) moas do
Tchan, alm da Luana Piovani, se o socorro demorasse mais de 20 minutos.
Isto estabelecido, ela disse:
No meu caso, deixa ver...
Como, no seu caso???
No caso de eu car presa num elevador com algum.
Dena algum.
Sei l. O Maurcio Mattar. O Antnio Fagundes. O Vampeta.
O Vampeta no!
s um exemplo.
No pode ser brasileiro!
Ah, ? Ah, ?
Foi a primeira briga deles.
Ele se considerava um homem
moderno e um escravo da
justia, mas aquilo era demais.
No conseguia imaginar ela
presa num elevador com um
homem irresistvel, ainda mais
com a absolvio pelo adultrio
garantida em contrato.
Sugeriu o Richard Gere.
Ela no era louca pelo Richard
Gere? O Richard Gere ele
admitia. Ela achou muito
engraado. As chances de ela
34 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Clusula do Elevador uma crnica de humor. Que recursos foram utilizados pelo autor para
provocar a graa?
Com relao ao texto, dena hiptese heterodoxa, eventualidades aleatrias, circunstncias
atenuantes e inciso expiatrio.
O contrato nal pode ser considerado justo? Discuta com a turma.
ATIVIDADE
Leia, agora, o poema de Vincius de Moraes, que trata do mesmo assunto da crnica de
Verssimo: a delidade.
SONETO DE FIDELIDADE
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero viv-lo em cada vo momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angstia de quem vive
Quem sabe a solido, m de quem ama
Eu possa me dizer do amor ( que tive ):
Que no seja imortal, posto que chama
Mas que seja innito enquanto dure.
car presa num elevador com o Richard Gere eram muito menores do que as chances
dele de car preso com a Luana Piovani, que morava no Brasil, ora, faa-me o favor.
Ento o Julio Iglesias.
O qu?!
O Julio Iglesias vem muito ao Brasil.
Eu tenho horror do Julio Iglesias!
Bom, se voc vai comear a escolher...
Finalmente, chegaram a um acordo. Ele ainda relutou, mas no m se viu sem nenhuma
objeo convincente. Ela estaria liberada de ser el a ele se um dia casse presa num
elevador com o Chico Buarque. Mas s com o Chico Buarque. E s se o socorro
demorasse mais de uma hora!
(O Estado de So Paulo Domingo, 07 de maro de 1999 Caderno Cultura).
35
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
O Soneto de Fidelidade e a Clusula do Elevador tratam a delidade da mesma forma? Justique.
Pode-se dizer que h um contrato de delidade no poema?
ATIVIDADE
SUGESTO
Se voc quiser conhecer outros sonetos do mesmo autor, v at a biblioteca da escola e pegue o Livro dos Sonetos, de Vincius
de Moraes. Muitos dos sonetos desse livro j foram musicados por compositores diversos, entre eles, Tom Jobim. Que tal escolher
um dos sonetos desse livro e tentar transform-lo em msica?
H, tambm, na biblioteca da sua escola, dois livros que esto, de certa maneira, relacionados com contrato: Grande serto:
veredas, de Joo Guimares Rosa; e Senhora, de Jos de Alencar. O primeiro relaciona-se com o processo que Pavel M. move
contra Deus; o segundo, com o contrato narrado no texto Clusula do Elevador.
Voc capaz de justicar esta armao?
Aps a leitura dos livros acima, responda s seguintes questes:
Riobaldo pactrio ou no?
Escreva um texto manifestando sua opinio sobre o comportamento de Aurlia Camargo e Fernando Seixas no contrato celebrado
entre eles, como narra a histria de Jos de Alencar.
Retomando a crnica de Verssimo, para que aquela situao casse
resolvida, teria que ser feito um contrato que estabelecesse as condies
de exibilizao da delidade.
Imagine que voc o advogado contratado para redigir esse contrato. Logo abaixo, voc tem o
incio de um contrato nupcial e as clusulas que faltam ser redigidas. Mos obra.
ATIVIDADE
Contrato Nupcial
Contrato de delidade conjugal que entre si fazem _____________, advogado, residente rua ____
_________, inscrito no CPF sob o n __________, portador do RG ______________, e _____________
__, advogada, residente rua ____________, inscrita no CPF sob o n ______________, portadora do
RG ____________, doravante denominados CNJUGES.
As partes acima identicadas tm, entre si, justo e acertado o presente contrato de delidade, que
se reger pelas clusulas seguintes e pelas condies descritas no presente documento.
Clusula I - Do objeto
Pelo presente instrumento particular, os CNJUGES rmam a obrigao da delidade, deveres
e compromissos de cada um no matrimnio at que a morte ou o descumprimento de qualquer uma
das clusulas os separe. Os cnjuges concordam em se manterem is, em estrita observncia ao
estabelecido nos termos desse contrato.
36 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Clusula II Da delidade dele
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Clusula III Da delidade dela
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DISPOSIES GERAIS Com as condies de delidade assim ajustadas, lidas e achadas
conformes, o presente contrato rmado pelas partes.
Local e data:
_____________________________ ________________________
CNJUGE MASCULINO CNJUGE FEMININO
Qual seria o teor dessas clusulas, se o texto de base fosse o soneto da Fidelidade?
Aps algum tempo, a mulher sentiu-se extremamente prejudicada.
Por que ela se sentiu prejudicada? Que parte do contrato nupcial mostra isso?
ATIVIDADE
Buscando solucionar esse problema, ela tomou por base o previsto
no Ttulo V (Dos contratos em geral), Captulo I (Disposies gerais),
Seo I (Preliminares) do Cdigo Civil:
Art. 421. A liberdade de contratar ser exercida em razo e nos limites da funo social do
contrato.
Art. 422. Os contratantes so obrigados a guardar, assim na concluso do contrato, como em
sua execuo, os princpios de probidade e boa-f.
Assim, decidiu fazer uma petio ao juiz solicitando reviso das
clusulas contratuais.
Como voc ainda o advogado do casal, elabore o texto do pedido e complete a petio.
ATIVIDADE
37
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
Para atender ao pedido da cliente, utilize, alm dos artigos citados
do Cdigo Civil, as seguintes orientaes do Cdigo de Defesa do
Consumidor:
Que tipos de clusulas no so vlidas nos contratos?
Fonte: Procon
O Cdigo de Defesa do Consumidor garante o equilbrio dos direitos e obrigaes na assinatura de
qualquer tipo de contrato. Assim, no so permitidas clusulas que:
a) Diminuam a responsabilidade de uma das partes no caso de dano a outra;
b) Probam contratante e contratado de devolver o produto, reaver a quantia j paga quando o
produto ou servio apresentar defeito ou rever as clusulas contratuais;
c) Coloquem uma das partes em desvantagem exagerada;
d) Estabeleam obrigatoriedade somente para uma das partes apresentar provas no processo
judicial;
e) Possibilitem ao fornecedor modicar UNILATERALMENTE o contrato;
f) Probam recorrer diretamente a um rgo de proteo ao consumidor ou justia, sem antes
recorrer a outra parte ou a quem ela determinar;
g) Possibilitem a uma das partes modicar qualquer parte do contrato, sem autorizao da outra.
PETIO PELA IGUALDADE NAS CONDIES DE FLEXIBILIZAO DE FIDELIDADE EM
CASAMENTO CIVIL
Excelentssimo Senhor Doutor Juiz da 34 Vara Cvel.
Processo n 000.02.194111-4
____________, brasileira, casada, advogada, portadora da Cdula de Identidade RG __________,
inscrita no CPF/MF sob o n __________, residente rua ____________________, vem presena de
Vossa Excelncia requerer _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________, o que caracteriza desigualdade de direitos.
Considerando o art. 1.566, do Cdigo Civil, que, acerca da delidade recproca e respeito e
considerao mtuos, arma que _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________a requerente
solicita sua interveno para que ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, garantindo,
assim, a igualdade de direitos prevista na Constituio Federal e no Cdigo Civil brasileiro.
___________________, ____ de ______________ de _________.
38 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Voc deve ter sentido que h peculiaridades na escrita e na leitura
de textos da rea jurdica.
De que maneira essas peculiaridades podem afetar o cotidiano das pessoas?
ATIVIDADE
Sobre essas peculiaridades, leia o texto a seguir:
Entender ou venerar
Dinah Silveira de Queiroz
O chefe do pobre contnuo, de que trata esta crnica, esmagava a vida chamando
chvenas s xcaras e botelhas s garrafas. Dizem at que em casa, sua mulher, alm das
pesadas preocupaes de dona de casa, tinha mais um encargo, e durssimo. O de traduzir
a lngua do marido para as empregadas. [...]
O contnuo tinha um processo no Foro. Uma demanda com uma parenta que se meteu
no quartinho de sua casa e mandava todos os dias os lhos fazerem caretas e aus na hora
da sada do primo para o trabalho. E o contnuo, que suspirava para se ver livre da parenta,
perdeu a questo. Perdeu mas no se conformou. Queixou-se ao Diretor, mas este era
pela mulher e por seus moleques e contra o Opressor, representado pelo contnuo. Ento,
explicou porque ele no poderia ganhar: mister que a estrutura social hodierna busque
inuxo salutar emanado do poder judiciante... Com o desenvolver do assunto, o Diretor
foi se emocionando: Seria frustrar os anelos dos deserdados das opparas cornucpias
das graas plutocrticas! Quando acabou aquele discurso, o contnuo estava achatado,
confuso, no era mais senhor de seus prprios pensamentos:
Entendeu?, perguntou o Diretor, usando, anal, lngua de gente. O contnuo comeou
a suar. Ento aquele homem superior, dando prova de conana, fazia s para seus ouvidos
to bela arrumao de palavras difceis
e ele, em sua ignorncia, no podia
corresponder a tanta nobreza de alma?
Ficou envergonhado. Mas... no havia
de ser nada... Prontamente respondeu,
fazendo uma espcie de reverncia, bem
altura de tamanha elegncia. Deu um
pulinho sobre o p esquerdo, baixou a
cabea: Entender o que o senhor disse...
no entendi, no, seu doutor. Mas pode
estar certo de que eu venero. Venero tudo
o que o senhor falou.
39
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
Tendo por base as indicaes do texto, trace o perl psicolgico do Diretor. Depois, compare o
resultado com o dos colegas: houve semelhanas? Por qu?
Traduza, em lngua de gente, as expresses do texto que o contnuo venerou.
Cite outros exemplos em que as pessoas, ou voc mesmo, veneram alguns discursos que no
entendem.
ATIVIDADE
Agora que voc j teve contato com alguns termos da linguagem
jurdica, veja outros exemplos que fazem parte do glossrio dos
tribunais:
Abroquelar: Fundamentar
Apelo Extremo: Recurso extraordinrio
Arepago: Tribunal
Autarquia Ancilar: Instituto Nacional de Previdncia Social
Crtula Chquica: Folha de talo de cheques
Com Espenque no Artigo: Com base no artigo
Com Fincas no Artigo: Com base no artigo
Com Supedneo no Artigo: Com base no artigo
Consorte Suprstite: Vivo(a)
Digesto Obreiro: Consolidao das leis do trabalho
Diploma Provisrio: Medida provisria
Ergstulo Pblico: Cadeia
Estipndio Funcional: Salrio
Estribado no Artigo: Com base no artigo
Egrgio Pretrio Supremo: Supremo Tribunal Federal
Excelso Sodalcio: Supremo Tribunal Federal
Exordial: Pea ou petio inicial
Fulcro: Fundamento
Indigitado: Ru
Pea Incoativa: Pea ou petio inicial
Pea Increpatria: Denncia
Pea-ovo: Pea ou petio inicial
Pea vestibular: Pea ou petio inicial
Petio de Intrito: Pea ou petio inicial
Pretrio Excelso: Supremo tribunal Federal
Proeminal Delatria: Denncia
Prologal: Pea ou petio inicial
Remdio Herico: Mandado de segurana
Vistor: Perito
Pavo doente
Morre no cu
O Sol poente.
(Millr Fernandes)
http://www.mp.rs.gov.br/imprensa/noticias/
id4781.htm
40 O Discurso como prtica social: oralidade,leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Trata-se de um texto de crtica ou de defesa em relao linguagem dos advogados e juzes?
Justique.
Qual a sugesto que o texto faz?
ATIVIDADE
Voc certamente j ouviu dizer que a linguagem deve ser usada
de forma adequada e criativa, para que o texto produza o signicado
desejado ou esperado.
Para produzir signicado no campo jurdico, a linguagem deve
aproximar a sociedade da justia; no campo da medicina, a linguagem
deve favorecer a aproximao da sociedade com a sade, e assim em
todas as reas da atividade social.
Esse ltimo texto, lido com a ajuda do glossrio, chama a linguagem
jurdica de juridiqus. Existe, tambm, o economs, muito presente
em nosso cotidiano, especialmente em jornais escritos ou falados.
Traga alguns recortes de jornal com exemplo de economs ou outros exemplos de linguagens
especcas que afetam nosso dia-a-dia.
ATIVIDADE
Com o auxlio desse glossrio, responda s questes sobre o texto
abaixo:
O vetusto vernculo manejado no mbito dos excelsos pretrios, inaugurado a partir da pea ab
ovo, contaminando as splicas do petitrio, no repercute na cognoscncia dos freqentadores do
trio forense. (...) Hodiernamente, no mesmo diapaso, elencam-se os empreendimentos in judicium
specialis, curiosamente primando pelo rebuscamento, ao revs do perseguido em sua prima gnese. (...)
Portanto, o hercleo despendimento de esforos para o desaforamento do juridiqus deve contemplar
igualmente a Magistratura, o nclito Parquet, os doutos patronos das partes, os corpos discentes e
docentes do Magistrio das cincias jurdicas.
41
O labirinto da linguagem jurdica
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
MORAES, V. Antologia Potica. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1960, p.96.
VERISSMO, L. F. A Clusula do Elevador. Jornal O Estado de So Paulo, Caderno Cultura.
Domingo, 07 de mar. de 1999
Obras consultadas ONLINE
http://www.justica.gov.br/sal/codigo_civil/indice.htm. Acesso em: 26 nov. 2005.
Revista Consultor Jurdico. Disponvel em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/38860,1>
Acesso em: 20 out. 2005
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/codigocivil/ Acesso em: 20 nov. 2005.
Disponvel em: <http://www.justica.gov.br/sal/codigo_civil/indice.htm> Acesso em: 26 nov. 2005
Disponvel em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/codigo> Acesso em: 20 nov. 2005
ANOTAES
42 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Jacob Lawrence. O trabalho infantil e a ausncia da educao foram razes para as pessoas
desejarem abandonar seus locais de origem, 1940-41. Tmpera de gesso sobre painel, 30.5 x
45.7 cm. Museu de Arte Moderna, Nova Iorque, Estados Unidos.
w
w
w
.
m
o
m
a
.
o
r
g
43
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
3
DISCURSOS DA
NEGRITUDE
Rosa Elena Bueno
1
1
Colgio Estadual Helena Kolody - Colombo - PR
que tipo de escravido referem-se esses textos?
PRECISA-SE alugar um preto ou preta que saiba cozinhar e o mais
arranjo de uma casa de famlia; na rua das Flores n.13.
VENDE-SE uma preta de vinte annos de idade, sadia e que
cozinha, lava e engomma. No se pe duvida em vender-se
prazo, sendo o comprador abonado ou dando garantia; nesta
typographia se dira quem a venda.
FUGIO Ponciano Jos de Araujo, morador em Guarapuava,
no dia 13 de fevereiro de 1852, o escravo de nome Sebastio,
creoulo, cr fula, estatura regular, reforado do corpo, barba
serrada, falla grossa; suppe-se que tenha mudado de nome
por assim o ter feito uma vez que andou fugido. Desappareceu
quando se dirigia a esta cidade com uma tropa abandonando-a
no mato da Ferraria; e descona-se que ande para os lados do
Assungui, Ribeira, ou Morretes. Quem o apprehender, ou delle
der noticia nesta typographia, ou ao sr. Cyptiano da Silveira Brasil,
em Guarapuava, ser graticado.
PRECISA-SE de motorista particular. Exige-se 2 grau completo,
ingls e espanhol, domnio de internet. Para candidatar-se
vaga, so necessrios dois anos de experincia e boa aparncia.
Maiores informaes, ligar: (63) 99953-9090.
44 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Quando procuramos, no dicionrio, o signicado da palavra texto,
vemos que h vrias denies. Entre elas, o signicado que se refere
origem da palavra. O Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa diz
que a palavra tem origem no latim e signica: tecer, fazer tecido,
entranar, entrelaar, construir sobrepondo ou entrelaando (...)
compor ou organizar o pensamento (...).
Pensando nesta possibilidade de entrelaamentos de idias na
malha textual, que envolve os discursivos de origens diferentes no
tempo, adequados a funes diferentes e pertencentes a ramos de
conhecimento diversos (literatura, histria, sociologia, etc.), vamos
analisar como o tema da negritude foi sendo tecido desde a poca do
Brasil colonial at chegar aos dias atuais.
Dentre os anncios que voc leu, trs foram publicados num jornal curitibano, intitulado O dezenove
de dezembro, respectivamente nos dias 29 de julho, 8 de abril e 30 de setembro de 1854.
Quais so eles?
Quais os aspectos presentes nesses trs anncios que permitem diferenci-los do anncio atual?
ATIVIDADE
Agora vejamos como voc pode mexer nos os da nossa trama a
partir de um poema de Jorge de Lima, poeta alagoano:
ESSA NEGRA FUL
Ora, se deu que chegou
(isso j faz muito tempo)
no bang dum meu av
uma negra bonitinha,
chamada negra Ful.
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful! Ful!
(Era a fala da Sinh)
Vai forrar a minha cama,
pentear os meus cabelos,
vem ajudar a tirar
A minha roupa, Ful!
Essa negra Ful!
Essa negrinha Ful
cou logo pra mucama,
para vigiar a Sinh
pra engomar pro Sinh!
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful! Ful!
(Era a fala da Sinh)
Vem me ajudar, Ful,
vem abanar o meu corpo
que eu estou suada, Ful!
vem coar minha coceira,
vem me catar cafun,
vem balanar minha rede,
vem me contar uma histria,
que eu estou com sono, Ful!
45
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
O que confere ao texto de Jorge de Lima seu carter potico?
ATIVIDADE
Essa negra Ful!
Era um dia uma princesa
que vivia num castelo
que possua um vestido
com os peixinhos do mar.
Entrou na perna dum pato
Saiu na perna dum pinto
o Rei-Sinh me mandou
que vos contasse mais cinco.
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful? Ful?
Vai botar para dormir
esses meninos, Ful!
Minha me me penteou
minha madrasta me enterrou
pelos gos da gueira
que o Sabi beliscou.
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful? Ful?
(Era a fala da Sinh
chamando a Negra Ful.)
Cad meu frasco de cheiro
Que teu Sinh me mandou?
Ah! Foi voc que roubou!
Ah! Foi voc que roubou!
O Sinh foi ver a negra
levar couro do feitor.
A negra tirou a roupa.
O Sinh disse: Ful!
(A vista se escureceu
que nem a negra Ful.)
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful? Ful?
Cad meu leno de rendas
cad meu cinto, meu broche,
cad o meu tero de ouro
que teu Sinh me mandou?
Ah! foi voc que roubou!
Ah! foi voc que roubou!
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
O Sinh foi aoitar
sozinho a negra Ful.
A negra tirou a saia
e tirou o cabeo,
de dentro dele pulou
nuinha a negra Ful.
Essa negra Ful!
Essa negra Ful!
Ful? Ful?
Cad, cad teu Sinh
que nosso Senhor me mandou?
Ah! Foi voc que roubou,
foi voc, negra Ful?
Essa negra Ful!
Jorge de Lima
46 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Observe que o eu-lrico (narrador do poema) comea relatando a
histria da negra Ful com as seguintes palavras: Ora se deu... Esta
forma de iniciar seu texto lembra outras narrativas populares que tm
como incio Era um vez..., Certo dia..., Um dia..., denunciando
o vnculo do poema com a tradio das narrativas orais. Se voc
observar como as pessoas iniciam sua histria, quando querem contar
um causo, ver que elas se utilizam de expresses semelhantes.
Alis, Negra Ful nada mais que um causo contado em forma de
poema!
Para contar a histria da negra Ful, Jorge de Lima, dentre os
inmeros recursos que a lngua oferece, selecionou a forma da poesia
escrita em versos heptasslabos ou redondilha maior. Voc sabe o que
so versos heptasslabos ou redondilha maior? Para saber o que isso,
precisamos fazer a escanso dos versos do poema. Escandir o poema
signica, na verdade, vericar o nmero de slabas mtricas existentes
em cada verso. Observe os dois primeiros versos:
O / ra/ se/ deu/ que/ che / GOU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Is / so / j / faz/ mui /to / TEM/ po
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Repare que a maioria dos versos do poema tem sete slabas. Se
voc quiser, pode conferir. No se esquea que, para vericar as slabas
mtricas de um poema, conta-se apenas at a ltima slaba tnica,
desconsiderando-se a(s) restante(s). Versos com esta medida (sete
slabas mtricas) recebem, na teoria literria, o nome de redondilha
maior. Essa escolha que o autor faz em relao ao tamanho dos versos,
aliada s rimas, diviso em estrofes e s repeties que aparecem
como um refro, constitui-se num trabalho de linguagem que diferencia
a poesia dos demais tipos de textos.
Como se trata de um texto vinculado tradio oral, a maneira
como pronunciamos as palavras podem alterar o signicado do texto.
Concentre-se nos seguintes versos do texto: Ful! Ful!, pronunciando as palavras de acordo
com as seguintes situaes:
- Chamando Ful;
- Bravo com Ful;
- Encantado com as belezas de Ful.
Estas formas (chamando, bravo e encantado) de se dirigir negra Ful do conta de todos os
sentidos propostos pelo texto? Ou seria necessrio acrescentar mais alguma? Em que momentos
no texto elas apareceriam?
ATIVIDADE
MARESIA
O dia fugindo.
No ar um cheiro de mar.
A noite vem vindo!
(Delores Pires)
47
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
O poema nos conta uma histria. Que histria essa?
Que relao se estabelece entre Ful e as demais personagens que participam do enredo
potico?
Quais eram as atribuies de Ful?
Como explicar a mudana do ponto de exclamao para o ponto de interrogao nas falas da Sinh
chamando Ful, que aparecem em todo o poema?
Como este autor alagoano articula, no poema, a questo da negritude?
Como o poema da Negra Ful aborda a mestiagem de que fala Lezama Lima?
ATIVIDADE
A escravido um fato da nossa histria colonial. Esse momento
histrico no tema exclusivamente do discurso potico. Tambm os
historiadores, os socilogos e os estudiosos da cultura, com os textos
mais adequados ao seu domnio, debruaram-se sobre o tema.
Lezama Lima, escritor cubano, em seu livro A expresso
americana, ao falar da heterogeneidade de nossa formao, arma
que a mestiagem nosso signo cultural, ou seja, nossa cultura, nosso
jeito de ser traz a marca dos diferentes povos que nos formaram.
No meio cultural em que voc vive, na sua religio, no modo
das pessoas se vestirem, alimentarem-se, h marcas indicativas dessa
mistura que nos constitui. Por exemplo:
na msica: o samba, rap, hip-hop, blues, jazz, pagode;
na religio: santos do devocionrio catlico que so a mscara de
deuses surgidos na frica;
costumes: o uso da rede para descanso, culinria, capoeira, entre
outros.
A leitura de vrios textos, de
vrios autores e pocas diferentes
permite ver como se constitui a nossa
identidade cultural. Lendo-os, vemos
como se estende uma colcha de
vozes, os de imagens que, reunidas,
mostram aquilo que somos.
http://www.oddshall.org/Classes/
capoeira.html
48 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Os pensadores da tradio do Modernismo costumam falar
da mestiagem cultural utilizando a expresso antropofagia ou
canibalismo. Quando o ndio comia carne humana, tratava-se de uma
ingesto ritual. Os ndios no comiam a carne de qualquer um, mas a
do guerreiro que se destacava na luta por sua valentia. Eles acreditavam
que, dessa forma, passariam a ter parte do herosmo daquele cuja
carne era ingerida. O mesmo fez o povo brasileiro com a cultura que
veio de fora. Danas tpicas, como a quadrilha e o carimb, tiveram
sua origem nos sales nobres da Europa, mas aqui foram modicadas
com o tempero ndio e negro, transformando-se completamente, algo
tpico do Brasil.
O socilogo brasileiro Gilberto Freyre, do incio do sculo XX, fala
sobre essas inuncias e assimilaes mtuas no seu livro Casa Grande
Senzala. Neste livro, ele se preocupa em dar um panorama de nossa
identidade cultural a partir do estudo das inuncias, exercidas sobre
ns, principalmente pelos elementos indgenas, negros e portugueses.
No captulo IV de seu livro O escravo negro na vida sexual e de
famlia do brasileiro , ele arma:
Na ternura, na mmica excessiva, no catolicismo
em que se deliciam nossos sentidos, na msica, no
andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno,
em tudo que expresso sincera de vida, trazemos
quase todos a marca da inuncia negra. Da escrava
ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar.
Que nos deu de comer, ela prpria amolengando na
mo o bolo de comida. Da negra velha que nos contou
as primeiras histrias de bicho e mal-assombrado. Da
mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-p de uma
coceira to boa. Da que nos iniciou no amor fsico e
nos transmitiu, ao ranger da cama de vento, a primeira
sensao completa de homem. Do moleque que foi
nosso primeiro companheiro de brinquedo.
J houve quem insinuasse a possibilidade de se
desenvolver das relaes ntimas da criana branca
com ama-de-leite negra muito do pendor sexual que se
nota pelas mulheres de cor no lho-famlia dos pases
escravocratas. (FREYRE, 1978)
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
l
i
o
h
i
s
t
o
r
i
a
.
h
p
g
.
i
g
.
c
o
m
.
b
r
/
b
c
o
_
i
m
a
g
e
n
s
/
e
s
c
r
a
v
o
s
/
e
s
c
r
a
v
o
s
.
h
t
m
49
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
Na abordagem da negritude, quais as diferenas e semelhanas de posicionamento entre o poema
da Negra Ful e esse fragmento de Gilberto Freyre?
ATIVIDADE
Gilberto Freire foi um entre tantos autores que escreveu sobre
a escravido. No foi o nico a colaborar neste texto que estamos
tecendo acerca da negritude. No nal deste Folhas, voc ter outros
nomes da literatura para aprender mais sobre o assunto.
O pendor sexual a que se refere Gilberto Freyre, e que, no poema
Negra Ful, aparece na opo feita pelo Sinh ao trocar a Sinh pela
Ful, tambm se faz presente no poema Negra, do poeta brasileiro
Ldo Ivo. A leitura desse poema ajuda a ampliar nosso tecido sobre a
negritude.
NEGRA
No escuro da noite
minha mo encontra
uma urna negra
uma furna mida
o negror da vida
branca de desejo
um deserto negro
negro como um rio
de sal e de pluma
sulco de coral
num leito de cnfora
cova de sussurros
pente de ouro negro
num cofre de espuma
or de Alexandria
negro bosque branco
de cal e de cio
minha ptria negra
bela e soberana
na alvura da noite
que bebe na fonte
de calor e frio.
(Ldo Ivo)
Ao contrrio do poema de Jorge de Lima, Ldo Ivo escolheu a forma da redondilha menor. Voc
capaz de explic-la?
Repare que os textos poticos tm a capacidade de jogar com as palavras, dando-lhes novos
sentidos alm daquele sentido lexical dando-lhes novos sentidos alm daqueles mais comuns.
Para entender o que queremos dizer, propomos a voc que pesquise, num dicionrio, a ttulo de
exemplo, os signicados da palavra ptria e confronte os signicados lexicais, que o dicionrio traz,
com o novo signicado que aparece no texto do poema. Faa o mesmo com outras palavras do
poema.
ATIVIDADE
A nuvem atenua
O cansao das pessoas
Olharem a lua.
Bash/Millr
Com que grandeza
Ele se elevou
s maiores baixezas!
(Millr Fernandes)
50 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
O poema de Ldo Ivo toca as margens do erotismo em relao mulher negra. Identique, no
poema de Jorge de Lima, trechos que erotizam a mulher negra.
possvel identicar a mesma erotizao em Gilberto Freire. Identique os trechos e analise quais
recursos discursivos ele utiliza. Por que ele no to explcito quanto Ldo Ivo?
Do enfoque sociolgico, passemos agora para o
enfoque da histria. A historiadora Hebe M. Mattos
de Castro, no seu texto intitulado Laos de Famlia
e Direitos no Final da Escravido, nos d conta de
que no curso das idias universais apresentadas pelo
iluminismo, com seus ideais de liberdade, igualdade e
fraternidade, o sistema escravista foi sendo, aos poucos,
posto em xeque. Assim, as primeiras medidas, tomadas
antes da abolio, foram as leis do ventre-livre e da
proibio do trco negreiro. Esta ltima desempenhou
papel importante no movimento negro que reclamava a
liberdade. Ao impedir o trco negreiro de novos escravos da frica para
o Brasil, a proibio do trco estimulou internamente a mobilidade
dos crioulos, que passaram a cumprir com o papel destinado ao preto
nas lavouras. Como os crioulos j dominavam a lngua portuguesa e
tinham um conhecimento maior das nuanas do sistema, ao mudarem
seu ambiente de trabalho, foram se politizando, no ainda no sentido
de questionar a legitimidade do vnculo escravista, mas ao comparar
um cativeiro com outro, reivindicando para si alguns direitos, tais
como: no ser aoitado, participar das festividades religiosas, no ser
separado de sua famlia, entre outros.
Esses fatores, aliados s presses abolicionistas de cunho republicano
e liberal, associados, ainda, ao medo que os proprietrios de escravos
tinham de um levante negro iminente, zeram com que ocorresse
um processo de alforria em massa. Em face das inmeras fugas de
escravos, os senhores fazendeiros pensavam que, alforriando os seus
negros, os segurariam no trabalho pelo vnculo da gratido. A lei urea,
promulgada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, s veio
legalizar uma situao que j era fato consumado. A liberdade chegara.
Mas ser que chegou mesmo? a historiadora do texto que estamos
analisando quem arma que costuma-se alegar que aos libertos nada
foi concedido alm da liberdade. Nem terras, nem instruo, nem
qualquer reparao ou compensao pelos anos de cativeiro. Eles
foram entregues prpria sorte.
Quais conseqncias se podem observar, ainda hoje, decorrentes desse abandono de que fala a
historiadora?
ATIVIDADE
Priso
Helena Kolody
Puseste a gaiola
Suspensa de um ramo em or,
Num dia de sol.
DEBRET. Mercado da rua
Valongo. In: A viagem pitoresca
e histrica do Brasil. Litograa.
Biblioteca Municipal de So Paulo,
1834.
51
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
O texto a seguir talvez ajude a reetir sobre a questo.
A ltima crnica
A caminho de casa, entro num botequim da Gvea para tomar um caf junto ao balco.
Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de
estar inspirado, de coroar com xito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisrio no
cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diria algo de seu disperso con-
tedo humano, fruto da convivncia, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstan-
cial, ao episdico. Nesta perseguio do acidental, quer num agrante de esquina, quer nas
palavras de uma criana ou num incidente domstico, torno-me simples espectador e perco a
noo do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabea e tomo meu caf, enquanto
o verso do poeta se repete na lembrana: assim eu quereria o meu ltimo poema. No sou
poeta e estou sem assunto. Lano ento um ltimo olhar fora de mim, onde vivem os assun-
tos que merecem uma crnica.
Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das ltimas me-
sas de mrmore ao longo das paredes de espelhos. A compostura da humildade, na conten-
o dos gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presena de uma negrinha de seus trs
anos, lao na cabea, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou tambm mesa:
mal ousa balanar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor.
Trs seres esquivos que compem em torno mesa a instituio tradicional da famlia, clula
da sociedade. Vejo, porm, que se preparam para algo mais que matar a fome.
Passo a observ-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bol-
so, aborda o garom, inclinando-se para trs na cadeira, e aponta no balco um pedao
de bolo sob a redoma. A me limita-se a car olhando imvel, vagamente ansiosa, como se
aguardasse a aprovao do garom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois
se afasta para atend-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da natu-
ralidade de sua presena ali. A meu lado o garom encaminha a ordem do fregus. O homem
atrs do balco apanha a poro do bolo com a mo, larga-o no pratinho um bolo simples,
amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular.
A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de coca-cola e o pratinho que o gar-
om deixou sua frente. Por que no comea a comer? Vejo que os trs, pai, me e lha, obe-
decem em torno mesa a um discreto ritual. A me remexe na bolsa de plstico preto e bri-
lhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fsforos, e espera. A lha aguarda
tambm, atenta como um animalzinho. Ningum mais os observa alm de mim.
So trs velinhas brancas, minsculas, que a me espeta caprichosamente na fatia de bo-
lo. E enquanto ela serve a coca-cola, o pai risca o fsforo e acende as velas. Como a um ges-
to ensaiado, a menininha repousa o queixo no mrmore e sopra com fora, apagando as cha-
mas. Imediatamente pe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a
que os pais se juntam, discretos: parabns pra voc, parabns, pra voc... Depois a me re-
colhe as velas, torna a guard-las na bolsa. A negrinha agarra nalmente o bolo com as duas
mos sfregas e pe-se a com-lo. A mulher est olhando para ela com ternura ajeita-lhe a
tinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai no colo. O pai corre os olhos pelo
botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebrao. De sbito,
d comigo a observ-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido vacila,
ameaa abaixar a cabea, mas acaba sustentando o olhar e enm se abre num sorriso.
Assim eu quereria a minha ltima crnica: que fosse pura como esse sorriso. (Fernando Sabino)
52 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
O texto fala em recolher da vida diria algo de seu disperso contedo humano, fruto da convivncia,
que a faz mais digna de ser vivida. Que expresses do texto evidenciam a dignidade do pai de
famlia retratado pela crnica?
O que motiva o constrangimento, a perturbao do pai de famlia, na ltima cena relatada na
crnica?
Qual a estrutura familiar evidenciada pela crnica?
Como Fernando Sabino articula a questo da negritude?
ATIVIDADE
Atualmente, por inuncia do movimento negro que se organiza na
reivindicao de seus direitos, surgem polticas armativas que visam
reparao da injustia do quadro histrico da escravido. Uma das
aes armativas dessa poltica o estabelecimento de cotas para o
ingresso dos afrodescendentes no ensino superior.
H quem conteste. Veja o que disse Magno de Aguiar Maranho,
um membro do Conselho Estadual de Educao do Rio de Janeiro no
jornal O Estado do Paran de 18/10/2000:
[...] A falta de oportunidades, a extrema diculdade em aumentar a qualidade de vida no so provaes reservadas a essa ou
quela raa. Embora se possa argumentar que h mais pobres negros do que brancos, parece que o grande desao hoje o combate
pobreza em si, ao desemprego, ao esfacelamento da rede pblica de ensino que atinge milhes de brasileiros das mais variadas
ascendncias. Vencido esse combate, todos sero beneciados especialmente os negros, quando reclamam mais chances de
insero social. [...]
Qual o posicionamento de Maranho a
respeito da excluso?
Qual a relao entre esse posicionamento
e aquele da historiadora Hebe M. Mattos
Castro?
Comente a armao de Magno
Maranho, utilizando-se das informaes
dos grcos a seguir.
ATIVIDADE
A CARA DA DISCRIMINAO
O censo 2000 do IBGE revelou que a populao negra em todo
o pas continua tendo mais diculdade de acesso educao e ao
emprego do que os brancos. Veja alguns dos mais importantes dados
sobre os afro-descendentes na regio metropolitana de Curitiba
Na regio metropolitana
22% da populao negra.
Entre os calouros da UFPR
1,7% so negros.
53
Discursos da negritude
Lngua Portuguesa e Literatura
Para ampliar a reexo sobre o assunto, realizem, em grupos, um
trabalho de pesquisa abordando os temas:
Quais as contribuies dos afrodescendentes para a lngua portuguesa e a
cultura brasileira?
Histria da frica a que naes pertenciam os negros trazidos para c como escravos?
O resultado da pesquisa dever ser apresentado na forma de seminrio.
ATIVIDADE
Se voc quiser saber mais sobre o assunto, leia, por exemplo, os
seguintes textos da literatura brasileira e ocidental:
A poesia de Castro Alves - este poeta foi a voz de maior expresso
na luta pelo abolicionismo.
A escrava Isaura - Bernardo Guimares.
A Cabana do pai Tomaz Harriet Elizabeth Stowe.
Corao das Trevas - Joseph Conrad.
A cano de Salomo e O olho mais azul Toni Morrison.
As vinhas da Ira - John Steinbeck.
Essas so apenas algumas indicaes de leitura. H muito mais
obras interessantes para ler sobre nosso tema.
Referncias Bibliogrcas:
CASTRO, H. M. Mattos. Laos de Famlia e Direitos no Final da Escravido.
In: ALENCASTRO, Luiz Felipe. Histria da Vida Privada no Brasil. So
Paulo: Companhia das Letras, 1997.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
FREYRE, G. Casa Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1978.
IVO, L. A Noite Misteriosa. Rio de Janeiro: Record, 1982.
LIMA, J. Novos Poemas. Poemas escolhidos; Poemas Negros. Rio de
Janeiro: Lacerda, 1997
LIMA, J. L. A Expresso Americana. So Paulo: Brasiliense, 1988.
SABINO, F. A Companheira de Viagem. Rio de Janeiro: Ed. do Autor,
1965, p.174.
54 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Sir Sidney Nolan. O aprendiz de Peter Grimes, 1977. Tcnica Mista. 91.4 x 121.9 cm. Tate Gallery, Londres, Inglaterra.www.tate.org.uk
55
Pescando Signicados
Lngua Portuguesa e Literatura
4
PESCANDO
SIGNIFICADOS
Carmen Rodrigues Fres Pedro
1
1
Colgio Estadual Castro Alves - Cornlio Procpio - PR
Sentados beira do rio, dois pescadores seguram suas varas
espera de um peixe.
De repente, gritos de crianas trincam o silncio. Assustam-se.
Olham para frente, olham para trs. Nada. Os berros continuam e
vm de onde menos se espera. A correnteza trazia duas crianas,
pedindo socorro. Os pescadores pulam na gua. Mal conseguem
salv-las, com muito esforo. Eles ouvem mais berros e notam
mais quatro crianas debatendo-se na gua. Desta vez, apenas
duas so resgatadas. Aturdidos, os dois ouvem uma gritaria ainda
maior. Dessa vez, oito seres vindo correnteza abaixo.
Um dos pescadores vira as costas ao rio e comea a ir embora.
O amigo exclama:
Voc est louco, no vai me ajudar?
Sem deter o passo, ele responde:
Faa o que puder. Vou tentar descobrir quem est jogando
as crianas no rio.
Quem so os responsveis pelas crianas jogadas no
rio? Onde eles esto?
eia, com ateno, o texto de Gilberto Dimenstein,
intitulado Pescador de Ti
56 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Cada pessoa, ao ler um texto, passa por uma experincia, mobiliza
saberes e desejos, move o pensamento e se transforma ao mesmo
tempo em que transforma ao texto. Nem sempre as sensaes e as
imagens criadas por um leitor, a sua leitura, conferem com as criadas
por outros leitores. Vamos ver como se desenvolve essa experincia
no grupo de vocs?
Primeiro: tentem visualizar a cena, ou seja, construam o cenrio.
Onde pode estar localizado esse rio?
Como o rio, suas margens, seu aspecto?
Como so, sicamente, os pescadores?
E a condio nanceira deles: ser que so ricos ou so pobres?
O que estar acontecendo? De onde vm as crianas?
V registrando suas idias e compare-as com as de seus colegas.
ATIVIDADE
Com certeza, vocs elaboraram respostas bem diferentes, embora
relativas a um mesmo fragmento de texto. Essa multiplicidade de
respostas, ou de leituras, prpria do ato de ler. Isso acontece porque
o sentido de um texto no est limitado unicamente s intenes do
autor do texto ou s palavras que ele apresenta, mas, sobretudo,
capacidade do leitor de atribuir-lhes signicados. Um texto sempre
prope um dilogo com o leitor. Um texto s existe como dilogo.
Agora que j sabemos que um texto comporta mltiplos olhares e
que necessita mesmo desses olhares para existir, podemos voltar ao
texto do Gilberto Dimenstein para concluir a leitura:
Esta antiga lenda indiana retrata como nos sentimos no Brasil. Temos
poucos braos para tantos afogados. Mal salvamos um, vrios descem rio
abaixo, numa corrente incessante de apelos e mos estendidas. Somos
obrigados a cair na gua e, ao mesmo tempo, sair procura de quem joga
as crianas.
Incrvel como os homens s margens do rio conseguem conviver com
os berros. E at dormir sem sobressaltos. como se no ouvissem. Se o
pior cego aquele que no quer ver, o pior surdo aquele que no quer
escutar.
[...]
To fcil agarrar uma estrela, reetida no brilho de quem salvamos por
falta de ar.
57
Pescando Signicados
Lngua Portuguesa e Literatura
Veio da ndia a frase do clebre poeta Rabindranath Tagore sobre por que existiam as crianas. So
a eterna esperana de Deus nos Homens.
preciso mesmo innita pacincia, renovada a cada nascimento, para que se possa conviver com a
apatia cmplice. Por sorte temos pescadores que, dia aps dia, mostram como as crianas sobrevivem
nos homens. E como doloroso o parto de um homem precoce no corpo de um menino.
A voz de Milton Nascimento a prpria sntese do menino perdido no adulto; e do adulto perdido
no menino. a sntese de quem se viu obrigado a pular na gua para pescar a si mesmo. E nunca
se esqueceu e, por isso, no consegue tirar de seus ouvidos a sensao de que crianas na gua
pedindo socorro so a ltima voz de quem quase nunca tem voz. (Gilberto Dimenstein)
O que se pode entender por apatia cmplice?
Como poderamos explicar a imagem do parto de um homem precoce no corpo de um menino?
De que forma encontramos, hoje, meninos perdidos em adultos?
ATIVIDADE
Antes de continuarmos nossa conversa sobre o texto Pescador de
Ti, convm dizer que a interpretao de um texto no controlvel
pelo seu autor, embora ele, ao escrev-lo, tivesse uma inteno para
tal, um objetivo. Mais, um texto pressupe at um pblico, um leitor
ou uma comunidade de leitores, ao qual esse texto se dirige, j que,
como se disse, o texto s existe como dilogo. Um texto tambm corre
sempre o risco de cair nas mos de leitores para os quais ele no fora
originalmente destinado. o caso do texto de Rabindranath Tagore,
lido pelos leitores de Dimenstein. o caso do prprio texto Pescador
de Ti, inicialmente dirigido s pessoas compradoras do disco Amigo,
de Milton Nascimento.
Em 1981, o disco Caador de mim, de Milton Nascimento, trazia
a msica que deu ttulo ao disco. Anos depois (1994/1995), Gilberto
Dimenstein escreveu o texto Pescador de Ti, para a capa de outro cd,
Amigo, tambm de Milton Nascimento. O jogo de palavras caador de
mim e pescador de ti mostra que existe um dilogo entre os textos.
o que chamamos intertextualidade, assunto abordado em outros
Folhas deste nosso livro.
Rabindranath Tagore, por sua vez, um escritor indiano que
nasceu em Calcut, em 1861, e morreu em Bengala, em 1941. Depois
de educao tradicional na ndia, completou a formao na Inglaterra
entre os anos de 1878 e 1880. Comeou sua carreira potica com
volumes em lngua bengali. Em 1931, recebeu o prmio Nobel de
literatura. Desde ento, traduziu seus livros para o ingls, a m de lhes
garantir maior difuso. Em suas poesias, Tagore oferece ao mundo
A nuvem atenua
O cansao das pessoas
Olharem a lua.
Bash/Millr
58 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Para alcanar os objetivos que tinha em vista, Gilberto Dimenstein, ao escrever o texto Pescador de
Ti, segmentou-o em trs blocos de pargrafos.
Qual a inteno do texto de Dimenstein? Voc capaz de identicar os blocos, situ-los no texto
e explicitar a sua funo?
Mas, anal, o que o rio? Quem so os afogados? E os pescadores?
Em relao ao dos pescadores, qual pode ser considerada afetiva e qual a poltica?
Qual dessas aes privilegiada no texto de Dimenstein?
E para voc, qual a atitude mais adequada? O que voc faria no lugar dos pescadores?
ATIVIDADE
Na poca de Tagore, a ndia vivia um processo de descolonizao
contrapondo-se ao colonialismo, ao racismo e ao imperialismo
representados pela Inglaterra. No nal da primeira guerra mundial, o
Partido do Congresso, fundado em 1885, com uma postura nacionalista
contrria ao domnio ingls, fortaleceu-se sob a liderana de Mahatma
Gandhi, que iniciou os movimentos populares de desobedincia
civil, que optavam pela no violncia. Tagore e Gandhi foram
contemporneos.
Leia um trecho de um dos discursos de Gandhi:
A primeira coisa, portanto, dizer-vos a vs mesmos: No aceitarei mais
o papel de escravo. No obedecerei s ordens como tais, mas desobedecerei
quando estiverem em conito com minha conscincia. O assim chamado
patro poder surrar-vos e tentar forar-vos a servi-lo. Direis: No, no vos
servirei por vosso dinheiro ou sob ameaa. Vossa prontido em sofrer
acender a tocha da liberdade que no pode jamais ser apagada.
O domnio britnico empobreceu milhes de criaturas, por um sistema de
explorao progressiva, bem como por meio de uma administrao militar e
civil ruinosamente dispendiosa, que o pas nunca poder suportar. Ele nos
reduziu, politicamente, servido. Ele minou os fundamentos da nossa
cultura. No entanto, embora eu o considere uma maldio, no pretendo
lesar um nico ingls, nem qualquer interesse legtimo que ele possa ter
na ndia. Gandhi (apud VIEIRA, 1984, p.4)
uma mensagem humanitria e universalista. Seu mais famoso volume
de poesias Gitjali (Oferenda Potica). Fundou, em 1901, uma
escola de losoa Santiniketan, que, em 1921, foi transformada em
universidade.
w
w
w
.
u
v
a
.
o
r
g
.
a
r
/
g
a
n
d
h
i
.
h
t
m
l
Mahatma Gandhi (1869-1948)
59
Pescando Signicados
Lngua Portuguesa e Literatura
H semelhanas entre a histria da ndia pr-independente e o Brasil do sculo XXI? Eram as mesmas
crianas, no rio, no tempo da ndia de Tagore e Gandhi e no do Brasil atual? E a soluo de Gandhi
surtiu efeito?
Como impedir que crianas sejam jogadas na gua? possvel mudar o curso desse rio?
ATIVIDADE
Leia, na seqncia, um fragmento da letra de uma cano
interpretada por Milton Nascimento. Pesquisem e tragam para a sala a
letra inteira. Se vocs puderem escutar a msica, a atividade car bem
mais interessante:
CAADOR DE MIM
[...]
A vida me fez assim
Doce ou atroz
Manso ou feroz
Eu, caador de mim
[...]
Nada a temer seno o correr da luta
Nada a fazer seno esquecer o medo
Abrir o peito a fora, numa procura
Fugir s armadilhas da mata escura
[...]
Vou descobrir
O que me faz sentir
Eu, caador de mim.
(Composio: Lus Carlos S e Srgio Magro)
60 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Agora, para encerrarmos este captulo, como forma de conhecermos
um pouco mais sobre esse intrprete e compositor carioca, leia uma
pequena biograa dele.
Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942, e levado para Trs
Pontas, em Minas Gerais, com um ano e meio, Milton Nascimento cresceu
tocando seus instrumentos em conjuntos de bailes mineiros. Filho adotivo de
Josino Brito Campos (bancrio, professor de matemtica e tcnico de eletrnica)
e de Llia Silva Campos (professora de msica), usa o sobrenome de sua me
biolgica, Maria do Carmo Nascimento (empregada domstica).
Suas primeiras notas musicais foram tiradas de um acordeo, que ganhou de aniversrio. Vieram
depois o violo e o piano. Aos 13 anos de idade, Milton j mostrava seu talento em bailes ao lado de
seu vizinho Wagner Tiso.
Adolescente, ao mesmo tempo que trabalhava como disk-jockey, locutor e diretor na Rdio Trs
Pontas, formou o conjunto Luar de Prata, que contava com a presena do maestro Wagner Tiso.
Bituca, apelido de Milton na dcada de 60, comeou no jazz, formando, com Wagner Tiso e
Paulinho Braga, o Berimbau Trio. O autor de Os Sonhos no Envelhecem, Mrcio Borges, hoje com
54 anos, arma, no incio do livro, que os integrantes do Clube da Esquina eram meninos sonhadores
numa poca em que os governos militares, a partir de 1964, sufocavam os anseios e pretenses de
sua gerao.
Atualmente, considerado, tanto no Brasil quanto no exterior, um dos maiores cantores da msica
brasileira. Em 1998, ganhou o Grammy na categoria World Music com seu disco Nascimento.
Como a letra dessa cano de Milton Nascimento pode dialogar com o texto de Gilberto Dimenstein
e os outros textos j lidos por vocs ao longo deste captulo?
O jogo de palavras caador de mim e pescador de ti remetem a que atividades humanas?
Que efeito de sentido se consegue com a utilizao das palavras manso, feroz, atroz, luta, medo,
armadilhas, mata escura?
Dividam a turma em equipes e selecionem outras msicas de Milton Nascimento a serem apresentadas
e discutidas com a turma. Cada equipe dever, ao apresentar a msica escolhida, vericar como
a sua letra pode dialogar com os textos j lidos durante as atividades deste captulo, bem como
informar sala se as respectivas letras conrmam ou no a leitura que Gilberto Dimenstein fez no
ltimo pargrafo do seu texto.
Quais os temas prediletos de Milton Nascimento, de acordo com as msicas escolhidas pelas
equipes?
ATIVIDADE
w
w
w
.
r
i
v
e
r
-
p
h
o
e
n
i
x
.
o
r
g
61
Pescando Signicados
Lngua Portuguesa e Literatura
Que relaes podem se estabelecer entre as informaes deste texto biogrco e o texto Pescador
de Ti, de Gilberto Dimenstein?
Na seqncia, leia um fragmento de entrevista dada por Milton Nascimento revista Raa.
Para tornar a leitura uma oportunidade de exercitar o seu pensamento, ateno redobrada: voc ler
s as respostas e, por elas, dever deduzir a pergunta.
ATIVIDADE
RAA -
MILTON - Me considero o cara mais feliz da face da Terra. Porque eu sou o nico negro na
famlia, meus pais e meus irmos so brancos.
RAA
MILTON - Ao contrrio. Acho que pela educao que eles me deram, pelo carinho e por tu-
do que me ensinaram, eu no seria quem eu sou se no tivesse sido esse lho adotivo. Devo
tudo a eles. Desde esse negcio de amizade. s vezes, eles davam aos amigos o que no ti-
nham. E dentro da minha casa nunca houve problema em matria de cor, nem de nada.
RAA -
MILTON - Fora, j tinha alguns problemas. Pelo fato de eu ser criado por uma famlia bran-
ca, a populao negra achava que eu era rico, um negrinho rico e metido. Era um preconcei-
to s avessas e muita gente se afastava de mim por causa disso. E gente branca tambm. Eu
no entrava no clube dos brancos, mas meus irmos iam. Mas nunca disse nada em casa. Na
poca em que z o ginsio, fui o primeiro aluno, cheio de medalhas, mas no pude participar
do baile. A que a minha famlia percebeu e saiu todo mundo do clube.
RAA -
MILTON - A gente deve abranger tudo. Ento eu trabalhei com a Missa dos Quilombos, com
os ndios, seringueiros e crianas carentes, porque o artista que tem o microfone na mo e
tem que falar de tudo ao mesmo tempo. Se no for assim, episdios como a morte dos meni-
nos da Candelria caem no esquecimento.
RAA
MILTON - Por causa da sensibilidade, o artista v as coisas na frente dos outros. Ento,
acho que temos que acordar as pessoas, tanto para a tristeza quanto para a alegria. Isso para
mim ordem. Se no tiver isso, no tem nada.
RAA -
MILTON - A timidez vem do fato de eu querer guardar para mim as coisas que eu sofri e que
s consigo botar para fora depois que fao uma msica. Essa a nica diferena entre o Bitu-
ca e o Milton. Mas as pessoas tambm so tmidas comigo. Muita gente legal poderia estar per-
to de mim e a vem e pede um autgrafo. A pessoa vai embora feliz, mas podia ter se tornado mi-
nha amiga. E disso eu sinto falta.
Fonte: Revista Raa (Online). Dez. 1997.
62 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Relacione a charge com o texto de Dallari.
Que forma de sociedade apontada por Dallari? Quais solues ela prope para os problemas
apontados por Dimenstein?
A sociedade descrita por Dallari foi baseada em algum modelo de sociedade que voc conhece?
Comente a existncia ou no dessa sociedade.
ATIVIDADE
Veja s quantos textos diferentes ns lemos para construirmos um
sentido, um signicado para um texto inicial. desta forma que vamos
ampliando nossa leitura e nossa viso de mundo. Um texto dialoga
com outro, um texto chama outro e quase sempre necessrio fazer
outras leituras para complementarmos a primeira. assim que vamos
tecendo uma rede de leituras.
Para aqueles que esperam a sociedade ideal, eis aqui um modelo
de como esta sociedade poderia ser:
[...] Mas, justamente porque vivendo em sociedade que a pessoa humana pode satisfazer suas
necessidades, preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para
esse m. E no basta que a vida social permita apenas a satisfao de algumas necessidades da
pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada
com justia aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas
as suas necessidades, aquela em que todos, desde o momento em que nascem, tm as mesmas
oportunidades, aquela em que os benefcios e encargos so repartidos igualmente entre todos.
Para que essa repartio se faa com justia, preciso que todos procurem conhecer seus direitos
e exijam que eles sejam respeitados, como tambm devem conhecer e cumprir seus deveres e suas
responsabilidades sociais. (DALLARI, 1985. pag.6)
63
Pescando Signicados
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
DALLARI, D. A. Viver em Sociedade. So Paulo: Moderna, 1985.
DIMENSTEIN, G. Pescador de ti. Capa Cd Amigo Milton Nascimento gravado ao vivo: Palcio das
Artes, Belo Horizonte. 22 set. 1994. Show em homenagem a Airton Senna.
PAZZINATO, A.; SENISE, M. H. V. Histria Moderna e Contempornea. So Paulo: tica, 1995.
VIEIRA, E. O que desobedincia civil. So Paulo: Abril Cultural, 1984. (Primeiros passos, 10).
Documentos consultados ONLINE
Disponvel em: <www.cuidadoser.com.br/coletanea_tagorr.htm> Acesso em: 18 set. 2005
Entrevista Milton Nascimento. Revista Raa (Online). Dez. 1997. Disponvel em: <www.2uol.com.br/
simbolo/raca/1297/milton.htm> Acesso em: 18 set. 2005
MAGRO, S.; S, L. C. Caador de mim. Disponvel em: <http://www.holoalternativo.com/
cacadordemim.html> Acesso em: 18 set. 2005
ANOTAES
64 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Andrew Wyeth. Mundo de Christina, 1948. Tmpera de gesso sobre painel, 81.9 x 121.3 cm. Museu de Arte Moderna, Nova Iorque,
Estados Unidos. www.moma.org
65
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
5
SONHANDO COM
A CASA PRPRIA
Rosana Guandalin
1
1
Colgio Estadual Narciso Mendes - Santa Isabel do Iva - PR
o folhear as pginas
de classicados de
um jornal, voc tem
a sua ateno atrada
por um dos anncios.
VILA DAS FLORES
Vende-se terreno plano medindo
200 m
2
. Frente voltada para o
sol no perodo da manh. Fcil
acesso.
Telefone: 36733443
Indo ao endereo indicado, voc se depara com a
planta a seguir, onde esto destacados os terrenos
ainda no vendidos, numerados de I a V.
A qual dos terrenos que aparecem na
planta o anncio faz referncia?
Que informaes o anncio traz?
Faltam informaes? Quais?
(Adaptado. ENEM, 2004)
66 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Quando falamos de lugar para morar, estamos falando de um lugar
especco no espao que algum vai habitar e chamar de seu. Uma das
principais preocupaes dos seres humanos ao longo da histria da
civilizao, ainda hoje a casa prpria o fator primordial do sonho
de independncia da maioria das pessoas.
Tal sonho, se levarmos em conta os ensinamentos de Marx (Karl
Marx, lsofo alemo que viveu entre 1818 e 1883), nem sempre
existiu. Traando-nos um panorama das sociedades primitivas, Marx
constata que nem sempre existiu o conceito de propriedade privada
da terra, tal qual o conhecemos hoje. Os povos primitivos dividiam
coletivamente a posse e o uso do territrio que cava circunscrito ao
domnio da tribo. O uso, portanto, era pblico. Apenas os instrumentos
que estes homens primitivos usavam para a caa e para a pesca eram
considerados pessoais e privados. Mas, com o desenvolvimento dessas
sociedades, no decorrer do tempo, surgiu a cerca, impondo limites:
daqui para c meu, voc deve respeitar os limites impostos pela
cerca. A cerca deniu, junto com o conceito de proprietrio, o conceito
de no-proprietrio. Esta delimitao de uma parcela do territrio,
como sendo de uso pessoal, consiste num processo de apropriao
para si daquilo que antes era considerado de uso coletivo.
Com a cerca surgiram as primeiras confuses entre proprietrios e
no-proprietrios, entre os donos das terra e os sem terra. Estes ltimos
logo passaram a reivindicar instncias em que vissem garantidos a sua
posse neste bem to necessrio para um viver com dignidade. Das lutas
corporais onde prevalecia a vontade do mais forte at o surgimento do
Estado como mediador dos conitos entre desiguais, um bom tempo
correu.
Hoje, no Brasil, os ecos daquele conito primitivo aparecem no
artigo 5 da nossa Constituio Federal:
XXII garantido o direito de propriedade.
XIII a propriedade atender a sua funo social.
Como entender esta funo social da propriedade, a partir da leitura a respeito das idias de Marx e
do artigo 5 da Constituio?
ATIVIDADE
A Constituio, ao garantir o direito propriedade, condiciona-o, no
entanto, sua funo social. Antes de conferir o ttulo de propriedade
a um cidado, faz-se necessrio vericar se este ttulo concedido no
fere o direito de outras pessoas. Como conciliar, ento, a existncia de
MEMRIA
Na longnqua tarde
ledas conversas de seda
saudades saudades...
(Delores Pires)
www.galeon.com/johns
67
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
latifndios que, em extenso, so maiores que muitos pases da Europa
reunidos, com a existncia dos sem terra? Como conciliar a existncia
de grandes proprietrios de imveis urbanos com a existncia dos
sem teto, de cidados que se recolhem, mal abrigados, debaixo de
pontes?
Tais questionamentos nos trazem outros da ordem da poltica e
da tica (ambos no domnio do conhecimento losco): Como fazer
para que a letra da lei deixe de ser uma co? Como transformar o
sonho de muitos em realidade?
Nessa questo da propriedade, ressalta uma distino que sempre
foi problemtica, desde os tempos mais antigos, mas que se agrava nos
grandes centros urbanos: a distino entre o que pblico e o que
privado. Acerca dessa matria, leia o texto a seguir e confronte-o com
as idias de Marx, j comentadas:
Os conceitos de pblico e privado podem ser interpretados como a traduo em termos espaciais
de coletivo e individual.
Num sentido mais absoluto, podemos dizer: pblica uma rea acessvel a todos a qualquer
momento; a responsabilidade por sua manuteno assumida coletivamente. Privada uma rea cujo
acesso determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a responsabilidade de
mant-la.
Esta oposio extrema entre o pblico e o privado como a oposio entre o coletivo e o individual
resultou num clich, e to sem matizes e falsa como a suposta oposio entre o geral e o especco,
o objetivo e o subjetivo. Tais oposies so sintomas da desintegrao das relaes humanas bsicas.
Todo mundo quer ser aceito, quer se inserir, quer ter um lugar seu. Todo comportamento na sociedade
em geral , na verdade, determinado por papis, nos quais a personalidade de cada indivduo armada
pelo que os outros vem nele. No nosso mundo, experimentamos uma polarizao entre a individualidade
exagerada, de um lado, e a coletividade exagerada, de outro. Coloca-se excessiva nfase nestes dois
plos, embora no exista uma nica relao humana que se concentre exclusivamente em um indivduo
ou em um grupo, ou mesmo que se concentre de modo exclusivo em todos os outros, ou seja, no
mundo externo. sempre uma questo de pessoas e grupos em inter-relao e compromisso mtuo,
ou seja, sempre uma questo de coletividade e indivduo, um em face do outro. (HERTZBERGER, H. Lies
de arquitetura. So Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 12.)
Antes de voc ler esse texto do Hertzberger, voc j havia lido, no
pargrafo anterior, consideraes sobre o pblico e o privado a partir
das consideraes loscas de Marx.
Que diferenas de ponto de vista Marx e Hertzberger apresentam sobre a relao existente entre o
pblico e o privado?
Com qual dos dois textos voc concorda? Por qu?
ATIVIDADE
Poesia mnima
Helena Kolody
Pintou estrelas no muro
e teve o cu
ao alcance das mos.
68 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Conhecedores da fora que o desejo da casa prpria exerce sobre
as pessoas, as agncias de publicidade fazem de tudo para explorar,
nas propagandas e nos anncios, todos os cones desse desejo. Mas,
um anncio no feito apenas da explorao de desejos. preciso
mais.
Leia, agora, a seguinte crnica de Carlos Drummond de Andrade, e
observe o que, para o autor, um bom anncio.
Anncio de Joo Alves
Figura o anncio no jornal que o amigo me mandou, e est assim redigido:
procura de uma besta
A partir de 6 de outubro do ano cadente, sumiu-me uma besta vermelho-escura com os
seguintes caractersticos: calada e ferrada de todos os membros locomotores, um pequeno
quisto na base da orelha direita e crina dividida em duas sees em conseqncia de um golpe,
cuja extenso pode alcanar de 4 a 6 centmetros, produzido por jumento. Essa besta, muito
domiciliada nas cercanias deste comrcio, muito mansa e boa de sela, e tudo me induz ao
clculo de que foi roubada, assim que ho sido falhas todas as indagaes.
Quem, pois, apreend-la em qualquer parte e a zer entregue aqui ou pelo menos notcia
exata ministrar, ser razoavelmente remunerado.
Itamb do Mato Dentro, 19 de novembro de 1899.
(a) Joo Alves Jnior
55 anos depois, prezado Joo Alves Jnior, tua besta vermelho-escura, mesmo que tenha
aparecido, j p no p. E tu mesmo, se no estou enganado, repousas suavemente no
pequeno cemitrio do Itamb. Mas teu anncio continua modelo no gnero, seno para ser
imitado, ao menos como objeto de admirao literria.
Reparo antes de tudo na limpeza de tua linguagem. No escreveste apressada e toscamente,
como seria de esperar de tua condio rural. Pressa, no a tiveste, pois o animal desapareceu
a 6 de outubro e s a 19 de novembro recorreste Cidade de Itabira. Antes, procedeste a
indagaes. Falharam. Formulaste depois o raciocnio: houve roubo. S ento pegaste da pena
e traaste um belo e ntido retrato da besta.
No disseste que todos os seus cascos estavam ferrados; preferiste diz-lo de todos os
seus membros locomotores. Nem esqueceste esse pequeno quisto na orelha e essa diviso
da crina em duas sees, que teu zelo naturalista e histrico atribuiu com segurana a um
jumento.
Por ser muito domiciliada nas cercanias deste comrcio, isto , do povoado e sua feirinha
semanal, inferiste que no teria fugido, mas antes foi roubada. Contudo, no o armas em tom
peremptrio: tudo me induz a esse clculo. Revelas a prudncia mineira que no avana (ou
69
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
no avanava) aquilo que no seja a evidncia mesma. clculo, raciocnio, operao mental
e desapaixonada como qualquer outra, e no denncia formal.
Finalmente deixando de lado outras excelncias de tua prosa til a declarao positiva:
quem a apreender ou pelo menos notcia exata ministrar, ser razoavelmente remunerado.
No prometes recompensa tentadora; no fazes praa de generosidade ou largueza; acenas
com o razovel, com a justa medida das coisas, que deve prevalecer mesmo no caso de
bestas perdidas e entregues.
J muito tarde para sairmos procura de tua besta, meu caro Joo Alves do Itamb;
entretanto essa criao volta a existir, porque soubeste descrev-la com decoro e propriedade,
num dia remoto, e o jornal a guardou e algum hoje a descobre, e muitos outros so informados
da ocorrncia. Se lesses os anncios de objetos e animais perdidos, na imprensa de hoje, carias
triste. J no h essa preciso de termos e essa graa no dizer, nem essa moderao nem
essa atitude crtica. No h, sobretudo, esse amor tarefa bem feita, que se pode manifestar
at mesmo num anncio de besta sumida. (Carlos Drummond de Andrade)
Na crnica, o autor diz que o anncio de Joo Alves continua modelo no gnero. Quais so as
caractersticas que Drummond mais prezou no anncio?
Um dos aspectos que Drummond elogiou no anncio de Joo Alves foi o comedimento. Discuta
o sentido desse termo com os colegas e como essa caracterstica tratada nas estratgias
publicitrias.
ATIVIDADE
Agora que voc conhece algumas caractersticas do gnero ANNCIO, vamos conhecer um
tipo especial de anncio, num texto que pode ser apenas uma lenda e que circulou durante
algum tempo na internet:
O dono de um stio disse a Olavo Bilac: Estou precisando vender o meu stio, que o senhor to bem
conhece. Ser que o senhor poderia redigir o anncio para o jornal?
Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os
pssaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e arejantes guas de um ribeiro.
A casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranqila das tardes, na varanda.
Algum tempo depois, Bilac encontra o homem para quem redigira o anncio e lhe pergunta se
vendera o stio. O dono ento lhe diz: ________________________________________.
70 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Olavo Brs Martins dos Guimares Bilac
nasceu no Rio de Janeiro em 1865 e faleceu no
mesmo local em 1918.
Olavo Bilac o poeta mais popular do
Parnasianismo, destaca-se pelo devotamento
ao culto da palavra e ao estudo da lngua
portuguesa. Os recursos estilsticos que
mais emprega so: a repetio de palavras,
o polissndeto e o assndeto (separados ou
conjugados), suas metforas e comparaes
so claras.
As estrelas tm presena marcante em seus versos,
ora aparecem como condentes, ora como testemunhas ou conhecedoras
do mistrio da vida.
A criana, tambm, recebe ateno, dedica-lhe quadras infantis em que
o mundo juvenil aparece idealizado, destitudo de misrias, ressaltando o
aspecto domstico, patritico e nobre. Por isso, acaba sendo aclamado
o poeta da criana. Outros temas prediletos so a guerra e a ptria. O
patriotismo cantado ternamente, a ponto de assumir a forma de propaganda
do progresso e bem estar nacional.
Seus versos contm uma poesia pobre em imagens, mas rica em
sentimento, voluptuosidade e morbidez, o que parece justicar sua fulgurante
consagrao. Poesias (1888), seu primeiro livro, traz o poema Prosso de
F, esmero em metricao, servindo de exemplo do verso parnasiano.
Entramos, agora, no campo da propaganda.
Que diferenas podem ser estabelecidas entre anncio e propaganda quanto s respectivas
intenes?
ATIVIDADE
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
1
1
r
m
.
e
b
.
m
i
l
.
b
r
Qual teria sido a resposta do dono do stio?
Leia a seguir uma pequena biograa de Olavo Bilac e justique por que o autor deste texto atribui ao
poeta o papel de destaque na pequena narrativa.
ATIVIDADE
71
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
Selecione, em veculos diversos (jornais, revistas, folhetos), exemplos de textos que possam ser
caracterizados apenas como anncios.
Se lesses os anncios de objetos e animais perdidos, na imprensa de hoje, carias triste. Pesquise
em jornais de sua cidade e traga para a aula anncios de objetos ou animais perdidos. Como so
esses anncios? De que forma procuram fazer com que o leitor crie algum tipo de envolvimento com
o animal perdido?
PESQUISA
Com relao linguagem da propaganda, o que se destaca a inteno de persuadir, de
convencer, seja do modo que for. Para isso, o emissor da mensagem lana mo de todos os
recursos disponveis, no s os da linguagem escrita.
Reelabore o anncio do imvel do exerccio feito no incio desta atividade, transformando-o numa
propaganda. Voc no vai inventar nada que no exista no imvel: vai apenas apresentar as
caractersticas do terreno de modo diferente, enfatizando as vantagens que elas possam apresentar,
associando-as com as imagens que os futuros compradores prezam. O visual tambm dever ser
melhor explorado.
Selecione trs propagandas da mdia escrita: uma que voc considere boa, uma mdia e uma ruim,
justicando essa classicao.
Em conjunto com a turma, selecione propagandas televisivas e eleja a mais bem elaborada,
destacando os pontos em que se baseou a deciso.
Quando se fala em propaganda, lembramos de slogans. Slogan uma expresso concisa, fcil de
lembrar, utilizada em campanhas polticas, de publicidade, de propaganda, para lanar um produto,
marca, etc. (Houaiss). Nos exemplos abaixo, tente completar as frases b e c e identique os produtos
a que se referem os quatro slogans:
a- Nunca foi to fcil tirar o doce da criana.
b- _____________ com respeito. provvel que ele seja mais velho que voc.
c- Cabem 18 crianas, lgico, se o ____________ for surdo.
d- Nossos clientes nunca voltaram para reclamar.
ATIVIDADE
Voltando discusso dos espaos pblicos e privados, elabore um slogan para atrair a adeso da
comunidade em uma campanha que a escola esteja promovendo.
72 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Por exemplo: nas localidades em que h muitos ces na rua, idealizar uma campanha para que
as pessoas dispensem mais cuidado a eles e os mantenham connados aos respectivos quintais,
evitando a reproduo indiscriminada e o abandono dos lhotes na rua.
Vocs podem pensar em outra campanha.
Agora voc ler um texto em que os artifcios da propaganda foram empregados com muita
ecincia para os ns desejados.
Antes de comear a ler o texto por inteiro, troque com os colegas impresses sobre as expectativas
de leitura, a partir apenas do ttulo e do primeiro pargrafo: o que vocs acham que vai acontecer?
ATIVIDADE
No Retiro da Figueira
Sempre achei que era bom demais. O lugar, principalmente. O lugar era... era maravilhoso.
Bem como dizia o prospecto: maravilhoso. Arborizado, tranqilo, um dos ltimos locais dizia o
anncio onde voc pode ouvir um bem-te-vi cantar. Verdade: na primeira vez que fomos l ou-
vimos o bem-te-vi. E tambm constatamos que as casas eram slidas e bonitas, exatamente co-
mo o prospecto as descrevia: estilo moderno, slidas e bonitas. Vimos os gramados, os parques,
os pneis, o pequeno lago. Vimos o campo de aviao. Vimos a majestosa gueira que dava no-
me ao condomnio: Retiro da Figueira.
Mas o que mais agradou minha mulher foi a segurana. Durante todo o trajeto de volta ci-
dade e eram uns bons cinqenta minutos ela falou, entusiasmada, da cerca eletricada, das
torres de vigia, dos holofotes, do sistema de alarmes e sobretudo dos guardas, oito guardas,
homens fortes, decididos mas amveis, educados. Alis, quem nos recebeu naquela visita, e
na seguinte, foi o chefe deles, um senhor to inteligente e culto que logo pensei: Ah, mas ele
deve ser formado em alguma universidade. De fato: no decorrer da conversa ele mencionou
mas de maneira casual que era formado em Direito. O que s fez aumentar o entusiasmo de
minha mulher.
Ela andava muito assustada ultimamente. Os assaltos violentos se sucediam na vizinhana;
trancas e porteiros eletrnicos j no detinham os criminosos. Todos os dias sabamos de algum
roubado e espancado; e quando uma amiga nossa foi violentada por dois marginais, minha mu-
lher decidiu tnhamos de mudar de bairro. Tnhamos de procurar um lugar seguro.
Foi ento que enaram o prospecto colorido sob nossa porta. s vezes penso que se mors-
semos num edifcio mais seguro, o portador daquela mensagem publicitria nunca teria chegado
a ns, e, talvez... Mas isso agora so apenas suposies. De qualquer modo, minha mulher cou
encantada com o Retiro da Figueira. Meus lhos estavam vidrados nos pneis. E eu acabava de
ser promovido na rma. As coisas todas se encadearam, e o que comeou com um prospecto
sendo enado sob a porta transformou-se como dizia o texto num novo estilo de vida.
73
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
No fomos os primeiros a comprar casa no Retiro da Figueira. Pelo contrrio: entre nossa pri-
meira visita e a segunda uma semana aps a maior parte das trinta residncias j tinha sido
vendida. O chefe dos guardas me apresentou a alguns dos compradores. Gostei deles: gente
como eu, diretores de empresa, prossionais liberais, dois fazendeiros. Todos tinham vindo pelo
prospecto. E quase todos tinham se decidido pelo lugar por causa da segurana.
Naquela semana descobri que o prospecto tinha sido enviado apenas a uma quantia limita-
da de pessoas. Na minha rma, por exemplo, s eu o tinha recebido. Minha mulher atribuiu o fa-
to a uma seleo cuidadosa de futuros moradores e viu nisso mais um motivo de satisfao.
Quanto a mim, estava achando tudo muito bom. Bom demais.
Mudamo-nos. A vida l era realmente um encanto. Os bem-te-vis eram pontuais: s sete da
manh comeavam seu anado concerto. Os pneis eram mansos, as alias ensaibradas es-
tavam sempre limpas. A brisa agitava as rvores do parque cento e doze, bem como dizia o
prospecto. Por outro lado, o sistema de alarmes era impecvel. Os guardas compareciam pe-
riodicamente nossa casa para ver se estava tudo bem sempre gentis, sempre sorridentes.
O chefe deles era uma pessoa particularmente interessada: organizava festas e torneios, preo-
cupava-se com nosso bem-estar. Fez uma lista dos parentes e amigos dos moradores para
qualquer emergncia, explicou, com um sorriso tranqilizador. O primeiro ms decorreu tal co-
mo prometido no prospecto num clima de sonho. De sonho mesmo. Uma manh de domin-
go, muito cedo lembro-me de que os bem-te-vis ainda no tinham comeado a cantar soou
a sirene de alarme. Nunca tinha tocado antes, de modo que camos um pouco assustados
um pouco, no muito. Mas sabamos o que fazer: nos dirigimos, em ordem, ao salo de festas,
perto do lago. Quase todos ainda de roupo ou pijama.
O chefe dos guardas estava l, ladeado por seus homens, todos armados de fuzis. Fez-nos
sentar, ofereceu caf. Depois, sempre pedindo desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da
reunio: que havia marginais nos matos ao redor do retiro e ele, avisado pela polcia, decidira
pedir que no sassemos naquele domingo.
Anal disse, em tom de gracejo est um belo domingo, os pneis esto a mesmo, as
quadras de tnis...
Era mesmo um homem muito simptico. Ningum chegou a car verdadeiramente contra-
riado.
Contrariados caram alguns no dia seguinte, quando a sirene tornou a soar de madrugada.
Reunimo-nos de novo no salo de festas, uns resmungando que era segunda-feira, dia de tra-
balho. Sempre sorrindo, o chefe dos guardas pediu desculpas novamente e disse que infeliz-
mente no poderamos sair os marginais continuavam nos matos. Gente perigosa; entre eles,
dois assassinos foragidos. pergunta de um irado cirurgio, o chefe dos guardas respondeu
que, mesmo de carro, no poderamos sair; os bandidos poderiam bloquear a estreita estrada
do Retiro.
E vocs, por que no nos acompanham? perguntou o cirurgio.
E quem vai cuidar das famlias de vocs? disse o chefe dos guardas, sempre sorrindo.
Ficamos retidos naquele dia e no seguinte. Foi a que a polcia cercou o local: dezenas de
viaturas com homens armados, alguns com mscaras contra gases. De nossas janelas ns os
vamos e reconhecamos: o chefe dos guardas estava com a razo.
Passvamos o tempo jogando cartas, passeando ou simplesmente no fazendo nada. Al-
guns estavam at gostando. Eu no. Pode parecer presuno dizer isto agora, mas eu no es-
tava gostando nada daquilo.
74 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Foi no quarto dia que o avio desceu no campo de pouso. Um jatinho. Corremos pa-
ra l.
Um homem desceu e entregou uma maleta ao chefe dos guardas. Depois olhou para
ns amedrontado, pareceu-me e saiu pelo porto da entrada, quase correndo.
O chefe dos guardas fez sinal para que no nos aproximssemos. Entrou no avio. Dei-
xou a porta aberta, e assim pudemos ver que examinava o contedo da maleta. Fechou-a,
chegou porta e fez um sinal. Os guardas vieram correndo, entraram todos no jatinho. A por-
ta se fechou, o avio decolou e sumiu...
(Moacyr Scliar)
Quantas vezes o narrador diz que as coisas que viam aconteciam exatamente como dizia o
prospecto? Qual o efeito dessa repetio?
Por que o chefe de polcia fez uma relao dos parentes e amigos dos moradores?
Em que passagens o narrador expressa desconana? De que forma isso ca claro na sua fala?
O que voc imagina que aconteceu? Anote sua opinio no caderno, com os respectivos argumentos
destacados do texto.
Alm do tema tratado, esse conto nos permite uma reexo sobre quais outros temas?
Quais as caractersticas fsicas do condomnio Retiro da Figueira?
Quais caractersticas convenceram os compradores pelo aspecto racional?
O que os convenceu pelo apelo distino social?
Como voc faria a narrativa do nal do conto? Depois de escrev-la e apresent-la aos seus colegas
de turma, conra o desfecho que o autor deu ao texto.
ATIVIDADE
Mas no s na publicidade que se faz uso de recursos para persuadir o leitor. As manchetes
de jornais e os ttulos de livros e histrias so bons exemplos, entre outros, de tentativa de
chamar a ateno de um futuro leitor/comprador.
Agora, voc vai exercer sua habilidade de convencer as pessoas atravs da linguagem. Pense em
uma histria, algum acontecimento que tenha se passado com voc ou com algum conhecido, e crie
um ttulo chamativo para ela. Ningum pode saber qual a histria. Os ttulos sero apresentados em
uma relao e a histria, cujo ttulo chamar mais a ateno, ser lida em sala. Lembre-se de que o ttulo
cria expectativas no leitor, que espera encontrar no texto tudo o que o ttulo prometeu. Caso contrrio, o
ttulo ser considerado ruim. Ttulo ruim como mau poltico: no cumpre o que promete.
ATIVIDADE
75
Sonhando com a casa prpria
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
ANDRADE, C. D. Fala, Amendoeira. Rio de Janeiro: Record, 1998
SCLIAR, M. O retiro da gueira. In: LADEIRA, Julieta de Godoy. Contos
Brasileiros Contemporneos. So Paulo: Moderna, 2001.
HERTZBERGER, H. Lies de arquitetura. So Paulo: Martins Fontes,
1999. p. 12.
Documentos consultados ONLINE
Disponvel em: <http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/literatura/olavobilac.htm>
Acesso em: 19 out. 2005
Disponvel em: <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/
al1290710031.htm> Acesso em: 19 out. 2005
ANOTAES
76 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Dante Gabriel Rossetti. Pandora, 1869. Giz sobre papel. Coleo da Organizao Faringdon, Parque de Buscot, Oxfordshire, Reino Unido.
http://www.abcgallery.com/R/rossetti/rossetti35.html
77
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
6
PALAVRAS
Luciana Cristina Vargas Cruz
1
, Maria
de Ftima Navarro Lins Paul
2
1
Colgio Estadual Eurides Brando - Curitiba - PR
2
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
e recebo um presente
dado com carinho por
pessoa de quem no
gosto como se chama o
que sinto?
(Clarice Lispector)
VO
Livre, de tardinha
passeia no ar e vagueia
alegre andorinha.
(Delores Pires)
78 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
NEOLOGISMO
Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo:
Teadoro, Teodora.
Manuel Bandeira
Por que, em algumas situaes, surge a necessidade de se criar palavras?
Explique a relao entre o verbo teadorar e o substantivo teadora.
O eu-lrico diz que inventa palavras, as quais traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Qual
o sentido dessa expresso?
Manuel Bandeira, em seu poema, inventa a palavra: TEADORAR. E traz, sobre ela, duas informaes:
um verbo e intransitivo.
Como foi construda a palavra Teadorar?
Por que o poema diz que Teadorar um verbo intransitivo?
Aps essas respostas, voc pensa que o amor intransitivo ou transitivo?
ATIVIDADE
O poema de Manoel de Barros tambm fala sobre verbo e
invenes, de uma forma muito criativa. Leia.
UMA DIDTICA DA INVENO, VII
No descomeo era o verbo.
S depois que veio o delrio do verbo.
O delrio do verbo estava no comeo, l
onde a criana diz: Eu escuto a cor
dos passarinhos.
(...) se a criana muda a funo de um verbo, ele delira.
E pois.
Em poesia que voz de poeta, que a voz
de fazer nascimentos.
O verbo tem que pegar delrio.
(Manoel de Barros)
ILUSTRADOR
79
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
Uma didtica da inveno qual a relao desse ttulo com o texto? E com o poema de Manuel
Bandeira?
No descomeo era o verbo. Esse trecho dialoga com outro texto (ou seja, h uma intertextualidade).
Qual esse outro texto? O que h em comum entre eles?
Quais os sentidos da palavra verbo no poema de Manoel de Barros?
Qual o signicado da palavra delrio nesse contexto?
No poema, onde se encontra o delrio do verbo? Justique-o.
Leia: Em poesia que voz de poeta, que a voz de fazer nascimentos. Como a poesia faz
nascimentos?
ATIVIDADE
Os dois poemas inventam moda com as palavras. Essa inveno
possvel porque as palavras tm histria, elas so criadas, podem
evoluir e, tambm, sofrer transformaes. Muitas vezes, algumas at
desaparecem. Isso signica que a lngua viva, dinmica, e est em
contnuo movimento!
Voc j ouviu falar sobre formao de palavras? (Veja o Folhas Voc
um chato?.)
H um processo para formar palavras a partir de outras j existentes.
Mas, alm desse processo de formao, tambm existem processos de
enriquecimento do vocabulrio. Entre eles, h o neologismo, o processo
que permite criar novas palavras ou atribuir signicados diferentes
para palavras que j existem. O verbo TEADORAR um neologismo,
criado poeticamente por Manuel Bandeira.
Tambm h o emprstimo lingstico, esse processo surge atravs
do contato entre culturas diferentes. O nosso vocabulrio, e de outras
lnguas, incorpora palavras provindas de lngua estrangeira; essas
palavras, normalmente, so aportuguesadas, por exemplo: bife,
futebol, abajur (so to freqentes em nosso cotidiano que j as vemos
como palavras da lngua portuguesa). Notamos mais o estrangeirismo
nas palavras que mantm a mesma graa original, como: shopping
center, show, etc.
Sobre as palavras, h muitas perguntas, nem todas com respostas:
Qual a origem das palavras? Por que as coisas tm o nome que
tm?
A losoa nos ajuda a pensar sobre essas questes. Marilena
Chau, lsofa brasileira, fala sobre esse tema em seu livro Convite
Filosoa.
A girafa, calada,
L de cima v tudo
E no diz nada.
(Millr Fernandes)
80 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
A origem da linguagem
Uma primeira divergncia sobre o assunto surgiu na Grcia: a linguagem natural aos homens (existe
por natureza) ou uma conveno social? Se a linguagem for natural, as palavras possuem um sentido
prprio e necessrio; se for convencional, so decises consensuais da sociedade e, nesse caso,
so arbitrrias, isto , a sociedade poderia ter escolhido outras palavras para designar as coisas. Essa
discusso levou, sculos mais tarde, seguinte concluso: a linguagem como capacidade de expresso
dos seres humanos natural, isto , os humanos nascem com uma aparelhagem fsica, anatmica,
nervosa e cerebral que lhes permite expressarem-se pela palavra; mas as lnguas so convencionais,
isto , surgem de condies histricas, geogrcas, econmicas e polticas determinadas, ou, em
outros termos, so fatos culturais [...].
Perguntar pela origem da linguagem levou a quatro tipos de respostas:
1. a linguagem nasce por imitao, isto , os humanos imitam, pela voz, os sons da Natureza (dos
animais, dos rios, das cascatas e dos mares, do trovo e do vulco, dos ventos, etc.). A origem da
linguagem seria, portanto, a onomatopia ou imitao dos sons animais e naturais;
2. a linguagem nasce por imitao dos gestos, isto , nasce como uma espcie de pantomima ou
encenao, na qual o gesto indica um sentido. Pouco a pouco, o gesto passou a ser acompanhado de
sons e estes se tornaram gradualmente palavras, substituindo os gestos;
3. a linguagem nasce da necessidade: a fome, a sede, a necessidade de abrigar-se e proteger-
se, a necessidade de reunir-se em grupo para defender-se das intempries, dos animais e de outros
homens mais fortes levaram criao de palavras, formando um vocabulrio elementar e rudimentar,
que, gradativamente, tornou-se mais complexo e transformou-se numa lngua;
4. a linguagem nasce das emoes, particularmente do grito (medo, surpresa ou alegria), do choro
(dor, medo, compaixo) e do riso (prazer, bem-estar, felicidade). Citando novamente Rousseau em seu
Ensaio sobre a origem das lnguas:
No a fome ou a sede, mas o amor ou o dio, a piedade, a clera, que aos primeiros
homens lhes arrancaram as primeiras vozes Eis porque as primeiras lnguas foram
cantantes e apaixonadas antes de serem simples e metdicas.
Assim, a linguagem, nascendo das paixes, foi primeiro linguagem gurada e por isso surgiu como
poesia e canto, tornando-se prosa muito depois; e as vogais nasceram antes das consoantes. Assim
como a pintura nasceu antes da escrita, assim tambm os homens primeiro cantaram seus sentimentos
e s muito depois exprimiram seus pensamentos.
Essas teorias no so excludentes. muito possvel que a linguagem tenha nascido de todas essas
fontes ou modos de expresso [...]. (CHAU, 2003, p.150-151)
Como o texto responde questo: por que as coisas tm o nome que tm?
O texto d uma resposta denitiva sobre a origem da linguagem? Fundamente sua resposta com
elementos do texto.
ATIVIDADE
81
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
O primeiro item arma que a origem da linguagem seria a onomatopia. Busque exemplos de
onomatopias na Lngua Portuguesa.
Tanto os poemas apresentados neste Folhas quanto o texto de Chau
falam da necessidade humana de nomear as coisas, que vem desde
que o homem se reconhece homem. Veja o que diz o texto bblico:
19
Tendo, pois, o Senhor Deus formado da Terra todos os animais dos
campos, e todas as aves dos cus, levou-os ao homem, para ver como ele
os havia de chamar; e todo o nome que o homem ps aos animais vivos,
esse o seu verdadeiro nome.
20
O homem ps nomes a todos os animais,
a todas as aves dos cus e a todos os animais dos campos;[...] (Gnesis 2;
19-20)
Qual o fato relacionado origem das palavras que o texto Bblico no contempla neste fragmento
de Gnesis?
ATIVIDADE
A necessidade de nomear existe em todas as reas do conhecimento,
da atividade humana. E os nomes dados so sempre uma conveno,
so sempre arbitrrios. Veja o que aconteceu na Fsica:
Murray Geel-Mann, fsico norte-americano, dedicou grande parte
de sua vida ao estudo das partculas subatmicas. No perodo ps
segunda guerra mundial, o desenvolvimento da Fsica atmica, nuclear
e molecular levou descoberta de tal quantidade de partculas, que
fsicos da poca compararam essa profuso de corpsculos e de
funes a um zoolgico de partculas.
Para Geel-Mann, o mundo das partculas subatmicas e suas
particularidades eram um jogo de quebra-cabea com experimentos
revelando um nmero cada vez maior de partculas elementares, que
precisavam ser descritas e nomeadas.
A idia de Gell-Mann era que se os tomos diferenciam-se pelas
combinaes de apenas trs partculas prtons, eltrons e nutrons
, a mesma coisa deveria acontecer com as centenas de partculas que
haviam sido descobertas: Gell-Mann sugeriu que essas partculas eram,
na verdade, resultado de combinaes de apenas seis outras (esse
o nmero atual), que ele chamou de quarks. Ou seja, as partculas
fundamentais so os seis quarks e no as centenas de outras que foram
observadas (ROSENFELD, 2003, p 13-14).
Em cima da neve
Mesmo o corvo esta manh
Pousou bem de leve.
Bash
w
w
w
.
i
c
t
p
.
t
r
i
e
s
t
e
.
i
t
Gell Mann
82 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Mas, por que o nome Quark?
Veja, agora, como Gell-Mann deu o nome
s partculas que ele estudou:
Ele havia primeiramente pensado no nome quirks, que em ingls signica algo peculiar, fora do
comum. Porm, folheando um livro do escritor irlands James Joyce, que inventava muitas palavras,
deparou com os versos Three quarks for Muster Mark, de que ningum realmente sabe o signicado
exato. O fato de serem trs como no tripleto, e o som parecido com quirks, levou Gell-Mann a adotar o
nome quarks para denotar as trs partculas. (ROSENFELD, 2003, p 87-88)
Gell-Mann deu o nome de GLUON partcula que mantm os quarks colados uns aos outros.
Procurem a origem dessa palavra, a comparao que Gell-Mann fez para cri-la.
Escolham alguns nomes que surgiram a partir da evoluo das cincias e busquem a origem desses
nomes.
ATIVIDADE
Sugesto: Esse assunto
tambm est abordado no
Folhas As Quatro Interaes
Fundamentais, do livro
didtico de Fsica.
O fato de as lnguas serem convencionais, conforme vimos no texto
de Filosoa, e a necessidade dessa conveno para que as pessoas
possam interagir, comunicar-se, foi abordado de outra maneira por
Ruth Rocha, conhecida autora de livros infanto-juvenis, que tem um
personagem criana chamado Marcelo, o qual cismou com os nomes
das coisas:
Marcelo, marmelo, martelo
[...]
Pois , est tudo errado! Bola bola, porque redonda. Mas bolo nem sempre redondo. E por
que ser que a bola no a mulher do bolo? E bule? E belo? E bala? Eu acho que as coisas deviam ter
nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia chamar sentador, no cadeira, que no quer dizer
nada. E travesseiro? Devia se chamar cabeceiro, lgico! Tambm, agora, eu s vou falar assim.
[...]
O pai de Marcelo resolveu conversar com ele:
- Marcelo, todas as coisas tm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome
porque, seno, ningum se entende...
- No acho, papai. Por que que eu no posso inventar o nome das coisas?
83
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
[...]
At que um dia...
[...] Marcelo entrou em casa correndo:
- Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo!
- O qu, menino? No estou entendendo nada!
- A moradeira, papai, embrasou...
- Eu no sei o que isso, Marcelo. Fala direito!
- Embrasou tudo, papai, est uma branqueira danada!
Seu Joo percebia a aio do lho, mas no entendia nada (...). (Ruth Rocha, 1976)
O que seu Joo no entendia?
Proposta de produo: criem, em duplas, uma situao humorstica em que a inveno de palavras
impea a comunicao. Socializem a produo numa atividade de contao de histrias.
ATIVIDADE
Vocs j leram, neste Folhas, a expresso classes de palavras. O verbo uma delas.
Outra classe aquela das palavras que expressam emoes, lembra? H, tambm, uma classe
especca que, segundo as gramticas, engloba as palavras que usamos para nomear os seres
em geral: substantivo.
Somente a classe do substantivo capaz de nomear as coisas? Discuta com seus colegas e
registre as concluses.
DEBATE
Substantivos nomeiam. Ser apenas isso?
Ttulo ____________________
Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. gua. Escova, creme dental, gua, espuma, creme de
barbear, pincel, espuma, gilete, gua, cortina, sabonete, gua fria, gua quente, toalha. Creme para
cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, cala, meias, sapatos, gravata, palet. Carteira, nqueis,
documentos, caneta, chaves, leno, relgio, mao de cigarros, caixa de fsforos. Jornal. Mesa, cadeira,
xcaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro.
[...]
84 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Qual a peculiaridade desse texto?
possvel extrair sentido desse texto, apesar de utilizar somente o substantivo?
O texto acima foi elaborado utilizando apenas uma classe gramatical, o substantivo. Em Lngua
Portuguesa, as palavras so divididas em 10 classes. Pesquise-as na gramtica. Com qual delas
podemos elaborar um texto similar?
Siga o estilo que o texto apresenta no incio e no nal e complete-o.
D um ttulo ao texto.
ATIVIDADE
H teorias que dizem que as palavras servem para designar coisas.
Mas nem todas as palavras se referem a coisas, nem todas as coisas
podem ser postas em palavras.
Um dos dicionrios da Lngua Portuguesa, o Dicionrio Houaiss,
apresenta mais de 228 mil verbetes, ou seja, palavras da nossa lngua.
No entanto...
[...]Uma pessoa de quem no se gosta mais e que no gosta mais da
gente como se chama essa mgoa e esse rancor? Estar ocupada, e de
repente parar por ter sido tomada por uma desocupao beata, milagrosa,
sorridente e idiota como se chama o que se sentiu? O nico modo de
chamar perguntar: como se chama? At hoje s consegui nomear com a
prpria pergunta. Qual o nome? E esse nome o nome? (Clarice Lispector)
Crie termos para aquilo que a autora no consegue nomear.
Pense outras situaes, para as quais no se encontram palavras adequadas e tente nome-las.
ATIVIDADE
Carro. Mao de cigarros, caixa de fsforos. Palet, gravata. Poltrona,
copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos,
guardanapos. Xcaras, cigarro e fsforo. Poltrona, livro. Cigarro e fsforo.
Televisor, poltrona. Cigarro e fsforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias,
cala, cueca, pijama, espuma, gua. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.
(Adaptado de Ricardo Ramos)
85
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
Leia, ainda, o poema de Alice Ruiz.
Tem palavra
tem palavra
que no de dizer
nem por bem
nem por mal
tem palavra
que no de comer
que no d pra viver
com ela
tem palavra
que no se conta
nem prum animal
tem palavra
louca pra ser dita
feia bonita
e no se fala
tem palavra
pra quem no cala
pra quem tem palavra
tem palavra
que a gente tem
e na hora H
falta
Alice Ruiz
Aponte a relao que existe entre o poema de Alice Ruiz e o fragmento de Clarice Lispector.
D exemplos de:
- palavras que no so de dizer nem por bem nem por mal;
- palavras que no so de comer;
- palavras que no d para viver com elas;
- palavras que no se conta nem para um animal;
ATIVIDADE
86 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Como atividade nal, renam-se em grupos e organizem
uma listagem de palavras no dicionarizadas, ou seja, que
ainda no estejam contempladas nos dicionrios ociais.
Essas palavras sero coletadas em jornais, anncios
publicitrios, placas em geral, calendrios, letreiros,
programas de rdio e televiso, conversas familiares,
enm, em todos os locais e situaes onde palavras so
utilizadas.
As palavras coletadas devero ser organizadas
alfabeticamente, com indicao da classe de palavras
qual pertencem, e apresentar um signicado (ou mais).
Aps a entrega de todos os trabalhos, a turma poder organizar um dicionrio, de volume nico,
encadern-lo e coloc-lo na biblioteca da escola.
ATIVIDADE
p
a
i
n
e
i
s
.
o
r
g
/
L
i
v
r
o
.
j
p
g
- palavras loucas para serem ditas, e no se fala;
- palavras que, na hora H, faltam;
- palavras de quem no cala.
H outras palavras de que voc sentiu falta e acrescentaria ao poema?
Verique a que classes de palavras pertencem os exemplos dados.
Como voc explica, nesse texto, a falta do ttulo, da pontuao, de letras maisculas, o uso de
palavras exclusivas da oralidade?
A lngua, como vimos nesse Folhas, dinmica, viva. na interao
que ela se constitui, na interao que os usurios, os falantes vo
criando novas palavras, que nascem da necessidade de se dizer algo, de
se fazer compreender. Dessa forma, criam-se hipteses, mergulhando
em semelhanas, para suprir lacunas que vo sendo encontradas.
Quando a criana diz que meu tio hoje estava inconversvel,
fcil compreender que ela criou a palavra para preencher um furo,
pela necessidade de preencher um espao.
87
Palavras
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
CHAU, M. Convite losoa. So Paulo: tica, 2003.
BARROS, M. O Livro das Ignoras. Rio de janeiro: civilizao Brasileira, 1993, p.17.
BANDEIRA, M. Estrela da Vida Inteira. So Paulo: Nova Fronteira, 1993.
RAMOS, R. Contos Contemporneos. So Paulo: tica, 1995.
ROCHA, R. Marcelo, marmelo, martelo e outras histrias. Rio de Janeiro: Salamandra, 1976.
ROSENFELD, R. Feynmann & Gell-Mann Luz, quarks, ao. So Paulo: Odysseus, 2003.
RUIZ, A. Vice Versos. So Paulo: Brasiliense, 1988.
ANOTAES
88 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
J. M. W. Turner. Chuva, vapor e velocidade, 1844. leo sobre tela, 91 x 122 cm. Royal Academy, Londres, Inglaterra.
89
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
7
SOBRE A
MODERNIDADE
OU COMO LER
UM LIVRO
Antnio Eduardo Leito Navarro Lins
1
1
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
oc j ouviu a palavra
MODERNIDADE? Tem noo do
que ela signica? Sabe como a
MODERNIDADE pode inuenciar
voc? Voc usa culos? Quais so os seus
culos?
MAR PORTUGUEZ
Teu Mar Portuguez
to nosso, to verde e azul,
Fernando Pessoa!
(Delores Pires)
90 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Neste Folhas, voc encontrar oportunidade de pensar um pouco
sobre sua prpria vida, seus desejos, seu modo de ver o mundo e as
coisas do mundo, sua sensibilidade e sua autonomia de pensamento.
Tudo isso sobre o que voc pensar altamente inuenciado pelo modo
de ser e agir humanos sobre a Terra. Eu vou chamar este modo de ser
e de agir humanos, tal qual ele acontece hoje, de MODERNIDADE.
Se voc usar culos de lentes vermelhas, voc ver o mundo
vermelho. E se os culos forem verdes, ento voc ver tudo verde.
Os culos de um Matemtico so os nmeros; um Fsico usa esses
culos para ver a estrutura do universo. Os culos de um Cristo so
a sua f. Os meus culos de ver o mundo chamam-se Literatura, mas
poderiam chamar-se de lngua humana, no s a Lngua Portuguesa.
que os meus culos so os livros. Geralmente as lentes dos meus
culos so designadas por alguma palavra que tenha no nal o suxo
ismo: Romantismo ou Realismo, Surrealismo ou Dadasmo, Cubismo...
Geralmente, mas nem sempre. s vezes, as lentes dos meus culos
tambm so chamadas de Barroco ou Literatura de Informao ou,
ainda, quando eu uso os culos para olhar a sociedade, Sociologia. Se
eu os uso para olhar o pensamento, Filosoa. E assim por diante. Mas
os nomes que as pessoas do s lentes dos meus culos no importam,
importa que os livros permitem que ns caminhemos por vrios tipos de
saberes. E eles permitem, tambm, que ns, sem sairmos do presente,
revejamos os saberes do passado e projetemos os do futuro. atravs
dos meus culos, os livros, que eu vou olhar para a MODERNIDADE.
Voc j leu algum livro? Lembra-se de algum que tenha gostado? O que voc fez durante a leitura?
Como a leitura o modicou?
ATIVIDADE
Antes de falar para voc sobre essa tal MODERNIDADE, deixe eu
lhe contar como se faz uso de uns culos como os meus.
Eu estou diante de um livro como diante de um lago. Diante de
um lago, ora eu vejo a superfcie to cristalina que parece um espelho;
outras, agitada pelas ondulaes que o vento provoca. Eu olho para
a superfcie do lago e sei que a superfcie no o lago todo. s
vezes a superfcie me engana. Porque uma superfcie transparente e,
quando eu mergulho no lago, vejo tudo opaco, nada ntido. E somente
tateando vou sentindo os contornos de uma pedra ou galho ou concha
depositados no fundo, escondidos pela gua. Quando a superfcie
tranqila, no fundo pode haver um turbilho. Mas pode suceder o
contrrio. S saber quem mergulha.
ACENTUAO
Em torno de si
o guarda-chuva coloca
os pingos nos ii.
(Delores Pires)
91
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
Antes de mergulhar no lago-livro, eu sempre me deparo com a sua
superfcie. A superfcie, neste caso, a histria contada, a estrutura
bsica do enredo. Assim, a superfcie de Quincas Borba, de Machado
de Assis, a histria do amor no correspondido de Rubio por Sophia,
mulher de seu amigo Cristiano Palha. J o livro A Cidade e as Serras,
do portugus Ea de Queiroz, tem como superfcie a transformao do
cidado Jacinto, infeliz, entediado e franzino, num campons feliz e
saudvel. Essa transformao se realiza quando ele se muda da cidade
(Paris) para o campo (Tormes, povoado das serras de Portugal). Olhando
a superfcie desse livro, eu posso at armar que o personagem faz o
caminho inverso daquele proposto pela MODERNIDADE: ele saiu da
cidade e foi para o campo, libertando-se, assim, de todo o peso do viver
moderno que o oprimia e o infelicitava. Esse peso todo representado
no livro de Ea pelo progresso tecnolgico e pelos maus hbitos e falsas
relaes que o modo de vida nas cidades impe aos seus cidados.
Na superfcie do lago-livro de Ea est a MODERNIDADE mesma,
explcita, questionada, demonstrada em algumas de suas contradies.
Mas estamos ainda na superfcie do lago. E um bom leitor no se
contenta com olhar o lago de fora. Ele tem necessidade de mergulhar
no lago para sondar suas profundezas.
Quem mergulha num lago pode estar mergulhando por puro prazer
ou por ofcio de procurar algo que, se sabe, pode estar oculto sob a
gua. Eu, mergulhando, sinto prazer nos dois casos. Eu z um mergulho
no lago-livro de Ea procurando ali traos de MODERNIDADE. E
descobri que o modo de vida burgus de Jacinto, morando na cidade,
beneciando-se e entristecendo-se a um tempo, com o desenvolvimento
da indstria e da tcnica, s foi possvel atravs da transformao de
outros modos de viver que lhe foram anteriores. Repare na seguinte
passagem do livro:
Seu av, aquele gordssimo e riqussimo Jacinto a quem chamavam em Lisboa o D. Galio,
descendo uma tarde pela travessa da Trabuqueta, rente dum muro de quintal que uma parreira toldava,
escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinhola da horta saa nesse momento
um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baeto verde e botas altas de picador, que,
galhofando e com uma fora fcil, levantou o enorme Jacinto at lhe apanhou a bengala de casto de
ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos:
Oh! Jacinto Galio, que andas tu aqui, a estas horas, a rebolar pelas pedras?
E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o Sr. Infante D. Miguel!
(...) E quando soube que o Sr. D. Miguel, com dois velhos bas amarrados sobre um macho, tomara
o caminho de Sines e do nal desterro Jacinto Galio correu pela casa, fechou todas as janelas como
num luto, berrando furiosamente:
Tambm c no co! Tambm c no co!
Arco-ris
Helena Kolody
Arco-ris no cu.
Est sorrindo o menino
que h pouco chorou.
92 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
O modo de ser burgus, moderno, de Jacinto o resultado de
transformaes sociais e humanas anteriores a ele. Debaixo da superfcie
do seu lago-livro, Ea nos mostra as mudanas que a MODERNIDADE
provocou transformando o modo de ser medieval e monrquico (D.
Galio e o Infante D. Miguel), substituindo-os pela agitao urbana
e industrial que ganhou espao com o desenvolvimento das cidades.
Jacinto se bate, dividido entre os benefcios e malefcios decorrentes
dessa mudana.
Tambm o velho Machado, de Quincas Borba, oculta um trao de
MODERNIDADE sob a superfcie do seu lago. Trata-se da passagem
em que Rubio imagina as solenidades de seu casamento:
Antes de cuidar da noiva, cuidou do casamento. Naquele dia e nos outros, comps de cabea as
pompas matrimoniais, os coches se ainda os houvesse antigos e ricos, quais ele via gravados nos
livros de usos passados. Oh! grandes e soberbos coches! Como ele gostava de ir esperar o Imperador,
nos dias de grande gala, porta do pao da cidade, para ver chegar o prstito imperial, especialmente
o coche de Sua Majestade, vastas propores, fortes molas, nas e velhas pinturas, quatro ou cinco
parelhas guiadas por um cocheiro grave e digno! Outros vinham, menores em grandeza, mas ainda
assim to grandes que enchiam os olhos.
Um desses outros, ou ainda um menor podia servir-lhe s bodas, se toda a sociedade no estivesse
j nivelada pelo vulgar cup.
Nessa passagem, o narrador de Quincas Borba percebe um
dos efeitos da produo em srie de bens, produo industrial. Os
coches, carruagens amplas e espaosas, provavelmente fabricadas
sob encomenda, puxadas por vrios cavalos, deram lugar ao cup,
menor, puxado por dois cavalos apenas e produzido em srie. Das
palavras do narrador se deduz que a produo em srie pela indstria
nivela, vulgariza. E isso aponta, tambm, para as diferentes classes de
consumo. Nesse ponto da leitura, eu me lembrei de um outro texto
que me coloca um pouco frente na linha da MODERNIDADE, que
aponta para a evoluo dos meios de transportes. Trata-se do poema
Trem de Ferro, de Manuel Bandeira:
TREM DE FERRO
Caf com po
Caf com po
Caf com po
Virge Maria que foi isto maquinista?
Agora sim
Caf com po
Agora sim
Voa, fumaa
Corre, cerca
93
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita fora
Muita fora
Muita fora
O...
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
De ingazeira
Debruada
No riacho
Que vontade
De cantar
O...
Quando me prendero
No canavi
Cada p de cana
Era um oci
O...
Menina bonita
Do vestido verde
Me d tua boca
Pra mat minha sede
O...
Vou mimbora vou mimbora
No gosto daqui
Nasci no serto
Sou de Ouricuri
O...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que s levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...
(Manuel Bandeira)
Deixei a sombra em casa
E me queimei por a
Como uma brasa.
(Millr Fernandes)
MOMENTO
Chuva de vero
bate janela e com ela
vem a solido...
(Delores Pires)
94 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Eu acabei de mostrar para voc como fao quando estou diante
de um lago-livro. Primeiro eu olho para a sua superfcie, depois eu
mergulho nele. Durante o meu mergulho, eu posso estar procurando
algo especco (no meu caso, traos de MODERNIDADE) ou posso ir
simplesmente achando idias ao acaso, lembranas de outros textos
que eu li, de outros mergulhos em outros lagos, como foi o caso dessa
lembrana que eu tive do poema de Manuel Bandeira.
Mas, ser que aps ver como eu fao uso dos meus culos, voc j tem alguma idia formada
sobre o que MODERNIDADE? As pistas que eu j lhe dei permitem a voc formular alguma idia
sobre esse assunto?
ATIVIDADE
J que estamos falando de MODERNIDADE, voc sabia que ler um
livro uma atitude moderna? , porque antes da inveno da imprensa
por Gutemberg, em 1452, as idias circulavam predominantemente
atravs da linguagem oral. As poucas pessoas letradas, geralmente um
padre, liam seus textos e depois repassavam as idias neles contidas
para seus pblicos, geralmente is atentos ao sermo do pregador.
Essa era praticamente a nica forma da maioria iletrada participar do
pensamento humano. Tambm a circulao das idias era restrita antes
da inveno da imprensa. Os textos eram escritos em couro de animal
ou num rolo vegetal chamado pergaminho e copiados pelos padres que
tentavam, assim, evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse
por causa do apodrecimento do material em que estavam escritos.
Tais padres caram conhecidos como monges copistas. Mesmo logo
depois da inveno da imprensa, os primeiros livros tinham um formato
diferente dos nossos livros, eram bem maiores e de difcil manuseio.
Embora tenha havido, desde aquela poca at hoje, um sensvel
aumento no nmero de pessoas letradas, esse nmero ainda deixa a
desejar. Muitas pessoas ainda so analfabetas. Alm disso, h muitas
pessoas alfabetizadas que no lem. E no basta ser alfabetizado
para ser letrado. Veja s, mesmo sem o livro ter chegado em todos
os lugares onde poderia chegar, ele j est se transformando. Est
trocando as pginas de papel pelas telinhas dos computadores. Coisas
da MODERNIDADE.
A MODERNIDADE mesmo, ningum sabe ao certo quando comeou.
Nem ningum sabe como terminar, embora, olhando-se para os rastros
de destruio que ela vai deixando, possa-se fazer uma previso no
muito otimista. Ela um impulso ativo para a transformao geral e
mudana, que vem desde o tempo dos descobrimentos, passando pelas
revolues que destronaram as realezas, tambm pelas revolues
industriais e tecnolgicas, pela urbanizao das cidades, chegando
aos dias de hoje em que, ao ter ao p de si todo o Planeta Terra,
95
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
mapeado, rastreado, o homem volta-se para o espao. Cames, um
poeta de Portugal, l pelos idos de 1500, j apontava essa tendncia
de mudana:
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a conana;
Todo o mundo composto de mudana,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperana;
Do mal cam as mgoas na lembrana,
E do bem (se algum houve), as saudades.
O tempo cobre o cho de verde manto,
Que j coberto foi de neve fria,
E, em mim, converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se a cada dia,
Outra mudana faz, de mor espanto,
Que no se muda j como soa.
Cames
Voltemos, ainda, ao livro de Ea de Queiroz, antes de terminar
esta aula. Observe o seguinte fragmento em que o narrador mostra as
idias de Jacinto, antes de mudar-se para Tormes:
Ora nesse tempo Jacinto concebera uma idia... Este Prncipe concebera
a idia de que o homem s superiormente feliz quando superiormente
civilizado. E por homem civilizado o meu camarada entendia aquele que,
robustecendo a sua fora pensante com todas as noes adquiridas desde
Aristteles, e multiplicando a potncia corporal dos seus rgos com todos
os mecanismos inventados desde Termenes, criador da roda, se torna
um magnco Ado, quase onipotente, quase onisciente, e apto portanto a
recolher dentro de uma sociedade e nos limites do Progresso (tal como ele
se comportava em 1875) todos os gozos e todos os proveitos que resultam
de Saber e de Poder (...). O nosso inventivo Jorge Carlande, reduzira a
teoria de Jacinto, para lhe facilitar a circulao e lhe condensar o brilho, a
uma forma algbrica:
Suma cincia
X = Suma Felicidade
Suma potncia
Ea de Queiroz
Vem c passarinho
E vamos brincar ns dois
Que no temos ninho.
Issa.
96 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Este processo de mudana que chamamos MODERNIDADE foi
movido pelos mais diversos motivos e desejos humanos, um deles
a esperana utpica de melhorar a prpria espcie. A palavra
MODERNIDADE est umbilicalmente ligada a outras duas palavras:
civilizao e progresso. Progresso, por sua vez, pressupe evoluo,
melhoria.
Se voc vivesse antes do surgimento da indstria txtil e precisasse
de roupas, voc mesmo teria que faz-las, ou ento procurar um alfaiate
para faz-las sob medida. Produo artesanal, personicada. Agora,
no. Voc, quando precisa de calas, vai loja. A loja, por sua vez, no
compra as calas de um alfaiate. Ela as compra de uma indstria que
fabrica calas em srie. Produo industrial. O alfaiate, antes senhor
do prprio negcio, virou empregado da fbrica ao alienar sua fora
de trabalho.
Todos os benefcios advindos da MODERNIDADE tm contrapartida
em eventos que pem prova a razo do ser humano. Esses eventos so
conseqncia da ao modicadora do homem moderno. As fbricas
trouxeram o desenvolvimento geral e o emprego. Mas trouxeram
tambm o esgotamento dos recursos naturais, a degradao ambiental
e a concentrao de renda. Quer outro exemplo? A evoluo dos meios
de transportes e de comunicao aproxima e facilita a comunicao
entre os seres humanos, mas tambm os uniformiza como as novas
ovelhas do rebanho global. Antes, levava-se alguns dias para ir at o
Rio Grande do Sul ou at o Nordeste, por exemplo. Sofria-se muito
nessas viagens, feitas a p ou em lombo de animais, por estradas
esburacadas e poeirentas ou pela beira da praia. E, quando o viajante
chegava, encontrava diferenas no modo de vestir, de comer, de lidar
com as preocupaes da vida. O traje do gacho, botas, bombacha,
plio; as roupas de couro do sertanejo, as saias rendadas das baianas.
Hoje se vai ao Rio Grande do Sul ou ao Nordeste em poucas horas,
de avio. E se encontra um povo vestido igual a ns, comendo no
shopping center, conversando sobre futebol ou coisas que passam na
televiso.
Algum disse que a MODERNIDADE como um trem que anda
em desabalada carreira fora dos trilhos. Sem direo denida, um
viajante deste trem v sempre novas paisagens, mas v tambm o
rastro de destruio que este trem, correndo fora dos trilhos, deixa em
sua passagem.
Agora com voc. Nas pginas seguintes, h alguns desaos
propostos sua ao criativa.
V at a biblioteca de sua escola e pea para consultar um Atlas atualizado. Observe, atentamente,
no Atlas, o Mapa Mundi. Repare na distribuio dos continentes e nos desenhos que eles formam.
ATIVIDADE
rio do mistrio
que seria de mim
se me levassem a srio?
(Paulo Leminski)
97
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
Compare o Mapa Mundi consultado com os dois mapas mostrados a seguir. Converse com seus
amigos sobre as diferenas entre eles. Quais transformaes humanas esto por trs das diferenas
entre os mapas? Quais as coisas boas que voc percebe atrs dessas transformaes? Quem se
beneciou delas? Quem saiu prejudicado?
DREYER-EIMBCKE, Oswald. O descobrimento da Terra - Histria e histrias da aventura cartogrca
Noite
1993
Helena Kolody
Luar nos cabelos.
Constelaes na memria.
Orvalho no olhar.
O TESOURO dos mapas: A Cartograa na formao do Brasil: Exposio da Coleo Cartogrca do Instituto Cultural
Banco Santos: CD-ROM. So Paulo: Banco Santos, 2002.
98 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Agora leia os dois textos a seguir:
O Co e o Frasco.
Meu belo co, meu bom co, meu querido tot, aproxime-se e venha
respirar um excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade.
E o co, mexendo o rabo, o que , acho, nesses pobres seres, o sinal
correspondente ao riso e ao sorriso, aproxima-se e curiosamente pousa o
mido nariz no frasco aberto; depois, subitamente recuando de pavor, late
para mim, guisa de reprovao
Ah, miservel co, se lhe tivesse oferecido um embrulho de excrementos
o teria farejado com delcia e talvez devorado. Assim, at voc, indigno
companheiro de minha triste vida, se parece com o pblico, a quem nunca
se devem apresentar perfumes delicados que o exasperem, mas somente
imundcies cuidadosamente escolhidas. (Charles Baudelaire)
A educao
Nos arredores da Universidade de Stanford, conheci outra universidade,
no to grande, que d cursos de obedincia. Os alunos, ces de todas
as raas, cores e tamanhos, aprendem a no ser ces. Quando latem, a
professora os castiga com um belisco no focinho ou com um doloroso
tiro na coleira de agulhes de ao. Quando calam, a professora lhes
recompensa o silncio com guloseimas. Assim se ensina o esquecimento
de latir. (Eduardo Galeano)
Esses dois textos fazem referncia a que modicaes trazidas pela MODERNIDADE? Faa um
texto reetindo sobre esta questo. Mostre-o ao seu professor e converse com seus amigos sobre as
idias que voc teve a partir das leituras.
ATIVIDADE
MUDANA
Cheia de neblina
a cidade, em verdade
foge da rotina.
(Delores Pires)
99
Sobre a MODERNIDADE ou como ler um livro
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
ASSIS, M. Quincas Borba. Rio de Janeiro: W. M. Jackson Inc. Editores,
1946.
BANDEIRA, M. Estrela da Vida Inteira. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1974.
BAUDELAIRE, C. O Spleen de Paris. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
BAUMAN, Z. Modernidade e Ambivalncia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1999.
_________________.O Mal Estar da Ps Modernidade. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1998.
CAMES, L. V. Redondilhas, canes e sonetos. Rio de Janeiro: Real
Gabinete Portugus de Leitura, 1980.
DREYER-EIMBCKE, O. O descobrimento da Terra - Histria e histrias
da aventura cartogrca. So Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1992.
GALEANO, E. De pernas pro ar - A escola do mundo ao avesso. Porto
Alegre: L&PM, 1999.
QUEIROZ, E. A cidade e as serras. So Paulo: Hedra, 2000.
100 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
101
A Mquina do Tempo
Lngua Portuguesa e Literatura
8
A MQUINA
DO TEMPO
Carmen Rodrigues Fres Pedro
1
1
Colgio Estadual Castro Alves - Cornlio Procpio - PR
possvel viajar no tempo? Quais
os meios de que dispomos para
tal?
Morta no cho
A sombra
uma comparao.
(Millr Fernandes)
102 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Um passeio pelo tempo poder nos levar a
antigas concepes de mundo e nos mostrar
como essas vises primeiras se transformaram
na nossa atual perspectiva de olhar para o
mundo, ancorados nos conhecimentos da
cincia.
Os primeiros seres humanos, como ns,
sentiram a necessidade de entender o mundo
em que habitavam, a sua origem, o porqu
da existncia das coisas e dos fenmenos
cotidianos. Ao contrrio de ns, no entanto,
eles no dispunham dos meios avanados
de observao de que dispomos hoje. Eles
contavam apenas com os sentidos do seu
corpo, notadamente a viso, e usavam muito a
imaginao. Podemos armar que as primeiras
explicaes para a existncia do mundo e
de seu funcionamento eram de natureza
mitolgica. Voc sabe o que mito ou viso
mitolgica de mundo? As atividades propostas,
na seqncia, tm como objetivo ajud-lo a
responder a essa questo.
Pesquise num dicionrio os signicados das palavras mito e mitologia.
Leia os seguintes textos:
- da Bblia, leia Gn 1 at 2, 1-4 // J 38, 1-41.
- do livro As mais belas lendas da mitologia, de Jos Feron, mile Genest e Marguerit Desmurger,
que est na biblioteca da sua escola, leia o captulo intitulado Urano e Cibele, Tit, Crono e
Ria.
O que essas distintas vises tm em comum? Como a Terra aparece nelas?
PESQUISA
w
w
w
.
s
a
t
u
r
n
i
s
m
o
.
c
o
m
Esses so apenas alguns exemplos de textos mticos. Podemos
dizer que o pensamento mitolgico foi uma das primeiras formas de
pensar do ser humano. Mas, o aprimoramento das suas capacidades de
observao, a inveno de novos aparelhos e o surgimento de novas
tcnicas, aos poucos, foram efetuando uma transformao nessa forma
de pensar, tornando-a racional. O pensamento mtico cedeu lugar ao
pensamento racional, cientco.
Se, para os antigos, a Terra era plana, era o centro do universo
com o Sol girando em seu redor, ns adquirimos a noo de nossa
pequenez: habitamos um planeta rotundo, entre outros existentes no
103
A Mquina do Tempo
Lngua Portuguesa e Literatura
nosso sistema solar. Sabemos que estamos
numa viagem galctica constante em torno do
sol. E todo o sistema solar, com o Sol, a Terra,
a lua e os outros planetas viajam juntos rumo
ao pex, estrela Vega, da Constelao de
Lira. Sabemos que o Sol a estrela principal
do nosso sistema planetrio, mas sabemos
que tambm existem outros sis, em outras
galxias em movimento. E no espao sideral,
talvez innito, samos de uma noo de mundo
circunscrita nossa existncia e passamos a
ter uma noo de um universo mais amplo,
mais vasto e complexo, que se espalha pelo
espao sob os inuxos da colossal exploso
inicial que a Fsica chama de Big Bang.
H quem diga que algumas das luzes dessa
exploso, aps uma viagem no tempo/espao,
estejam sendo vistas por ns, habitantes da
Terra, somente agora.
w
w
w
.
b
i
b
l
e
l
i
f
e
.
o
r
g
/
Big Bang
A propsito, h no livro didtico de Filosoa um captulo que talvez possa ajud-lo a entender melhor
essa transformao: Do Mito Filosoa.
Tambm o livro chamado O Mundo de Soa, de Jostein Gaarder, que est na biblioteca da escola,
traz interessantes conhecimentos a respeito desta transformao, do ponto de vista da losoa.
Leia os captulos referentes ao Renascimento e ao Barroco e anote em seu caderno um resumo
da viso do universo a partir de Newton. Seu pensamento se enquadra dentro da mitologia ou
da cincia? Quais princpios, segundo ele, explicariam a universalidade dos fenmenos? O que
prende a lua na rbita da Terra e a Terra na rbita do Sol?
ATIVIDADE
Na esteira dessas teorizaes da Fsica, chegou-se ao conceito de
buraco negro. Imagine um corpo celeste muito, muito grande, um
corpo de grande massa. Esse corpo seria um atrator potencial de corpos
com massa menor que a sua, e mesmo de corpos sem massa, que se
precipitariam em sua direo. E cada um deles, ao cair, integraria a
sua massa naquele gigante que o atraiu. A massa desse corpo atrator
seria continuamente aumentada, potencializando, cada vez mais, o seu
poder de atrao. Isso, indenidamente, at o ponto em que esse
gigante atingisse uma massa tal que, atravs de uma fora gravitacional
incomensurvel, comeasse a atrair para dentro de si as suas prprias
beiradas. O gigante comearia a encolher... a gravidade a aumentar
mais e mais... quanto mais corpos celestes se precipitassem em sua
direo, maior seria a sua massa e menor o seu tamanho.
104 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Esses corpos existem e com uma gravidade
to grande que nem a luz pode escapar de
sua fora de atrao, da o nome de buraco
negro.
No livro didtico de Fsica, h um Folhas,
intitulado Gravitao, que traz informaes
mais detalhadas sobre os buracos negros. O
desenho a seguir uma representao, feita
pela Nasa, de um buraco negro.
O termo buraco no tem o sentido usual,
mas traduz a propriedade de que os eventos
em seu interior no so vistos por observadores
externos. E essa caracterstica acentua a carga
de mistrio que ronda esse assunto.
Bem, vocs podem se perguntar, e o que isso tem a ver com
viagens no tempo? Ns ainda no chegamos a essa possibilidade, mas
a cincia tem seus caminhos... Leia o texto que segue, a respeito de
uma extenso do buraco negro:
w
w
w
.
g
s
f
c
.
n
a
s
a
.
g
o
v
Buraco Negro
Uma das muitas hipteses da Fsica que causam perplexidade a do Buraco de Verme.
A especulao cientca sobre o buraco de verme foi proposta por Albert Einstein e Nathan
Rosen em 1935, como uma extenso do conceito de buracos negros. A teoria bsica que uma
srie de pontos, que mudam constantemente de posio, conectam diferentes partes do Univer-
so permitindo viagens de um lugar do espao-tempo para outro sem as limitaes comuns do
espao. Uma maneira de idealiz-lo pensar no espao como um interminvel queijo suo dota-
dos de contnuos buracos formados com tneis que se interconectam. A tese estabelece a pos-
sibilidade de uma viagem para fora da nossa regio local de espao-tempo para outra regio do
mesmo universo. Ou ainda uma possvel conexo que pode existir entre o nosso universo e um
outro universo. Essa conexo chamada de ponte Einstein-Rose.
http://www.geocities.com/pinetjax/11.htm
H um desenho que esquematiza
o buraco de verme:
105
A Mquina do Tempo
Lngua Portuguesa e Literatura
E a coisa mais bela que o homem pode experimentar o mistrio. esta a emoo fundamental
que est na raiz de toda cincia e arte. O homem que desconhece esse encanto, incapaz de sentir
admirao e estupefao, esse j est, por assim dizer, morto, e tem os olhos extintos. (...)
Einstein
Se voc tivesse a chance de passar agora por um buraco desses, para que tempo gostaria de
viajar? Por qu?
E se voc fosse parar em um outro universo, como ele seria?
Selecione uma das perguntas acima e utilize a fora do seu conhecimento e da sua imaginao
para produzir um texto que esboce uma resposta.
ATIVIDADE
Se os buracos de verme permitem viagens
no tempo, coisa que ainda no podemos
armar camos na dependncia dos fsicos,
nas especulaes cientcas. Mas que h um
modo de viajar no tempo, inclusive para outros
universos, isso no se pode negar.
Acompanhe, a seguir, algumas dessas
viagens:
1. VIAGEM
w
w
w
.
o
r
a
c
u
l
a
r
t
r
e
e
.
c
o
m
CANO DE MUITO LONGE
Foi-por-cau-sa-do-bar-quei-ro
E todas as noites, sob o velho cu arqueado
de bugigangas,
A mesma cano jubilosa se erguia.
Acanoooavirou
Quemfez elavirar? Uma voz perguntava.
Os luares extticos...
A noite parada...
Foi por causa do barqueiro,
Que no soube remar.
Mrio Quintana
Givan. Crianas na ciranda, s/d. Arte Naif, 24x34 cm. Galeria Jacques Ardies,
So Paulo.
w
w
w
.
a
r
d
i
e
s
.
c
o
m
106 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Com relao viagem no tempo, compare o primeiro verso com o penltimo. Que signicado
pode-se atribuir s diferenas entre eles?
Que outros versos tm a mesma inteno do primeiro verso?
Que sentido podemos atribuir expresso velho cu arqueado de bugigangas?
Distribua os versos do poema de Mrio Quintana no esquema do Buraco de verme, de acordo
com a passagem de um tempo ao outro, marcando o ponto de mudana de uma realidade
outra.
A ilustrao do Buraco de verme se encontra na pgina 202.
ATIVIDADE
2. VIAGEM
CANTIGA DE RECORDAR
Doce lembrana orvalhada
De madrugadas antigas.
Fumaa de chamin
subindo na manh fria.
Florescida malva-rosa
debruada no jardim.
Uma revoada de sonhos
na vida que amanhecia.
Cantiga de recordar...
Ai que saudade de mim!
Helena Kolody
Por que os poetas utilizaram as palavras cano e cantiga nos ttulos dos poemas?
Em Cantiga de recordar, descreva, em prosa, o cenrio para onde a saudade levou a poeta.
Com o mesmo procedimento utilizado no poema de Mrio Quintana, distribua, no buraco de
verme, presente na pgina 203, o poema de Helena Kolody.
ATIVIDADE
107
A Mquina do Tempo
Lngua Portuguesa e Literatura
3. VIAGEM
Entro na vida ao entrar na histria.
O discurso histrico [...] objetiva trazer o passado ao presente. Revive ou ressuscita o
passado, procurando restaur-lo atravs das marcas que ele deixou. Mas essa restaura-
o do passado ser feita atravs de um discurso realizado no presente, por um homem
do presente. O discurso histrico ser a imbricao do discurso do passado, do aconte-
cido, com o discurso do presente, de quem relata.
Nesse sentido, a histria vai caminhar imbricando em seu discurso tanto o esclareci-
mento de sua prpria atividade produtiva como a sua insero no conjunto e na sucesso
de produes principalmente histricas, mas tambm no histricas, das quais ela prpria
um efeito. (BACCEGA, 2003, p. 88)
O discurso literrio tambm se alimenta de outros discursos,
literrios ou no, j que todos se utilizam da matria-prima palavra, cuja
verdadeira substncia o fenmeno social da interao verbal, quando
se estabelece um verdadeiro dilogo entre os discursos. Voc viu este
dilogo nos poemas de Quintana e de Helena Kolody. Do ponto de
vista da Histria da Literatura, no entanto, talvez no se devesse falar
de uma restaurao do passado, mas de uma ressurgncia do passado
no ato da leitura. Por exemplo, a ao do descobrimento do Brasil por
Pedro lvares Cabral um fato histrico do passado e no ocorreu
seno naquele 21 de abril de 1500; j a Carta do Achamento do Brasil
um texto do passado que se atualiza a cada leitura.
Relate um fato de sua vida, entrelaando discursos que marcaram o seu passado e que, de
alguma forma, se reetem no seu presente.
ATIVIDADE
4. VIAGEM
TELECO, O COELHINHO
Moo, me d um cigarro?
A voz era sumida, quase um sussurro. Permaneci na mesma posio em que me encontrava, frente
ao mar, absorvido com ridculas lembranas.
O importuno pedinte insistia:
Moo, oh! Moo! Moo, me d um cigarro?
108 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Ainda com os olhos xos na praia, resmunguei:
Vai embora, moleque, seno chamo a polcia.
Est bem, moo. No se zangue. E, por favor, saia da minha frente, que eu tambm gosto de ver
o mar.
Exasperou-me a insolncia de quem assim me tratava e virei-me, disposto a escorra-lo com
um pontap. Fui desarmado, entretanto. Diante de mim estava um coelhinho cinzento, a me interpelar
delicadamente:
Voc no d porque no tem, no , moo?
O seu jeito polido de dizer as coisas comoveu-me. Dei-lhe o cigarro e afastei-me para o lado, a m de
que melhor ele visse o oceano. No fez nenhum gesto de agradecimento, mas j ento conversvamos
como velhos amigos. Ou, para ser mais exato, somente o coelhinho falava. Contava-me acontecimentos
extraordinrios, aventuras tamanhas que o supus com mais idade do que realmente aparentava.
Ao m da tarde, indaguei onde ele morava. Disse no ter morada certa. A rua era seu pouso habitual.
Foi nesse momento que reparei nos seus olhos. Olhos mansos e tristes. Deles me apiedei e convidei-
o a residir comigo. A casa era grande e morava sozinho acrescentei.
A explicao no o convenceu. Exigiu-me que revelasse minhas reais intenes:
Por acaso, o senhor gosta de carne de coelho?
No esperou pela resposta:
Se gosta, pode procurar outro, porque a versatilidade o meu fraco.
Dizendo isto, transformou-se numa girafa.
noite prosseguiu serei cobra ou pombo. No lhe importar a companhia de algum to
instvel?
Respondi-lhe que no e fomos morar juntos.
Chamava-se Teleco.
[...]
(Murilo Rubio)
Procure, na biblioteca da escola, o livro de Murilo Rubio, O Pirotcnico Zacarias, leia integralmente
o conto Teleco, o coelhinho e analise:
Que elementos estabelecem o universo da realidade fantstica?
Qual a realidade concreta espelhada por esse universo fantstico?
Produza um texto narrativo em que uma realidade fantstica espelhe uma realidade concreta.
ATIVIDADE
109
A Mquina do Tempo
Lngua Portuguesa e Literatura
5. Viagem
Leia a epgrafe do livro que est na biblioteca da sua escola chamado Memrias Pstumas de
Brs Cubas, de Machado de Assis.
Responda: que diferena h entre buraco de verme e buraco do verme?
Como o captulo sete desse livro pode se relacionar com estas viagens sobre as quais estamos
falando?
ATIVIDADE
SUGESTO
Na literatura brasileira, temos muitos livros de memrias, que constituem viagens no tempo:
Memrias Pstumas de Brs Cubas, de Machado de Assis ( claro, no poderia faltar);
Alegres Memrias de um Cadver, de Roberto Gomes;
Quase Memria, de Carlos Heitor Cony;
Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz;
Memrias de Um Sargento de Milcias, de Manuel Antnio de Almeida;
O Ateneu, de Raul Pompia;
Memrias do Crcere, de Graciliano Ramos.
Referncias Bibliogrcas:
BACCEGA, M. A. Palavra e discurso: histria e literatura. So Paulo: tica,
2003.
KOLODY, H. Sinfonia da Vida. Curitiba: D.E.L./Letraviva, 1997.
MARTIN CLARET. (Coord. Editorial). O Pensamento vivo de Einstein.
So Paulo: Martin Claret, 1984.
RUBIO, M. O Pirotcnico Zacarias. So Paulo: tica, 1974, p.21-22.
QUINTANA, M. Cano de muito longe. In: 80 anos de poesia. 4 ed. So
Paulo: Globo, 1995.
110 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
111
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
9
ESTRATGIAS
DE MANIFESTAR
OPINIO
Rosana Guandalin
1
1
Colgio Estadual Narciso Mendes - Santa Isabel do Iva - PR
ue pas deve controlar o mar
subterrneo que o Aqfero
Guarani? Por qu?
Se o co uivante
A lua vira
Quarto-minguante.
(Millr Fernandes)
112 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Aqfero Guarani: reserva de preocupao
Muitos conitos tm acontecido ao longo da histria da humanidade
devido a disputas de poder e domnio sobre territrios, rotas comerciais,
sobre regies produtivas (agrcolas, minerais), conquistas espaciais.
Segundo especialistas, o conito do futuro ser pelo domnio da gua
potvel do planeta. A questo da gua j fonte de discrdia entre
pases como Israel e Palestina.
Menos de 1% da gua doce disponvel no mundo provm de fontes renovveis. Uma parte
considervel dessa porcentagem est sob os ps de brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios.
Na regio que engloba o centro-sul do Brasil, o nordeste argentino, o Uruguai e o Paraguai, localiza-se
o Aqfero Guarani, um gigantesco manancial de bilhes de litros de guas subterrneas ainda pouco
aproveitado. Ainda no se sabe com exatido quanto desses recursos pode ser explorado e de que
forma, mas j h polmica em relao ao assunto. Ambientalistas preocupam-se com a sustentabilidade
do aqfero e com a soberania em relao a ele, enquanto os recursos j esto sendo utilizados nos
quatro pases.
http://www.uniagua.org.br/website/default.asp?tp=3&pag=aquifero.htm#aquifero2
Essa preocupao justicada pela importncia estratgica da
gua na atualidade. O consumo de gua no planeta est aumentando
enquanto as fontes esto secando.
Outra preocupao a presena estrangeira. O Aqfero Guarani
localiza-se no Centro-Leste do Continente Sul-Americano, abrangendo
uma rea prxima de 1,2 milho de km. J existe um batalho do
exrcito dos EUA na fronteira entre o Brasil, Argentina e Paraguai, que
faz fotos do Aqfero atualizadas a cada minuto, o que lhes permite
saber mais a respeito do Aqfero do que os pases sob os quais ele
se encontra. A rea de distribuio do Aqfero se estende por quatro
pases:
Brasil: 840 mil km,
Argentina: 225 mil km
Paraguai: 71,7 mil km
Uruguai: 58,5 mil km
No Brasil ocorre em 8 Estados:
Mato Grosso do Sul: 213,2 mil km
Rio Grande do Sul: 157,6 mil km
So Paulo: 155,8 mil km
Paran: 131,3 mil km
Gois: 55 mil km
Minas Gerais: 51,3 mil km
Santa Catarina: 49,2 km
Mato Grosso: 26,4 mil km
http://www.ambientebrasil.com.br
Aqfero Guarani.
www.cnpma.embrapa.br
113
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
Na seqncia, voc ter dois comandos para a produo textual. Escolha um deles e mos
obra.
Suponha, a partir dessas informaes, que se v decidir, internacionalmente, quem deve exercer
o controle sobre o aqfero, e que voc foi selecionado para manifestar sua opinio num texto a
ser veiculado num jornal. Escreva esse texto.
Como foi visto no primeiro pargrafo, segundo especialistas, o conito do futuro ser pelo
domnio da gua potvel do planeta. Faa um texto expressando sua opinio como resposta
seguinte pergunta: se o homem sabe de um risco futuro de um conito por causa da gua, e
no faz nada para evit-lo, o homem um animal racional?
ATIVIDADE
Estratgias de manifestar opinio
Numa conversa entre amigos, opinando sobre algum assunto da
atualidade, como a questo do Aqfero Guarani, por exemplo, ou
sobre a presena de bases militares estrangeiras fora de seus pases de
origem, as pessoas normalmente se portam de maneira muito diferente
daquela que adotam quando devem manifestar opinies por escrito,
especialmente se esse texto destinar-se publicao.
Que diferenas h entre falar sobre o Aqfero Guarani numa conversa entre amigos e num
texto escrito? Essas diferenas acontecem somente quando falamos do Aqfero ou podemos
generaliz-las para outros temas?
ATIVIDADE
Siga esta ttica e evite
riscos de encher lingia:
1. No deixe suas opinies se esgotarem logo nas primeiras linhas:
deve-se dar uma idia clara de para onde as coisas esto indo, mas
se voc disser tudo de uma vez, no ter como continuar.
2. No que preso s suas prprias opinies, mas caminhe com a
ajuda de opinies diferentes. Rebater, criticar, mostrar desconana
frente a determinadas idias, diferentes das suas, mais fcil do
que car explicando o que j disse.
114 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
3. Parta de um detalhe, de uma questo menos importante, do assunto
abordado, para chegar aos poucos at o aspecto central que voc
quer abordar. Isso torna o texto mais concreto, podendo criar um
certo suspense no leitor, sem parecer que est enchendo lingia.
Pois encher lingia, num texto argumentativo, quase sempre
inevitvel. O importante voc ngir que no est enchendo
lingia.
(Adaptado de Marcelo Coelho. Folha de S. Paulo )
Para avaliar a adequao dos textos produzidos pela turma, troque o texto com um colega e analise-o.
Formule um parecer abordando os seguintes aspectos:
a) Qual o tema/assunto do texto?
b) Identique os argumentos que o colega utilizou para defender a opinio sobre a gerncia do
Aqfero.
c) Sugira a retirada do que voc julgar encheo de lingia, justicando.
ATIVIDADE
Na verdade, se voc parar para pensar, perceber que o tempo
todo estamos emitindo nossas opinies e pontos de vista sobre os
mais variados assuntos, seja em conversa com amigos, com a famlia,
na escola, etc. Tambm estamos expostos aos textos veiculados
pela mdia (escrita e falada), que a ttulo de nos manter atualizados,
despejam informaes sobre nossas cabeas. As notcias, as resenhas,
os artigos, os editoriais dos jornais e revistas, alm de apresentarem
os fatos, veiculam opinies e pontos de vista de seus enunciadores
(autores, diretores, proprietrios) implicitamente, e preciso estar
atento a esses detalhes para podermos formar a nossa opinio e no
nos deixarmos ser persuadidos por opinies alheias. Todo texto tem
poder de persuaso, mesmo os textos jornalsticos/opinativos, pois o
que se pretende convencer o leitor da veracidade dos argumentos
apresentados, fazer com que acreditemos neles.
Como descobrir as estratgias utilizadas nos
textos opinativos?
Para entender um texto, uma boa leitura fundamental. Para falar,
opinar sobre alguma coisa, preciso ser um bom leitor. atravs
da leitura que voc identica opinies e argumentos empregados
pelo enunciador, e as informaes implcitas no texto (algo que
est envolvido naquele contexto, mas no revelado, deixado
subentendido, apenas sugerido). J aconteceu de voc ler um texto
BUSCA
De to longe estar
lamento e meu pensamento
corre a te buscar.
(Delores Pires)
115
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
ou ouvir uma piadinha e no entender nada? Isso acontece porque,
muitas vezes, no lemos as informaes implcitas, ou seja, fazemos
uma leitura supercial, literal do texto.
Voc j deve ter ouvido a expresso ler nas entrelinhas. J parou para pensar no que isso quer
dizer? Argumente.
ATIVIDADE
Sobre as entrelinhas, leia o texto abaixo e veja o equvoco que ocorreu, segundo o autor
Cludio de Moura e Castro.
DA ARTE BRASILEIRA DE LER O QUE NO EST ESCRITO
(Cludio de Moura e Castro)
Terminando os poucos anos de escola oferecidos em seu vilarejo
nas montanhas do Lbano, o jovem Wadi Haddad foi mandado para Bei-
rute para continuar sua educao. Ao v-lo ausente de casa por um par
de anos, a vizinha aproximou-se cautelosa de sua me, jurou sua ami-
zade famlia e perguntou se havia algum problema com o rapaz. Se to-
dos os coleguinhas aprenderam a ler, por que ele continuava na escola?
Anos depois, Wadi organizou a famosa Conferncia de Jontiem, Educa-
o para Todos, mas isso outro assunto.
Para a vizinha libanesa, h os que sabem ler e h os que no sabem.
No lhe ocorre que h nveis diferentes de compreenso. Mas infelizmente temos todos o vcio de
subestimar as diculdades na arte de ler, ou, melhor dito, na arte de entender o que foi lido. Saiu
da escola, sabe ler.
O ensaio de hoje sobre cartas que recebi dos leitores de VEJA, algumas generosas, outras
iradas. No tento rebater crticas, pois minhas farpas atingem tambm cartas elogiosas. Falo da
arte da leitura.
preocupante ver a liberdade com que alguns leitores interpretam os textos. Muitos se rebe-
lam com o que eu no disse (jamais defendi o sistema de sade americano). Outros comentam
opinies que no expressei e nem tenho (no sou contra a universidade pblica ou a pesquisa).
H os que adivinham as entrelinhas, ignorando as linhas. Indignam-se com o que acham que
eu quis dizer, e no com o que eu disse. Alguns decretam que o autor um horrendo neoliberal e
decidem que ele pensa assim ou assado sobre o assunto, mesmo que o texto diga o contrrio.
No generalizo sobre as epstolas recebidas algumas de lgica modelar. Tampouco erra-
do ou condenvel passar a ilaes sobre o autor ou sobre as conseqncias do que est dizen-
do. Mas nada disso pode passar por cima do que est escrito e da sua lgica. Meus ensaios tm
colimado assuntos candentes e controvertidos. Sem uma correta participao da opinio pblica
educada, dicilmente nos encaminharemos para uma soluo. Mas a discusso s avana se a
lgica no for afogada pela indignao.
w
w
w
.
f
r
o
m
o
l
d
b
o
o
k
s
.
o
r
g
116 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Vale a pena ilustrar esse tipo de leitura com os comentrios a um ensaio sobre nosso
sistema de sade (abril de 1997). A essncia do ensaio era a inviabilidade econmica e scal
do sistema preconizado pela Constituio. Lantejoulas e meandros parte, o ensaio armava
que a operao de um sistema da sade gratuito, integral e universal consumiria uma frao
do PIB que, de to alta (at 40%), seria de implantao inverossmil.
Ningum obrigado a aceitar essa armativa. Mas a lgica impe quais so as possi-
bilidades de discordar. Para destruir os argumentos,ou se mostra que vivel gastar 40% do
PIB com sade ou necessrio demonstrar que as contas que z com Andr Medici esto
erradas. Nmeros equivocados, erros de conta, hipteses falsas, h muitas fontes possveis
de erro. Mas a lgica do ensaio faz com que s se possa rebat-lo nos seus prprios termos,
isto , nas contas.
Curiosamente, grande parte das cartas recebidas passou por cima desse imperati-
vo lgico. Fui xingado de malvado e desalmado por uns. Outros fuzilaram o que inferem ser
minha ideologia. Os que gostaram crucicaram as autoridades por negar aos necessitados
acesso sade (igualmente equivocados, pois o ensaio critica as regras e no as inevitveis
conseqncias de sua aplicao).
Meus comentaristas escrevem corretamente, no pecam contra a ortograa, as cra-
ses comparecem assiduamente e a sintaxe no imolada. Contudo, alguns no sabem ler.
Sua imaginao criativa no se detm sobre a lgica aborrecida do texto. a vitria da semi-
tica sobre a semntica.
(Veja, 8 de outubro, 1997, p.142)
Qual o tema do texto?
O que teria motivado a escrita desse texto?
Qual a crtica implcita no texto?
Que intenes h no texto e que estratgias foram utilizadas para alcan-las?
preocupante ver a liberdade com que alguns leitores interpretam os textos. Qual a relao
dessa frase com o tema tratado no texto?
Que sentido voc atribui frase que d ttulo ao texto: Da arte brasileira de ler o que no est
escrito?
ATIVIDADE
Nos meios de comunicao, escrita, como jornais e revistas,
encontramos textos especcos para manifestar opinies. Quando
nos deparamos com esses textos, j sabemos que vamos encontrar
opinies.
117
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
Pesquise, em jornais e revistas, textos escritos que possam ser caracterizados como
opinativos.
Em parceria com um colega, leia um dos textos que vocs selecionaram e analise-o, procurando
identicar o tema tratado no texto,o ponto de vista veiculado e os argumentos selecionados para
a defesa da opinio apresentada.
ATIVIDADE
Mas h, tambm, textos que fogem do modelo tipicamente opinativo
e que fazem um trabalho interessante com a linguagem e com a forma.
Rompendo com formatos pr-estabelecidos, utilizam-se de estruturas
completamente diferentes daquelas consagradas para aquele tipo de
texto (opinativo).
Leia e analise os textos abaixo:
Receita de Governo
Comida, educao, trabalho, sade, arte, todo dia, toda hora, de graa, em todos os lugares. Mais
educao, livro, msica, teatro em todos os lugares, mais comida, mais trabalho, dana de graa, arte,
mais cinemas e teatros, museu, mais escolas, livro e comida, tudo de graa, todo dia, em todos os
lugares. Social, social, social. E, se sobrar alguns centavos, paguem parte da dvida externa.
(Srgio Andreoli. Carta de leitor: Caros Amigos,ano VIII n 85/04/2004)
O texto foge do modelo tradicional de um texto argumentativo. possvel perceber a opinio
do enunciador? Qual foi a estratgia empregada nesse texto para expressar um ponto de vista
sobre o tema abordado?
Qual o texto base empregado para criar um novo sentido, expressando opinio?
Que elementos desse texto base voc precisa acionar para atribuir sentido ao texto Receita de
Governo?
ATIVIDADE
118 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Qual o sentido do ...AH! no ltimo quadrinho?
Qual a opinio implcita da personagem a respeito da poltica e dos polticos?
Quais so os indcios que podem permitir essa interpretao por parte do leitor?
E voc, o que pensa sobre o assunto?
ATIVIDADE
Leia este outro texto e analise que estratgia especca o autor
utilizou para defender uma opinio.
FILME DA CAMPANHA DO AGASALHO ACENTUA APARTHEID
O apartheid social brasileiro est no ar e no em imagens de telejornal. O comercial da
campanha do agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado, refora
sob as boas intenes a distncia que os abastados procuram manter dos miserveis. Distn-
cia, anote-se, que ultrapassa os limites da prudncia.
No lme, um menino de classe mdia vai pela calada, acompanhado da me, quando
depara com um garoto pobre, sujo e tiritando de frio. O carente aparece em preto e branco a
acentuar sua lastimvel condio. Os dois se olham por breve instante e s. Na cena seguin-
te, o primeiro aparece em seu quarto. Sua ateno despertada para um barulho que vem da
rua. Ele corre at a janela e espia o que acontece l embaixo, na frente do seu prdio.
Trata-se de uma minipasseata em prol da campanha do agasalho, composta por jovens
saudveis e ricos. Em contribuio, o menino joga pela janela um moletom vermelho. A ima-
gem nal mostra o garoto pobre do incio, vestido com o agasalho atirado pelo menino. Antes
em preto e branco, agora o pequeno miservel apresentado com todas as cores. Cores da
felicidade, que no bateu sua porta, mas despencou do alto.
119
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
o caso de vericar que tipo de solidariedade e caridade o comercial vende. Ou melhor,
caso de perguntar se o lme realmente retrata um ato solidrio, caridoso. Tudo leva a crer
que no, ao contrrio do que imaginam seus criadores e patrocinadores.
Solidariedade ou caridade implicam vnculo. Somos solidrios quando tomamos como
nossas causas alheias as diculdades de um concidado. Somos caridosos quando, ao ima-
ginar a dor do prximo, oferecemos conforto, calor. Nada disso est no lme. No existe con-
tato algum entre os dois garotos. Eles no esto, no so prximos em nenhum momento.
Ao jogar seu moletom pela janela, o menino de classe mdia parece faz-lo apenas como for-
ma de integrao com seus iguais.
O que se manifesta no ttulo? Que expectativa o ttulo possibilita?
Analise a posio do autor no primeiro pargrafo.
Qual a inteno do segundo e terceiro pargrafos?
No quarto e quinto pargrafos, que discusso proposta?
O ltimo pargrafo conclui o texto. A que outro pargrafo este se refere, especicamente?
Qual o modelo de sociedade que produz a situao veiculada no texto?
ATIVIDADE
A pobreza de um no contamina a riqueza do outro. A distncia higinica mantida, a
conscincia dos bem-nascidos apaziguada. O calor da bra sinttica substitui o calor huma-
no. E tudo podia ser to simples, bastava um gesto. Mas esse gesto no existe mais.
(SABINO,Mrio. O Estado de S. Paulo,8 jun. 1994.)
120 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
As imagens tambm so recursos de comunicao ecazes para
emitir opinies. Um bom exemplo disso so as tirinhas, as charges dos
jornais e as obras de arte.
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
n
d
e
s
.
o
r
g
.
b
r
/
i
m
p
r
e
n
s
a
/
c
h
a
r
g
e
s
O que representa a gura satirizada?
Que leitura voc faz dessa imagem?
Qual a importncia do ttulo para a leitura / interpretao desse texto?
Procure um texto opinativo escrito que fuja ao modelo padro e um texto opinativo que trabalhe
com imagens. Verique, nesses textos, que recursos foram empregados para expressar opinies,
pontos de vista. Analise as estratgias e avalie a eccia do texto de acordo com a inteno que
ele tem.
ATIVIDADE
O texto de opinio fundamentalmente um texto persuassivo,
uma vez que a inteno convencer o leitor/outro da veracidade
de nossas opinies, que so demonstradas atravs dos argumentos
selecionados.
Sempre que produzimos um texto, seja ele verbal ou visual, estamos,
na verdade, emitindo pontos de vista e desejamos convencer os nossos
interlocutores a concordarem e aceitarem a nossa opinio. Por isso, os
argumentos so to importantes, pois so eles que tornaro plausvel
ou no a crtica que fazemos.
Ao ALCAnce
121
Estratgias de manifestar opinio
Lngua Portuguesa e Literatura
Os textos que circulam nos veculos de comunicao nem sempre
apresentam opinies e pontos de vista de maneira explcita, clara,
direta. As estratgias de convencimento so muito criativas e sutis, e
podem, por vezes, nos enganar, no nos permitindo ver claramente
o que est por trs do discurso. Assim, preciso estar atento para
perceber as ideologias implcitas por detrs das palavras, evitando que
nos tornemos vtimas de manipulaes.
Para nalizar, retome o texto produzido no incio das atividades e avalie sua produo, analisando
as tticas empregadas para a construo da argumentao na defesa de sua opinio sobre a
administrao do Aqfero Guarani:
O que faltou ?
O que precisa ser melhorado? Como?
Que partes podem ser descartadas?
O que pode ser acrescentado para dar maior qualidade sua produo?
As observaes de seu colega contriburam para melhorar o seu texto?
ATIVIDADE
Referncias Bibliogrcas:
CASTRO, C. M. Da Arte Brasileira de ler o que no est escrito. Revista
Veja. 08 out. 2007. p. 142.
SABINO, M. Filme de Campanha do Agasalho acentua Apartheid.
O Estado de So Paulo. 05 Jun. 1994
Obras consultadas ONLINE
Aquifero Guarani. Disponvel em: <www.ambientebrasil.com.br.> Acesso
em: 05 de nov. 2005
BORGES, R. Ao ALCAnce. in: Disponvel em: <http://www.andes.org.br/
imprensa/charges/defaut.asp> Acesso em: 10 nov. 2005
Disponvel em: <www.portinari.org.br/ppsite/ppacervo/obrasCompl.asp?n
otacao=2744&ind=25&NomeRS=rsObras&Modo=c-> Acesso em: 02 dez.
2005
122 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
123
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
10
QUEM CONTA
UM CONTO...
Rosa Elena Bueno
1
1
Colgio Estadual Helena Kolody - Colombo - PR
oc um bom detetive?
124 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Entrevista (Rubem Fonseca)
M Dona Gisa me mandou aqui. Posso entrar?
H Entra e fecha a porta.
M Est escuro aqui dentro. Onde que acende a luz?
H Deixa assim mesmo.
M Como o seu nome mesmo?
H Depois eu digo,
M Essa boa!
H Senta a.
124 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
125
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
125
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
Tem alguma coisa para beber? Eu
estou com vontade de beber. Ah, estou
to cansada!
H Nesse armrio a tem bebida e
copos. Sirva-se.
M Voc no bebe?
H No. Como foi que voc veio
para o Rio?
M Peguei carona num fusca.
H So mais de quatro mil
quilmetros, voc sabia?
M Demorei muito, mas cheguei. S
tinha a roupa do corpo, mas no poderia
perder tempo.
H Por que voc veio?
M H, h, h, ai meu Deus! Que
coisa... s rindo.
H Por qu?
M Voc quer saber?
H Quero?
M Meu marido. Vivemos quatro
anos felizes, felizes at demais. Depois
acabou.
H Como acabou?
M Por causa de outra mulher. Uma
garota que andava com ele. Eu estava
grvida. H, h, s rindo, ou chorando,
sei l...
H Voc estava grvida...
M No dia 13 de outubro jantvamos
no restaurante, quando surgiu essa
garota, que ele andava namorando. Meu
marido estava bbado e olhava para
ela de maneira debochada, e ento ela
no agentou mais e se aproximou de
nossa mesa, falou em segredo no ouvido
dele e eles se beijaram na boca, como
se estivessem sozinhos no mundo. Eu
quei louca; quando dei conta de mim,
estava com um caco de garrafa na mo e
tinha arrancado a blusa dela, uma dessas
camisas de meia que deixa o busto bem
destacado.
H Sei... Continua.
2?
2?
2?
126 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
M Dei vrios golpes com o caco de garrafa no peito dela, com tanta fora que saiu
um nervo para fora, de dentro do seio. Quando viu aquilo, meu marido me deu um soco
na cara, bem em cima do olho; s por um milagre no quei cega. Fugi correndo para
casa. Ele atrs de mim. Eu gritava por socorro para ver se os meus parentes ouviam, eles
moravam perto de mim. Porque eu no sou co sem dono, ouviu? Ainda ontem eu dizia
na casa de dona Gisa, para uma moa, que no posso dizer que seja minha amiga, nesta
vida ningum tem amigo, ns apenas fazemos programas junto, eu dizia para ela, eu estou
aqui mas no sou co sem dono, quem encostar um dedo em mim vai ter que se ver com
minha famlia.
H Mas agora eles esto l no norte, muito longe...
M Parece que estou num teatro, h, h,...
H Voc fugiu gritando por socorro. Continue.
M Eu me tranquei dentro do quarto, enquanto meu marido quebrava todos os mveis
da casa. Depois ele arrombou a porta do quarto e me jogou no cho e foi me arrastando
pelo cho enquanto me dava pontaps na barriga. Ficou uma mancha de sangue no cho,
do sangue que saiu da minha barriga. Perdi nosso lho.
H Era um menino?
M Era.
H Continue.
M Meu pai e meus cinco irmos apareceram na hora em que ele estava chutando a
minha barriga e deram tanto nele, mas tanto, que pensei que ele ia ser morto de pancada;
s deixaram de bater depois que ele desmaiou e todos cuspiram e urinaram na cara dele.
H Depois disso voc no o viu mais?
M Uma vez, de longe, no dia em que vim embora. Ele veio me ver de muletas, com
as pernas engessadas, parecia um fantasma. Mas eu no falei com ele, sa pela porta dos
fundos, eu sabia o que ele ia dizer.
H O que que ele ia dizer?
M Ele ia pedir perdo, pedir para voltar, ia dizer que os homens eram diferentes.
H Diferentes?
M , que podiam ter amantes, que assim a natureza deles. Eu j tinha ouvido aquela
conversa antes, no queria ouvir novamente. Eu queria conhecer outros homens e ser
feliz.
H E voc conheceu outros homens?
M Muitos e muitos.
H E feliz?
M Sou, voc pode no acreditar, levando a vida que eu levo, mas sou feliz.
126 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
127
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
127
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
3?
3?
3?
128 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
H E no se lembra mais do seu
marido?
M Lembro dele apoiado nas muletas...
Me disseram que ele anda atrs de mim e
carrega um punhal para me matar. Posso
acender as luzes?
H Pode. E voc no tem medo de ser
achada por ele?
M J tive, agora no tenho mais...
Vamos, que que voc est esperando?
128 O Discurso enquanto prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
4?
4?
4?
O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
129
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
Seguindo o estilo do autor, narre, em um pargrafo, o desfecho do conto.
ATIVIDADE
Esse um conto de suspense. O predomnio de uma certa escurido, ao longo da narrativa,
no deixa evidentes algumas aes dos personagens.
Qual o efeito de se identicarem os personagens, no texto, apenas pelas letras H e M?
Criar o suspense trabalhar com recursos de linguagem para enredar o leitor numa trama,
causando-lhe estranheza e despertando sensaes.
Aponte os recursos utilizados nesse conto de Rubem Fonseca.
Busque uma denio de conto e analise Entrevista luz dessa denio.
Qual o efeito do uso de reticncias nesse conto?
ATIVIDADE
A trama que envolve o leitor acaba por provocar expectativas. Leia o poema de Antnio
Gedeo, poeta portugus:
Lio sobre a gua
Este lquido gua.
Quando pura
inodora, inspida e incolor.
Reduzida a vapor,
Sob tenso e a alta temperatura,
Move os mbolos das mquinas, que, por isso,
Se denominam mquinas de vapor.
um bom dissolvente.
Embora com excees mas de um modo geral,
Dissolve tudo bem, cidos, bases e sais.
Congela a zero graus centesimais
E ferve a 100, quando a presso normal.
[...]
130 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Justique o ttulo e escreva a estrofe nal, com quatro versos.
Que expectativa gerada pelo ttulo e pelas primeiras estrofes?
Identique os conceitos mencionados nas duas primeiras estrofes e a cincia que trabalha com
esses conceitos.
A que excees refere-se o segundo verso da segunda estrofe?
ATIVIDADE
No texto Procurando rme, outras estratgias de quebra de expectativa so utilizadas.
PROCURANDO FIRME
Esta uma histria de um prncipe e de uma princesa.
Outra histria de prncipe e princesa? Puxa vida! No h quem agente mais essas his-
trias! D um tempo!
Espera um pouco, ! Voc no sabe ainda como a histria .
Ah, isso eu sei! Aposto que tem castelo!
Ah, tem, castelo tem.
E tem rei e rainha.
Ah, rei e rainha tambm tem.
Vai me dizer que no tem drago!
Bom, pra falar a verdade tem drago!
Puxa vida! E voc vem dizer que no uma daquelas histrias chatssimas, que a prin-
cesa ca a vida inteira esperando o prncipe encantado?
Ah, v, deixa eu contar. Depois voc v se gosta. Que coisa! Desde que o Osvaldinho
inventou essa de no li e no gostei voc pegou a mesma mania...
Ento t! Conta logo, vai!
Era uma vez um castelo, com rei, rainha, prncipe, princesa, muralha, fosso em volta, pon-
te levadia e um terrvel drago na frente da porta do castelo, que no deixava ningum sair.
Mas como no deixava?
Sei l. A verdade que ele parecia muito perigoso.
E cada pessoa via um perigo no drago.
Uns reparavam que ele tinha unhas compridas, outros reparavam que ele tinha dentes
pontudos, um tinha visto que ele tinha um rabo enorme, com a ponta toda cheia de espi-
131
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
nhos... tinha gente que achava que ele era verde, outros achavam que era amarelo, roxo, cor-
de-burro-quando-foge... E saa fogo do nariz dele. Saa, sim! Por isso ningum se atrevia a
cruzar o ptio para sair de dentro das muralhas.
Mas o prncipe, desde pequeno, estava sendo treinado para sair um dia do castelo e
correr mundo, como todo prncipe que se preza faz.
Ele tinha professor de tudo: professor de esgrima, que ensinava o prncipe a usar a espa-
da; professor de berro...
Professor de berro? Essa eu nunca ouvi!
Ouviu sim. Nos lmes de Kung Fu, ou nas aulas de Karat, os caras do sempre uns
berros, que pra assustar o adversrio.
Tinha aula de berro. Tinha aula de corrida, que era para atravessar bem depressa o ptio
e chegar logo no muro... tinha aula de alpinismo, que a arte de subir nas montanhas e que
ele praticava nas paredes do castelo; tinha aula de tudo quanto lngua, tudo era para quan-
do ele sasse do castelo e fosse correr mundo pudesse falar com as pessoas e entender o
que elas diziam...Tinha aula de andar a cavalo, de dar pontaps...Tinha aula de natao, que
era para atravessar o fosso quando chagasse a hora, tinha aula do uso de cotovelo...
Ah, essa no! Voc est inventando tudo isso. Nunca ouvi falar no uso do cotovelo!
Pois o prncipe tinha aula. Ensinavam pra ele esticar o brao dobrado, com cotovelo bem
espetado e cutucar quem casse na frente.
E tinha aula de cuspir no olho... e ele at esfregava o joelho no cho, que para o joelho
car bem grosso e no machucar muito quando ele casse. E ele aprendia a no chorar toda
hora, que s vezes chorar bom, mas chorar demais pode ser uma bruta perda de tempo.
E quem tem que fugir de drago, espetar drago, enganar drago, no tem tempo para car
choramingando pelos cantos.
sCANNER
Enquanto isso, a princesinha, irm do prncipe, que era linda como os amores e tinha
os olhos mais azuis que o azul do cu, e tinha os cabelos mais dourados do que as espigas
do campo e que tinha a pele branca como as nuvens nos dias de inverno [...]
(Ruth Rocha)
w
w
w
.
x
t
e
c
.
e
s
/
~
a
g
u
i
u
1
/
c
a
l
a
i
x
/
0
5
8
c
a
s
t
e
l
l
s
.
h
t
m
132 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Procure rme e d continuidade histria...
O que caracteriza este texto como conto de fadas? E o que o torna diferente?
Qual o tempo verbal caracterstico dos contos de fadas? Qual o sentido do uso desse tempo
verbal?
No trecho que voc leu, quem so os interlocutores nos dilogos que acontecem no conto?
ATIVIDADE
Mais um conto, que vai gerar outras expectativas:
HISTRIA DE PASSARINHO
(...)
Era uma vez uma mocinha muito bonita, que morava num lugar chamado Copacaba-
na. Era uma mocinha muito prendada e com muito jeito para as coisas. Estudiosa e obe-
diente. (...)
Todos elogiavam a beleza da mocinha. Ela tinha cara bonita, olhos bonitos, pele bonita,
corpo bonito, pernas bonitas, gura bonita. Era toda bonita. Apesar disso, no era feliz a mo-
cinha. Ela sonhava com uma coisa desde pequena queria entrar para o teatro. Sua me
sempre dizia que no valia a pena, que ela podia ser feliz de outra maneira, mas no adian-
tava. O sonho da mocinha bonita era entrar para o teatro. (...)
Um dia, a mocinha estava muito triste, porque no conseguia ver realizado o seu ideal,
quando um passarinho chegou perto dela e perguntou:
Por que que voc est triste, mocinha? Voc to bonita. No devia ser triste.
Eu estou triste porque quero entrar para o teatro e no consigo respondeu a mo-
cinha.
O passarinho riu muito e disse que, se fosse s por isso, no precisava car triste. Ele ha-
via de dar um jeito. E de fato, no dia seguinte, passou voando pela janela do quarto da mo-
cinha e deixou cair um bilhetinho que trazia no bico. Era um bilhetinho que dizia: Fila 4, Pol-
trona16.
A mocinha foi e num instante conheceu o empresrio do teatro que, ao v-la, se entu-
siasmou com sua beleza. Foi logo contratada e, j nos primeiros ensaios, todos elogiavam
seu desembarao. Ela ensaiou muito, mas no contou nada pra me dela. Somente na noi-
te de estria que, antes de sair, chegou perto da me e contou tudo. A me cou triste ao
ver a lha partir para o estrelato, mas ela estava to feliz que no a quis contrariar.
E foi bom porque a sua lha fez sucesso. (...) todo mundo aplaudiu. Ela voltou para casa
contentssima e, quando ia metendo a chave no porto, ouviu uma voz dizer:
Meus parabns. Voc um sucesso.
133
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
A ela olhou pro lado espantada e viu o passarinho que a ajudara, pousado numa grade.
Ela notou que o passarinho dissera aquilo em tom amargo e quis saber:
Passarinho, voc agora que est triste. Por qu?
Foi a que o passarinho explicou que no era passarinho no. Era um prncipe encanta-
do, que uma fada m transformara em passarinho.
Oh, coitadinho! exclamou a mocinha que acabara de estrear com tanto sucesso.
O que que eu posso fazer por voc?
O passarinho ento contou o resto do encantamento. A fada m zera aquilo com ele
s de maldade. Para ele voltar a ser prncipe outra vez, era preciso que uma mocinha bo-
nita e feliz o levasse para sua casa e o colocasse embaixo do travesseiro. No dia seguinte,
o encanto ndava.
Mas eu sou uma mocinha feliz. E foi voc mesmo, passarinho, que disse que eu era
bonita. Voc e todo mundo.
E dizendo isso, apanhou o passarinho e entrou em casa com ele. Ajeitou-o bem, debai-
xo do travesseiro e, cansada que estava das emoes do dia, adormeceu.
No outro dia de manh [...]
Stanislaw Ponte Preta
Aps a leitura do texto, renam-se em grupos e, oralmente, elaborem um desfecho para o
conto. Um dos integrantes do grupo dever contar este nal para a turma.
Analisem as diferenas entre os desfechos criados. Discutam o porqu dessas diferenas.
Esse conto tambm dialoga com os contos de fadas. Indique as pistas do texto que indicam
essa relao.
Na descrio da mocinha, onde h o rompimento com o conto de fadas tradicional? Explique
este rompimento
Conforme vimos discutindo at aqui, h vrias estratgias, nos textos, para conseguir prender a
ateno. Identique, em Procurando Firme e Histria de Passarinho, as estratgias utilizadas
para provocar o leitor.
ATIVIDADE
Os textos lidos at agora relacionaram-se, de uma forma ou de outra, ao comportamento
feminino. Leia, agora, um texto diferente:
PRECONCEITO E EVOLUO
Quando Lawrence Summers, o presidente de Harvard, fez seu famoso discurso em ja-
neiro sobre a sub-representao das mulheres nos departamentos de cincia e engenha-
ria, ele expressou de maneira enftica a idia de que essa desigualdade persistente se ba-
seia em diferenas inatas.
134 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Diz-se que Summers tirou su-
as idias de um captulo do livro mui-
to aplaudido de Steven Pinker, The
Blank Slate [A lista em branco]. Nes-
se livro, Pinker usa uma miscelnea
de observaes sobre a cultura atual
e alegaes sobre os efeitos dos ge-
nes e hormnios para armar que os
homens e as mulheres so programa-
dos de modo muito diferente para fa-
zer coisas muito diferentes na vida.
Infelizmente para Pinker, enquanto
suas observaes sobre as muitas di-
ferenas no comportamento de homens
e mulheres na cultura atual so verdadeiras as mulheres prestam mais ateno no choro de
seus bebs e os homens so melhores em atirar coisas , ele precisa ser muito seletivo com
as evidncias para ligar essas muitas diferenas atividade de genes e hormnios, e no
criao e s expectativas sociais.
Pinker arma que as diferenas intelectuais entre homens e mulheres so tais que o fato
de um nmero maior de homens que de mulheres ter capacidades excepcionais em racioc-
nio matemtico e manipulao mental de objetos em trs dimenses suciente para expli-
car que no haja uma proporo equivalente de ambos os sexos entre engenheiros, fsicos,
qumicos e professores de alguns ramos da matemtica.
O que realmente irritou os cientistas dessa rea foi que, embora Summers no tenha le-
vado em conta os fatores sociais que podem atrapalhar as mulheres, existe um grande volu-
me de pesquisa que mostra os efeitos negativos persistentes da socializao e dos estere-
tipos no desempenho das mulheres em muitos campos.
Mas em toda parte encontra-se a mesma insistncia de que a cultura que nos cerca se
baseia no comportamento de nossos genes, nas estruturas evoludas de nossos crebros e
na inuncia de nossos hormnios.
(Adaptado de Natasha Walter. Especial para a Revista Prospect. Traduo: Luiz Roberto Mendes Gonalves. Disponvel em: http://noticias.uol.com.br/
midiaglobal/prospect/2005/07/01/ult2678u21.jhtm. Acesso em: 25 maio 2006.)
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
g
o
.
d
l
r
.
d
e
/
w
t
/
d
v
/
i
g
/
i
c
o
n
s
/
f
u
n
e
t
/
o
d
d
4
.
g
i
f
Em que a leitura que voc fez deste texto foi diferente da leitura dos textos anteriores?
Qual o esteretipo, feminino e masculino, presente em cada um dos contos: Entrevista,
Procurando Firme e Histria de Passarinho?
Como Summers e Pinker explicam as diferenas inatas?
Qual o argumento utilizado pela autora para contrapor-se s idias de Summers e Pinker?
ATIVIDADE
135
Quem conta um conto...
Lngua Portuguesa e Literatura
Faa uma anlise de algum programa de televiso que gere esteretipos em relao ao
comportamento feminino e masculino.
Dividam-se em grupos. Cada grupo ler um dos livros abaixo e far a anlise do conto (ou de um
dos contos), apresentando para a turma em forma de seminrio.
Contos de Terror, de Mistrio e de Morte, de Edgar Allan Poe;
O Relato de Arthur Gordon Rym, de Edgar Allan Poe;
Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca;
Lcia Mccartney, de Rubem Fonseca;
Na anlise, observem as estratgias do texto para prender a ateno do leitor, as quebras de
expectativas, os recursos para gerar suspense, as relaes com outros textos (intertextualidade), os
esteretipos, etc.
Referncias Bibliogrcas:
FONSECA, R. Entrevista. In: Feliz Ano Novo. So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
GEDEO, A. Poesias completas. Lisboa: Portuglia, 1972, p. 244.
ROCHA, R. Coleo procurando rme. So Paulo: tica, 1997.
PONTE PRETA, S. Tia Zulmira e eu. Rio: Ed. do Autor. 1961.
ANOTAES
136 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
137
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
11
VOC UM
CHATO?
Suely Marcolino Peres
1
1
Colgio Estadual Olavo Bilac - Sarandi - PR
elo sim ou pelo no,
argumente!
Pelos caminhos que ando
um dia vai ser
s no sei quando
(Paulo Leminski)
138 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Teste para reconhecer-se um chato
S existem dois meios de identicar o chato: 1- pela fama,
conceito, reputao; 2 - pela experincia prpria. O chato no permite
reconhecimento pelo bitipo, estrutura fsica ou fcies lombrosiano.
A notoriedade no obriga a qualquer esforo de reconhecimento.
O nome e a sionomia j pertencem ao nosso universo conhecido. A
simples meno do nome e o simples aparecimento da sionomia nos
pem em alarma e intil sobreaviso.
Dentro das condies estabelecidas na denio, chega-se a um
postulado (no se esquea de procurar o signicado desta palavra)
importante: todo chato bonzinho. No o fosse, no teria tempo de
ser chato. H uma exceo: o chato agressivo, que o desesperado
de ser bonzinho ou que deseja converter-nos, por coao fsica,
sua bondade. Ou destruir sicamente nossa maldade. Mas bonzinho
ou agressivo, o chato ataca sempre por um ngulo que julga ser o da
afetividade. O chato, bonzinho ou agressivo, imagina-se amigo. E, por
piedade, inrcia, temor ou burrice, ns, s vezes, o deixamos nessa
iluso.
Na classicao geral dos bonzinhos, encontramos os seguintes:
1. CATALTICOS: tambm chamados subliminares. Os que agem por
ao de presena, sem falar, sem mover-se mesmo, emitindo apenas
ondas de partculas imponderveis que nenhum computador, a no
ser a prpria vtima, consegue captar.
2. LOGOTCNICOS: subdivididos em diversas espcies: pronominais,
proparoxtonos, loxenos (atacados de loxenia, isto , o acendrado
amor palavra, citaes e expresses estrangeiras), os trocadilhistas,
os charadistas, os cefaloclastas (amantes de quebra-cabea), os
sideropgios (CDF).
Adaptado de: Figueiredo, Guilherme. Tratado geral dos chatos. So Paulo: Crculo do Livro, s/d.
Quebra-cabea chatos
LOGOTCNICOS.
w
w
w
.
b
b
c
.
c
o
.
u
k
O veludo
Tem um perfume
Mudo.
(Millr Fernandes)
139
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
3. HAMLETIANOS: atacados de idia xa, mas indecisos no
comportamento para alcanar o m que almejam. Pertencem a esta
categoria os desastrados, respingadores de molho, derrubadores
de jarra e os tropeadores de tapete. Matam involuntariamente
Polonius, levam Oflia loucura, assassinam amigos e a prpria
me, tudo por bem.
Hamlet e Oflia chatos HAMLETIANOS.
a
c
a
d
e
m
a
r
t
.
c
o
m
/
n
e
d
z
v
e
t
c
k
a
y
a
.
h
t
m
4. PIROTCNICOS: nessa categoria esto os
que do e cobram parabns, os contadores
de anedotas manjadas que festejam com a
melhor gargalhada, os oradores de festa e
os que fazem gracinhas, primeiros-de-abril,
os conhecidos sujeitos gozados.
5. VIVISSECTLOGOS: que nos cortam a
carne viva com o bisturi das palavras. Eles
cultivam a digresso; suas narrativas so
cheias de auentes, subauentes, rvores
genealgicas, reticaes cronolgicas.
rvore Genealgica chatos VIVISSECTLOGOS.
w
w
w
.
l
i
b
r
a
r
i
e
s
.
p
s
u
.
e
d
u
/
n
a
b
o
k
o
v
Felicidade
Helena Kolody
Os olhos do amado
Esqueceram-se nos teus,
Perdidos em sonho.
Sugesto
Leia a obra Hamlet: o prncipe
da Dinamarca, para melhor
conhecer as personagens
Polonius e Oflia.
140 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
6. TARTUFOCLOCLOS: (da personagem de Molire (Tartufo) e da
personagem Clo-Clo, de Jean de la lune de Marcel Achard) so
os que se instalam em casa alheia, os parentes do interior, os que
chegam sem prevenir (ectoplsmicos), os que mexem na geladeira
(self-serviais). H um subtipo: os esparadrpicos ou aglutinantes,
tambm chamados empatas, de que o tipo mais comum o que
anda de copo na mo, servindo-se de mesa em mesa.
7. CATEQUTICOS: o nome o diz, procuram converter-nos a qualquer
coisa: religio, poltica, bridge, Flamengo, ioga, sauna, Roberto
Carlos, maconha. A sua chatice no se dirige a uma s pessoa, mas
a todos quantos no estejam convertidos ao seu proselitismo.
8. POSTULANTES: os que tm sempre um pedido a fazer. Os postulantes
em dose mxima so os curis, os que realmente conseguem tudo
fora de pedir.
H ainda outros tipos de chatos bonzinhos:
Os OFERTANTES, os CONFIDENCIAIS, os DOM-JUANESCOS...
Uma lista de chatos nunca est completa. Dena os chatos dos trs tipos acima e acrescente mais
dois lista.
ATIVIDADE
Formao de palavras
Na linguagem cientca e tcnica muitas vezes se recorre ao uso de
palavras formadas por prexos, suxos ou radicais de origem grega e
latina. O sentido dessas palavras esclarecido pelo contexto, mas em
certas situaes pode ser necessrio conhecer esses elementos.
ELEMENTO (PREFIXO, SUFIXO OU
RADICAL)
SENTIDO EXEMPLO
al (plural ais) noo de coletivo areal, pombal
agon Luta
ano origem, caracterstica sergipano, atleticano
ante anterioridade antebrao, antepor
cata de cima para baixo catlise,
cfalo cabea Acfalo
alasta que quebra Iconoclasta
Dom Juan personagem conquistador don-juanismo
141
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
ecto fora, exterior Ectoparasito
esco referncia, qualidade Quixotesco
etil em qumica indica um grupo que contm
etila (lcool)
etlico, destilado
lia amizade Filosoa
Hamlet personagem de Shakespeare Hamletiano
ico participao, referncia geomtrico, melanclico
ista Partidrio, ocupao realista, dentista
logia discurso, tratado, cincia Arqueologia
logo que fala ou trata Dilogo
meta mudana, transcendncia Metalinguagem
morfo que tem a forma Polimorfo
pigdium parte traseira, anca Pigdio
piro fogo Piromanaco
secto separado, segmentado Bissecto
sidero ferro Siderurgia
soa sabedoria Filosoa
xeno estrangeiro Xenofobia
A partir destas observaes, analise o sentido dos nomes que classicam nossa lista de chatos:
catalticos (subliminares); logotcnicos (pronominais, proparoxtonos, loxenos trocadilhistas,
charadistas, cefaloclastas); hamletianos (no se esqueam de pesquisar quem so Polonius e Oflia);
pirotcnicos, vivissectlogos, tartufocloclos (ectoplasmicos, esparadrpicos, quem seriam
Tartufo e Clo-Clo?); catequticos (o que proselitismo?) e postulantes. Observe como a formao ou
escolha daquelas palavras faz parte do contexto que d signicado a elas.
ATIVIDADE
Os chatos agressivos
Os chatos mencionados, embora se chamem bonzinhos, contm
sempre uma dose de agressividade, a de sua prpria natureza de
chatos. Os agressivos puros levam o assalto fsico alm da simples
presena, do atracar pelo cotovelo ou pela lapela, do barrar na rua
at que o paciente perca a conduo, do obrig-lo a sentar-se para
ouvir e do uso de outros pequenos recursos contra o corpo humano
que no chegam a ser mencionados no Cdigo Penal como agresso.
Quando muito, no vo alm da gura do crcere privado, como,
por exemplo, os antries de weekend. O chato que nos gruda o
brao no violou propriamente a lei penal; quando muito transgrediu
142 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
o artigo da Constituio Federal, no que estabelece que somos livres
de ir e vir.
Os agressivos so polmicos ou etilometamrcos. Os primeiros
se identicam imediatamente pelas expresses Nada disto!, C
besta, Uma ova!, Sai da..., com que preparam a agresso. s vezes,
a ao no passa de argumentos em contradita, silncio de irnica
superioridade, riso zombeteiro, ou mesmo apartes. So polmicos no
no sentido helnico da palavra, no sentido de luta; mais propriamente
deveriam se chamar agonistas, disputadores de torneio, provocadores
de agonia.
Dena, agora, os chatos etilometafricos, os polmicos e os agonistas, a partir do signicado
das palavras, como voc j fez anteriormente.
ATIVIDADE
Os etilometamrcos comeam a agressividade aps certa dose
de lcool, ou como se a tivessem bebido. No primeiro estgio da
embriagus efetiva, permanecem bonzinhos, cam tristes, fazem
condncias, dormem ou tornam-se eufricos. Mas o lcool ou o
calor da controvrsia produz, s vezes, uma exaltao de conana,
de promessa de empreendimentos de planos, de que o indivduo sai
para outro estgio perigoso, a ressaca. Ou para a agressividade total,
o quebra-quebra.
Exerccios de classicao dos chatos:
Na vida real, os tipos de chato no se apresentam em estado
de absoluta pureza. O indivduo chato, salvo honrosas excees,
uma mescla. S a observao acurada do chato poder permitir a
sua anlise completa, determinados os componentes elementares.
Dado o caso concreto, o classicador tem que atentar para todas as
particularidades do analisado. Qualquer pessoa poder, mediante
engenho e experincia, elaborar outros esquemas, o que mesmo
aconselhvel, como exerccio espiritual contra a chatice e simptica
vingana contra a chateao alheia.
Analisando sucientemente o indivduo, alistam-se um a um seus
componentes puros, assim:
Fulano de tal pirotcnico com vestgios de vivissectlogo, mal-
danante axilar, na infncia, provavelmente curi.
Fulana de tal logotcnica, com dose considervel de catequtica
e tendncias a etilometamrca, na infncia, pirotcnica.
NOTURNO
Juro, nunca vi
uma estrela assim to bela,
semelhante a ti!
(Delores Pires)
143
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
Narre duas cenas, uma para a Fulana de Tal e outra para o Fulano de Tal.
Classique o chato presente no soneto Sete anos de pastor, de Cames.
Sete anos de pastor Jacob servia
Labo, pai de Raquel, serrana bela;
Mas no servia ao pai, servia a ela,
E a ela s por prmio pretendia.
Os dias, na esperana de um s dia,
Passava, contentando-se com v-la;
Porm o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a no tivera merecida;
Comea de servir outros sete anos,
Dizendo: Mais servira, se no fora
Para to longo amor to curta a vida!
Agora faa o mesmo com o poema O caso do vestido, de Carlos Drummond de Andrade, do
livro Antologia potica, que est na biblioteca de sua escola.
ATIVIDADE
Uma anlise de caso: qual dos dois mais chato?
144 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Classique os chatos presentes nessa tira e analise o grau de chateao que um pode provocar no
outro.
ATIVIDADE
O amor no precisa ser chato
A bem da verdade, apenas o amor platnico pode ser classicado
de amor chato. Traos de outras chateaes podem ser desenvolvidos
pelos enamorados, mesmo assim o envolvimento emocional causado
por uma paixo pode livrar o sujeito de sua chatice por um breve
momento. Muitas vezes, porm, os dois pombinhos podem se tornar
uma nica massa de chatice. Contra a chatice e o lugar-comum do
amor, h as tiradas cmicas ou a relativizao do prprio amor.
Escreva um texto analisando em que grau de (des)chateao se encontra o eu-lrico do poema
abaixo, do poeta paranaense Paulo Leminski:
Merda e Ouro
Merda veneno.
No entanto, no h nada que seja mais bonito
Que uma bela cagada
Cagam ricos, cagam padres,
Cagam reis e cagam fadas
No h merda que se compare
bosta da pessoa amada.
ATIVIDADE
O amor uma chateao?
Esse caso intriga os estudiosos da chatologia (estudo da chateao).
Recorremos mais uma vez ao Tratado geral dos chatos, de Guilherme
Figueiredo, que dene o que chatear-se:
145
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
A sensao de estar sendo chateado (que, aceita pela vtima, leva ao estado de chatisfao)
provm de um cerceamento da liberdade, com o concomitante desejo de escapar causa da
chateao. Quanto mais a causa da chateao atua contra o livre arbtrio, a capacidade de ir e vir,
a possibilidade de fazer ou deixar de fazer, de estar presente ou ausentar-se, de dizer ou calar, mais
intensa a sensao. O perigo no reside unicamente no enleamento provocado pelo chato, mas
uma possibilidade de domesticao do paciente. [...] H esposos que jamais pensam em separar-se,
homens que jamais deixam o emprego, crianas que nunca abandonam o lar, ces que s saem com
os donos. A dependncia de um chato torna o paciente, tambm, um chato passivo e solidrio com a
chateao do prximo. (FIGUEIREDO, s/d)
Compare esse trecho com as primeiras linhas de uma denio do
conceito de paixo do lsofo francs Grard Lebrun, que viveu no
Brasil:
Lemos nos Novos ensaios de Leibniz: Prero dizer que as paixes no so contentamentos ou
desprazeres nem opinies, mas tendncias, ou antes, modicao da tendncia, que vm da opinio
ou do sentimento, e que so acompanhadas de prazer ou desprazer. Esta denio da paixo est em
conformidade com nossos hbitos de esprito. Paixo, para ns, sinnimo de tendncia e mesmo
de uma tendncia bastante forte e duradoura para dominar a vida mental. Ora, digno de nota que
esse signicado da palavra paixo traga em sua franja o sentido etimolgico de passividade (paschein,
pathos), sentido lembrado por Descartes no comeo do Tratado das paixes: Tudo o que se faz ou
acontece de novo geralmente chamado, pelos lsofos, de paixo relativamente ao sujeito a quem
isso acontece, e de ao relativamente quele que faz com que acontea. (LEBRUN, 1987)
Sim ou no? O amor uma chateao? Escreva um texto provando seu posicionamento, leve em
conta os argumentos loscos apresentados.
ATIVIDADE
O amor no crebro
O crebro constitui um universo extremamente complexo e apenas
recentes inovaes tecnolgicas permitem, ainda com elevado grau de
incerteza, saber como se processam as sensaes amorosas.
Com o auxlio de mtodos de diagnstico por imagens, como a
tomograa nuclear ou a tomograa por emisso de psitrons, cientistas
identicaram quatro pequenas regies cerebrais que apresentaram
intensa atividade em sujeitos apaixonados. Essas regies localizam-se
espelhadas nas duas metades do crebro no chamado sistema lmbico,
que controla as emoes em geral. Vrios estados de euforia ativam
as quatro regies e, inclusive, o uso de drogas, que, no entanto, afeta
146 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
indiscriminadamente essas e outras extensas
reas do crebro. Essas zonas tambm
distinguem o amor da pura excitao sexual. O
desejo sexual estimula regies do hipotlamo,
que no ativado no caso do amor no-
ertico. Ao mesmo tempo, o amor sensual
parece ativar o ncleo caudado e o putmen,
regies onde esto dois de nossos mdulos de
amor. Talvez eles tragam o elemento ertico
para o amor romntico.
surpreendente que regies to pequenas
do crebro provoquem uma sensao to
poderosa e inspiradora como o amor. Estudos
anatmicos mostraram que as pequenas regies
do amor esto ligadas a, praticamente, todas as
outras regies do crebro. Porm, essas ligaes so utilizadas de modo
sempre diverso por cada um de ns. Seria esse o fato responsvel por
tornar o amor nico.
Adaptado de BARTELS, Andras; ZEKI, Semir. Imagens de um crebro apaixonado. In: Viver mente e crebro
n. 141. Outubro, 2004, p. 58-59.
Veja o que a cincia diz sobre crebro e amor:
Faz muito tempo que sabemos que as emoes tm uma base qumica, mas ningum se
preocupou muito em analisar a base qumica do
amor.
O fato que ao se perceber uma estimulao
sexual h uma verdadeira pirotecnia qumica.
Os neurotransmissores levam a mensagem
ertica e vo despertando toda uma cadeia de
substncias qumicas.
Na fase de atrao e enamoramento, a feni-
letilamina que orquestra a secreo de substn-
cias como a dopamina, uma anfetamina cerebral
que produz desassossego. Todo apaixonado es-
t nas nuvens, e sem saber, em nuvens carrega-
das de feniletilamina e dopamina.
Dos neurotransmissores, a dopamina a que
guarda a maior relao com a emoo amorosa.
Quando um indivduo est enamorado, o nvel de
dopamina cerebral est muito alto e, quanto mais
intensa a paixo, mais alto ser o nvel de do-
pamina.
147
Voc um chato?
Lngua Portuguesa e Literatura
A euforia, a insnia, a perda de apetite, o pensamento obsessivo de quem ama esto di-
retamente relacionados com os nveis de dopamina.
O desejo sexual incentivado pela dopamina e inibido pela prolactina, que o hormnio
responsvel pela produo do leite. Provavelmente, no plano da natureza, conveniente que
as mes completem o desmame de seus lhos antes de conceberem outro. E embora a pro-
lactina no interra nos orgasmos da mulher que amamenta, nada melhor para evitar uma gra-
videz do que reduzir o desejo sexual.
A dopamina tambm, de alguma forma, est relacionada com as endornas, que so mor-
nas naturais fabricadas pelo crebro. Elas so as drogas do prazer, seja ele o prazer sexual,
seja o prazer da emoo amorosa. Quando uma pessoa sente orgasmo, as endornas, por
assim dizer, explodem na cabea dela.
H vrios tipos de endornas, sendo a beta-endorna a mais conhecida e de maior eci-
ncia eufrica.
Quando estamos apaixonados, o crebro produz um determinado tipo de endorna que
d origem quela sensao que todos ns conhecemos.
(Ricardo Cavalcanti: Flores e Chocolate - uma introduo biologia do Amor.) Fonte: http://www.cesex.org.br/tema_clinica.htm
Os sofrimentos do amor, amar como um louco, amar at a insanidade. O vnculo entre o amor e
a loucura teria algum fundamento neurobiolgico ou seria apenas um mito?
Com base nesse texto, argumente de que forma essas informaes se articulam com a idia de
amor eterno, cara-metade, homem/mulher da minha vida.
ATIVIDADE
Referncias Bibliogrcas:
BARTELS, A.; ZEKI, S. Imagens de um crebro apaixonado. In: Viver mente e crebro. N 141, p.
58-59, Out./ 2004.
FIGUEIREDO, G. Tratado geral dos chatos. So Paulo: Crculo do Livro, s/d.
LEBRUN, G. O conceito de paixo. In: CARDOSO, Srgio (org.). Os sentidos da paixo. So Paulo:
Companhia das Letras, 1987. p. 17.
LEMINSKI, P. Distrados Venceremos. So Paulo: Brasiliense, 1987.
VERSSIMO, L. F. As cobras. O Estado de So Paulo. Caderno H,16 abril 1994.
Obras consultadas ONLINE
CAVALCANTE, R. Flores e Chocolate - Uma introduo biologia do amor. Disponvel em:
<http//www.cesex.org.br/tema_clinica.htm> Acesso em: 02 fev. 2006
148 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio Ensino Mdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Bolinha_Azul
149
Linguagem cientca e linguagem cotidiana - Maneiras de dizer
Lngua Portuguesa e Literatura
12
Terra tem soluo?
Jornada
Helena Kolody
To longa a jornada.
E a gente cai, de repente,
No abismo do nada.
LINGUAGEM CIENTFICA
E LINGUAGEM COTIDIANA
- MANEIRAS DE DIZER
Maria de Ftima Navarro Lins Paul
1
1
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
150 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio Ensino Mdio
Como a maioria interpretou o termo soluo?
Quais foram as respostas mais recorrentes? A que se deve essa recorrncia?
H outras possibilidades. Leia a tira a seguir:
Explique o desfecho da situao.
ATIVIDADE
Mas... voc poder estar se perguntando: o que isso tudo tem a ver
com um texto que deveria ser da disciplina de Lngua Portuguesa? Cla-
ro que tem! Falar das maneiras de dizer as coisas falar do uso da ln-
gua materna que, em nosso caso, a Lngua Portuguesa.
Assim, voltemos pergunta inicial: A Terra tem soluo?
Escreva uma nova resposta para essa pergunta e compare com as respostas da turma, para ver se
h novas recorrncias.
ATIVIDADE
Pense numa resposta para essa mesma pergunta, aps a leitura do
texto transcrito a seguir:
Na crosta da Terra, alm da crosta, existem oceanos, lagos e rios, que, com a gua retida
em fendas e ssuras do solo e das rochas prximas superfcie, constituem a hidrosfera.
Apesar de ocupar dois teros da superfcie terrestre, a hidrosfera representa apenas
0,025% da massa total da Terra. A gua , sem dvida, o recurso da hidrosfera mais impor-
tante para o homem. Mas os oceanos, que ocupam 70,8% da superfcie do planeta, com pro-
fundidade mdia de 4 quilmetros, constituem importante fonte de recursos vitais. Eles atu-
am como coletores de muitos materiais dissolvidos dos continentes que, atravs do tempo,
151
Linguagem cientca e linguagem cotidiana - Maneiras de dizer
Lngua Portuguesa e Literatura
deram origem a uma imensa soluo com 3,5% em peso de slidos dissolvidos. Essa solu-
o homognea, o que torna a composio dos oceanos praticamente constante. Sdio
e cloro, os dois elementos que constituem o sal de cozinha (NaCl), so os mais abundantes
e, com o magnsio, enxofre, clcio e potssio, constituem 99,5% da massa total dos sli-
dos dissolvidos no mar.
(Machado, A. H. & Mortimer, E. F., 2003)
E ento, qual a soluo da Terra?
A resposta, aqui, seria outra, no mesmo? Precisamos busc-la e
reelabor-la em textos com uma linguagem diferente daquela que usa-
mos, cotidianamente, em nossa vida. Temos que buscar essa resposta
em um espao onde se constitui uma linguagem especca: a lingua-
gem cientca.
Teramos, assim, que pensar soluo como algo que diz respeito a
um conhecimento cientco, especicamente.
De que cincia estamos falando, no caso da soluo do planeta Terra? Que marcas, presentes
no fragmento do texto citado, identicam esta cincia?
ATIVIDADE
bastante freqente as pessoas, especialmente os alu-
nos, reclamarem da diculdade que sentem na leitura de
textos cientcos. Por que ser que isso acontece?
Em primeiro lugar, porque temos diculdade maior com
enunciados, com textos que no fazem parte de nosso fa-
zer rotineiro, dos nossos dilogos cotidianos.
Depois, porque a linguagem cientca tem certas par-
ticularidades, sobre as quais podemos reetir. A primei-
ra delas que o enunciado se concretiza num determina-
do campo da atividade humana, ou seja, uma linguagem
que vai se constituindo quando pessoas esto interagindo
numa determinada atividade que, neste caso, chamamos
de Qumica.
Veja o exemplo a seguir, citado pelos mesmos autores
do fragmento acima:
Ao nos referirmos ao modo como o aumento de temperatura afeta a dissoluo de acar em gua
no nosso cotidiano, normalmente falamos: quando colocamos acar em gua e aquecemos, conse-
guimos dissolver uma maior quantidade do que em gua fria. Na linguagem cientca, expressaramos
este mesmo fato de uma forma diferente: o aumento da temperatura provoca um aumento da solubili-
dade do acar. (Machado, A. H. & Mortimer, E. F., 2003)
w
w
w
.
f
e
i
r
a
d
e
c
i
e
n
c
i
a
.
c
o
m
.
b
r
152 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio Ensino Mdio
Os dois autores citados, da disciplina de Qumica, dizem que, na
linguagem cotidiana, os eventos so narrados da seguinte forma: nor-
malmente h um agente (sujeito), que faz algo; os verbos indicam
aes efetuadas por esse sujeito e os fatos so apresentados numa se-
qncia temporal. Vejamos o que acontece com o fenmeno da disso-
luo do acar, quando o narramos em linguagem cotidiana: ns (o
agente ou sujeito) primeiro colocamos acar na gua, depois aque-
cemos, e nalmente observarmos que, na gua quente, a quantidade
de acar dissolvido pode ser maior do que quando o processo aconte-
ce com gua fria.
Na linguagem cientca, o agente/sujeito desaparece e em vez de
usarmos verbos que indicam aes, damos nomes aos processos que
vo acontecendo. Isto de dar nomes, chamamos nominalizao. Veja-
mos o mesmo fato da dissoluo do acar dito em linguagem cien-
tca:
O aumento de temperatura (quando colocamos o acar em gua e
aquecemos)
provoca (o verbo, aqui, mostra uma relao)
o aumento da solubilidade do acar (conseguimos dissolver uma
maior quantidade de acar)
Observe, agora, outro exemplo, de outra cincia, de outro campo
de atividade humana:
Para falar da ecincia da panela de presso,
responda:
O que acontece quando colocamos no fogo
uma panela qualquer com gua?
E se a panela for de presso?
Descreva o processo de cozimento de ali-
mentos na panela de presso.
Elabore o conceito.
E nesse ltimo processo, de que cincia es-
tamos falando? Justique sua resposta.
O que acontece na linguagem cientca para que tenhamos, s vezes, diculdades para com-
preender o que lemos?
ATIVIDADE
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
b
m
.
a
l
.
g
o
v
.
b
r
Vamos continuar a reexo considerando que todo texto, ou todo
enunciado, produzido num momento histrico, em determinadas cir-
cunstncias, com determinadas intenes e, para fazer sentido, preci-
so que ns o associemos sua origem, isto , associ-lo s suas con-
dies de produo, ao campo de atividades em que este texto ou
meiodia trs cores
eu disse vento
e caram todas as ores
(Paulo Leminski)
153
Linguagem cientca e linguagem cotidiana - Maneiras de dizer
Lngua Portuguesa e Literatura
enunciado foi produzido. por isso que, s vezes, ns at reconhece-
mos as palavras de um texto, mas como no sabemos o que est por
trs delas, temos diculdade para compreender o texto. E assim mes-
mo, quanto maior for o grau de especializao de um texto, maior
poder ser a diculdade de compreenso para o leitor que desconhe-
ce a atividade humana onde aquele texto se originou.
Parece difcil compreender? Veja s um exemplo: imagine a dicul-
dade para um pai ou me de 40 ou 50 anos, de vida pacata e interio-
rana, compreenderem um texto divulgado numa revista especializada
de surf ou de skate. Ou a diculdade que voc mesmo pode ter na lei-
tura do texto de uma complexa receita culinria.
Retornando ao texto cientco, h alguns detalhes interessantes pa-
ra analisarmos.
Podemos dizer que a linguagem cotidiana ponto de partida para a
linguagem cientca. Com a linguagem cotidiana ns queremos narrar
os fatos, dizer, explicar como vemos o mundo. a linguagem da nossa
vida, do nosso dia-a-dia, das nossas experincias. A linguagem cient-
ca quer descrever os fatos na forma de conceitos, leis, princpios. No
importa quem coloque acar na gua quente ou fria, ou quem esteja
cozinhando na panela de presso, nem quando isto acontece. Impor-
ta que existe um grau de solubilidade para o acar e que o ponto de
ebulio varia com a presso. Estes conceitos valem no Brasil, na Chi-
na e no interior do deserto do Saara, ou seja, universalmente.
Concluindo: as palavras e as frases que conhecemos, bem como a
prtica de textos que adquirimos, aprendemos nas relaes concretas
entre as inmeras situaes que vivenciamos. O texto cientco pede
leitores que tenham uma certa familiaridade com as condies de pro-
duo do texto, com o campo de atividades onde o texto se originou.
Os enunciados, os textos, so produzidos em situaes de interao.
Leia o que diz o Dicionrio Houaiss (2001, p.1632) da Lngua Portuguesa:
Interao: [...] 3. Atividade ou trabalho compartilhado, em que existem trocas e inuncias rec-
procas.[...]
Em nossa vida cotidiana, fcil perceber como nossa lngua vai se
constituindo na interao. Mas pense: um cientista, por exemplo, den-
tro de um laboratrio, ou mesmo voc, dentro de seu quarto, estudan-
do, lendo um texto, ou agora, na sala de aula, lendo este texto, esto
interagindo.
Como acontece essa interao?
A seguir, leia um texto que brinca com as diferenas entre a linguagem cientca e a linguagem
cotidiana. Observe e comente os ambientes de interao sugeridos pelo texto.
ATIVIDADE
CENTENRIO
Sementes de luz...
Girassis sonham Van Gogh
em sua homenagem.
(Delores Pires)
154 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio Ensino Mdio
Como simplicar um texto cientco
[...]
Texto original
O dissacardeo de frmula C12H22O11, obtido atravs da fervura e da
evaporao de H2O do lquido resultante da prensagem do caule da gra-
mnea Saccharus ofcinarum, Linneu, isento de qualquer outro tipo de pro-
cessamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado
sob a forma geomtrica de slidos de reduzidas dimenses e arestas retil-
neas, congurando pirmides truncadas de base oblonga e pequena altura,
uma vez submetido a um toque no rgo do paladar de quem se disponha
a um teste organolptico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas, sugerindo a impres-
so sensorial equivalente provocada pelo mesmo dissacardeo em estado bruto que ocorre no l-
quido nutritivo de alta viscosidade, produzindo nos rgos especiais existentes na Apis mellica,
Linneu.
No entanto, possvel comprovar experimentalmente que esse dissacardeo, no estado fsico-
qumico descrito e apresentado sob aquela forma geomtrica, apresenta considervel resistncia
a modicar apreciavelmente suas dimenses quando submetido a tenses mecnicas de com-
presso ao longo do seu eixo em conseqncia da pequena deformidade que lhe peculiar.
Agora, leia o texto trabalhado:
Primeiro Estgio
A sacarose extrada da cana de acar, que ainda no tenha passado pelo processo de puri-
cao e reno, apresentando-se sob a forma de pequenos slidos tronco-piramidais de base re-
tangular, impressiona agradavelmente ao paladar, lembrando a sensao provocada pela mesma
sacarose produzida pelas abelhas em um peculiar lquido espesso e nutritivo.
Entretanto, no altera suas dimenses lineares ou suas propores quando submetida a uma
tenso axial em conseqncia da aplicao de compresses equivalentes e opostas.
Segundo Estgio
O acar, quando ainda no submetido renao e, apresentando-se em blocos slidos de
pequenas dimenses e forma tronco-piramidal, tem o sabor deleitvel da secreo alimentar das
abelhas, todavia no muda suas propores quando sujeito a compresso.
Terceiro Estgio
Acar no renado, sob a forma de pequenos blocos, tem o sabor agradvel do mel. Porm
no muda de forma quando pressionado.
Quarto Estgio
Acar mascavo em tijolinhos tem o sabor adocicado, mas no macio ou exvel.
Quinto Estgio
Rapadura doce, mas no mole.
(Beto Holsel)
w
w
w
.
d
i
a
d
i
a
e
d
u
c
a
c
a
o
.
p
r
.
g
o
v
.
b
r
155
Linguagem cientca e linguagem cotidiana - Maneiras de dizer
Lngua Portuguesa e Literatura
Brincando com a linguagem erudita
Teste seus conhecimentos: descubra a que provrbio cada proposta se refere:
1. A substncia inodora e incolor que j se foi no mais capaz de comunicar movimento ou ao ao
engenho especial para triturar cereais.
2. Aquele que se deixa prender sentimentalmente por criatura inteiramente destituda de dotes fsicos,
de encanto, ou graa, acha-a extraordinariamente dotada desses mesmos dotes que outros no lhe
vem.
3. De unidade de cereal em unidade de cereal, a ave de crista carnuda e asas curtas e largas, da fa-
mlia das galinceas, abarrota a bolsa que existe nesta espcie por uma dilatao do esfago e na
qual os alimentos permanecem algum tempo antes de passarem moela.
4. Quando o sol est abaixo do horizonte, a totalidade dos animais domsticos da famlia dos Feldeos
so de cor mescla entre branco e preto.
5. A criatura canonizada que vive em nosso prprio lar no capaz de produzir feito extraordinrio que
v contra as leis fundamentais da natureza.
FILOSOFAR PRECISO!
As frases abaixo so mximas do lsofo alemo Immanuel Kant. Reescreva as trs mximas de
Kant em linguagem cotidiana.
1. Age como se a mxima de tua ao devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da Natureza;
2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sem-
pre como um m e nunca como um meio;
3. Age como se a mxima de tua ao devesse servir de lei universal para todos os seres racionais.
ATIVIDADE
Referncias Bibliogrcas:
CASTRO, G. Especializao Temtica e Lexical dos Gneros Textuais e Diculdades de Leitura. In: Pro-
grama de Educao Distncia. Curitiba: Associao Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus,
s/d.
HOUAISS, A. Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Assessoria Pedaggica Qumica para o ensino mdio. So
Paulo: Scipione, 2003, p14/15.
_____. Qumica para o ensino mdio. So Paulo: Scipione, 2003, p.31
Documentos consultados ONLINE
HOLSEL, B. Como simplicar um texto cientco. Disponvel em: <http://www.humorciencia.hgp.
ig.com.br/laboratorio/simple.htm> Acesso em: 25 maio 2005.
Imagem do Planeta Terra. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Bolinha_Azul> Acesso em:
25 maio 2005
156 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
157
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
13
Na poa da rua
O vira-lata
Lambe a lua.
(Millr Fernandes)
VARIAO
LINGSTICA
Rosana Guandalin
1
1
Colgio Estadual Narciso Mendes - Santa Isabel do Iva - PR
que empresamento?
158 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Contando um causo!
Um certo dia a lhinha de um pescador apareceu com o corpo crivado de manchas
roxas, forte diarria, trazendo as mos e os ps sempre cruzados.
Seu Diolindo, o pai da criana, aps haver dialogado com a mulher, resolveu procurar
um doutor da cidade, para saber do que que a criana estava sofrendo. Aconteceu que
a vizinha do casal, a Sinh Simpilia, chegou na ocasio do dilogo e, como no podia dei-
xar de ser, apresentou o seu palpite clnico bruxlico e comentou:
S Diolindo, vanc me adescurpe, mgi eu quero pidi licena sua e da sua mui, pr
mde d o m parec neste causo. Pr qui eu s o senhri vai gast o seu tempo e dinhe-
ro pr mde cheg int na Vila Capitli pr pidi consurta do dotri de l. Ele vai arreceit ru-
mdo de butica pr mde que ele no tem cunhecimento desta duena que a sua hia t
sofrendo. Eu v us de franqueza cum vancs. A duena desta criana empresamento
e isto no duena pr dotri da cidade cur. S se cura cs palavra que o Nosso Sinhri
insin quando and aqui pela terra. Memo ansim perciso que a pessoa que tenha a vir-
tude de us as palavra Dele seje munto boa. Se no, no adienta nada. O sinhri tome um
cavalo e v int a Freguesia da Lagoa e traga aqui, pr mde cur a sua hia, a Chica do
Man Pedro Mar Seca. Aquela, sim, como binzidera arrecebeu toda graa do pod das
palavra santa da santa binzidura que Deus dex c na terra. V, s Diolindo, v num pre-
ca tempo.
Seu Diolindo, ento, foi buscar a Sinh Chica. Chegaram no m da tarde. Sinh Chica
iniciou imediatamente o tratamento, lanando um desao:
Ah! Anto ests a assentada no canto da casa, sua discarada. Cumigo tu no tiras
farinha no, sua mula-se-cabea. Eu, cs minha santa palavra, v curr cuntigo desta casa
pr sempre. V te jog no fundo do mri sagrado, onde o boi preto no berra, nem crian-
a de peito chora.
Sinh Simpilia disse que rumdo de butica no serviria para tratar da doena da lhinha do pes-
cador. Para ela, o que salvaria a vida da menina seria um binzimento, uma reza.
Dentre as rezas abaixo, alguma serve para a cura da menina? Explique o porqu.
ATIVIDADE
1. Homem bom, mui m.
Peixe mido pro vio ce.
Esteira via pro vio deit.
Oh, meu So Brs, tire esse engasgo,
pr frente ou pr trs.
159
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
2. Pela cruz de so Saimo
Que te benzo com a vela benta
Na Sexta-Feira da Paixo
Treze raios tem o sol,
Treze raios tem a lua
Salta demnio para o inferno
Pois esta alma no tua
Tosca marosca
Rabo de rosca
Aguilho nos teus ps
E freio na tua boca
3. Servindo-se de um retalho de fazenda na cor vermelha e novo, linha vermelha e
agulha, pe-se a benzedeira a cos-lo, enquanto pronuncia as seguintes pala-
vras:
- Que eu coso?
- Carne rasgada, nervo torto (responde o paciente).
- Assim mesmo eu coso, em nome de Deus e de So Virtuoso;
Se for carne rasgada, torne a soldar,
Se for nervo rendido, torne a seu lugar.
Terminada a benzedura, aplica-se regio breu com cachaa.
Por cima do silvado
So Pedro, So Paulo e So Fontista
Dentro da casa So Joo Batista
Bruxa tatara bruxa
Tu no me entres nesta casa
Nem nesta comarca toda
Por todos os santos dos santos Amm.
4. Passa, passa cavaleiro
Por cima deste outeiro,
Vai pedir a Nossa Senhora
Que te tire este cisco.
Santa Luzia
Passou por aqui
Com seu cavalinho
Comendo capim.
Pediu po
lhe disse que no.
Pediu vinho;
lhe disse que sim,
lhe disse que sim.
160 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Se voc acha que esses benzimentos no so adequados, em grupos, crie uma reza para ajudar a
Sinh Chica a curar a criancinha do empresamento?
Pesquise, na sua famlia e na sua comunidade, se h pessoas que conheam outras rezas ou fr-
mulas de benzimento, para esses ou outros males. Traga para organizarem um registro coletivo a ser
disponibilizado na biblioteca da escola.
ATIVIDADE
Um dos benzimentos comea com a pergunta: Que eu coso?
Pesquisando em um dicionrio e/ou em uma Gramtica, voc en-
contrar os verbos coser e cozer. Anote o signicado no seu caderno.
Essas duas letras s e z mudam completamente o signicado das pala-
vras, no mesmo?
Entre as palavras abaixo, qual seria o signicado do verbo coser ?
a) cozinhar b) curar c) costurar d) benzer
ATIVIDADE
As palavras da Lngua Portuguesa que apresentam pronncia seme-
lhantes, mas signicados e graa diferentes so chamadas palavras ho-
mfonas, como no caso de coser (costurar) e cozer (cozinhar).
De que outros homfonos voc capaz de se lembrar? Relacione-os em seu caderno, depois
troque com os colegas para ver quantos e quais eles conseguiram encontrar.
ATIVIDADE
Como voc deve ter percebido, nas partes do texto em que apare-
cem as falas das personagens, h o uso de linguagens diferentes quan-
to exo de modo, tempo e nmero nos verbos; quanto concor-
dncia nominal (gnero e nmero) em algumas palavras e, por m,
quanto colocao dos pronomes.
161
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
Observe:
Veja que h duas formas diferentes de linguagens no texto. Quais so?
Como voc explica essa distino?
O que signica a expresso pr mode, pro mde?
ATIVIDADE
O texto de Franklin Cascaes apresenta o registro de uma varieda-
de lingstica prpria do maior grupo colonizador europeu da Ilha de
Santa Catarina os aorianos, portugueses procedentes do Arquipla-
go dos Aores, foram os primeiros colonizadores do litoral catarinense.
Trata-se, portanto, de um modo de falar que se tornou caracterstico de
uma regio especca, a partir de uma poca determinada e utilizada
at hoje por um grupo social tambm determinado.
A lngua varia constantemente, no est pronta e acabada, fechada,
a no ser que esteja morta. Ela se transforma em relao ao meio so-
cial, ao passar dos tempos, e em relao ao espao geogrco, onde
esto inseridas as comunidades e, por isso, est sempre em mutao.
A forma como falamos, hoje, no a mesma de alguns sculos
atrs, nem ser igual lngua falada daqui a algumas dcadas.
Essas variaes da lngua podem ser classicadas como diatpicas,
diastrticas e diacrnicas.
Vamos entender melhor o que essas palavras querem dizer, fazen-
do uma anlise morfolgica dos termos que as compem. Morfologia
o nome que se d parte da gramtica que estuda a origem, formao
e a signicao das palavras.
Observando-as, possvel perceber que todas possuem em comum
o elemento dia- em sua formao, que signica atravs de, por meio
de, ao longo de.
Vejamos
Dividindo as palavras diastrtica, diacrnica e diatpica temos:
do grego: dia (atravs de) + stratus (nvel, camada, grupo social)
dia + kronos (tempo)
dia + topos (lugar)
Analisando a formao destas palavras, qual signicado possvel atribuir a elas?
ATIVIDADE
162 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
A DAMA DO P DE CABRA
Este dom Diego Lopez era mui boo monteiro, e estan-
do u dia em sa armada atendendo quando verria o por-
co, ouvio cantar muita alta voz a molher em cima de
a pena. E el foi pera la e vio-a seer mui fermosa e mui
bem vistida, e namorou-se logo dela mui fortemente, e
preguntou-lhe quem era. E ela lhe disse que era a mo-
lher de muito alto linhagem. E el lhe disse que pois era
molher dalto linhagem que se casaria com ela se ela
quisesse, ca ele era senhor daquela terra toda. E ela lhe disse que o fa-
ria se lhe prometesse que nunca se santicasse. E ele lho outorgou, e ela
foi-se logo com ele. E esta dona era mui fermosa e mui bem feita em to-
do seu corpo, salvando que havia u pee forcado como pee de cabra.
E viverom gram tempo, e houverom dous lhos, e u houve nome
Enheguez Guerra e a outra foi molher e houve nome dona.
E quando comiam de suum dom Diego Lopez e sa molher,
asseentava el a par de si o lho, e ela asseentava a par de
si a lha da outra parte. E u dia , foi ele a seu monte e ma-
tou u porco mui grande o trouxe-o pera sa casa e pose-
o ante si u siia comendo com sa molher e com seus lhos.
E lanaram u osso da mesa,e veerom a plejar u alo e a
podenga sobrele em tal maneira que a podenga travou ao alo
em sua garganta e matou-o.
E dom Diego Lopez, quando esto vio, teve-o por milagre, e sinou-se e
disse: Santa Maria val, quem vio nunca tal cousa! E sa molher, quando o vio
assi sinar, lanou mo na lha e no lho, e dom Diego Lopez travou do lho
e nom lho quis leixar lhar. E ela recudio com a lha por a freesta do paao, e foi-se
pera as montanhas, em guisa que a nom virom mais, nem a lha.
Alexandre Herculano
O texto traz um registro da Lngua Portuguesa bastante distante
da forma que usamos hoje. Este conto pertence ao Livro de Linha-
gens do Conde D. Pedro de Barcelos lho natural/bastardo do rei
D. Dinis e foi escrito, provavelmente, entre 1340 e 1344, em portu-
gus arcaico, medieval. Mesmo estando escrito em portugus medie-
val, possvel compreender que se trata de uma narrativa.
Para entender melhor o texto, preencha a cruzadinha, pesquisando as palavras no texto.
ATIVIDADE
163
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
Palavras Cruzadas
1-Palcio (5 letras).
2-Cadela de pequeno porte (7 letras).
3-Caada; estar na espera durante uma caada (2 + 6 letras).
4-Benzer-se (12 letras).
5-O mesmo que deixar, permitir (6 letras).
6-P (3 letras).
7-Co de caa de grande porte, semelhante ao mastim (4 letras).
8-Bonita, formosa (7 letras).
9-O mesmo que fez o sinal da cruz, benzeu-se (5 + 2 letras).
10-O mesmo que despenhadeiro, penhasco (4 letras).
11-Artigo indenido masculino (2 letras).
5
7 9 10
8 3
2 4
1
6
11
O prximo texto tambm apresenta uma variedade lingstica diferente da que utilizamos:
Tem a meia dzia de urnigos(1), na calada da noite, arquitetando um plano pra unicao da lngua portuguesa. Escrevi o
trecho abaixo em portugus de Portugal pra vocs verem como ser fcil essa unicao.
(1. Palavra portuguesa que signica o que signica.) [...]
UNIFICAO LINGSTICA, QUE CLAREZA!
Estava a conduzir meu automvel numa azinhaga com um borracho muito gira ao lado, quando dei
com uma bossa na estrada de circunvalao que um bera teve a lata de deixar. Escapei de me espa-
lhar justa. Em havendo um bufete frente, convidei a chavala a um copo. Botei o chiante na berma e
ordenamos ao criado de mesa, uma sande de ambre em carcaa eu, e ela um miau. O panasqueiro,
com jeito de marialva paneleiro, um chalado da pinha, embora nos tratando nas palminhas, trouxe-nos a
sande com a carcaa esturrada (e sem caganitas!), e, faltando-lhe o miau, deu-nos um prego duro.
(Millr Fernandes)
164 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
De qual variao trata o texto?
Como talvez vocs no tenham entendido alguma coisa, divididos em grupos, apresentem (ca-
da grupo) uma verso para o texto. Depois leiam/apresentem para a classe para ser escolhida a
melhor verso, ou seja, a que car mais convincente.
ATIVIDADE
O texto a seguir fala de outro tipo de variao.
TORRE DE BABEL
cada vez mais difcil entrar em acordo numa sociedade que mistura tantas grias.
Surstas, skatistas, rappers, economistas, cada grupo tem seu dialeto.
Vou te mandar um papo reto. Quando o swell entrar, eu vou dropar mesmo se tiver
crowd. Vai ser um tylon arrepiante, t ligado? Pra entender um lho que abusa de expres-
ses como estas, o pai ou a me devem ser surstas, skatistas e rappers. At amigos
da mesma faixa etria cam sem entender uns aos outros. Dilogos entre integrantes de
tribos diferentes tornam-se, muitas vezes, verdadeiros desaos. Enquanto o skatista diz
que uma manobra foi pegada, o sursta fala que foi o bicho e o rapper acha respon-
sa. O leigo, quando consegue, entende como radical. As grias sempre foram comuns
entre os jovens, mas nunca estiveram to fatiadas e inacessveis aos menos enturma-
dos. Para complicar, os socioletos
dialetos praticados por grupos es-
peccos invadem o mundo digital
e confundem, por exemplo, a vida
de quem tenta investigar o correio
eletrnico dos lhos. Um pai dicil-
mente saberia o que pensar ao se
deparar com a seguinte frase: Ko
kr, vou l no fds, cm smp, vlw?. A
me da estudante carioca Lvia Go-
mes Silvestre, 17 anos, certamen-
te precisaria que a lha traduzisse:
Qual cara, vou l no m de se-
mana, como sempre, valeu?.
O lingsta Ricardo Salles expli-
ca o uso de socioletos como um
cdigo de identicao dos grupos.
Algumas tribos usam uma lingua-
gem prpria como uma espcie de
w
w
w
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
165
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
carteira de identidade. Um sursta no precisa dizer que pega onda. O modo de falar o iden-
tica, diz. Ao contrrio da lngua, os socioletos so excludentes. Quem no fala daquela for-
ma est fora da galera, completa Salles. Para o estudante de direito Paulo Alberto Galarti, 22
anos, sursta h quatro, as grias so indispensveis para a prtica do esporte.
Sem sab-las, como vou entender a rapaziada e a previso das ondas na internet? O cha-
to quando algum amigo no entende o que eu falo. Tem gente que debocha e pede para eu
apertar a tecla SAP, brinca. Galarti gaba-se de conquistar muitas garotas as denominadas
Marias-Paranas com seu jeito de falar, mas lembra que j levou um fora pelo mesmo moti-
vo. Ela era supercareta e disse que no tinha como me entender, conta.
Os skatistas tambm tm seu dialeto. Palavras como tylon e bazon so alguns dos ter-
mos incompreensveis. Em diversas entrevistas, eu nem sabia explicar o signicado das coi-
sas que havia falado e o reprter cava sem entender nada, conta o paulista Sandro Dias,
29 anos, campeo mundial de skate vertical em 2003 e conhecido como Mineirinho. Sempre
na turma do fundo da sala, Sandro era gura carimbada na coordenao da escola e entra-
va em apuros na hora de se explicar: Eu tentava me redimir e acabava me complicando ain-
da mais, lembra.
s vezes, o uso de socioletos chega a despertar preconceito. Quem v de fora acha ruim.
Quem pratica acaba atuando em defesa da prpria linguagem. Enquanto divulga a realidade
das favelas, os rappers, por exemplo, propagam tambm o seu jeito de falar. O empresrio Le-
onardo Lanzillotti, 23 anos, foi conquistado. Aprendeu a gostar de hip hop e, claro, a usar o
linguajar. Escuto rap e leio sobre o assunto h algum tempo. Passei a conviver com pessoas
que curtem e fui me acostumando, diz. Leonardo j pagou caro por falar tanta gria. No me
controlava nem em entrevistas de trabalho. Acredito j ter sido desqualicado em umas trs
por falar informalmente, diz. Anal, so poucos os clientes capazes de entender expresses
como p e papo reto.
Nas entrevistas de recrutamento, grias e at mesmo palavres viraram elementos cor-
riqueiros. Para a maioria dos prossionais de recursos humanos, so indicativos de que o can-
didato ainda no est preparado para assumir as responsabilidades do mundo do trabalho.
Entrevistei um rapaz que aspirava a uma vaga de representante comercial. Criatividade e ini-
ciativa eram caractersticas marcantes de sua personalidade, mas, quando abria a boca, pare-
cia se comunicar por meio de um dialeto. Foi eliminado na hora, lembra Ana Lcia Corra Pi-
res, uma das gerentes do grupo Catho Consultoria de RH.
Em outros grupos, a prpria prosso que impe o vocabulrio. Bater um papo em uma
mesa de economistas ou de mdicos no costuma ser uma experincia agradvel para quem
no do ramo. Quanto maior a habilidade para lidar com o socioleto, melhor. O estudante de
economia Felipe Gazal sentiu a saia-justa no incio da faculdade. No meu primeiro dia de au-
la ouvi um professor falando com um aluno mais adiantado. Era um tal de joint-venture pra c,
de vis pra l, de break-even pra acol. No entendi nada, lembra. Hoje, mais estudado, ele
domina os antigos enigmas. O dicionrio j pode voltar para a gaveta.
Revista Isto 28/07/04.
Uma ajudazinha para quem no est ligado na parada.
Bazon: um bom skatista
Break-even: ponto de equilbrio
166 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Crowd: cheio de gente, multido
Dropar: descer a onda
Joint-venture: associao de empresas
P: muito, uma poro
Papo reto: falar diretamente a uma pessoa
Swell: ondulao que precede a onda
Tylon: um estilo bonito de andar de skate
Vis: tendncia de mercado
Considere os pontos positivos e negativos que o uso da gria apresenta.
Qual o tipo de variao abordado no texto Torre de Babel?
D outros exemplos de socioletos.
Qual a explicao mitolgica que a Bblia traz sobre a existncia dos diferentes falares? (Verique
em Gn 11, 1-10)
Como essa histria bblica dialoga com o conto de Murilo Rubio intitulado O Edifcio que est no
livro O Pirotcnico Zacarias?
ATIVIDADE
Observe a variao presente na tira a seguir:
Qual a inteno do autor ao fazer uso da variao diastrtica da maneira como fez?
ATIVIDADE
Lus Fernando Verssimo consegue um efeito de humor ao abordar
a variao lingstica, mas, ao mesmo tempo, faz uma crtica. Leia o
texto para resolver a atividade a seguir:
A, MOLOKOS!
VOCS SO US KARA!
MANDAM BOMBA PRAS
CABEA!
SO PENSAMENTO FIRME DUS ALIADO!
EXPLODEM NAS BATIDA E MANDAM NA
IDIA. SO BRONCA DAS BRAVAS!!
PU! VOC
ENTENDEU AL-
GUMA COISA?
PURRA
NENHUMA!
http://i.timeinc.net/skate
167
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
Preencha as lacunas do texto com a possvel traduo da fala do entrevistado, segundo a expecta-
tiva do entrevistador.
Qual a crtica subentendida no texto?
ATIVIDADE
A,GALERA
Jogadores de futebol podem ser vtimas de estereotipao. Por exemplo, voc pode imaginar
um jogador de futebol dizendo estereotipao? E, no entanto, por que no?
A, campeo. Uma palavrinha pra galera.
Minha saudao aos accionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no
recesso dos seus lares.
Como ?
...............................................
Quais so as instrues do tcnico?
Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de conteno coordenada, com energia oti-
mizada, na zona de preparao, aumentam as probabilidades de, recuperado o esfrico, concatenar-
mos um contragolpe agudo com parcimnia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da deses-
truturao momentnea do sistema oposto, surpreendido pela reverso inesperada do uxo da ao.
Ahn?
..................................
Certo. Voc quer dizer mais alguma coisa?
Posso dirigir uma mensagem de carter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsvel e pie-
gas, a uma pessoa qual sou ligado por razes, inclusive, genticas?
Pode.
Uma saudao para a minha progenitora.
Como ?
..................................... .
Estou vendo que voc um, um ...
Um jogador que confunde o entrevistador, pois no corresponde expectativa de que o atle-
ta seja um ser algo primitivo com diculdade de expresso e assim sabota a estereotipao?
Estereoqu?
Um chato?
Isso.
Lus Fernando Verssimo
168 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Os textos que voc leu apresentam diferentes variedades da lngua.
Como j foi discutido, a lngua sofre constantes transformaes pela
ao do tempo, pela inuncia dos grupos sociais e tambm pela lo-
calizao das comunidades lingsticas em certas regies, as quais, por
vrias razes histricas e sociais, sofreram inuncia de povos, de cul-
turas e lnguas diferentes.
Assim, encontramos diferentes modos de falar em uma mesma re-
gio devido s constantes migraes das populaes, que acontecem
por diferentes motivos. Na sua comunidade, no diferente.
Para trabalhar com exemplos mais concretos nas aulas de Lngua Portuguesa, importante conhe-
cer as variedades lingsticas praticadas na sua regio. Renam-se em grupos e faam uma pesqui-
sa de campo para identicar/descobrir as variedades que constituem o modo de falar da sua comuni-
dade.
Para que o trabalho seja produtivo, necessrio a elaborao de um projeto de pesquisa e de um
roteiro com as perguntas que sero usadas para coletar as informaes mais relevantes. O produto -
nal ser a elaborao de um grco com as informaes obtidas com a pesquisa.
PESQUISA
Veja o que Marcos Bagno diz a respeito de projetos de pesquisa:
Fazer um projeto lanar idias para a frente, prever as etapas do trabalho, denir aonde se
quer chegar com ele assim, durante o trabalho prtico, saberemos como agir, que decises to-
mar, qual o prximo passo que teremos de dar na direo do objetivo desejado.
Pesquisa na Escola, Marcos Bagno.
O primeiro passo elaborar o projeto de pesquisa. Aqui esto su-
gestes de itens para serem analisados pela classe; porm, nada im-
pede que outros sejam acrescentados, modicados ou substitudos, de
acordo com o que a classe achar mais pertinente.
Ttulo: tudo o que fazemos precisa de um nome. Discutam e esco-
lham um nome para o projeto.
Objetivo: fazer o registro das variedades lingsticas encontradas na
regio.
Justicativa: o enriquecimento das aulas de Lngua Portuguesa.
Metodologia: coleta de informaes atravs de entrevistas (gravadas
em udio ou registradas por escrito) ou questionrio.
Produto nal: relatrio de sistematizao dos dados coletados.
Saldo
Helena Kolody
Na pgina adolescente
deste mundo em or,
sou um saldo anterior.
169
Variao Lingstica
Lngua Portuguesa e Literatura
O planejamento coletivo do projeto muito importante, pois a
partir dele que o trabalho de pesquisa ser posto em prtica. preciso
organizar as idias antes de p-las em prtica, ter clara(s) a(s) meta(s)
que deseja alcanar, para chegar, ento, a um resultado satisfatrio.
Referncias Bibliogrcas:
ASMAR, T. Torre de Babel. Revista Isto , So Paulo, 28 jul. 2004.
BAGNO, M. Pesquisa na Escola: o que , como se faz. So Paulo: Edies Loyola, 1998.
CASCAES, F. Bruxas atacam um pescador. O Fantstico na Ilha de Santa Catarina. Florianpolis:
UFSC, 1989.
FERNANDES, M. Unicao Lingstica, que Clareza! Isto / Senhor, So Paulo, 19 jun.1991, p.8.
ANGELI. Chiclete com banana. Folha de So Paulo, So Paulo, 06. nov. 2005.
Conde D. Pedro de Barcelos. Quarto Livro de Linhagens ou Nobilrio do Conde D. Pedro de Barcelos.
A Dama do p de cabra. 1340.
VERSSIMO, L. F. A, Galera. Correio Brasiliense, Braslia, 13 maio 1998.
170 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
171
Mltiplas Signicaes
Lngua Portuguesa e Literatura
14
Suspenso
Fica suspenso o aluno K, por
trs dias, devido escolha da m-
sica A Feira para cantar no show
de talentos da escola.
Em 15 de junho de 2005.
Gabinete do Diretor
essa idia
ningum me tira
matria mentira
(Paulo Leminski)
MLTIPLAS
SIGNIFICAES
Carmen Rodrigues Fres Pedro
1
1
Colgio Estadual Castro Alves - Cornlio Procpio - PR
uais os problemas dessa noticao?
172 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Como providncia, com a ajuda de sua turma, os colegas de K. deci-
diram elaborar um abaixo-assinado, solicitando reviso da penalidade.
Primeiro passo: conhecer a letra da msica A Feira, do Rappa.
Procurem a letra integral.
FEIRA
dia de feira
Quarta-feira, sexta-feira
No importa a feira
(...)
Quem quiser pode chegar
(...)
T vendendo ervas
Que curam e acalmam
(...)
Porque os remdios normais
Nem sempre amenizam a presso
Amenizam a presso
Amenizam a presso
(O Rappa)
Segundo passo: analisar o teor da acusao.
Qual a acusao principal?
Em que palavras ou expresses o diretor se baseou para considerar a letra merecedora de puni-
o?
Cada expresso dessas deve ser refutada, apresentando-se uma razo que no permita ao diretor
atribuir o sentido que justicou a punio.
ATIVIDADE
Com base nessa anlise, j pode ser elaborado o abaixo-assinado
em defesa de K. Mos obra!
Renam-se em grupos e elaborem o teor do abaixo-assinado.
ATIVIDADE
173
Mltiplas Signicaes
Lngua Portuguesa e Literatura
A elaborao da defesa de K. exigiu que se entrasse no campo da
polissemia.
Qual o signicado de polissemia?
ATIVIDADE
Denotao e conotao
Observe:
1- Comprei um bracelete de ouro.
2- A Chiquinha uma menina de ouro.
A que idias a palavra ouro associada em cada um dos casos acima?
ATIVIDADE
Na primeira frase, dizemos que a palavra ouro est empregada no
sentido denotativo. J na segunda, est no sentido conotativo.
Pesquise em dicionrios o signicado das expresses denotativo e conotativo.
ATIVIDADE
Ainda no tema da polissemia, leia o cartaz abaixo.
174 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
A frase do cartaz dividida em duas partes, deliberadamente. Qual a inteno desta diviso?
ATIVIDADE
A polissemia muito explorada por poetas, msicos, escritores,
prossionais de propaganda e marketing, entre outros.
Pesquise e traga exemplos de polissemia nas atividades citadas acima.
ATIVIDADE
Caso no pudssemos atribuir diversos sentidos a uma palavra,
nossa memria teria uma sobrecarga excessiva, entraria em parafuso,
j que teria que criar e lembrar de termos diferentes para tudo o que
quisssemos falar. Sendo assim, a polissemia torna a lngua mais ex-
vel, fazendo com que possamos empregar a mesma palavra em dife-
rentes situaes.
Mecanismos que geram a polissemia
A polissemia resultado do processo em que o interlocutor, ao in-
teragir com os diferentes textos, atribui-lhes sentido.
Uma grande parte dos casos de polissemia obtida atravs das -
guras de linguagem conhecidas como metforas e metonmias.
Comers o po com o suor do teu rosto.
Esse po custar lgrimas.
Eis a um exemplo de metonmia. Na poca em que essa mxi-
ma foi aplicada, os trabalhos mais conhecidos eram aqueles em que se
empregava fora fsica. Conseqentemente, essa fora desprendida fa-
ria com que a pessoa transpirasse, dessa forma, suor o efeito do tra-
balho. A partir da atribuio do signicado de trabalho palavra su-
or, devemos interpretar po como alimento e lgrimas como efeito do
sofrimento. Metonmia, portanto, a mudana de sentido de uma pa-
lavra ou expresso quando, entre o sentido que uma palavra tem e o
que ela adquire, existe uma relao de incluso ou de implicao.
No norte do Paran, os grandes e doces mares verdes tornam-se amargos
nas mos dos que extraem dele o acar.
175
Mltiplas Signicaes
Lngua Portuguesa e Literatura
No perodo acima, a palavra mar tirada de seu lugar comum cujo
signicado grande massa e extenso de gua salgada para o sentido
de grande ou extensa plantao de cana-de-acar. Esse tipo de mu-
dana possvel porque existe, entre o signicado prprio da palavra
e o novo que se atribuiu a ela, um cruzamento onde ambos se encon-
tram apresentando traos comuns. Canavial e mar possuem em co-
mum os seguintes traos: posio horizontal e grande extenso, o mar,
s vezes, passa a ter colorao esverdeada, exatamente como a viso
de uma plantao de cana-de-acar do alto. A esta mudana de signi-
cado d-se o nome de metfora.
Metfora uma operao lingstica baseada numa relao que o
falante v entre o signicado habitual da palavra e o signicado no-
vo a ela atribudo. Essa relao permite dar a um termo o signicado
de outro.
No exemplo em que se analisou a presena da metfora, h tambm uma outra gura de linguagem
caracterizada pelo uso das palavras doce e amargo. Que gura essa e que sentido ela permite atri-
buir ao texto?
ATIVIDADE
Poesia e polissemia
A poesia um texto polissmico por natureza.
Leia o poema Histria e faa o levantamento dos recursos geradores de polissemia.
ATIVIDADE
Histria
Nossa histria assim:
Vamos pras ndias!
Dias e dias os horizontes se repetem
Olha! Melhor mesmo buscar vento mais pro
[ fundo
Uma tarde um marujo disse:
U! Que terra essa?
176 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Velas baixaram e desembarcaram
Terra como teu nome?
Cortaram o pau. Saiu sangue
Isso Brasil!
No outro dia
O sol do lado de fora assistiu missa
Terra em que Deus anda de ps no cho!
Outros chegaram depois Outros Mais outros
Queremos ouro!
A oresta no respondeu
Ento
Eles marcharam por uma geograa-do-sem-lhe-achar-m
Rios enigmticos apontavam o Oeste
A gua obediente conduziu o homem
Comeou da um Brasil sem-histria-certa
A terra acordou-se como alarido de caa
De animais e de homens
Mato-grande foi cmplice nas novas plantaes de
[sangue
Mulher foi espremer lho no escondido
E veio o negro
Trouxe o sol na pele
E uma alma de nunca-mais carregada de vozes
Foi desbeiar terra
Alargaram-se as lavouras
Brasil encheu-se de queixas de monjolo
Sol espalhou vero nos canaviais das fazendas
O mato escondeu escravos
Com inscries de chicote no lombo
177
Mltiplas Signicaes
Lngua Portuguesa e Literatura
Em noite rural
Os bruxos reuniram-se para experimentar foras
contra
[o branco
Deus montou num trovo que se quebrou na oresta
rvores tinham medo que o cu casse
Brasil-nen foi crescendo...
O sol cozinhou o homem
E a geograa determinou os acontecimentos
Um dia
O capito Pedro Teixeira com 1000 canoas
Entrou guas-arriba no Amazonas
Acordando aquela imensido sem dono
O Brasil embarrigou para o Oeste.
(Raul Boop)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
Identique os acontecimentos de nossa histria presentes na poesia de Raul Bopp.
Que diferenas voc aponta entre o poema e o discurso tradicional da Histria?
Destaque algumas metforas e metonmias e explique seus sentidos, buscando a relao com o fa-
to histrico.
ATIVIDADE
Polissemia como recurso para
liberdade de expresso
Houve uma poca, no Brasil, em que os artistas se valeram mui-
to dos mecanismos de polissemia para que pudessem se expressar. Is-
so ocorreu durante a ditadura militar, que teve incio em 1964. O pa-
s passou a ser governado por militares cujo controle era constante e
a liberdade a que os cidados tinham direito era vigiada. Para melhor
monitorar o pas, os militares criaram o AI-5 Ato Institucional nme-
178 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
ro 5 que lhes dava plenos poderes para censurar programas de tv e
rdio, proibir publicao de livros e letras de msica de serem canta-
das em pblico, principalmente nos festivais de cano, muito comuns
na poca.
A letra da msica abaixo um exemplo de como um texto pode ter
elementos que desvelam sentidos no presentes na sua superfcie, re-
velando uma outra realidade.
Apesar de voc
Hoje voc quem manda
Falou, t falado
No tem discusso
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro cho, viu
Voc que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escurido
Voc que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdo
Apesar de voc
Amanh h de ser
Outro dia
Eu pergunto a voc
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir
Em cantar
gua nova brotando
E a gente se amando
Sem parar
[...]
Chico Buarque
179
Mltiplas Signicaes
Lngua Portuguesa e Literatura
Quais signicados possveis podem ser atribudos letra da msica Apesar de voc?
Justique essas leituras apontando trechos da msica.
Organizem um debate sobre o problema do incio desse Folhas. Depois de terem aprofundado seus
conhecimentos sobre a polissemia e o duplo sentido que as palavras podem ter, argumentem se o
diretor tinha ou no razo para fazer a leitura que fez, e se a letra de A Feira, anal, pode ou no ser
lida como apologia ao uso de drogas.
ATIVIDADE
Referncias Bibliogrcas:
BOPP, R. Cobra Norato. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1973.
CEGALLA, D. P. Novssima Gramtica da Lngua Portuguesa. 17 ed. So
Paulo: Cia Editora Nacional, 1977.
CORREIA, M. Homonmia e Polissemia contributos para delimitao de
conceitos. In: Palavras, nmero 19. Lisboa: Associao dos Professores
de Portugus, s/d, pg.57-75
FIORIN, J. L.; FRANCISCO, P. S. Para entender o Texto - Leitura e Re-
dao. 16 ed. So Paulo: tica, 2002.
HOLANDA, F. B. Letra e Msica. So Paulo: Civilizao Brasileira, 1989,
p. 92.
YUKA, M. A Feira. CD O Rappa-Mundi. So Paulo: Warner Music, 1996.
180 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
h
t
t
p
:
/
/
a
le
r
c
e
.
p
n
t
ic
.
m
e
c
.
e
s
Foto: Gonalo Afonso Dias. Pensador 2 s/d.
Angola, 2004.
181
Mercado de Trabalho: Que bicho esse?
Lngua Portuguesa e Literatura
15
No aeroporto, puxa-sacos
Trocam adeuses
Com velhacos.
(Millr Fernandes)
MERCADO DE TRABALHO:
QUE BICHO ESSE?
Suely Marcolino Peres
1
1
Colgio Estadual Olavo Bilac - Sarandi - PR
este momento da sua vida, qual
o problema? Por qu?
182 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Faa um levantamento dos problemas que mais aigem a galera da sua sala. De posse desses da-
dos, necessrio organiz-los de forma que eles mostrem a situao da turma.
ATIVIDADE
Os grcos so timos instrumentos para transmitirem esses dados.
Eles possibilitam transmitir informaes de uma forma mais eciente e
mais simples. Existem vrios tipos de grcos:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
Leste
Oeste
Norte
0
20
40
60
80
100
1
Trim
2
Trim
3
Trim
4
Trim
Leste
Oeste
Norte
Grco colunas Grco de linhas
1 Trim
2 Trim
3 Trim
4 Trim
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim
Norte
Oeste
Leste
Grco pizza Grco de rea
1 Trim
2 Trim
3 Trim
4 Trim
0 50 100
1 Trim
2 Trim
3 Trim
4 Trim
Norte
Oeste
Leste
Grco rosca Grco de barras
0
50
100
1 Trim
2 Trim
3 Trim
4 Trim
Leste
Oeste
Norte
Grco radar
PRESENA
Esbanjando cores
na mata, junto cascata,
ips sedutores.
(Delores Pires)
183
Mercado de Trabalho: Que bicho esse?
Lngua Portuguesa e Literatura
Observando os tipos de grcos, escolha qual voc considera mais atrativo para organizar/apresen-
tar a sua pesquisa.
Agora que vocs construram o grco e zeram a leitura dele, responda qual , na sua opinio, o
maior problema do Brasil.
Dos problemas descritos abaixo, qual voc acredita ser o que mais afeta a populao brasileira?
Justique sua resposta.
desemprego
sade
reforma agrria
moradia
educao
Escolha um dos problemas citados acima , pesquise em jornais e revistas uma notcia que retrate
este problema. Leia e comente com a turma.
ATIVIDADE
abrindo um antigo caderno
foi que eu descobri
antigamente eu era eterno
(Paulo Leminski)
Infogrco
Veja o resultado de uma pesquisa publi-
cada no site http://www.spcidades.com.br/
resultadoenquetes.htm. Acesso em: 10 de de-
zembro de 2005.
segurana 23,1% (5269 votos)
desemprego 39,3% (8966 votos)
sade 20,1% (4598 votos)
educao 17,5% (3986 votos)
Total: 22.819 votos.
184 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Compare as concluses dos grcos anteriores, incluindo o que voc construiu.
ATIVIDADE
Os grcos estampados nos ltimos anos, nos meios de comunicao, reetem uma sria
contingncia do Brasil: o desemprego, uma das maiores preocupaes do brasileiro, atualmen-
te. De fato, inserir-se no mercado de trabalho uma tarefa bastante rdua. Muitos jovens, iguais
a voc, j esto buscando o primeiro emprego e j perceberam que no nada fcil essa con-
quista. No Brasil, grande a preocupao dos trabalhadores, dos sindicatos, das autoridades e
dos estudiosos dos problemas sociais com a questo do desemprego.
Tnia uma adolescente que est cursando o Ensino Mdio e precisa muito trabalhar pa-
ra ajudar sua famlia. Leu um anncio no jornal, cou muito interessada e respondeu imediata-
mente ao anncio. A empresa que est procura de um empregado a multinacional ANDE-
ZA - Companhia Italiana de Telefonia Mvel. Tnia enviou uma carta de apresentao para o
departamento de recursos humanos da empresa. Passado alguns dias, recebeu a resposta:
Andeza Companhia Italiana de Telefonia Mvel
So Paulo, 23 de novembro de 2005.
Ofcio n 0001/2005
Prezada Senhora,
Utilizamo-nos desse expediente para inform-la que a sua carta de apresentao foi
submetida avaliao pelo departamento de recursos humanos da empresa e no atende s
exigncias da mesma, uma vez que a sua nacionalidade desabona signicativamente o seu per-
l prossional.
Destacamos que o critrio que sustenta esse procedimento a matria publicada em
jornais de grande circulao, da qual enviamos sntese em anexo.
Sendo o que havia para o momento, agradecemos.
Atenciosamente,
Carlos Henrique Brezscyski
Diretor dos Recursos Humanos
185
Mercado de Trabalho: Que bicho esse?
Lngua Portuguesa e Literatura
Veja a sntese da matria citada na carta...
O quanto (no) se trabalha neste pas.
365 dias tem o ano.
Subtraia
52 domingos
52 sbados
12 dias entre feriados e feriades
10 dias de atestado
126 dias no trabalhados.
Some 30 dias de frias
156 dias no trabalhados.
De 365 dias do ano
Subtraia os 156
209 dias trabalhados.
Populao produtiva do pas: 38 milhes.
Populao total do pas: 180 milhes.
30% da populao trabalha.
209 dias = aproximadamente 7 meses.
7 meses trabalhados = 13 salrios recebidos.
Some 33% de encargos sociais
+ 17 salrios mensais pagos em um ano.
Da a baixa produtividade deste pas:
1) a produtividade do brasileiro gritantemente baixa:
a) em relao ao nmero de horas ociosas;
b) em relao ao nmero de pessoas que esto aparentemente ociosas para cada trabalha-
dor;
2) o produto desse brasileiro brutalmente sobrecarregado de encargos por fora da relao
7 por 13 mais 33%, ou seja, trabalha 7 mas recebe por 17 meses.
Agora com voc...
186 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Responda ao ofcio 0001/2005 da Cia Italiana. Utilize para sua resposta a mesma estratgia, ou se-
ja, a sua argumentao deve ter como base o clculo matemtico.
ATIVIDADE
Voc j deve ter percebido que o perl prossional do trabalhador muito observado nos
processos de recrutamento e seleo de pessoal. Esse perl vem sofrendo alteraes radicais,
fazendo surgir uma nova postura prossional e novas relaes de trabalho com o objetivo de
atender s novas demandas postas pelo mercado. O perl prossional exigido pelo mercado
de trabalho reete as alteraes que esto ocorrendo no cenrio econmico global. Essas mu-
danas so fortemente percebidas a partir do nal do sculo XX e incio do sculo XXI, quan-
do as empresas traam um perl de prossional pautado nas competncias e habilidades que
um trabalhador deve ter.
Para termos mais claro quais so as habilidades que um trabalhador deve ter, faam, em grupos,
uma pesquisa e denam um perl com as caractersticas do prossional moderno, exigido pelas em-
presas. Vocs podem consultar revistas especializadas, jornais, Internet, entre outras fontes que
acharem necessrias. Aps a realizao da pesquisa, criem um infogrco para mostrar as caracte-
rsticas exigidas pelo mercado de trabalho.
ATIVIDADE
E havia o antes...
Como era o prossional antes das mudanas do nal do sculo XX e incio do sculo XXI?
A charge abaixo nos d um rpido perl do prossional desse perodo. Como voc o dene com ba-
se nas informaes contidas na charge? Escreva um pargrafo comentando o prossional represen-
tado na charge.
Relacione a charge ao texto que vem a seguir.
ATIVIDADE
187
Mercado de Trabalho: Que bicho esse?
Lngua Portuguesa e Literatura
H algum tempo havia uma diviso social e tcnica do trabalho cla-
ramente demarcada. Nesse contexto, o trabalho era fragmentado e o
trabalhador detinha apenas parte do processo de produo e no o to-
do, ou seja, instituiu-se a diviso social do trabalho em fsico e intelec-
tual. Esse divrcio entre trabalho fsico e intelectual gerou um modo
de produo denominado organizao cientca do trabalho, que tinha
por objetivo tornar o trabalhador mais produtivo sem esgotar-lhe a re-
sistncia. Nessa diviso, havia os que pensavam e controlavam o pro-
cesso e aqueles que executavam o processo, construindo, assim, um
sujeito trabalhador compartimentado e, conseqentemente, alienado,
que no detinha a totalidade em relao ao processo produtivo. A or-
ganizao da produo em srie expressa esse princpio da diviso do
processo produtivo em pequenas partes, em que os tempos e os mo-
vimentos so padronizados e rigorosamente controlados por inspeto-
res de qualidade, e as aes de planejamento so separadas da produ-
o. O trabalhador era valorizado pela sua competncia em memorizar
e repetir as aes tpicas de sua tarefa.
Essa forma de conceber trabalho e trabalhador tinha como nalida-
de atingir metas de produo e de lucro cada vez mais elevadas. Para
isso, o sistema utilizou a represso e a rotatividade no emprego. Isso
tudo, somado exigncia de produzir cada vez mais, provocou, no tra-
balhador, srios problemas de sade. Esse modo de produo entrou
em crise no nal da dcada de sessenta e incio dos anos setenta.
A crise nanceira mundial, as mudanas no comportamento dos
mercados e a ao contestadora e combativa dos trabalhadores fragili-
zaram o sistema. A fase industrial do capitalismo foi superada pela so-
ciedade informacional, que expressa, atualmente, uma nova etapa de
expanso das economias de mercado.
No quadro atual de exigncias prossionais, veja o que aconteceu
com Fabiana, que, dentre muitos candidatos, foi admitida por uma em-
presa.
Excesso de Capacitao
Vamos supor que, aps uma durssima competio com outros candidatos to bem preparados
quanto ela, a Fabiana conseguisse ser admitida como gestora de atendimento interno. E um de seus
primeiros clientes fosse o seu Borges, gerente da contabilidade.
Fabiana, eu quero trs cpias deste relatrio.
In a hurry!
Sade.
No, isso quer dizer bem rapidinho. que eu tenho uncia em ingls. Alis, desculpe pergun-
tar, mas por que a empresa exige uncia em ingls se aqui s se fala portugus?
E eu sei l? D para voc tirar logo as cpias?
nossa vida
A morte alheia
D outra partida.
(Millr Fernandes)
188 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
O senhor no prefere que eu digitalize o relatrio? Porque eu tenho profundos conhecimentos de
informtica.
No, no. Cpias normais mesmo.
Certo. Mas eu no poderia deixar de mencionar minha criatividade. Eu j comecei a desenvolver
um projeto pessoal visando eliminar 30% das cpias que tiramos.
Fabiana, desse jeito no vai dar!
E eu no sei? Preciso urgentemente de uma auxiliar.
Como assim?
que eu sou lder, e no tenho ningum para liderar. E considero isso um desperdcio do meu po-
tencial energtico.
Olha, neste momento, eu s preciso das trs c...
Com certeza. Mas antes vamos discutir meu futuro...
Futuro? Que futuro?
que eu sou ambiciosa. J faz dois dias que eu estou aqui e ainda no aconteceu nada.
Fabiana, eu estou aqui h 18 anos e tambm no me aconteceu nada!
Sei. Mas o senhor hands on?
H?
Hands on. Mo na massa.
Claro que sou!
Ento o senhor mesmo tira as cpias. E agora com licena que eu vou sair por a explorando mi-
nhas potencialidades. Foi o que me prometeram quando eu fui contratada.
Max Gehringer
Onde est a graa do texto?
Discuta com seus colegas como vocs imaginam que foi elaborado o anncio de emprego que so-
licitava um prossional: gestor de atendimento interno.
ATIVIDADE
189
Mercado de Trabalho: Que bicho esse?
Lngua Portuguesa e Literatura
Referncias Bibliogrcas:
ALBORNOZ, S. O que trabalho. Coleo primeiros passos. So Paulo:
Brasiliense, 1988.
EHRENBERG, R. G ; SMITH, Robert. A moderna economia do trabalho.
So Paulo: Makron Books, 2000.
OLIVEIRA, C. R. de. Histria do trabalho. Srie Princpios. So Paulo: ti-
ca, 1995.
POCHMANN, M. O trabalho sob fogo cruzado. So Paulo: Contex-
to,1999.
Obras consultadas ONLINE
GEHRINGER, M. Excesso de Qualicao Prossional. Revista Exame
On-line. Artigo publicado em 18 set. 2003. Disponvel em: <http://porta-le-
xame.abril.com.br> Acesso em: 04 fev. 2004
190 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
w
w
w
.
m
o
m
a
.
o
r
g
M
arc Chagall. Eu e a vila, 1911. leo sobre tela, 192.1 x 151.4 cm
. M
useu de Arte M
oderna de Nova Iorque,
Estados Unidos.
191
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
16
ESCONDE-ESCONDE
No azul de vero
sol e nuvem, distrados,
brincam de esconder.
(Delores Pires)
VRGULAS E
SIGNIFICADO
Maria de Ftima Navarro Lins Paul
1
1
Colgio Estadual Paulo Leminski - Curitiba - PR
omo dar um sentido para
essa frase?
Um fazendeiro tinha um bezerro
e a me do fazendeiro era tambm
o pai do bezerro.
192 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Ora, vrgulas!
Para resolver nosso problema, tivemos que utilizar um recurso im-
portante para a linguagem escrita: a pontuao.
Uma pesquisa nas gramticas nos levar a explicaes bastante pa-
recidas a respeito da pontuao. Mas, antes de iniciar a pesquisa, voc
sabe o que uma gramtica?
No estudo da Lngua Portuguesa (e de todas as lnguas), encontra-
mos diferentes tipos de gramtica. Alguns exemplos: a Gramtica Des-
critiva, que descreve os fatos da lngua, sem preocupao de julgar ou
determinar certo ou errado; a Gramtica Histrica, que estuda as mu-
danas que acontecem com uma lngua atravs do tempo; a Gramti-
ca Natural/Universal, denida como o estado inicial da mente huma-
na, que permite ao homem, na interao social, adquirir sua lngua
materna.
O que nos interessa, neste estudo, a gramtica que mais afeta as
aulas de Lngua Portuguesa e que a causa de muita gente dizer que
no sabe portugus. Estamos falando da Gramtica Normativa: conjunto
de regras, normas que determinam o uso considerado correto da ln-
gua escrita e falada. Convm lembrar, aqui, que a partir desta denio
da gramtica normativa, passou-se a usar o termo gramtica signican-
do o conjunto de regras de uma arte, de uma cincia ou de qualquer
tcnica. Diz-se, ento, gramtica da Msica, gramtica da Pintura, etc.
A palavra gramtica vem
do grego Grammatik a ci-
ncia ou a arte de ler e es-
crever.
Vamos pesquisa: consultem Gramticas (ou livros didticos, que se baseiam, normalmente, nas
gramticas normativas) e verique o que o autor fala a respeito da pontuao. Na seqncia, compara-
rem o que diferentes autores dizem a este respeito.
ATIVIDADE
Pense s numa expresso simples, como a resposta que damos a
quem nos pergunta como estamos: Tudo bem!. Ora, existem inme-
ras entonaes e gestos que podem acompanhar nossa resposta, de
acordo com nosso estado de esprito, de sade, nossa disposio na-
quele momento. Isto acontece em todas as situaes de fala: nossas
palavras so acompanhadas de olhares, expresses faciais, gestos, en-
m, recursos que deixam claro o que estamos dizendo.
Tente fazer a experincia: converse alguns segundos com seu colega, sem utilizar-se de nenhum
gesto, nenhuma expresso facial e sem mudar a entonao da voz.
ATIVIDADE
193
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
Observar os recursos da fala uma atividade que voc, como alu-
no, costuma fazer s vezes com uma certa dose de malcia quan-
do observa e imita a fala de seus professores. Esta uma atividade que
pode ser interessante e produtiva, e voc pode realiz-la analisando
a fala de seus professores, colegas, autoridades, polticos, familiares,
apresentadores de programas televisivos, etc.
Estes recursos todos, que acompanham a fala, so praticamente im-
possveis de serem registrados na escrita. Mas h alguns sinais que nos
ajudam a escrever nossos textos e aqui comeamos a desvendar a na-
lidade maior da pontuao, que dar clareza ao texto escrito. E o que
a clareza de um texto? a caracterstica textual que permite ao leitor
construir um signicado para o texto que l.
Dentre os sinais de pontuao, vamos destacar a utilizao da vr-
gula.
Na elaborao do texto que voc est lendo, foram necessrias in-
formaes sobre a histria da vrgula.
H, via Internet, uma lista de discusses (um grupo que troca men-
sagens sobre assuntos de interesse comum) chamada CVL Comuni-
dade Virtual da Linguagem. Uma das participantes do grupo, a Profes-
sora Aira Suzana Ribeiro Martins, da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, mostrou, numa mensagem ao grupo, que a vrgula muito
mais antiga do que podemos imaginar:
----- Original Message -----
From: Professora Aira Suzana Ribeiro Martins
Sent: Saturday, March 13, 2004 8:44 PM
Subject: Re: *CVL* - vrgula
No sc.II a.C, ao organizar os 50.000 volumes da Biblioteca de Alexandria, Aristfanes de Bizncio,
a m de tornar as obras do grego antigo,especialmente as de Homero, mais claras, introduziu sinais que
indicavam pausas respiratrias. Um ponto no alto indicava enunciado completo, um ponto no meio cor-
respondia necessidade de respirar e o ponto embaixo mostrava que o enunciado estava incomple-
to. Podemos reconhecer nesses sinais as funes desempenhadas pelo ponto nal, pelos dois pontos
e pela vrgula. A partir desse sistema, os gregos criaram outra forma de pontuar: um ponto no alto da
letra era usado para representar sentido incompleto, o ponto no p da letra indicava sentido completo
e a vrgula, com a mesma funo que desempenha atualmente. Esse sistema permaneceu um pouco
esquecido at o sc.VIII d.C, quando foram criados os espaos em branco entre as palavras. O siste-
ma de pontuao criado por Aristfanes de Bizncio reintroduzido no sc. IX, juntamente com outras
marcas.
No site http://educaterra.terra.com.br/voltaire/antiga/2002/10/31/
002.htm, voc encontrar informaes interessantes sobre a Bibliote-
ca de Alexandria.
o mar o azul o sbado
liguei pro cu
mas dava sempre ocupado
(Paulo Leminski)
194 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Sobre Aristfanes de Bizncio, voc poder consultar os sites ht-
tp://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/museu/po-
esia.htm, http://www.sobiograas.hpg.ig.com.br/AristofB.html. Neste
ltimo, voc encontrar, tambm, algo sobre a histria da pontuao.
Ateno: importante lembrar que esses sites foram acessados em maio de 2004, nem sempre
as pginas da Internet permanecem abertas e disponveis por tempo indeterminado. Entretanto, se no
conseguir acesso a uma dessas pginas, s acessar um site de buscas e digitar o nome Aristfanes
de Bizncio.
Uma observao: o smbolo da vrgula ( , ) uma conveno. Isto
quer dizer que poderamos usar qualquer outro smbolo.
O que se quer ressaltar, aqui, a relao deste sinal de pontuao
com o sentido dos textos, das frases. A colocao da vrgula estabelece
um tipo especco de relaes entre palavras e oraes e seu uso tem
que ser adequado ao sentido que queremos dar ao texto.
Veja o exemplo destas frases:
1. S ele chorou.
2. S, ele chorou.
Qual a diferena de signicado entre elas? O que determina esta diferena?
E nos exemplos a seguir, qual o signicado de cada frase?
3. Maria, nossa aluna foi aprovada nos exames.
4. Maria, nossa aluna, foi aprovada nos exames.
ATIVIDADE
No difcil perceber que o signicado, nesses casos, est estreita-
mente ligado colocao das vrgulas no corpo da frase.
Vamos analisar outros exemplos concretos: qual o papel da vrgula nas frases abaixo? Que tipo de
relao ela dene entre as palavras, frases ou nmeros?
5. O professor chegou sala, pediu silncio, aguardou alguns minutos e comeou a aula.
6. Precisa-se de pedreiros, serventes, mestre-de-obras.
7. Acordei, tomei meu banho, comi algo e sa para o trabalho.
8. R$ 2321,30
9. 4,06
ATIVIDADE
195
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
Surpreso com a incluso de smbolos da linguagem matemtica?
primeira vista, pode parecer estranho, mas uma observao mais
atenta vai nos mostrar que a vrgula tem a mesma funo nos exem-
plos 5, 6, 7, 8 e 9 (essas vrgulas daqui tambm se explicam da mes-
ma forma).
O estreito relacionamento da vrgula com o signicado aparece,
tambm, como acabamos de ver, em outros contextos de linguagem,
notadamente na linguagem matemtica.
A histria da vrgula na Matemtica interessante.
Vejamos: como nosso sistema de numerao posicional e com
base 10, podemos representar as fraes, na notao decimal, como
nmero decimal.
Para tanto, foi necessrio que se criasse uma forma de diferenciar a parte inteira de um nmero
de sua parte fracionria. Ainda hoje, no existe um nico smbolo para esta representao: ns usamos
a vrgula (,) e os pases anglo-saxes utilizam o ponto (.), assim como muitas de nossas calculadoras.
Nossa vrgula (matemtica) foi o neerlands Wibord Snellius que a inventou (ou a importou da lngua),
no incio do sculo XVII.
(Centurin, 1994)
Analise o que acontece nos seguintes registros:
3,45 / 34,5 / 345
O que se est dizendo em cada uma dessas situaes?
ATIVIDADE
A vrgula funciona, a, como marca de coordenao assindtica adi-
tiva (que era o caso dos exemplos 8 e 9, lembra?). Como no registro de
R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinqenta centavos). Aqui, importan-
te saber o que signica esta coordenao assindtica aditiva:
Coordenar - organizar de forma estruturada, encadear.
Assindtica: Veja, sndeto (palavra que vem do latim) o conectivo, o elemento de ligao. En-
to, sindtico quer dizer com a presena do sndeto, do tal elemento de ligao (que, no caso da ma-
temtica, a palavra e). Assindtico signica a ausncia deste elemento (o prexo a colocado antes
da palavra signica a negao).
Aditiva: porque o signicado de adio: 3,45 quer dizer trs inteiros e (mais) quarenta e cinco
centsimos.
Voc pode enriquecer esta explicao consultando a gramtica, di-
cionrios e dicionrio etimolgico (que trata da origem das palavras).
JASMIM II
Ser sempre assim
o perfume que resume
a or de jasmim!
(Delores Pires)
196 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
A coordenao assindtica, portanto, aquela que se faz entre pa-
lavras, frases ou nmeros sem a presena do elemento de ligao, sem
a palavra que tem esta funo de ligar que , ento, substituda pela
vrgula. E dizemos, no nosso exemplo de nmeros decimais, que esta
coordenao aditiva porque este o signicado que o elemento de
ligao (na coordenao sindtica) ou a vrgula (na coordenao assin-
dtica) coloca na frase, ou no enunciado: o signicado de adio.
O que importa que no importa (que trocadilho!) o sinal que con-
vencionamos usar. O fato que, para exprimir aquele determinado sig-
nicado matemtico, o sinal convencionado deve estar posicionado
em determinado local.
Para que se consiga, portanto, (qual ser o objetivo destas vrgulas?)
garantir o sentido daquilo que queremos expressar atravs da lingua-
gem escrita, necessrio obedecer algumas regras.
Pesquise, em diferentes autores, as regras de utilizao da vrgula. O resultado da pesquisa ser or-
ganizado num quadro nico, que vamos elaborar coletivamente.
PESQUISA
Voc percebeu que as regras talvez assustem pela quantidade, pe-
los nomes, por aquilo que parecem exigir de ns. Mais adiante, volta-
remos a elas. Agora, h outras consideraes a fazer.
Vrgulas: ruim com elas, pior sem elas?
Analise a pontuao e o efeito de sentido que ela tem nos fragmentos abaixo. O primeiro do poeta
e escritor brasileiro Haroldo de Campos, em sua obra Galxias. O segundo do romance Ensaio sobre
a Cegueira, do escritor portugus Jos Saramago, ganhador do prmio Nobel de Literatura de 1998.
ATIVIDADE
... um umbigodolivromundo um livro de viagem onde a viagem seja o li-
vro o ser do livro a viagem por isso comeo pois a viagem o comeo e
volto e revolto pois na volta recomeo reconheo remeo um livro o conte-
do do livro e cada pgina de um livro o contedo do livro ( Campos,1984)
A vida um saque
Que se faz no espao
Entre o tic e o tac.
(Millr Fernandes)
197
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
Vai car cego, No, logo que a vida estiver normalizada,
que tudo comece a funcionar, opero-o, ser uma questo de
semanas, Por que foi que cegamos, No sei, talvez um dia se
chegue a conhecer a razo, Queres que te diga o que penso,
Diz, Penso que no cegamos, penso que estamos cegos, Ce-
gos que vem, Cegos que, vendo, no vem.
(Saramago, 1999)
Galxia
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
s
o
.
o
r
g
/
o
u
t
r
e
a
c
h
E agora? O que pensar de textos como esses, que desobedecem to-
das as regras da gramtica? De que maneira lidamos com textos que
no trazem algumas marcas de pontuao, ou no trazem nenhuma
delas? Como construir um sentido para esses textos?
Precisamos recorrer ao conhecimento que j temos ou nossa in-
tuio das estruturas da lngua, ou seja, aquilo que sabemos intuitiva-
mente sobre o funcionamento da lngua. um exerccio que nos de-
saa, pois estamos lidando com textos que transgridem as estruturas
normatizadas ou ditadas pela gramtica e fogem ao senso comum, is-
to , fogem daquela linguagem que estamos acostumados a ler e que
julgamos correta ou normal. Vale a pena tentar!
Se o texto literrio (caso dos dois fragmentos que voc acabou de
ver) permite transgredir esta a sua caracterstica as regras ditadas
pela gramtica, esta transgresso feita por
quem conhece a norma. No o caso de fa-
zer de qualquer jeito. O autor do texto liter-
rio infringe a norma conscientemente, porque
conhece as regras.
Esta subverso consciente s regras postas
acontece, tambm, em outras reas, com ou-
tras gramticas: Observe a reproduo ao la-
do, do quadro Les Demoiselles dAvignon, que
foi pintado em 1907 e est no Museu de Arte
Moderna de New York.
Pablo Picasso pintou este quadro numa
fase denominada cubista. Veja o que signi-
ca o cubismo: movimento na pintura, de-
senvolvido por Picasso e Braque por volta de
1907. O cubismo constituiu um corte radical
na descrio realista da natureza que domi-
nava a pintura e a escultura europia desde o Pablo Picasso. As moas de Avignon, 1907. leo sobre tela, 243.9 x
233.7 cm. Museu de Arte Moderna, Nova Iorque, Estados Unidos.
www.moma.org
198 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Renascimento, uma vez que Picasso e Braque
desejavam revelar a estrutura permanente dos
objetos, em vez da sua aparncia em determi-
nado momento ou lugar.(Enciclopdia Ilus-
trada Folha)
Observando uma pintura renascentis-
ta podemos perceber o corte radical que o
cubismo fez, subvertendo as normas de uma
gramtica da pintura que vigorava desde o Re-
nascimento.
Leonardo da Vinci, considerado um dos
maiores gnios da humanidade, pintou a Mo-
nalisa, quadro que est no Museu do Louvre e
que constitui um marco da pintura renascen-
tista. um dos quadros mais conhecidos e re-
produzidos do mundo.
Leonardo Da Vinci. Mona Lisa ou La Gioconda, 1503 - 06. leo sobre ma-
deira de lamo,77 x 53 cm. Museu do Louvre, Paris. www.louvre.fr
Comente as diferenas entre as duas pintu-
ras e o sentido de cada uma delas, obser-
vando como elas podem estar relacionadas
com a realidade.
ATIVIDADE
Voltando ao texto escrito, h transgresses, porm, que comprome-
tem textos que precisam ser claros, como o texto jurdico. Veja o exem-
plo de um artigo do Estatuto da Criana e do Adolescente:
Art. 59. Os Municpios, com apoio dos Estados e da Unio, estimularo e facilitaro a destinao de
recursos e espaos para programaes culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infncia e a ju-
ventude.
O que acontece com o sentido deste artigo, se tirarmos a vrgula colocada aps a palavra Munic-
pio?
ATIVIDADE
199
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
(...) os sinais de pontuao cumprem a tarefa ingrata e difcil de representar gracamente os re-
cursos entonacionais da linguagem oral. A rigor, uma tarefa impossvel. Basta observar que podemos
fazer uma pergunta de mil modos diferentes, mas dispomos apenas do discreto (?) para transcrev-la.
Bem, podemos duplicar ou triplicar o sinal (???) para indicar, por exemplo, grande perplexidade... mas,
mesmo assim, muito pouco diante da riqueza da linguagem oral. A pontuao , portanto, uma con-
veno redutora, que no se destina simplesmente a imitar a fala, mas ordenar a escrita de acordo com
um cdigo padro especco do texto escrito. Eventualmente esse cdigo at contraria a entonao da
fala.
(Faraco e Tezza, 1992)
Depois, precisamos ter conscincia de que aprendemos a escrever,
escrevendo. E lendo. No nos basta, para aprendermos o uso ecien-
te da vrgula e de toda a pontuao nem decorar regras, nem ale-
gar que usamos o bom senso, porque este, sozinho, no d conta do
problema. importante conhecer alguma coisa das regras e construir
uma atitude de bom senso. Mas fundamental que aprendamos a es-
tar atentos pontuao, nos jornais e revistas que lemos, nos textos
que escrevemos. A reexo um timo exerccio. Alm disso, mui-
ta leitura em voz alta, se voc no domina a pontuao, procurando
a conscincia das entonaes requeridas e o estabelecimento das re-
laes entre os diferentes segmentos marcados pela pontuao. (Fara-
co e Mandryk, 1994)
Algumas atividades para voc pensar, pontuar
e/ou virgular
1. Coloque as vrgulas no seguinte texto, da Revista poca:
Arqueologia
Um Homem de 700 anos
Na semana passada duas mmias foram encontradas em timo estado de conservao na provn-
cia de Islay no Peru. Uma de um homem de 35 anos e a outra de um menino. Elas estavam enterra-
das havia cerca de 700 anos mas ainda conservam cabelos e rgos internos.
2. Observe, agora, este pargrafo:
Ontem pela manh, um grupo de pessoas encontrou-se na rua XV de Novembro, em Curitiba. O
grupo era constitudo por adolescentes e crianas. O grupo se encaminhava para uma apresentao de
ginstica ao ar livre, mas foi surpreendido por uma chuva repentina.
Compare este pargrafo com aquele que voc pontuou e formule a regra para a utilizao das vr-
gulas.
ATIVIDADE
200 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
3. Construa a regra para a utilizao da vrgula, a partir da leitura e observao das seguintes frases:
a. Corra, Jos.
Jos, venha at aqui!
b. Vilma, esposa de Fred, usava o cabelo preso.
Na praa, ele encontrou Maria, dona do cachorro.
4. Os dois pargrafos a seguir referem-se a fatos acontecidos em Portugal e no Brasil. Leia atentamen-
te e procure reescrev-los, de modo a garantir a clareza das notcias veiculadas:
O forcado Pedro Bela Corsa, que contava 22 anos, elemento do Grupo de Forcados de Porta-
legre, que morreu, na quinta-feira, em Lisboa, enterrado, hoje, em Portalegre.
(No se esquea de procurar o signicado da palavra forcado. Posso lhe dizer que est rela-
cionado com as touradas que acontecem em Portugal).
A favor 255 X Contra 206 o projeto foi o resultado do placar na votao eletrnica anulada na
semana passada na Cmara dos Deputados.
5. Os pargrafos a seguir so brincadeiras com a linguagem. Brincando, voc ir perceber como o uso
da pontuao (e da vrgula, logicamente) pode ser fundamental. Reescreva estes pargrafos confor-
me as indicaes, fazendo uso da pontuao adequada:
a. Deixo meus bens minha irm no a meu sobrinho jamais ser paga a conta do alfaiate nada
aos pobres.
Voc a irm:
Voc o sobrinho:
Voc o alfaiate:
Voc um dos pobres:
b. Morte ao Presidente no faz falta nao
Voc contra o Presidente:
Voc a favor do Presidente:
c. Coloque a capa no local adequado:
Vimos uma menina com um livro sem capa na chuva
d. Deixe a Maria tomar banho frio:
Maria no toma banho quente porque sua me diz ela tomarei frio.
6. Vrgula e Religio: observe o versculo 43 do captulo 23 do Evangelho de So Lucas, que ser
transcrito sem pontuao:
Em verdade te digo hoje estars comigo no paraso.
Que implicaes decorrem da localizao da vrgula antes e depois da palavra hoje?
7. O fragmento de texto que transcrevemos abaixo da Revista Caros Amigos, de maro de 2004, e
est transcrito sem as vrgulas. Sua tarefa ser a de colocar as vrgulas, reetindo sobre esta colo-
cao e sobre o papel dela na compreenso do texto.
201
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
Em abril de 2003 durante a 59 Sesso da Comisso de Direitos Humanos das Naes Unidas
(CDHNU) em Genebra por iniciativa da delegao brasileira foi proposta uma resoluo que probe a
discriminao por orientao sexual. At a nada de novo pois foi atravs de medidas como essa que
importantes avanos foram dados no s quanto ao reconhecimento de que mulheres crianas e refu-
giados entre outros grupos sofriam constantemente com a falta de proteo aos seus direitos com a
discriminao e o preconceito sistemticos mas tambm pelo estabelecimento de mecanismos que
visam garantir-lhes a necessria proteo. Na verdade o que se buscou foi exatamente ressaltar a igual-
dade e inalienabilidade de direitos bem como a dignidade inerente a todos os membros da espcie hu-
mana sem distines de qualquer natureza rearmando que na Declarao Universal dos Direitos do
Homem est presente o princpio da inadmissibilidade da discriminao proclamando que todos os se-
res humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que todos so titulares de direitos e liber-
dades sem discriminao de qualquer natureza. Como se pode depreender o objetivo bsico da pro-
posta brasileira apenas a conrmao de tudo isso.
Referncias Bibliogrcas:
CAMPOS, H. Galxias. So Paulo: Ex-libris, 1984.
CENTURIN, M. Contedo e Metodologia de Matemtica. So Pau-
lo: Scipione, 1994.
FARACO, C. A.; Mandryk, D. Lngua Portuguesa Prtica de redao
para estudantes universitrios. Petrpolis: Vozes, 1994.
FARACO, C. A.; CRISTVO, T. Prtica de texto Lngua Portuguesa
para nossos estudantes. Petrpolis: Vozes, 1992.
GUIMARES, A. Direitos humanos para todos ou somente para alguns?.
Revista Caros Amigos, So Paulo, maro de 2004.
Revista poca, n 302, de 01 maro 2004.
SARAMAGO, J. Ensaio sobre a Cegueira. So Paulo: Companhia das
Letras, 1999.
202 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
203
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
204 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Rios sem Discurso
Joo Cabral de Melo Neto
Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de gua que ele fazia;
cortado, a gua se quebra em pedaos,
em poos de gua, em gua paraltica.
Em situao de poo, a gua equivale
a uma palavra em situao dicionria:
isolada, estanque no poo dela mesma,
e porque assim estanque, estancada;
e mais: porque assim estancada, muda
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o o de gua por que ele discorria.
O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito o de gua
para refazer o o antigo que o fez.
Salvo a grandiloqncia de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de muita gua em os
para que todos os poos se enfrasem:
se reatando, de um para outro poo,
em frases curtas, ento frase e frase,
at a sentena-rio do discurso nico
em que se tem voz a seca ele combate.
Referncia: MELO NETO, Joo Cabral de. In: A educao pela pedra. Rio de Janeiro: Jos Olympio. 1979, p.26.
205
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
Lngua Portuguesa
Olavo Bilac
ltima or do Lcio, inculta e bela,
s, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...
Amo-te assim, desconhecida e obscura.
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!
Amo o teu vio agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, rude e doloroso idioma,
Em que da voz materna ouvi: meu lho!,
Em que Cames chorou, no exlio amargo,
O gnio sem ventura e o amor sem brilho!
BILAC, Olavo. Poesias. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1964, pg. 262.
206 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
Lutar com palavras
a luta mais v.
Entanto lutamos
mal rompe a manh.
So muitas, eu pouco.
Algumas, to fortes
como o javali.
No me julgo louco.
Se o fosse, teria
poder de encant-las.
Mas lcido e frio,
apareo e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida.
Deixam-se enlaar,
tontas carcia
e sbito fogem
e no h ameaa
e nem h sevcia
que as traga de novo
ao centro da praa.
Insisto, solerte.
Busco persuadi-las.
Ser-lhes-ei escravo
de rara humildade.
Guardarei sigilo
de nosso comrcio.
Na voz, nenhum travo
de zanga ou desgosto.
Sem me ouvir deslizam,
perpassam levssimas
e viram-me o rosto.
Lutar com palavras
parece sem fruto.
No tm carne e sangue
Entretanto, luto.
Palavra, palavra
(digo exasperado),
se me desaas,
aceito o combate.
Quisera possuir-te
neste descampado,
sem roteiro de unha
ou marca de dente
nessa pele clara.
Preferes o amor
de uma posse impura
e que venha o gozo
da maior tortura.
Luto corpo a corpo,
luto todo o tempo,
sem maior proveito
que o da caa ao vento.
No encontro vestes,
no seguro formas,
uido inimigo
que me dobra os msculos
e ri-se das normas
da boa peleja.
Iludo-me s vezes,
pressinto que a entrega
O Lutador
Carlos Drummond de Andrade
se consumar.
J vejo palavras
em coro submisso,
esta me ofertando
seu velho calor,
outra sua glria
feita de mistrio,
outra seu desdm,
outra seu cime,
e um sapiente amor
me ensina a fruir
de cada palavra
a essncia captada,
o sutil queixume.
Mas ai! o instante
de entreabrir os olhos:
entre beijo e boca,
tudo se evapora.
O ciclo do dia
ora se consuma
e o intil duelo
jamais se resolve.
O teu rosto belo,
palavra, esplende
na curva da noite
que toda me envolve.
Tamanha paixo
e nenhum peclio.
Cerradas as portas,
a luta prossegue
nas ruas do sono.
Referncia: ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia potica. 17.ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1983. p.172-175. )
207
Vrgulas e Signicado
Lngua Portuguesa
De Bernardo Soares, heternimo de Fernando Pessoa:
Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras so
para mim corpos tocveis, sereias visveis, sensualidades incorporadas.
Talvez porque a sensualidade real no tem para mim interesse de ne-
nhuma espcie - nem sequer mental ou de sonho -, transmudou-se-me
o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de
outros. Estremeo se dizem bem. Tal pgina de Fialho, tal pgina de
Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias,
fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingvel que es-
tou tendo. Tal pgina, at, de Vieira, na sua fria perfeio de engenha-
ria sintctica, me faz tremer como um ramo ao vento, num delrio pas-
sivo de coisa movida.
Como todos os grandes apaixonados, gosto da delcia da perda de
mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E, assim, mui-
tas vezes, escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixan-
do que as palavras me faam festas, criana menina ao colo delas. So
frases sem sentido, decorrendo mrbidas, numa uidez de gua senti-
da, esquecer-se de ribeiro em que as ondas se misturam e indenem,
tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim as idias,
as imagens, trmulas de expresso, passam por mim em cortejos so-
noros de sedas esbatidas, onde um luar de idia bruxuleia, malhado e
confuso.
No choro por nada que a vida traga ou leve. H porm pginas de
prosa que me tm feito chorar. Lembro-me, como do que estou ven-
do, da noite em que, ainda criana, li pela primeira vez numa selecta
o passo clebre de Vieira sobre o rei Salomo. Fabricou Salomo um
palcio... E fui lendo, at ao m, trmulo, confuso: depois rompi em
lgrimas, felizes, como nenhuma felicidade real me far chorar, como
nenhuma tristeza da vida me far imitar. Aquele movimento hiertico
da nossa clara lngua majestosa, aquele exprimir das idias nas pala-
vras inevitveis, correr de gua porque h declive, aquele assombro
voclico em que os sons so cores ideais - tudo isso me toldou de ins-
tinto como uma grande emoo poltica. E, disse, chorei: hoje, relem-
brando, ainda choro. No - no - a saudade da infncia de que no
tenho saudades: a saudade da emoo daquele momento, a mgoa
de no poder j ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfnica.
No tenho sentimento nenhum poltico ou social. Tenho, porm,
num sentido, um alto sentimento patritico. Minha ptria a lngua
portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal,
desde que no me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com dio
verdadeiro, com o nico dio que sinto, no quem escreve mal por-
tugus, no quem no sabe sintaxe, no quem escreve em ortograa
208 O Discurso como prtica social: oralidade, leitura, escrita, Literatura
Ensino Mdio
simplicada, mas a pgina mal escrita, como pessoa prpria, a sinta-
xe errada, como gente em que se bata, a ortograa sem psilon, como
o escarro directo que me enoja independentemente de quem o cus-
pisse.
Sim, porque a ortograa tambm gente. A palavra completa vis-
ta e ouvida. E a gala da transliterao greco-romana veste-ma do seu
vero manto rgio, pelo qual senhora e rainha.
Referncia: PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
Você também pode gostar
- História da Literatura Brasileira - Vol. III: Desvairismo e Tendências ContemporâneasNo EverandHistória da Literatura Brasileira - Vol. III: Desvairismo e Tendências ContemporâneasAinda não há avaliações
- Historia da Literatura Brasileira: Realismo e simbolismoNo EverandHistoria da Literatura Brasileira: Realismo e simbolismoAinda não há avaliações
- Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica: Reflexões sobre o currículoNo EverandEnsino de Língua Portuguesa na Educação Básica: Reflexões sobre o currículoAinda não há avaliações
- Coleção Cadernos EJA - ProfessorDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - ProfessorCadernos EJA87% (30)
- Na Ponta Do Lápis 11Documento56 páginasNa Ponta Do Lápis 11natdfi100% (1)
- Barbosa, Jacqueline - Sequência Didática - Artigo de OpiniãoDocumento72 páginasBarbosa, Jacqueline - Sequência Didática - Artigo de OpiniãoInclusão Diversidade100% (11)
- Atividade de Português Questões de Parônimos e Homônimos 9º Ano Modelo EditávelDocumento2 páginasAtividade de Português Questões de Parônimos e Homônimos 9º Ano Modelo EditávelCharles AlencarAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa ReportagemDocumento2 páginasAtividade Avaliativa Reportagemjoselia maria nascimento messias0% (1)
- O Gênero Crônica AtividadeDocumento6 páginasO Gênero Crônica AtividadeThaís SouzaAinda não há avaliações
- Apostila Nivelamento Português 2017 PDFDocumento21 páginasApostila Nivelamento Português 2017 PDFbrenda100% (2)
- Lingua Port PDFDocumento13 páginasLingua Port PDFSamuel Bezerra de LimaAinda não há avaliações
- Plano Anual - 1 Ano - 2012Documento5 páginasPlano Anual - 1 Ano - 2012Nacélio Rodrigues91% (11)
- Analise o Enfermeiro Machado de AssisDocumento5 páginasAnalise o Enfermeiro Machado de AssisRoberta Vuaden100% (1)
- Questionário Sobre Humanismo e Renascimento Quinhentismo e Trovadorismo FinalizadoDocumento18 páginasQuestionário Sobre Humanismo e Renascimento Quinhentismo e Trovadorismo FinalizadoElianeAinda não há avaliações
- Atividade - Trovadorismo - Ceadep - 2019Documento2 páginasAtividade - Trovadorismo - Ceadep - 2019Shislaine Carvalho100% (1)
- Ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio por meio da Pedagogia de Projetos: Projeto Minha AutoriaNo EverandEnsino da Língua Portuguesa no Ensino Médio por meio da Pedagogia de Projetos: Projeto Minha AutoriaAinda não há avaliações
- Apostila SEED Educação FísicaDocumento248 páginasApostila SEED Educação FísicaCadernos EJA85% (20)
- Arte Ensino MédioDocumento336 páginasArte Ensino Médiojicoelho67% (3)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 11 Tecnologia e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 11 Tecnologia e TrabalhoCadernos EJA50% (2)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 07 Meio Ambiente e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 07 Meio Ambiente e TrabalhoCadernos EJA88% (8)
- Determinação Dos Coeficientes de MolaDocumento52 páginasDeterminação Dos Coeficientes de MolaAlessandro BollellaAinda não há avaliações
- 21 - A Valorização Da Vida Nas Diferentes Tradições Religiosas e Místico-FilosóficasDocumento14 páginas21 - A Valorização Da Vida Nas Diferentes Tradições Religiosas e Místico-FilosóficasMaria Cristina Cunha Premiani75% (8)
- OFICINA 02 - Sequência Didática - o Que É Como Se FazDocumento23 páginasOFICINA 02 - Sequência Didática - o Que É Como Se Fazclebermirabela100% (1)
- PROVA01Documento3 páginasPROVA01Sany Adriana Rocha SimõesAinda não há avaliações
- PortuguesDocumento4 páginasPortuguesBenigno Andrade Vieira50% (2)
- Atividade de Portugues Intertextualidade Ensino Medio WordDocumento1 páginaAtividade de Portugues Intertextualidade Ensino Medio WordThaísAinda não há avaliações
- Lingua PortuguesaDocumento138 páginasLingua PortuguesaJoão Paulo100% (1)
- Apostila Literatura BrasileiraDocumento274 páginasApostila Literatura BrasileiraJuliano Menezes67% (6)
- Revisão Verbos CompletoDocumento28 páginasRevisão Verbos CompletoSandra Polliane Silva75% (4)
- 3ano - 3º BM Professor PDFDocumento197 páginas3ano - 3º BM Professor PDFeveline.marques100% (1)
- Acentuação Grafica 1Documento2 páginasAcentuação Grafica 1Vanessa StephaneAinda não há avaliações
- 41 Jogos de Língua PortuguesaDocumento26 páginas41 Jogos de Língua PortuguesaRenata Caetano100% (4)
- Ebook de Professores de Língua Portuguesa para Professores de Língua PortuguesaDocumento161 páginasEbook de Professores de Língua Portuguesa para Professores de Língua PortuguesaJrabelo100% (4)
- Modulo Da Oficina de Leitura e Producao Textual PDFDocumento279 páginasModulo Da Oficina de Leitura e Producao Textual PDFrose_barros_4100% (5)
- Funções Da Linguagem - Planos de Aula - Médio - UOL EducaçãoDocumento2 páginasFunções Da Linguagem - Planos de Aula - Médio - UOL EducaçãoRaquel Assis100% (1)
- Planejamento Anual de Curso de PortuguêsDocumento5 páginasPlanejamento Anual de Curso de PortuguêsRosenilda Aparecida LacheskiAinda não há avaliações
- A Intertextualidade (1) SlidesDocumento36 páginasA Intertextualidade (1) SlidesPaulo Victor Trajano Mathias DuarteAinda não há avaliações
- Prova de PortuguêsDocumento4 páginasProva de PortuguêsElizangela França100% (1)
- Caça Palavras Funções de LinguagemDocumento1 páginaCaça Palavras Funções de LinguagemCristiane ToledoAinda não há avaliações
- Artigo e NumeralDocumento23 páginasArtigo e NumeralPollyane GonçalvesAinda não há avaliações
- Atividades Sobre A História Da Língua PortuguesaDocumento1 páginaAtividades Sobre A História Da Língua PortuguesaEEEFM POLIVALENTE DE LINHARES I50% (2)
- Jogos para A Aula de EspanholDocumento1 páginaJogos para A Aula de EspanholCarlos André100% (1)
- PORTUGUÊS CRÔNICA 9 AnoDocumento3 páginasPORTUGUÊS CRÔNICA 9 AnoSuelem Da Silva Bitencourt100% (1)
- Aula 1 - Introdução À LiteraturaDocumento5 páginasAula 1 - Introdução À LiteraturaPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Conhecendo Os Sinais de PontuaçãoDocumento7 páginasPlano de Aula - Conhecendo Os Sinais de PontuaçãoMarcos SilvaAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa - Flexao Genero e NumerosDocumento3 páginasLíngua Portuguesa - Flexao Genero e NumerosyaraemeryAinda não há avaliações
- AAP - Língua Portuguesa - 1 Série Do Ensino MédioDocumento16 páginasAAP - Língua Portuguesa - 1 Série Do Ensino Médiofabricia cordeiro barrosAinda não há avaliações
- Resumo Simplificado Das Escolas Literárias-1Documento9 páginasResumo Simplificado Das Escolas Literárias-1Maria Cristina CristinaAinda não há avaliações
- Protótipo Didático para o ensino de Língua Portuguesa: práticas de multiletramentos na sala de aulaNo EverandProtótipo Didático para o ensino de Língua Portuguesa: práticas de multiletramentos na sala de aulaAinda não há avaliações
- Livro Didático de Língua Portuguesa:: Por uma Política de Formação de Leitores da ImagemNo EverandLivro Didático de Língua Portuguesa:: Por uma Política de Formação de Leitores da ImagemAinda não há avaliações
- Interferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] finalNo EverandInterferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] finalAinda não há avaliações
- A (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoNo EverandA (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa & EJA no Contexto do CiberespaçoNo EverandLíngua Portuguesa & EJA no Contexto do CiberespaçoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Variedades Linguísticas: da teoria à prática em sala de aulaNo EverandVariedades Linguísticas: da teoria à prática em sala de aulaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Métodos e Práticas para o Ensino de Línguas e Literaturas: percepções sobre a pandemia da Covid-19, interferências na educaçãoNo EverandMétodos e Práticas para o Ensino de Línguas e Literaturas: percepções sobre a pandemia da Covid-19, interferências na educaçãoAinda não há avaliações
- Nas entrelinhas das tiras cômicas: uma abordagem de leitura de tiras cômicas por meio da identificação de pressupostos e implícitosNo EverandNas entrelinhas das tiras cômicas: uma abordagem de leitura de tiras cômicas por meio da identificação de pressupostos e implícitosAinda não há avaliações
- Educação Literária no Ensino Médio: Percursos EtnográficosNo EverandEducação Literária no Ensino Médio: Percursos EtnográficosAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa, Cidadania e Temas Transversais: Temas Atuais. Temas Indispensáveis à Formação de uma Sociedade Crítica e DemocráticaNo EverandLíngua Portuguesa, Cidadania e Temas Transversais: Temas Atuais. Temas Indispensáveis à Formação de uma Sociedade Crítica e DemocráticaAinda não há avaliações
- Encenações nas aulas de língua espanhola: uma intervenção didáticaNo EverandEncenações nas aulas de língua espanhola: uma intervenção didáticaAinda não há avaliações
- Apostila SEED MatemáticaDocumento240 páginasApostila SEED MatemáticaCadernos EJA100% (7)
- PDF BiologiaDocumento472 páginasPDF Biologialúcia c.Ainda não há avaliações
- Apostila SEED QuímicaDocumento248 páginasApostila SEED QuímicaCadernos EJA88% (8)
- Educação Ambiental - Registros Na EscolaDocumento132 páginasEducação Ambiental - Registros Na EscolaCadernos EJA100% (3)
- Apostila SEED Língua Estrangeira - Espanhol - InglêsDocumento256 páginasApostila SEED Língua Estrangeira - Espanhol - InglêsCadernos EJA100% (4)
- Apostila SEED HistóriaDocumento400 páginasApostila SEED HistóriaCadernos EJA100% (9)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 12 Tempo Livre e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 12 Tempo Livre e TrabalhoCadernos EJA86% (7)
- Apostila SEED FísicaDocumento232 páginasApostila SEED FísicaCadernos EJA100% (13)
- Educação Ambiental - PRONEADocumento52 páginasEducação Ambiental - PRONEACadernos EJA100% (5)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 13 Trabalho No CampoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 13 Trabalho No CampoCadernos EJA86% (7)
- Educação Ambiental - LixoDocumento102 páginasEducação Ambiental - LixoCadernos EJA100% (6)
- PRONEADocumento105 páginasPRONEALeonardo CorreiaAinda não há avaliações
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 09 Qualidade de Vida, Consumo e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 09 Qualidade de Vida, Consumo e TrabalhoCadernos EJA100% (5)
- Consumo Sustentável - Educação Ambiental e ConsumoDocumento162 páginasConsumo Sustentável - Educação Ambiental e ConsumoLuizSantosAinda não há avaliações
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 08 Mulher e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 08 Mulher e TrabalhoCadernos EJA100% (6)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 06 Juventude e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 06 Juventude e TrabalhoCadernos EJA100% (5)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 10 Segurança e Saúde No TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 10 Segurança e Saúde No TrabalhoCadernos EJA100% (4)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 01 Cultura e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 01 Cultura e TrabalhoCadernos EJA100% (5)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 03 Economia Solidária e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 03 Economia Solidária e TrabalhoCadernos EJA100% (1)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 04 Emprego e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 04 Emprego e TrabalhoCadernos EJA100% (12)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 02 Diversidades e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 02 Diversidades e TrabalhoCadernos EJA100% (5)
- Coleção Cadernos EJA - Professor - 05 Globalização e TrabalhoDocumento96 páginasColeção Cadernos EJA - Professor - 05 Globalização e TrabalhoCadernos EJA100% (4)
- Coleção Cadernos EJA - 11 Tecnologia e TrabalhoDocumento64 páginasColeção Cadernos EJA - 11 Tecnologia e TrabalhoCadernos EJA100% (2)
- Coleção Cadernos EJA - 09 Qualidade de Vida, Consumo e TrabalhoDocumento64 páginasColeção Cadernos EJA - 09 Qualidade de Vida, Consumo e TrabalhoCadernos EJA100% (1)
- Coleção Cadernos EJA - 10 Segurança e Saúde No TrabalhoDocumento64 páginasColeção Cadernos EJA - 10 Segurança e Saúde No TrabalhoCadernos EJA100% (1)
- Bene Martins e Mailson Soares-01-10Documento10 páginasBene Martins e Mailson Soares-01-101dennys5Ainda não há avaliações
- Curriculo - Leandro Varela de SousaDocumento2 páginasCurriculo - Leandro Varela de SousalandvresouAinda não há avaliações
- Tubotecas em Curitiba-PRDocumento14 páginasTubotecas em Curitiba-PREmanuel AquinoAinda não há avaliações
- Pedro Floriano Currículo (Escolar)Documento1 páginaPedro Floriano Currículo (Escolar)Pedro FlorianoAinda não há avaliações
- Veganismo - AntropologiaDocumento10 páginasVeganismo - AntropologiaBruna FiallaAinda não há avaliações
- DOE PR - Aprovados Delegado de Polícia - PG 102 - EX - 2014!04!04Documento122 páginasDOE PR - Aprovados Delegado de Polícia - PG 102 - EX - 2014!04!04Robert ThompsonAinda não há avaliações
- Tese Walderez Pohl Da SilvaDocumento210 páginasTese Walderez Pohl Da SilvaLavínia OliveiraAinda não há avaliações
- Problemas de Fonética No Português PopularDocumento25 páginasProblemas de Fonética No Português PopularCaio Rudá de OliveiraAinda não há avaliações
- Anais SIMBAU 2020Documento62 páginasAnais SIMBAU 2020Kesya R ReisAinda não há avaliações
- Análise Tecnica REDE DE HOTÉISDocumento100 páginasAnálise Tecnica REDE DE HOTÉISAlexandreAinda não há avaliações
- 75 Anos de Ciencias Biologicas Na UFPRDocumento247 páginas75 Anos de Ciencias Biologicas Na UFPRMariana ValenteAinda não há avaliações
- Demp PR 0009032022Documento10 páginasDemp PR 0009032022Luan ValentimAinda não há avaliações
- Tecido Acrobático Uma Revisão SistemáticaDocumento18 páginasTecido Acrobático Uma Revisão SistemáticaGuilherme DrumondAinda não há avaliações
- A Construção de Cascavel-Pr: Da Formação Do Pouso Às Ressonâncias Das Propostas Urbanísticas de Jaime Lerner Até 1989.Documento176 páginasA Construção de Cascavel-Pr: Da Formação Do Pouso Às Ressonâncias Das Propostas Urbanísticas de Jaime Lerner Até 1989.Lissandra Guimarães GilAinda não há avaliações
- 4º Ano OBDocumento24 páginas4º Ano OBAlmir SantosAinda não há avaliações
- Voz Maflow 27-07 ImpressoDocumento2 páginasVoz Maflow 27-07 ImpressoMauricio Trindade CcbAinda não há avaliações
- Código de Normas Do Foro Extrajudicial - Atualizado Até o Provimento 318.2023 - SumárioDocumento385 páginasCódigo de Normas Do Foro Extrajudicial - Atualizado Até o Provimento 318.2023 - SumárioFabíola KocembaAinda não há avaliações
- 2L04 LRV - Exe 0410 Et - Traf 00Documento23 páginas2L04 LRV - Exe 0410 Et - Traf 00Ítalo MoraesAinda não há avaliações
- Nicolas RIBEIRO: História Dos Diário Dos Campos (Ponta Grossa, 2017)Documento15 páginasNicolas RIBEIRO: História Dos Diário Dos Campos (Ponta Grossa, 2017)Jornalismo InternacionalAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento1.572 páginasArtigoJoão Lucio de Souza Jr.Ainda não há avaliações
- Matematica Apoio Aluno (Pag 1 A 42)Documento42 páginasMatematica Apoio Aluno (Pag 1 A 42)Cássio Magela da Silva100% (15)
- Doa - 2023 02 01Documento12 páginasDoa - 2023 02 01rcker faceAinda não há avaliações
- Solo Criado CuritibaDocumento20 páginasSolo Criado CuritibaMia HiromiAinda não há avaliações
- Cultura Tropeira em CastroDocumento42 páginasCultura Tropeira em CastroAparecidaAinda não há avaliações
- Livro Davina M. PintoDocumento80 páginasLivro Davina M. PintoT PintoAinda não há avaliações
- Orientacao 01 2023 Matricula InicialDocumento29 páginasOrientacao 01 2023 Matricula InicialCLAURINASCIMENTOAinda não há avaliações
- Manual Do Sistema Agatha Revisado v5Documento45 páginasManual Do Sistema Agatha Revisado v5Marcos MouraAinda não há avaliações
- Basei Et Al 1992Documento6 páginasBasei Et Al 1992Fernando Martins PereiraAinda não há avaliações





















































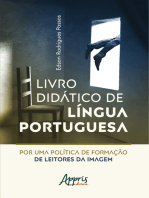
![Interferência da fala na escrita de alunos do Ensino Médio: descrição e análise de usos de monotongação e de apagamento do [r] final](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/475503054/149x198/bfdcb251f9/1707247709?v=1)