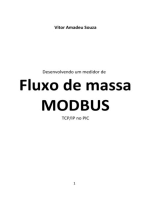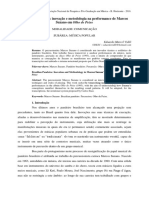Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
20110824-Elias Herlander Neon Digital
20110824-Elias Herlander Neon Digital
Enviado por
Vicky Moro BombassaroDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
20110824-Elias Herlander Neon Digital
20110824-Elias Herlander Neon Digital
Enviado por
Vicky Moro BombassaroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Herlander Elias Non Digital
Um Discurso sobre os Ciberespaos
Livros LabCom
2008
i
i
i
i
i
i
i
i
Livros LabCom
http://www.livroslabcom.ubi.pt/
Srie: Estudos em Comunicao
Direco: Antnio Fidalgo
Design da Capa: Herlander Elias
Paginao: Catarina Rodrigues
Covilh, 2008
Depsito Legal: 272501/08
ISBN: 978-972-8790-90-5
i
i
i
i
i
i
i
i
Contedo
1 Razes e Cabos Elctricos:
o Ciberespao Polirrtmico e a Electrnica Negra 1
1.1 Tocando Bateria pelo Espao Polirrtmico . . . . . . . . . . . 3
1.2 Duplicando a Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3 Ali Dentro Uma Selva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 Notas do Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 Ciberespao: O Lugar-Mquina
Mapeando o Novo Territrio 23
2.1 O Mundo Electrnico de Tron . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2 No mbito da Caixa-Negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3 Ciberntica + Espao = Ciberespao . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4 A Runa do Espao Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5 O Mundo No-Mediado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6 O Espao do Necro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.7 Espao-Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.8 Cultura dos Cubos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.9 Rizoma Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3 A Subjectividade Mediada por Vdeo.
Experincias Audiovisuais na Primeira Pessoa 57
3.1 O Dispositivo-Figurativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 A Arma-Fotogrca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.3 A Cine-Viso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.4 O Virtual na Primeira Pessoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ii Neondigital: Um Discurso sobre os Ciberespaos
3.5 O Espao da Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4 O Texto-Programa
De Gutenberg ao Cdigo-Mquina 81
4.1 O Texto-Mquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2 O Texto Pr-Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3 O Cdigo-Mquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.4 IA Inteligncia Articial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.5 O Texto-Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.6 Texto-Programa vs Programa-de-Texto . . . . . . . . . . . . . 98
4.7 A Des-Programao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.8 A Des-Codicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.9 A Virose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5 Desligao-Terminal
Pensando o Mito da Desligao 109
5.1 Parte I: Ligado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.2 Intensidades e Compulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3 Eros da Tcnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.4 Matrizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.5 Parte II: Conexes Abandonadas . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.6 Links Partidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.7 Desconguraes e Desprogramaes . . . . . . . . . . . . . 120
5.8 O Mito da Desligao-Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6 MTV: O Laboratrio de Imagem 125
6.1 O Que o MTV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.2 MTVoluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.3 Imagens Lquidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.4 MTVision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.5 Esttica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.6 A Experincia MTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.7 Rizoma-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.8 Estilo MTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.9 O Cdigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.10 Frmula do Jolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Contedo iii
6.11 A Construo do Videoclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.12 Encontros POP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6.13 Supercones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.14 MTV Target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.15 MTV Party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.16 Stereo System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.17 Promoo Sem Interrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7 A Imagem na Era Digital
O Constante Videogco 143
7.1 O Imaginrio e as Possibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.2 A Quanticao Cromtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.3 O Neo-Pictural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.4 A Criatividade Imediata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.5 O Design de Grasmos Simulados . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.6 A Previsibilidade dos Actos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7.7 Amplitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7.8 O Momento da Revelao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.9 A Pseudo-Matria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
7.10 Atelier e Laboratrio em Fuso . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7.11 O Constante Videogrco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.12 A Reprodutibilidade da Obra Digital . . . . . . . . . . . . . . 153
7.13 O Ps-Espectacular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8 Alter Machina: A Mquina das Alteridades
A Construo do Sujeito e os Constructos de Inteligncia
Articial 159
8.1 A Construo do Sujeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
8.2 Identidade, Mscara e Mutao . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8.3 Estranhas Alteridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8.4 Alter Machinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.5 Construindo o Monstro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8.6 Dar Corpo ao Constructo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
iv Neondigital: Um Discurso sobre os Ciberespaos
9 Esttica e Tcnica
Do Renascimento Realidade Virtual 183
9.1 Arte Clssica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
9.2 Design Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
9.3 Novas Tecnologias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
9.4 Video-Escultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.5 Arquitectura Virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10 Museologia Virtual: Promessas do Digital 201
10.1 O Metamuseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.2 A Metamuseologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.3 A Arte da Ligao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
10.4 O Limite do Museu Clssico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
10.5 Walter Van Der Cruijsen e The Digital City . . . . . . . . . . 206
10.6 The Temporary Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
10.7 O Cyberartist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
10.8 Des-Realizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
10.9 Artes e Virtualidades Prolongadas . . . . . . . . . . . . . . . 211
10.10 Promessas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11 Sobre a Tecnicizao da Experincia:
Ligao, Interrupo e Interferncia na Cibercultura 215
12 Blade Runner: O Habitat Ciborgue 231
12.1 Perigo Iminente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
12.2 Articial vs Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
12.3 O Lugar-Limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
12.4 O Mundo-Mquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
12.5 Os Produtos da Tcnica e o Inquietante . . . . . . . . . . . . 238
12.6 Seres Para a Morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
12.7 Tenso Espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
12.8 O Regime do Real? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
13 The Advergames Report
On The Next Generation of Ludic Advertising 245
13.1 The Concept of Advergames . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Contedo v
13.2 Updating Ads in Real-Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
13.3 Game Placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
13.4 In-Game Advertising and Branding Games . . . . . . . . . . 248
13.5 Advertising in and About Videogames
Can Be Very Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
14 Bibliograa 253
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Acerca do Autor
Alm deste ensaio, Non Digital Um Discurso Sobre os Ciberespaos (que
revela vrios discursos possveis acerca dos ciberespaos), encontram-se tam-
bm publicados por Herlander Elias os ensaios Ciberpunk Fico e Con-
temporaneidade (Ed.Autor, Dist. Sodilivros: 1999); Performing Arts Beyond
Shock in a Media Network Culture, (Capitals Journal, ACARTE-Fundao
Calouste Gulbenkian: 2002); Net Work On Network, Leonardo Journal of
Arts, Creativity and Technology, June Issue (MIT Press: 2004); A Sociedade
Optimizada pelos Media (MdiaXXI, 2006) e Brand New World O Novo
Mundo da Anti-Publicidade (UBI, BOCC [www.bocc.ubi.pt]: 2006). O autor
actualmente Professor Universitrio na Faculdade de Artes e Letras - Depar-
tamento de Comunicao e Artes da Universidade da Beira Interior (UBI) e
colaborador da revista MdiaXXI, onde assina a coluna de Cibercultura.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 1
Razes e Cabos Elctricos: o Ciberespao
Polirrtmico e a Electrnica Negra
Onde nos situamos ns? As paisagens mentais colectivas dentro das quais nos
encontramos e perdemos parecem entrar rapidamente em mutao: a densi-
dade urbana comprimida de ummundo cada vez mais globalizado, enredado
e sobrepovoado; as zonas crepusculares introduzidas pela saturao meditica
e o colapso das narrativas mestras; as regies fronteirias enevoadas entre
identidades, etnias, corpos, esculturas; as virtuais interdimenses do ciberes-
pao. Estas novas morfologias sociais e psquicas exigem que reimaginemos
o espao em si mesmo.
Uma coisa certa: o sistema cartesiano no ser mais suciente enquanto
centro conceptual ou modelo tctico para designar os espaos que nos rodeiam
e afectam. Fazem-nos falta dobras complexas, milieus mais permeveis, deso-
rientaes mais capazes. Precisamos de modelos que tirem partido de espaos
intensivos, bem como de extensivos, para vcuos bem como a substncias.
Precisamos de imagens e alegorias que de alguma forma possam sugerir as
amplas multiplicidades e complexas redes que se movem subtilmente no ho-
rizonte do pensamento e da experincia como os escancarados hiperespaos
das cosmologias da co cientca mais mental.
medida que surgem modelos de ciberespao que escapam ao sistema
0
Este captulo da autoria de Erik Davis, aqui includo com autorizao expressa. A tradu-
o minha.
Uma verso deste ensaio foi publicada online aquando da 5
a
CYBERCONF, em Madrid, em
1996.
1
i
i
i
i
i
i
i
i
2 Herlander Elias
de coordenadas cartesiano devemos recordar-nos da distino de Marshall
McLUHAN entre espao visual e espao acstico. Para McLUHAN, o
espao visual era linear, lgico e era uma ambiente sequencial construdo por
caracteres alfanumricos e, mais recentemente, pela perspectiva do Renasci-
mento. Ns sabemo-lo atravs de DESCARTES e de William GIBSON: a
aparncia simultnea de uma grelha objectiva e de um objecto controlado in-
dividualmente.
No s sobrepomos "naturalmente"esta grelha panptica de longe ao campo
mais ambguo da actual viso, como temos acolhido-a como sendo a domi-
nante imagem conceptual do espao em si.
McLuhan acreditava que os media electrnicos estavam a subverter o es-
pao visual, ao introduzir o espao acstico: o modo perceptivo, psicol-
gico e social que poliu a claridade lgica do espao visual e a objectividade
cartesiana, vem reenviar-nos electronicamente para um gnero de experincia
prmoderna o que se chega a chamar uma vez, com uma humildade carac-
terstica, a frica Interior (1).
Explicado de forma simples, o espao acstico o espao que ouvimos,
multidimensional, ressonante, invisivelmente tctil, um campo de relaes
simultneo e total.
Contudo, estas propriedades santas so importantes, eu gostava de pas-
sar ao lado da unidade simples que a santicao implica, acentuando o jogo
de multiplicidades co-dependentes dentro do espao acstico.
Nada semelhante ao espao visual, onde os pontos geralmente se fundem
ou continuam distintos, os blocos de som podem sobrepor-se e interpenetrar-
se sem entrar necessariamente em colapso com a unidade harmnica ou com
a consonncia, mantendo assim o paradoxo da diferena simultnea.
No auge do seu valor enquanto alternativa, o modelo animador de cibe-
respao no-visual, a noo de MCLUHAN de espao acstico, explora uma
dimenso histrica e cultural de ciberespao, que tem sido frequentemente
examinada: os espaos musicais produzidos predominantemente ou inteira-
mente pelos meios electrnicos. Deste modo, das paisagens invisveis de
CAGE e STOCKHAUSEN at s exploraes analgicas dos produtores de
dub reggae e dos gnios de sintetizadores do incio de 1970 at s paisagens
sonoras digitais que do forma ao ambient, jungle e hip-hop actuais, uma
poro signicante de msica electronicamente mediada tem-se preocupado
explicitamente com a construo de espaos virtuais.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 3
Neste texto, estou interessado numa zona particular do ciberespao elec-
troacstico, uma zona a que chamo de Electrnica Negra
1
. Tomei o termo
a partir do terico cultural britnico Paul GILROY, que usa a frase Atln-
tico Negro para denotar a rede de trabalho da cultura africana diasprica
que penetra os Estados Unidos, as Carabas, e, no m do sculo XX, o Reino
Unido. GILROY considera o Atlntico Negro um espao modernista con-
tracultural, um espao que, para todas as reivindicaes dos nacionalistas do
negro cultural, no organizado pelas razes africanas mas por um conjunto
de vectores rizomrcos, traados e por trocas: navios, migraes, crioulos,
fongrafos, European miscegenations, voos de expatriao, sonhos de repa-
triao. A imagem das linhas cruzadas do oceano Atlntico essencial para
o propsito de GILROY, que polir a noo monoltica de razes e tradio,
enfatizando as qualidades sem-descanso, recombinante da cultura Afrodi-
asprica como simultaneamente explora, tira partido, e resiste aos espaos da
modernidade (2).
Ento uso a Electrnica Negra para caracterizar aqueles ciberespaos
electroacsticos que emergem do contexto histrico-cultural do Atlntico
Negro. Contudo acredito que algumas das razes destes espaos residamna
frica Ocidental, estou mais preocupado com o seu comportamento decidida-
mente rizomrco medida que elas entre-cruzam essa dimenso acstica
que David TOOP apelida, num contexto ligeiramente diferente, o oceano de
som do sculo XX (3). Em particular, quero explorar uma zona especca
pela Electrnica Negra adentro: os notveis espaos acsticos que emer-
gem quando a sensibilidade polirritmica encontrada na percusso Africana
Ocidental encontra os tais instrumentos electrnicos, de uma vez musicais
e tecnolgicos, que gravam, reproduzem, e manipulam som (4).
1.1 Tocando Bateria pelo Espao Polirrtmico
Quando consideramos a questo de como o uxo temporal conjura a sensibi-
lidade qualitativa de espao, usualmente no nos viramos para o ritmo. Em
vez disso, consideramos o som ambient, noise, echo e a sensao de dimenso
introduzida pelas variaes em elevao e amplamente distribudos em grupos
tonais.
1
N.T. Black Electronic o termo proferido por Erik Davis no texto original.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
4 Herlander Elias
O ritmo at parece cortar de encontro a construo subjectiva do espao
musical, cortando e baralhando a dimenso acstica em puros factos tempo-
rais. Mas eu gostava de sugerir que o polirritmo Africano Ocidental esculpe
uma dimenso nica e poderosa do espao acstico ao gerar uma ordem de
milieux
2
autnomos que so estraticados e empilhados, e constantemente
interpenetrados um espao nmada de multiplicidade revelado no voo. O
polirritmo impele o ouvinte a explorar o complexo espao de batidas, a seguir
um qualquer nmero de udas, arqueadas e articiais linhas de voo, para se
submeter ao que o cenrio hip-hop A Tribe Called Quest chama o instinto
rtmico para conceder a viagem para alm das foras existentes de vida.
Deve ser dito que o Ocidente tem uma histria um tanto ou quanto re-
pelente de reduzir a cultura africana e Afrodiasprica aos seus ritmos. Ao
mesmo tempo, no devemos deixar que as imagens de Hollywood do selva-
gem e do baterista/percussionista frentico (ou as mais subtis distores
que emergem com discusses sobre-generalizadas como a minha), obscurecer
o papel principal que o ritmo desempenha na esttica Africana Ocidental, na
organizao social e metafsica. Nem deve o evidente poder psicosiolgico
das batidas e a sua intimidade para com os corpos danantes obstruir os seus
mais abstractos, conceptuais ou virtuais poderes. Tal como espero implicar,
atravs de todo este texto, que as batidas Africanas Ocidentais possam servir
como um excelente modelo analgico para a variedade de fazer pressing nas
discusses tecnoculturais sobre redes distribudas, sobre a losoa e percep-
o das multiplicidades, e emergentes propriedades de sistemas complexos
(5).
Ainda assim prero o termo mais perdedor: polyrhthym, a percusso tra-
dicional da frica Ocidental talvez mais precisamente descrita como poli-
mtrica. O metro a unidade standard de tempo que divide a msica euro-
peia. Na maioria das sinfonias ou conjuntos, todos os instrumentos seguem
basicamente o mesmo metro, o ritmo partilhado contado igualmente e en-
fatizado em cada batida principal. Ns chamamos, desta maneira, divisivo ao
ritmo Ocidental porque dividido em unidades de tempo standard. Mas os
ritmos tradicionais da msica Africana Ocidental so considerados aditivos,
um termo que j nos fornece alguma indicao da sua fundamental multi-
2
N.T. Milieu um meio, um centro, um ambiente (fsico ou social) em que se vive; no
qual ocorrem determinados fenmenos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 5
plicidade. Os padres de percusso complexos da msica borbulham desde
a interaco mudana e ns abertos entre to diferentes padres individuais
e elevaes de batidas. Como John Miller CHERNOFF pe a questo: na
msica africana existem sempre pelo menos dois ritmos a dar (6).
De forma a anotar esta msica, que tradicionalmente passada mnemo-
nicamente e oralmente, os musiclogos Ocidentais so forados a designar
diversos metros para diferentes instrumentos da polimtrico. Escritas
abaixo, as medidas que organizam as sequncias de batidas repetitivas associ-
adas a cada instrumento podem ser de extenses diferentes e o mesmo serve
relativamente s designaes de tempo. Nem as barras de linhas, nem as bati-
das principais associadas a cada instrumento coincidem, mas em vez disso so
estraticadas atravs da msica, cujos temas rtmicos esto constantemente
a aparecer e a desaparecer. Msicos individuais, desta forma, praticam o que
considerado como tocando parte
3
, mantendo uma distncia denida en-
tre as suas batidas e as dos outros percussionistas, um espao de diferena
que se recusa a entrar em colapso ou fundir-se num ponto rtmico unicado.
Por seu turno isto produz conversaes permanentes e padres cruzados entre
cada batida, um dilogo que tambm uma dimenso complexa de diferena
introduzida entre elementos que so, eles mesmos, frequentemente muito re-
petitivos e simples.
Mesmo que esta descrio seja sobretudo esquemtica, podemos pelo me-
nos compreender que o polirritmo tem pouco a ver com a pura repetio.
Como DELEUZE & GUATTARI apontaram em Sobre o Refro, o seu ca-
ptulo crucial sobre esttica no Mille Plateaux, a diferena que rtmica,
no a repetio, que todavia a produz: a repetio produtiva no tem nada a
ver com o metro reprodutivo (minha nfase) (7). Mesmo para se chamar s
batidas de frica Ocidental polimtricas j deni-las de uma perspectiva
ilusria. Tal como DELEUZE & GUATTARI escrevem, o metro, quer seja
regular ou no, assume uma forma codicvel cuja unidade de medida pode
variar, mas num milieu no-comunicante, visto que o ritmo seja desigual ou
o incomensurvel isso est sempre a arrastar transcodicaes. O metro
dogmtico, mas o ritmo crtico: ele liga em conjunto momentos crticos, ou
amarra-se a si mesmo em conjunto, passando de um milieu para outro. Ele
3
N.T. Apart-Playing o termo referido no original pelo autor.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
6 Herlander Elias
no opera num espao-tempo homogneo, mas por blocos heterogneos. Ele
muda de direco (8).
Mas o que que constitui exactamente esses milieus dentro de uma con-
juno polirritmica como as de hoje? Cada milieu vibratrio, escrevem
DELEUZE & GUATTARI. Por outras palavras, um bloco de espao-tempo
constitudo pela repetio peridica do componente. Cada milieu codi-
cado, um cdigo que se dene pela repetio peridica. (9) Parece simples:
cada milieu especco um bloco de espao-tempo produzido pelas repeti-
es exactas de cada batida individual. A comunicao polirritmica revela-se,
desta maneira, como um jogo interdimensional de milieus um adorno mu-
tante de cortes, quebras, dobras e fuses; um hiperespao acstico. Cada
milieu serve de base para um outro, ou mutuamente disposto por sobre ou-
tro milieu, dissipa-se nisso ou constitudo nisso. A noo do milieu no
unvoca: no s o elemento vivo (o danarino/ouvinte) passam continuamente
de um milieu para outro, como essencialmente vo comunicando. Os milieus
esto abertos ao caos, que os ameaa com exausto ou confuso. O ritmo a
resposta do milieu ao caos (10).
E com a antiga mediao da batida, este potente jogo entre caos e ritmo
leva-nos para fora da teoria e para dentro da dana da multiplicidade vivida. A
msica polirritmica permite uma alameda primria e invulgarmente intuitiva,
no para conceptualizar, mas para arrastar estes espaos heterogneos, passa-
gens caticas e os milieus comunicantes para dentro das nossas mente-corpo
medida que nos tecemos a ns mesmos numa tapearia brosa de batidas mo-
leculares e de padres percussivos entre-cruzados do conjunto polirrtmico.
Para demonstrar apenas como o polirritmo mobiliza conceitos loscos,
quero falar do excelente livro de CHERNOFF: African Rhythm and African
Sensibility. Na seguinte amostra extensiva, que cortei e estratiquei a partir
de vrios pontos do livro, o autor, auto-conscientemente escrevendo segundo
uma perspectiva Ocidental, revela uma espcie de pragmtica do ouvinte po-
lirrtmico. Embora os aspectos loscos da sua discusso estejam implcitos,
eu peo-lhe que oia tambm estes harmnicos:
O efeito da msica polimtrica como se os diferentes rit-
mos competissem pela nossa ateno. To depressa apanhamos
um ritmo como logo lhe perdemos o rasto e ouvimos outro. Em
algo como Adzogba ou Zhem no , de facto, fcil encontrar
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 7
uma batida constante, de todo. A concepo Ocidental da ba-
tida ou pulsao principal parece desaparecer, e um Ocidental
que no consegue apreciar as complicaes rtmicas e que man-
tma orientao do seu gosto de ouvir msica habitual facilmente
se perde... A situao desconfortvel porque se o metro bsico
no evidente, ns no compreendemos como que duas pes-
soas ou mais conseguem tocar juntas ou, ainda mais desconforta-
velmente, como que algum consegue tocar... Comeamos por
compreender a msica africana ao ser-se hbil para manter, nas
nossas mentes ou nos nossos corpos, um ritmo adicional nos rit-
mos que ouvimos. Ouvindo outro ritmo para encaixar ao longo
de um conjunto de ritmos basicamente o mesmo gnero de ori-
entao para um ouvinte que o tocar parte para o msico
um maneira de estar rme num contexto de ritmos mltiplos...
S atravs dos ritmos combinados emerge a msica, e a nica
forma adequada de ouvir a msica, de achar a batida... ouvir
pelo menos dois ritmos de uma s vez. Voc devia tentar ouvir
a maior quantidade de ritmos possvel trabalhando juntos, ainda
que permanecendo distintos (11).
Porque os ouvintes so forados a adoptar um nmero qualquer de poss-
veis perspectivas rtmicas montagens subjectivas que reorganizam o espao
acstico que as rodeia CHERNOFF insiste certamente que estas esto ac-
tivamente comprometidas no fazer sentido da msica (12). Ns temos que
entrar no polirritmo; ao seleccionar certos agrupamentos rtmicos, e cortando
e combinando-os com outras batidas, as nossas mentes-corpo geram uma per-
cepo do uxo coerente adentro ao espao de multiplicidade, uma espcie
de linha de equilbrio de voo que constantemente entre-cruza um terreno mu-
tvel e instvel. Ouvindo e danando um polirritmo, logo participamos tac-
ticamente no fenmeno da emergncia, medida que linhas udas surgem
da complexa e catica interaco (ou comunicao) de simples e variadas
repeties e batidas individuais.
Dentro da msica em si mesma estas linhas nmadas emergentes so mo-
bilizadas pelas guras apresentadas pelo principal drummer. Tocando sobre
e contra as repeties estraticadas de outros msicos, o drummer principal
improvisa, no somente por gerar espontaneamente novos padres, como pelo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
8 Herlander Elias
corte preciso e pela repartio das batidas e guras de outras batidas. Como
CHERNOFF escreve, o drummer mantm o movimento da msica uida-
mente para adiante, e ao alterar continuamente as suas pontuaes e a sua
batida, ele logo se xa sobre a multiplicidade de possveis modos de cortar
e combinar ritmos (13). As linhas principais do drummer emergem, desta
forma, de um espao de multiplicidade que constitui a dimenso virtual da
montagem.
O que o lead drummer lamenta acima de tudo o corte e a quebra
4
. Estas
intensas, quase violentamente sincopadas linhas de fora da batida
5
entre-
cruzam e interferem com os outros ritmos, empurrando e puxando a percep-
o precria da batida do danarino-ouvinte. Todavia, estes assaltos podem
ser bastante intensos, estes no devem ir muito longe: um msico no deve
distribuir nem muitas nem poucas pontuaes fora da batida, porque as pes-
soas podem ser empurradas para fora da batida, e num certo ponto de vista
a sua orientao para os ritmos mudar ou elas comearo a ouvir os ritmos
separados como sendo um s ritmo (14). Estabelecendo uma analogia com
a dinmica no-linear, podemos dizer que o lead drummer deve manter um
campo aberto de atractores rtmicos rivais. O jogo elevar as batidas ao topo
da bifurcao sem permitir que elas assentem numa base singular de atrac-
o. Para ouvintes isto signica permanecer constantemente aberto ao caos
produtivo: surpresa desorientante das batidas a surgirem mais cedo que o
esperado, ou, para os pequenos vazios, que se tornam possveis quando as
batidas so imprevisivelmente soltas uma experincia que CHERNOFF bri-
lhantemente compara com o falhar o degrau numa escada.
Enquanto frutfero falar de experincia polirritmica na linguagem da
dana, ns devemos recordar que o corpo to mobilizado pode ser inteira-
mente virtual. Tal como Richard WATERMAN refere, a msica africana,
com algumas excepes, para ser observada como msica para dana, ainda
que a dana envolvida possa ser inteiramente uma dana mental. (15) E
eu gostava que esta gura da dana mental nos guiasse para o ciberespao,
para os espaos simultaneamente prmodernos e psmodernos, revelados pe-
las tcteis, ainda que descorporizadas, batidas electromagnticas da Electr-
nica Negra.
4
N.T. no original trata-se de Break.
5
N.T. off-beat refere Davis.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 9
1.2 Duplicando a Batida
Perante o panteo dos danarinos mentais da Electrnica Negra, ao lado
de guras como SUN RA, George CLINTON, Jimmi HENDRIX, GRAND-
MASTER FLASH, e DERRICK MAY, est o Lee Perry Scra tch -, talvez
o mais criativo produtor de reggae da Jamaica e um dos gnios lderes da m-
sica dub a prole mutante do reggae produzido inteiramente em estdio a
partir de faixas de ritmo prgravadas. Esclarecendo as correspondncias eso-
tricas entre o ritmo e o corpo, PERRY espalhou uma vez o clich enraizado
de que a bateria o batimento cardaco. Mas o Baixo o crebro, diz ele.
(16) Mais do que subverter a associao cultural comum entre as frequn-
cias baixo e os movimentos base das ancas, PERRY sugeria que as batidas
e o baixo faziam a msica para a cabea, com todas as diversas ressonn-
cias que o termo conjura abstraco, drogas, interioridade, mundos virtuais.
Como PERRY coloca os termos quando discute a sua preferncia para mistura
de faixas sem vocalizaes: o instrumento est formado no mental (17).
claro que as msicas instrumentais de PERRY eram elaboradas na m-
quina, e esta rede de trabalho imaginria entre os planos maqunico e mental
que revela ambas as arquitecturas descorporizadas do ciberespao e as mais
abstractas dimenses da batida. Os conjuntos de polirrtmos da frica Oci-
dental j podem ser vistos como soltando uma espcie de mquina abstracta,
as suas enormes intensidades elaboradas com uma simpatia notvel, preciso
e sabedoria. Como CHERNOFF diz, o drummer evita as batidas speras,
porque a preciso de tocar necessria para a mxima denio da forma... o
estilo verdadeiramente original consiste numa perfeio subtil da forma estri-
tamente respeitada(18). Esta sensibilidade encaracolada
6
e xe
7
acusa a
capacidade nica do Atlntico Negro de recongurar o sicamente alienado
ou o labor mental necessrio para edicar o ciberespao electroacstico, e
vai mais longe para explicar porqu, tal como Andrew GOODWIN se aper-
cebe, ns temos crescido habituados a conectar mquinas e timidez (19).
E eu gostava de seguir o rasto desta ligao at aos tempos do analgico,
nos anos 70, quando os produtores e engenheiros jamaicanos criaram o dub
reggae, ao manipular e remisturar
8
faixas analgicas prgravadas de m-
6
N.T. Crisp o termo empregue por DAVIS.
7
N.T. Cool o que se diz no original.
8
N.T. DAVIS usa o termo remixing.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
10 Herlander Elias
sica codicada em ta magntica. Mestres de Dub
9
como KING TUBBY
cansar-se-iam e alterariam os instrumentos particulares com reverb, phase,
echo e delay, com vozes abruptas soltas, batidas e guitarras, dentro e fora
da mistura; despindo a msica at aos ossos da batida e do baixo e depois
construindo-lhe em cima, atravs de camadas de distoro, rudo percussivo e
ectoplasma electrnico. O bom dub faz parecer que o estdio de gravao se
comeou a alucinar.
Dub vem de doubling a prtica vulgar jamaicana de recongurar ou de
fazer verses
10
de uma faixa de ritmo para diversas msicas novas. Na al-
tura quando o reggae de razes proclamava mitos literalmente religiosos de
autenticidade cultural de folclore, o dub subtilmente ps tudo em questo ao
desmaterializar e corroer a integridade dos cantores e a msica. No h ori-
ginal, no h terra-me fora do virtual, nem h razes ao mesmo tempo que
rizomas remisturados no voo. Ainda, assim, ao improvisar e alterar as suas
prprias repeties de material prgravado, o dub acrescentou algo distinta-
mente sobrenatural mistura. Os duplos analgicos do dub, as distores
espectrais e os fantasmas vocais produziam um espao imaginrio no me-
nos absorvente no seu modo que o Virtual African Zion que constituiu tan-
tos desejos de Rastafarians de reggae. E por todos os seus inconfundveis
Carabismos, as preocupaes do dub com os espaos analgicos perverti-
dos, o rudo electromagntico e a desorientao tecnologicamente-mediada
tambm relembram as exploraes dos rockers
11
progressivos germnicos no
incio da dcada de 70. Tal como as experincias electrnicas analgicas lo-
12
dos CAN, do inicial Klaus SCHULZE, e os primeirssimos TANGERINE
DREAM, o dub tambm um gnero de Kosmische Musik
13
. Tal como Luke
ERLICH escreveu, se o reggae a frica no Novo Mundo, o dub a frica
na lua (20).
Mas enquanto o espao do dub certamente fora em ambos os sentidos,
do extraterreno e de SUN RA, o seu pesado som de eco tambm produz uma
sensao de fechamento, uma interioridade que, ao lado de uma variedade
9
N.T. Mestres do Dub vem da expresso Dubmasters.
10
N.T. No original aparece a expresso versioning.
11
N.T. Rockers no original signica msicos rock.
12
N.T. Lo- abrevia low-delity, que signica som de baixa delidade, i.e., de baixa
qualidade.
13
N.T. Kosmische Musik quer dizer msica csmica, espacial, atmosfrica.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 11
de efeitos molhados e imersivos, conjura distintas e aquticas circunspeces.
Com o dub ns no nos encontramos no frio e talvez elstico espao pro-
fundo de bandas sonoras de SF
14
e de pssima msica hippie de sintetizador,
mas numa espcie de espao interior externo, uma cavidade inerente. Esta
tenso espacial no resolvida no s explica as qualidades alucingenas e
msticas da msica (qualidades enraizadas em efeitos psicosiolgicos que
corroem a diviso experimentalista entre interior e exterior), mas tambm ex-
plica por que motivo o dub dos anos 70 to potentemente antecipou os espaos
virtuais de hoje espaos que parecem de uma s vez extensivos e implicam
(ou esto implcitos), intensivos e revelados dentros e foras (21).
Ao mesmo tempo que as qualidades quase psicadlicas do dub podem ser
atribudas aos seus efeitos espaciais, e talvez ao papel da ganja, tanto na
produo como no consumo, os prazeres violentos da msica elevam-se, pelo
menos, muito a partir da msica polirritmica trippy peas que mais adiante
revelam possibilidades latentes da batida de reggae.
Estritamente falando, a msica de dana moderna jamaicana adere s ba-
tidas 4/4 que derivam da maioria da msica popular Ocidental. Mas quando o
dub atingiu a rua, os reggaes dread ridms eram j invulgares ao acentuar
a segunda e a quarta batidas da medida e em largar a batida inicial, tudo
o que produziu a pulsao evidente e enganadora da msica. Um elemento
ainda mais crucial dos ritmos de reggae era o papel pivot desempenhado pela
guitarra-baixo. De regresso Jamaica, quando os sistemas de som - basi-
camente discotecas mveis passavam rhythm & blues americano nos anos
50, foram os techies
15
que deram aos ritmos groove
16
uma marca jamaicana,
simplesmente amplicando o baixo, transformando o baixo m do rhythm &
blues numa verdadeira fora da natureza o gnero de baixo que no s ex-
pele como xa os danarinos, mas que satura os seus ossos, com vibraes
prximas do csmico. A msica rock parada que se metamorfoseou no reg-
gae tornou a batida ancorvel com a guitarra-baixo, em detrimento do drum
kit. Isto desterritorializou as baterias, permitindo aos msicos explorar mais
peas polirritmicas percussivas fora e volta da batida principal. Como refere
Dick HEBDIDGE, l para o m dos anos 70, bateristas como Sly DUNBAR
tocavam os seus kits como msicos de jazz, improvisando nos pratos, taro-
14
N.T. SF abrevia science ction, que signica co cientca.
15
N.T. Techies um termo de jargo de rua que se refere aos viciados em tecnologia.
16
N.T. Groove no sentido de ritmo rotineiro, repetitivo e enftico.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
12 Herlander Elias
las e timbales para produzir efeitos multi-camada, ao contrrio da percusso
religiosa da frica Ocidental (22).
Odub traduziu esta complexidade rtmica emciberespao acstico, usando
a tecnologia para des-estabilizar adiante as batidas, e para esticar e desdobrar
o tempo. Enquanto se despia a msica at batida e ao baixo, eles tambm
tornaram a mistura mais espessa com percusses extra, e o que o produtor
BUNNY LEE chamou um grande monte de rudo. Mais relevantemente, os
mestres dub apresentaram contra-ritmos estendidos, ao multiplicarem amos-
tras de som (vozes, guitarras, batidas) atravs de echo, reverb, produzindo
pulsaes gaguejantes, que se dividiam da batida principal e geravam ritmos-
cruzados assim que apareciam e se desvaneciam no vazio virtual. O dub no
estritamente polimtrico, tal como raramente sustm o som vertiginoso to-
cado parte, durante muito tempo. Ao mesmo tempo, ao soltar abruptamente
guitarras, percusso, gaitas e teclados dentro e fora da mistura, os mestres do
dub tiraram o tapete de baixo dos ps do ouvinte habitual, elevando a ori-
entao rtmica adiante as batidas 4/4, criando uma subtil e virtual analogia
do tripping
17
, constantemente trocando dilogos com as percusses da frica
Ocidental.
Bastante at como os mestres bateristas/percussionistas, muitos mestres
de dub improvisariam as suas misturas de estdio no voo. Isto no nos deve
surpreender, pois os conjuntos polirrtmicos da frica Ocidental j antecipa-
ram o rebentamento da distino entre o trabalho mecnico do engenheiro de
gravao e o trabalho criativo do msico uma distino que organiza alguma
produo de msica popular e que o dub, e mais tarde a msica electrnica de
dana, dissolvem. Podem ver-se os conjuntos polirrtmicos como uma monta-
gem de diversas faixas rtmicas, cujas batidas moleculares so remisturadas,
cortadas, e divididas da mediao cool do mestre percussionista, os seus apa-
rentemente espontneos e caticos cortes apresentam um rudo que se
torna sinal, alimentando de volta excitando-se o campo total e simultneo de
relaes do conjunto.
Ao dar-se asas imaginao ciberntica do produtor, o dub criou um
quarto para si adentro cultura Afrodiasprica para uma mitologia cyborg
17
N.T. Tripping deriva de trip (viagem); tem que ver com o entrar no jogo da msica
alucingena, aquela que elucida com os seus efeitos hipnticos, atravs da manipulao tcnica
das frequncias.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 13
fundamentada na prtica tcnica. Aqui est outra vez Lee Perry, esclarecendo
a relao quase animstica da mquina:
O estdio deve ser como uma coisa viva... A mquina deve estar vvida e
inteligente. Ento eu ponho a minha mente na mquina, enviando-a nos con-
trolos, nas alavancas e no painel de jacks
18
. O painel de jacks o crebro em
si, ento tem que se ligar, remendar o crebro e fazer do crebro um homem
vivo, mas o crebro pode apanhar os sinais que eu emito e viver. (23)
Aqui estamos sobre a fronteira imaginria entre o prmoderno e o psmo-
derno, entre razes e os elctricos, um imaginrio mobilizado pela persona
inteira de PERRY e a sua carreira espectacular. Ao reivindicar diversas vezes
ser o Inspector Gadget, o Super-Macaco ou O Computador do Firma-
mento, PERRY tambm foi pioneiro no uso de phasers, nas caixas de ritmos
e nos discos emprestados para fazer scratch, i.e., recuos, remendos sonoros.
Esteticamente explorando o jogo electromagntico entre informao e rudo,
PERRY integrou directamente o sinal de degradao na sua espessa esponja
de texturas polirritmicas assim como Brian FOXWORTHY refere em Grand
Royal, Saturao da ta, distoro e feedback eram todos usados para fazer
parte da msica, no apenas adicionados (24). PERRY at plantou discos e
bobinas de cassetes no seu jardim, volta como um dervixe por trs da sua
mesa de mistura de som Sound Craft, e expirava fumo de ganja directamente
nas tas rolando atravs de 4 pistas no seu estdio Black Ark. Quando PERRY
falou ao TOOP sobre a Ark, era como uma nave espacial. Podias ouvir o es-
pao nas pistas (25).
Este tipo de co cientca Afrodiasprica surreal tambm aparece na
arte de capa de muito dub. Science and Witchdoctor do Mad Professor re-
monta placas de circuitos e guras robticas perto de cogumelos e bonecas
fetiche, enquanto The African Connection mostra o Professor, signicati-
vamente envolvida numa roupagem de safari europeu, declinando para uma
dana tribal africana, com as rvores hospedando bass woofers e mquinas
de ta enquanto as percusses sagradas abrigam equalizadores. Scientist En-
counters Pac-Man at Channel One mostra o cientista manejando a consola de
mistura como se fosse uma mquina infernal vinda d a banda desenhada da
Marvel.
Talvez no seja por acaso que em dialecto jamaicano cincia refere-se
18
N.T. Jacks so um tipo de cablagem.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
14 Herlander Elias
a obeah, o apanha-bagas da medicina ervanria africana da ilha, bruxaria e
folclore do oculto. No seu livro, sobre o vigrio na frica Ocidental, um
estudo sobre ironia mtica e o desaire sagrado, ROBERT PELTON aponta
tambm as similaridades existentes entre os cientistas modernos e guras de
vigrio tradicionais como Anansi, Eshu e Ellegua: ambos procuram bem-
receber o estranho, no tanto contestando para reduzir a anomalia como para
us-la como um porta para um ordem mais elevada. (26) Ns no podamos
ter melhor descrio para os truques tecnolgicos levados a cabo pelos grandes
Mestres de dub.
1.3 Ali Dentro Uma Selva
Enquanto a tocha da poca-de-ouro do reggae de razes passou maioritaria-
mente para as mos de bandas de maus hippies, a profunda imaginao tec-
nolgica do dub permitiu-lhe fazer uma transio rica e multi-camada na ci-
ncia cultural do regime digital. O actual digi-dub declina-se na ausncia de
instrumentos tocados ao vivo, as suas razes electrnicas levaram consigo re-
mendos de teclados, computadores e sosticadas mquinas de percusso. Ao
mesmo tempo, actos contemporneos como Twilight Circus continuam a fa-
zer um fabuloso dub clssico, usando instrumentos ao vivo a nica anomalia
consistindo num dutchman de seu nome Ryan MOORE. De facto, enquanto
actuaes de dub britnicas como Alpha & Omega e os Zion Train surgem
envolvidos em pesada parafernlia rastafariana, a maior parte dos dubmas-
ters so brancos britnicos. Eu menciono isto no para acusar ningum de
apropriao cultural (um argumento complicado dadas os perptuos emprs-
timos e miscegenaes que caracterizam ambas as msicas tradicional e mo-
derna), mas para indicar que a lgica virtual da Electrnica Negra no est
enraizada em factos tnicos, mas que se espalha rizomaticamente atravs do
incrivelmente aberto-fechado e de zonas hibridizadas de ciberespao elec-
troacstico.
Como a excelente compilao de msica britnica Macro Dub Infection
argumenta, em ambos ttulo e seleces, o dub mais bem visto como um
vrus tecnolgico, batidas moldadas, silncios activos, e borbulhantes, baixos
explosivos como cdigos nmadas que tomaram o seu caminho em direco a
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 15
um hspede de gneros musicais: ambient, industrial, trip-hop, techno, pop,
jungle e at rock experimental.
O dub at ajuda a polir as diferenas articiais frequentemente erigidas
entre estas msicas, esboando categorias to genricas, duma maneira cres-
cente subjacentes a um dilogo aberto entre formas.
Em simultneo, um certo contgio electrnico permanece nas transcodi-
caes dos polirritmos mediados tecnologicamente que caracterizam o dub
dos anos 70: a msica jungle, aka e drumnbass. Com estes tempos ver-
tiginosos e batidas no lineares, o jungle certamente uma das msicas de
dana polirritmicas mais agressivas jamais produzidas no mundo Ocidental.
E ainda assim, muita completamente elaborada em computadores pessoais.
Samples distorcidos de soul e escrnios de putos agressivos so estratica-
dos sobre suaves cordas de rhythm & blues: pratos altos vertiginosos e tarolas
hiper-rpidas emitem sons agudos no topo do colapso; batidas marciais metra-
lhadas e linhas de baixo nefastas derretem-nos a arrogncia como uma ressaca
apocalptica. Se o dub o estdio sobre cannabis, o jungle o computador
sobre cannabis e DMT.
Mesmo sendo um cenrio multicultural, o jungle ainda essencialmente a
primeira msica de dana feita em casa para se evidenciar logo directamente
a partir da populao negra da Gr-Bretanha, fazendo talvez a mutao mais
signicativa da Electrnica Negra desde que o percursor do techno DER-
RICK MAY lera A Terceira Vaga de TOFFLER, ou que produtores de hip-hop
comearam a fazer faixas com samplers tal como com gira-discos. Enquanto
o dub uma inuncia certa, as razes do jungle so sucientemente aptas,
emaranhadas, e o seguinte esboo drasticamente simplica a sua etiologia.
No incio dos anos 90, quando os produtores de msica de dana electrnica
comearam a acelerar as batidas repetitivas do techno at velocidades dia-
blicas, algumas pessoas comearam a acelerar tambm os breakbeats (break-
beats so as partes estimulantes da surpresa rtmica retirados de outros lbuns
e que constituem o cho do hip-hop americano). A msica resultante conhe-
cida como hardcore, ou o mais discreto drumnbass tornaram-se qualquer
coisa como o mutante gmeo do breakbeat britnico, desdobrando um tctil,
serrado mix de batidas e baixo que destacou para primeiro plano a sua prpria
produo recombinante como poucas outras danas de msica. Com o tempo,
o baixo cou mais espesso e mais dbio, para que cedo a ganja lenta dirigisse
o passo adiante por entre tarolas de anfetaminas; diversos cross-overs com as
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
16 Herlander Elias
celebraes miserveis que os MCs da cena de dana jamaicana ajudaram a
memorizar o nome jungle na mente do pblico assim que a msica comeou
a ascender do underground (27).
Depois de se encontraremos primeiros tempos loucos do jungle, suspeita-
se que na disputa deleuziana entre caos e ritmo, o ritmo admitiu a derrota.
Aqui, Simon REYNOLDS descreve o que hardcore para a ArtForum em
1994: Break-beats acelerados, reexos, tratados, esticados no tempo, e
sobrepostos com sons arranhados que evocam a telecomunicao mandbula-
rudosa do insecto do mundo.Polirritmos amontoam-se, esquecidos da forma
correcta de organizar o ritmo: uma coliso espacial de metros incompatveis
(breaks de hip-hop fechado, a inuncia do dub reggae, voltas latinas).(28)
Ao mesmo tempo, o jungle consegue reagrupar a percusso polimtrica cor-
recta permitindo aos danarinos agarrarem-se satisfatoriamente, passando
entre eles os diferentes milieux rtmicos, todos em srie dentro do mesmo
corte: um pode soluar at ao pulsar do baixo silencioso ou tentar articular as
frenticas, imprevisveis multiplicidades, rebentando at ao topo.
Enquanto os samples
19
percussivos programados so espessamente sobre-
postos, acelerados e hiper-sincopados, na maioria das faixas de jungle eles
tropeam ao cruzarem-se nas linhas de tempo decrescente de dub que xam
a derradeira loucura. Mas nas mos dos msicos mais agressivos e dos cria-
dores mais experimentais, o jungle pode induzir notavelmente uma deliciosa
sensao de desorientao, medida que os pratos de choque so invertidos
e que as tarolas despedaadas selvaticamente se colam contra a batida-baixo,
aborrecendo o desejo habitual do ouvinte de se realizar no ritmo compreens-
vel da msica. Quanto mais fortes forem as faixas de jungle mais se intensica
as suas quebras (as passagens dominadas por cortes e ritmos cruzados) at a
um nvel que desintegra a utilidade do termo sincopation. Por estes motivos, o
drumnbass
20
intenso produz para muitos ouvintes o mesmo tipo de confuso
perturbante que a percusso praticada na frica Ocidental; s que em vez de
ser tratada pelo caos frentico do primitivo, ela tratada pelo caos digital
do cdigo samplado, complexicando-se at ao descontrole.
19
N.T. Os samples so amostras de som, digitalizado, tornado informao, de forma a ser
manipulado e jogado com outras sonoridades tambm elas baseadas no controle das frequn-
cias, enquanto representao do som copiado para bits.
20
N.T. O drumnbass um estilo de msica de dana que prima pela acentuao da
percusso e das batidas em conjunto com a forte linha de baixo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 17
De certa forma, ento, deve-se aprender a ouvir e a danar a lingua-
gem rtmica complexa e extremamente recombinante do jungle. Muitas das
unidades rtmicas no jungle tal como o sample Amen, Brother - so ge-
nricos e constantemente reciclados, cortados e colados atravs de milhares e
milhares de pistas que os actuais junglists
21
bombasticamente trabalham nos
seus computadores PC e AMIGA. A novidade reside quanto maior forem os
re-arranjos recombinantes e a marcao de passo destes elementos genricos
como na gerao dos recentes sons e temas. Estou recordado de que a nfase
de CHERNOFF na abstraco precisa de vrios padres que esto subjacentes
percusso da frica Ocidental, e do seu ponto de vista de que novas for-
mas so construdas a partir de simples modicaes dos padres existentes,
talvez mediante a substituio de uma nica nota (29). Mais frente, novas
formas so talvez menos importantes que o fresco preparativo ou marcao
dos elementos recebidos que toda a gente reconhece. Tal como refere CHER-
NOFF: a durao de tempo de um certo ritmo que o percussionista toca,
o amontoado de repeties e a maneira como os ritmos mudam, aos quais
o percussionista toma ateno, e no tanto a inveno rtmica em particular
(30).
De um lado, a ateno do junglist para a montagem hbil entre batidas faz
os seus ritmos mais exveis e compelidos que aqueles que voc encontra nou-
tras msicas de dana electrnica, quase orgnicas nas suas aces densa-
mente articuladas e organizaes caticas. E ainda assim pode-se at com-
preender que o drumnbass est no limite de revelar alguma dimenso no-
Euclidiana bizarramente nova, uma vez que cyborgs como PHOTEK, 4HERO
ou DJ PESHAY estranhamente montam uma arquitectura de espao-tempo
abstracta a partir de nano-batidas que foram juntadas ao acaso numa cozinha
de arte digital (31).
O jungle partilha com o dub as razes viscerais do baixo, tal como a activa
distribuio de hiatos e silncios que esticam e dilaceram o espao-tempo,
abrindo pequenos vazios que nada podem fazer seno esvaziar-nos de ns
mesmos. Mas em contraste com as zonas aquticas, ressonantes, quase me-
ditativas exploradas pelo dub, os espaos gerados pelos junglists mais inten-
sos emergem como uma capa constantemente em morphing
22
de inter-milieus
21
N.T. junglists o nome dos praticantes, ouvintes e danarinos do gnero musical jungle.
22
N.T. Morphing signica transformao morfolgica, ou seja, uma alterao ao nvel da
forma.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
18 Herlander Elias
comprimidos, mal-formados e fracturados. Em parte, esta mutao distin-
tiva nos espaos da Electrnica Negra emerge da distino qualitativa entre
modos de produo digital e analgica uma diferena cujos efeitos so par-
ticularmente notveis na msica electrnica.
Mas os hiperespaos vibratrios do jungle emergem muito, ainda assim,
dos polirrtmos quase escatolgicos da msica, a sua distribuio de blocos
heterogneos de espao-tempo que atravessam de lado a lado as dimenses
convencionais do espao acstico. Como o jungle reorganiza signicativa-
mente os vectores possveis e aces da dana fsica, isso radicalmente re-
organiza a dana mental como tal, impelindo-nos para um espao compri-
mido de multiplicidade que tambm desaa e reecte as maiores mutaes
no nosso mundo-espao contemporneo. Talvez tenha sido isto que Marshall
McLUHAN vislumbrou quando disse que ns vivemos num nico espao
constritivo ressonante com batidas tribais (32). Ns estamos estendidos no
tempo at ao limite do sem-tempo, mas um sem-tempo que nada tem a ver
com o eterno e tem tudo que ver com a imanncia da multiplicidade.
1.4 Notas do Autor
(1) Obrigado a Paul MILLER, aka DJ SPOOKY, por esta referncia.
(2) Ver Paul GILROY, The Black Atlantic as Counterculture of Modernity
in Black Atlantic, Harvard, 1993, p.1-40.
(3) Enquanto eu no quero determinar que exista alguma essncia negra ou
africana isso permanece inaltervel no espao electrnico, eu tambm
partilho com GILROY que toma a posio que ele chama anti-anti-
essencialismo - a percepo de que as realidades vividas da cultura e da
histria actuam como uma poderosa represso nas celebraes psmo-
dernas da construo radical. Os rizomas no so razes, mas eles ainda
se ajustam organicamente s actuais formas da terra que encontram.
(4) Eu vou simplesmente ignorar as questes polticas e sociolgicas, con-
centrado em vez disso nos aspectos tcnicos, loscos, e at de c-
o cientca do ciberespao polirrtmico, e acredito mesmo at auto-
conscientemente. Na cultura americana, em especial, a msica negra de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 19
h muito carrega a tonelagem de representar o corpo cultural de folclore,
que , em qualquer dos casos, denominado como primitivo ou respei-
tado como uma autntica e natural correco a um Ocidente abstracto
identicado com a mente e as mquinas. Alm disso, omitindo o facto
de que, tal como GILROY argumenta, a disperso africana actualmente
total para o Ocidente, esta oposio tende a apagar o que o mago neste
texto: a extraordinria dimenso tecnolgica da imaginao musical, es-
ttica e at mtica da moderna msica negra.
(5) Ao longo destas linhas ver Ron EGLASH, African Inuences in Cyberne-
tics. in The Cyborg Handbook, ed. Chris HABLES GRAY, Routledge,
1995, p.17-28.
(6) John Miller CHERNOFF, African Rhythm and African Sensibility, Univer-
sity of Chicago, 1979, p.42.
(7) Gilles DELEUZE & Flix GUATTARI, A Thousand Plateaus, trad. Brian
MASSUMI, Minnesota, 1987, p.313.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
(10) Ibid.
(11) Citaes de CHERNOFF.
(12) Ibid, p.50.
(13) Ibid, p.112.
(14) Ibid, p.100.
(15) Citado em CHERNOFF, p.50.
(16) Documentrio vdeo, The History of Rock: Punks, PBS.
(17) Entrevista Grand Royal, issue 2, p.69.
(18) CHERNOFF, p.112.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
20 Herlander Elias
(19) Citado em CORBETT, John, Extended Play: Sounding Off from John
Cage to Dr. Frankenstein, (Duke, 1994), p.19.
(20) Citado em CORBETT, p.23.
(21) Esta ambiguidade pode ser percebida num questionrio simples: A Inter-
net est a explodir ou a implodir?
(22) Dick HEBDIDGE, CutnMix, (Comedia, Londres, 1987), p.82.
(23) Entrevista em David TOOP, Ocean of Sound (Serpents Tail, Londres,
1995), p.113
(24) Bob MACK, Return of the Super Ape, Grand Royal, 64.
(25) TOOP, p.114.
(26) Robert PELTON, The Trickster in West Africa (University of California
Press, Berkeley, 1980), p.268.
(27) Por estas razes e por outras, jungle no um termo universalmente
aceite, e muitos ainda preferem o mais descritivo drumnbass.
(28) Um projecto prximo do autor.
(29) CHERNOFF, p.112.
(30) Ibid, p.100.
(31) Tal como Simon REYNOLDS aponta, a cena do jungle hospeda muta-
es to copiosas e rpidas que singling out as suas estrelas nega a in-
teligncia colectiva que conduz a sua criatividade recombinante; citando
Brian ENO, ele diz que no devemos falar de gnio mas de cnio.
(32) Marshall McLUHAN, The Gutenberg Galaxy (University of Toronto
Press, Toronto, 1962), p.31. O espao contemporneo da multiplicidade
digital tambm gerado pela computao de rede, assim que se muda
do processamento linear centralizado para uma ecologia distribuda e de
processadores multplos e crescentemente recombinantes, pilhas de c-
digo, aplets, e linhas de rotinas descentralizadas e crescentemente au-
tnomas. Computadores mainframe como o Connection Machine de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 21
Danny HILLIS podem ser vistos como mquinas da multiplicidade
que usam uma linha de rede de processadores diferentes para atacarem
problemas em simultneo. Muitos dos Investigadores de hoje em vida
articial, explorando as propriedades imprevisveis dos espaos virtuais
que se esforam para simular os processamentos naturais, sociais e eco-
nmicos, esto tambm preocupados com as propriedades emergentes
geradas pela complexa interaco de numerosos pequenos componentes
e simples regras de comportamento.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 2
Ciberespao: O Lugar-Mquina
Mapeando o Novo Territrio
1
2.1 O Mundo Electrnico de Tron
The computer thus holds out the promise of a technologi-
cally engendered state of universal understanding and unity (. . . )
(McLUHAN, 1994-98).
O ciberespao considerado, a meu ver, um lugar-mquina, porque de
facto um espao que concilia dois elementos extremamente importantes; um
a tecnologia, o outro o racionalismo. Parecem coisas iguais, mas na verdade
no o so. O que faz do ciberespao um tema to apaixonante o facto de
se tratar de um espao da tcnica que permite o racionalismo e, ao mesmo
tempo, a alucinao. O ciberespao assim o ponto de reunio de algo que
se encontrava fragmentado e deixado ao acaso na modernidade (a tecnologia).
Neste sentido o ciberespao um novo universo, um nico mundo que tudo
contm, inclui e se encontra em expanso incontrolvel, como o cosmos. O
termo espao agrega-se ao termo ciber, porque advm da ciberntica de
Norbert WIENER e Claude SHANON, sugerindo controlo, direco.
No demais referir que este espao tecnolgico, que inicialmente uma
fuga ao controlo, se torna por m um espao de controlo. Mais ainda: este
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Ciberespao, Media e Interaco do Mestrado de
Cincias da Comunicao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Fa-
culdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
23
i
i
i
i
i
i
i
i
24 Herlander Elias
espao controlo em formato psgeogrco, tecnolgico. Para William GIB-
SON um cyberspace e para Neal STEPHENSON um metaverse. Ambas
as perspectivas esto correctas, e ambos os conceitos foram aclamados por
Hollywood, Silicon Valley e pela crtica de literatura de fantstico e co ci-
entca, s que o ciberespao de GIBSON vence sem hipteses qualquer outra
dominao que se pretenda atribuir a este domnio, a este novo territrio da
tecnologia. Para GIBSON este mundo possibilita-se por ser uma alucinao
consensual, quando para STEPHENSON este territrio um universo que
vai mais alm que o prprio universo da Fsica, um Metaverso.
Em acrscimo, mencione-se que antes de Neuromante [Livro onde GIB-
SON descreve o ciberespao, apesar de o ter referido tambm em Burning
Chrome (1987)] (1988) e Blade Runner (1982), foi lanado Tron, um outro
lme que melhor ilustra o ciberespao como GIBSON o descreve. E preci-
samente em Tron que contemplamos a primeira concepo de lugar-mquina,
muito antes de Matrix e respectivas sequelas. Steven LISBERGER e Brian
DALEY, autores de Tron (o livro) descrevem o mundo electrnico assim:
O Outro Mundo , tambm, ele vasto para os seus habi-
tantes o Sistema no tem limites. O Mundo Electrnico engloba
a Terra e ultrapassa ainda as suas fronteiras. Toda a informao
circula atravs de sistemas de computadores e processada por
memrias articiais (LISBERGER & DALEY, 1982: p.5).
Se no tivssemos conhecimento da obra de GIBSON onde o cyberspace
descrito de forma exemplar e com gosto, esta era a melhor descrio poss-
vel. Mas melhor que ler Tron ver o lme, porque Tron de facto a metfora
audiovisual que se procurou para a tecnologia contempornea. O que esta
tecnologia representa est tudo contido nas paisagens de Tron, no seu mundo
sem limites. GIBSON injectou mais plasticidade na sua viso do ciberespao,
e tornou-a mais pop, mas o mundo electrnico de Tron o melhor exemplo
de um lugar-mquina, um mundo de tecnologia, de princpios cartesianos cla-
ros e distintos, racionalista. A verdade que este lugar-mquina concebido
com base numa linguagem binria que j era exigida pelo binarismo clssico e
que a lgica clssica de certo modo antecipava. Com a evoluo do digital, do
computador e das redes, o resultado est vista, no nosso mundo electrnico,
tal como no de Tron:
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 25
Os programas computam e pesquisam, recuperam e interca-
lam; tornaram-se indispensveis cincia, indstria, educao
e ao governo sociedade na sua forma actual (Idem, Ibidem:
p.5).
O lugar-mquina tornou todos os lugares em extenses idnticas, h uma
lgica virtica, tipo ciborgue, que tudo contamina, que a toda a parte leva
hardware e software, programao e computao, pontos nodais e redes. O
lugar-mquina feito de programas que se tornaram indispensveis socie-
dade na sua forma actual, como em Tron. No entanto, LISBERGER e DALEY
dizem ainda que:
Os programas desaam e divertem em jogos-vdeo, sem pe-
rigo para os seus Utentes humanos; eles ensinam nos anteatros
e avaliam nas salas de aula. Calculam e medem a sua palavra ,
frequentemente, decisiva. O seu Mundo vasto os Utentes no
o conhecem to bem como supem (Idem, Ibidem: p.5).
A omnipresena dos programas na sociedade, em Tron, um facto. Por
toda a parte, em trabalho ou lazer, os programas estendem a lgica da digi-
talizao, da computao. Na nossa realidade o mesmo se passa, redes de
banda larga, contedos multimdia, viroses inesperadas, novidades em estado
ptimo, levam o mundo electrnico a captar registos nossos, dados privados,
em nome de contedos atraentes. O ciberespao que existe na realidade um
misto de um acordo de cavalheiros entre o que a co cientca props e o
que as empresas instituram. Mas embora se possa dividir o ciberespao em
online, off-line e no-line, a verdade que essas distines acabam por no in-
teressar pois o lugar-mquina propagado independentemente da plataforma.
No importa se o ciberespao videojogo, Realidade Virtual, portanto, te-
lemvel, televiso interactiva, ou sites de Internet. O que conta que h um
mundo electrnico, tambmele vasto, praticamente semlimites, criado e man-
tido por programas, que efectiva um territrio para o qual no existem mapas,
um lugar de mquinas ainda por cartografar.
Diria mesmo que este lugar-mquina se institui a um ritmo to feroz que
s o que existe o que se contm de alguma forma dentro desse ciberespao.
O que no aparece no ciberespao ca no plano do imaginrio. O que omi-
tido no existe. No lugar-mquina, o que no aparece no ecr imediatamente
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
26 Herlander Elias
actualizado para que o que quer o espectador contemple, e para onde quer que
se vire, a mquina o acompanhe. Nada omitido. virtual, actual, poten-
cial. O lugar-mquina, que tambm um lugar-virtual, um lugar composto e
montado, que conquista um topos que lhe prprio, um ciberespao que, gra-
as s redes, se mantm cada vez mais custa de um ligar-mquina tambm.
Vendo o ciberespao como um territrio da mquina entende-se que o
real liquidado por se tornar imagem, capturado para sempre num sistema
tcnico. Um sistema onde a motorizao criada e preparada para nos dar
a iluso de subjectividade, de participao. O simulacro recria o seu prprio
ambiente de caa. O reino da imagem aprisiona-nos como se fssemos presas
de um reino espectral. A reserva natural agora um lugar-mquina onde no
caamos mais, nem imagens sequer, onde somos indubitavelmente caados.
Ou seja, o territrio da mquina um territrio de predao, porque a prpria
tecnologia predatria. Quem detm a melhor tecnologia vence qualquer
conito ou impasse.
Edmond COUCHOT arma que no virtual, o prprio sujeito oscila entre
o estado de objecto e de imagem (1998: p.27). Existem inmeros exemplos
na co cientca em que a fora do ciberespao, desse lugar-mquina,
to grande, que tudo absorve. Em Tron, o programa homnimo atenta contra
o MCP (Master Control Program) a m de retirar os programas do controlo
unvoco do Sistema. O problema que tron a personagem - fora digitalizado
para dentro do mundo electrnico, sem que tivesse tido a oportunidade de o
escolher. O que aconteceu foi automtico.
Em suma, se sujeito e espao partilham dos mesmo cdigos, quer dizer
que a linguagem do digital, o cdigo-mquina, se efectiva, nas ligaes e em
todas as instncias do lugar-mquina. Quer se trate de sujeito ou objecto,
ambas as instncias partilham da mesma cartograa, o territrio do virtual,
da imagem e som de cmputo, do mesmo lugar-mquina, feito de imagens-
mquina; onde o principal a memria e a funo mais elevada do signo
a de fazer sumir a realidade, camuando-se ao mesmo tempo essa desapari-
o. O sujeito se rev num pacote de imagens confortveis que o entorpecem.
McLUHAN no falava em electrnico, mas falava em elctrico, e o ambiente
elctrico total e inclusivo, um inebriante lugar-mquina repleto de imagens
em com-tenso, em contenda.
Num lugar-mquina como o ciberespao, h programas e pessoas, m-
quinas e utilizadores, a interagir, num mundo que um constructo. Este
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 27
mundo no s existe, como funciona num no-lugar, fruto de uma ope-
racionalidade, uma operao de sistemas, e inscreve-se inevitavelmente no
espao da morte, e tambm no da doena, a virose-mquina. apenas zeros
e uns, no deixa espao a um sujeito qualquer determinvel. No se pode
contemplar o lugar do ciberespao, porque este no tem lugar real, atpico.
Richard COYNE diz que:
Here space is stripped of the physical. It is a time-deepened
and memory-qualied place without space. It is in the world of
the imagination (COYNE, 1996: p.157).
Para COYNE o ciberespao um espao desprovido de sicalidade, um
lugar-memria de fantasia. Mas espao no tem porque um espao que apela
nossa subjectividade, na medida em que, ao recriar virtualmente espaos de
exterior, transforma o espao em endtico, fechado, e at em endo-ptico,
pois o que se privilegia a viso interina das coisas, o interior que se d por
corte com o exterior. Por efeito, a imagem-mquina esconde o hardware,
torna-se software, faz com que a tecnologia que a gera desaparea para dentro
de si mesma, para uma cenrio de densidade, uma caixa-negra minimalista.
por isso que neste momento faz parte da condio humana denir a condio
da mquina, o lugar da mquina: o lugar-mquina...
2.2 No mbito da Caixa-Negra
Computers are arenas for social experience and dramatic in-
teraction, a type of media more like public theater, and their out-
put is used for qualitative interaction, dialogue, and conversation.
Inside the little box are other people (STONE, 1995: p.17).
Ao absorver toda a informao acerca do homem, o ciberespao torna-se um
cenrio denso, tal como o espao real, repleto de informao, volumes, gente
e territrios marcados. Se virmos o ciberespao como uma espcie de caixa-
negra, de ltimo registo onde tudo ca arquivado e guardado para ulterior
consulta ou manipulao, apercebemo-nos de que h um fenmeno de con-
densao, de excesso de trfego, de demasia de dados a consultar ou registar.
Esta condensao, que se d no espao real urbano, e no espao ciberntico,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
28 Herlander Elias
fruto do progresso. J dizia Jacques DERRIDA que "Le progrs linaire
sera toujours de condensation"(1967: p.402). Por outras palavras, o progresso
leva condensao, como que em jeito burgus de horror ao vazio. Da existir
uma vontade enorme em tudo preencher. O ciberespao um lugar-mquina
em que nada ca por preencher, por escrever, por arquivar. O que para ser
feito faz-se. O que se pensava pela tcnica faz-se, o que a Tcnica estava apta
a concretizar, esta realiza-o. No existe algo como tecnicamente impossvel,
mas sim algo de tecnicamente inconveniente. Nesta ptica concordo plena-
mente com o que diz FLUSSER, quando sustenta com aio que no pode
haver um ltimo aparelho, nem um programa de todos os programas (1985:
p.32), porm em ltima instncia, como ele tambm entende: todo o pro-
grama exige metaprograma para ser programado (Idem, Ibidem: p.32). Ou
seja, por um motivo ou por outro, a verdade que tem de haver uma instncia
primeira, mas que tambm no deixa de ser programa, mas que metapro-
grama, isto no entender de FLUSSER.
Como digital, o computador e a Internet, h uma proliferao das linguagens-
mquina que constitui o seu espao nativo e exclusivo: o ciberespao como
espao-mquina, em redil de processos de carregamento, actualizao, insta-
lao, vericao, armazenamento, conexo, etc. H uma natureza-mquina
que subsiste, que habita a mquina, e que tpica de uma mquina de escrita-
leitura (read-write machine), como diz KITTLER.
Numa primeira fase, o mundo regista-se nos arquivos da histria e sustenta-
se um processo World to Machina. O mundo racionaliza-se. Com o pro-
gresso tudo se escreve, maquina, re-produz, digitaliza e calcula. E eis que
se faz o processo inverso: Machina to World. A mquina torna-se mundo.
Em todo o lado, a mquina desenha o seu territrio, contaminando o mundo
de forma programtica, pragmtica, matemtica, maqunica e automtica. O
topo deste fenmeno o lugar hermtico, selado, fechado, limpo, digital, do
ciberespao, um ambiente-de-media que um lugar-mquina, um mbito
de caixa-negra.
maneira de DERRIDA, "Le jeu de supplment est indni. Les ren-
vois renvoient aux renvois"(1967: p.421). O que quer dizer que h um jogo
de ligao, de suplemento, de remisso innito, porque o ciberespao um
territrio, um mundo electrnico criado para albergar ligaes, para hospe-
dar comunicaes. simplesmente o ambiente de memria mais bem distri-
budo e globalizado. Praticamente no tem limites. No se consegue denir o
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 29
campo de alcance das remisses. H sempre ligaes para ligaes, conexes
sub-entendidas, links partidos, pginas desactualizadas, moradas, endere-
os de correio. Enm, uma panplia de possibilidades de comunicao. O
ciberespao no tem limites graas quilo que melhor dene: o trptico de
memria-arquivo-performance. Alis, no possvel conceber o ciberespao
com base noutra estrutura que no esta. O ciberespao um banco de mem-
rias articiais, extenso do sistema nervoso humano, em continuao do que
McLUHAN defendeu; alm disso tambm o arquivo geral, que, conrmado
ou no, tem a legitimidade que tem; e por ltimo o ambiente de performan-
ces, de velocidades, de processamentos, de quanticao de informao capaz
de determinar a qualidade das interaces.
Quer se trate de um computador off-line, isolado da rede, quer se trate de
um computador on-line, ou seja em rede, pode-se aplicar o que FLUSSER
arma, quando diz que:
(...) o complexo aparelho-operador demasiado compli-
cado para que possa ser penetrado: caixa-negra e o que se v
apenas input e output. Quem v input e output v o canal e no
o processo codicador que se passa no interior da caixa negra
(1985: p.21).
O ciberespao , sim, demasiado complicado para ser penetrado, como
uma caixa-negra, as suas performances so visveis, mas no se pode entender
directamente a linguagem-mquina que o sustenta, a no ser pela mediao
de ltros. O interior da caixa-negra inviolvel e incontemplvel. S os
efeitos se podem ver neste territrio sem mapa feito de blocos para ser vigiado
e manipulado de forma panptica, neste mundo electrnico sem topos. H
uma placelessness, uma falta de lugar, porque espao sobra sem dvida. O
espao do ciberespao o espao cartesiano por excelncia, o lugar-mquina
mais denso, o espao de extenso (prosthemos), prtese, o solo extenso, de
res extensa, em que tudo pode ser colocado sobre si.
2.3 Ciberntica + Espao = Ciberespao
Were using technology to...to extend the human nervous
system. Were sort of, you know...the Internet is a kind of glo-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
30 Herlander Elias
bal, prosthetic extension of human consciousness. It wasnt...it
wasnt consciously intended as one, but it amounts to be one
(GIBSON in NEALE: 2003).
1.
Hoje, o ciberespao tudo o que o espao da comunicao, da computao,
da telecomunicao, da informtica, do digital; isto quer se trate de efeitos
especiais de cinema, videojogos ou publicidade televisiva. Todavia, quando
GIBSON deniu o ciberespao, poucas coisas representavam de facto o es-
pao do computador. Na poca, o nico espao de computao em que se
tinha uma imagem de tal era o espao do videojogo. GIBSON inventou o
termo ciberespao quando reparava na relao que um jogador tinha com a
mquina (arcade). Era impressionante que um jogador se imiscusse tanto
com um objecto representado no ecr de imagem-vdeo. Sem saber o que ape-
lidar, GIBSON apelida-o de ciberespao, porque era um espao de controlo,
em que o utente-jogador tinha poder sobre o objecto animado.
Outra nota importante que quando GIBSON gera este termo, o lme
Tron tinha sado dois anos antes (ou seja, em 1982), quando tambm Blade
Runner estava nas salas de cinema. de todo importante assinalar que b-
vio que a imagem que GIBSON nos d do ciberespao dada pelo lme Tron.
O que GIBSON fez foi ampliar a descrio, dot-la de mais poder. A Internet
em 1982 no tinha janelas, sites Web nem a congurao audiovisual super-
snica de hoje, com contedos multimdia; s os computadores importantes
do governo estavam em rede. E eis que GIBSON expande o paradigma de um
espao ciber, a um paradigma de rede, no s tecnolgico, como tambm,
mental.
O lado ciber do ciberespao relativo Ciberntica, a cincia que es-
tuda o funcionamento dos uxos de informao nas mquinas e nos organis-
mos vivos sob a perspectiva do controlo. A Ciberntica um termo e uma
disciplina criados pelo matemtico Norbert WIENER, em 1947, de que se
inspiraram os ciberpunks escritores aquando da tentativa de cunhar o termo
cyberspace. A cibernetizao um dos pontos referenciais do imaginrio ci-
ber, dado remeter para a relao do indivduo com os media, com aquilo que
cyber o domnio das tecnologias de poder. Pensar o ciberespao pensar
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 31
esse espao de controlo, de poder, onde se negoceiam as tenses, ora entre
ligao e des-ligao; ora entre off-line e on-line, ora entre analgico e digi-
tal. Em suma, o ciberespao um inventrio de efeitos, tudo o que existe,
possvel fazer, est descrito, ou em vias de ser descrito, atravs desse espao
da tcnica, desse novo lugar da tecnologia que um lugar-mquina. Um lugar
que no um espao fsico, mas uma extenso do solo res extensa cartesi-
ano real, e que ainda assim detm um centro gravitacional que tudo atrai. Para
onde todas as ligaes regressam e se dirigem, estendendo-se ultimamente.
2.
Atrevo-me a armar que o lugar-mquina do ciberespao um territrio ci-
borgue simultaneamente no real e na co cientca, porque se trata de um
campo de tecnologias emergentes, de fronteiras diludas, de incorporaes
tcnicas e extenses digitais; trata-se de tornar o mundo quotidiano num ha-
bitat ciborgue. Pensemos em 2001: Odisseia no Espao (1982), de Arthur
C.CLARKE, e temos a uma descrio brilhante desta nova gerao de lugares-
mquina. Refere C.CLARKE que, aps os exploradores humanos terem atin-
gido o limite de evoluo da carne, estes se defrontam com as capacidades das
suas mquinas, e que a pouco e pouco:
Primeiro os crebros, e depois apenas os pensamentos, fo-
ram transferidos para novos e brilhantes invlucros de metal e de
plstico. E, com eles, passearam entre as estrelas. J no cons-
truam naves espaciais. Eles eram naves espaciais (p.169).
O que C.CLARKE quer dizer que a mquina que estava num dado
espao, com a evoluo tecnolgica torna-se esse prprio espao. Quando
C.CLARKE diz que eles eram naves espaciais, refere-se s mquinas para
as quais os humanos se transferem. Esse processo de transferncia todo
que caracteriza a nossa poca. Estamos em fase de transio para o lugar-
mquina, mas no de forma to carnavalesca quanto as sries televisivas o
pintam. O que h uma esttica da transio em curso que dene todas as -
guras e discursos da actualidade. Contudo, essa transferncia que exige uma
comunicao total, que tem por base a electrnica, que por sua vez tem por
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
32 Herlander Elias
base a electricidade. No obstante, h duas dcadas atrs, quando surge Tron,
LISBERGER e DALEY, seus autores, denem o mundo electrnico como:
Uma paisagem rectilnea, incandescente, iluminada a elec-
tricidade, lanava os seus rectngulos e arestas para o cu (1982:
p.21).
Considerando toda a teoria de McLUHAN em que a tecnologia electrici-
dade vista como salvao da humanidade, sinnimo de progresso e reunio
comum, esta denio de mundo electrnico toda ela imbuda de carcter
Iluminista. De facto curioso como por trs de todos argumentos e deni-
es do lugar-mquina que o computador tece nas redes com o ciberespao a
electricidade seja constante. A dimenso elctrica , como para McLUHAN,
o grande facto decisivo:
In a Christian sense, this (electricity) is merely a new inter-
pretation of the mystical body of Christ; and Christ, after all, is
the ultimate extension of man (1994-98).
Sem electricidade no se poderia ligar, desligar, conectar, digitalizar, etc.
a electricidade que vemsustentar (como o tit Atlas na Antiguidade Clssica
para os gregos) o Mundo s suas costas, implementando em suma uma espcie
de metacristianismo, como bem referiu Pierre TEILHARD de CHARDIN.
No de forma alguma por acaso que todas as ces sobre o ciberespao de-
signem uma dimenso tecnolgica, um territrio, um ambiente-mquina em
que quem tem todo o poder acusa sintomas do Complexo de Cristo (omni-
potncia, omnipresena, omnividncia). H concerteza uma relao entre os
poderes que o espao de controlo nos fornece e o poder divino, existe algo de
impensvel no ciberespao. Por esse motivo que GIBSON descreveu, em
1984, em Neuromante (Neuromancer em ingls) o ciberespao como sendo:
(...) Uma alucinao consensual, vivida diariamente por bi-
lies de operadores legtimos, em todas as naes, por crianas a
quem se esto a ensinar conceitos matemticos. Uma representa-
o grca de dados abstrados dos bancos de dados de todos os
computadores do sistema humano. Uma complexidade impens-
vel (1988: p.65).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 33
No deixa de ser engraado que quando este romance de GIBSON foi
publicado, praticamente ningum entendia o que o autor queria dizer com ci-
berespao. Os leitores no entendiam se este espao era real ou virtual, se era
mental ou fsico, uma alucinao ou uma co. Na verdade era tudo isso e
muito mais, mas s hoje existem condies tcnicas para efectivar o que GIB-
SON viu como sendo potencial ciberespao. A ideia dele era descrever
um territrio que ningum tinha ainda tentado mapear numa poca em que o
psmodernismo colide com a cibercultura. No one seemed to have noticed
that there was a territory there (GIBSON in NEALE: 2003), diz GIBSON.
Era este o cenrio de recepo do ciberespao, um mundo em alvoroo, desde
Palo Alto (EUA) ao CERNE (Suia), em que surge o primeiro sistema ope-
rativo com interface grca com os Apple Mackintosh e o Multimdia com o
Commodore Amiga. As redes eram apenas BBSs (Bulletin Board Systems)
vistos em ecr negro, em computadores que muitas das vezes residiam no pr-
prio teclado. Por tudo isto era bvio que havia um espao a descrever, repleto
de potencialidades mas sem contornos ainda, em que GIBSON tenta fazer
imergir o seu leitor.
Incontornavelmente o ciberespao uma complexidade impensvel, mas
inicialmente havia diculdade em entender se se tratava de um espao simu-
lado, se era um espao dentro do computador ( Tron?) ou se era um espao
distorcido pelo uso de prteses qumicas. A verdade que o ciberespao era
um espao virtual e fsico ao mesmo tempo, um ambiente tecnolgico, visto
como o ambiente 3D de um videojogo de Realidade Virtual, onde as empre-
sas tinham bancos de dados e sites sediados como se de propriedades reais se
tratassem. H duas dcadas atrs, a Realidade Virtual era o smbolo da tec-
nologia de ponta. Cutting-edge era o termo usado para referir as realidades
alternativas, paralelas, sintticas, etc.
3.
Fora dos romances de co cientca, autores como Marc LAIDLAW, Ma-
nuel De LANDA, Mark DERY, entre tantos outros, claramente conseguem
denir o que o ciberespao. Richard COYNE por seu turno dos autores
mais concisos quando resume diz que the term cyberspace denotes the envi-
ronment created by computerized communications networks (1996: p.147).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
34 Herlander Elias
E na prtica o ciberespao primeira vista apenas isso. Numa outra ptica,
o ciberespao muito mais, tudo o que os grandes inventores quiseram criar
e no conseguiram, o sonho de Da VINCI, DISON e EINSTEIN. O cibe-
respao o espao assumidamente tecnolgico, o cone da tecnologia, porque
tudo o que tecnologia est ao nvel do ciberespao.
Diz STERLING, autor que criou maioritariamente o movimento ciber-
punk com GIBSON, que we turned out to be great glamourizers. We were
able to make computers glamorous (NEALE: 2003). Por outros termos, nin-
gum mais tentou fazer da cultura do computador algo glamouroso. O com-
putador at ento no tinha glamour, mas o ciberespao concedia um brilho
a todo o espao tecnolgico de comunicao, coloria o mundo cinzento dos
utentes de computador e o mundo preto-e-branco dos programadores. Para
GIBSON, o espao do computador, era um novo lugar-mquina que emergia
dos paradigmas clssicos, que representava para a tecnologia o que a Nou-
velle Vague signicava para o cinema. Era uma questo de tempo at que o
ciberespao mudasse radicalmente o nosso tipo de vida tal como o automvel
o mudou, obrigando a redesenhar as cidades, os caminhos e os lugares. O
ciberespao tornava-se um novo territrio, este sim desenhado de raiz, pen-
sado para sites e circuitos, consultas e interaces, uma alucinao tecnolo-
gizada.
Cabe-me inclusive assinalar que quando se fala de ciberespao se confun-
dem vrias coisas. Uma delas que o ciberespao contm o virtual, mas nem
todo o ciberespao virtual. O virtual a expresso mais grco-plstica de
um mundo matemtico criado para representar o real de acordo com nveis de
exigncia. O que ca do virtual a sua estrutura. Diz Gilles DELEUZE, e
muito bem, que "la structure est la ralit du virtuel"(1989 : p.270). E com
isto quer-se dizer que o que o virtual tem de real a matriz de signos
qual recorre para se edicar, para melhor impressionar um espectador ou um
participante.
O virtual o lugar-mquina de topo, o stio desprovido de antiga geogra-
a, o lugar que no existe em, enm a zona sem fronteira de um espao
incontrolavelmente crescente. Em complemento aceito o que STERLING de-
fende, quando diz que:
(. . . ) this was a supermodel among technologies. It was
just a matter of spraying on the hairspray, and slapping on some
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 35
lip-gloss, and this thing was gonna walk, you know? (NEALE:
2003).
A ideia que tudo o que adviria do espao digital viesse a ser giro, interes-
sante, de topo. O computador iria miniaturizar-se, seria desenhado por estetas
e pensado por educadores antes de transpor os limites do corpo humano. Diz
Allucqure Rosanne STONE que in the alter space of communications tech-
nologies suggests a war between simplication and multiplicity (. . . ) (1995:
p.44). Noutros termos o que STONE diz que no espao segundo da comuni-
cao, esse espao alter (isto , alternativo, paralelo), as tecnologias sugerem
um confronto entre o linear e o mltiplo. Mas no se trata to s de enume-
rar o que a tecnologia sugere, no ciberespao o ambiente-mquina sugere que
tudo seja intenso, veloz e criativo. Foi neste contexto que GIBSON teve de
criar um termo sonante, e que ultrapassasse os smbolos da era espacial. Nada
do que GIBSON visionava implicava Star Trek ou Star Wars, nem um tipo
de hiperespao fsico. Era isso tambm, e muito mais. Para inovar, GIBSON
teria de passar por cima de conceitos como fogueto, ou holodeck, com
algo que representasse uma transformao tecnolgica. Faltava um territrio
e um cenrio prprio para uma narrativa nova, um discurso inovador. A re-
voluo tomava forma quando se enunciava uma realidade virtual gerada e
experienciada por computador (computao) em rede.
4.
A ideia de Parasos Articiais j havia sido explorada desde BAUDELAIRE,
ainda assim pensar a tecnologia como fonte geradora de uma realidade aluci-
ngena no deixava de ser revolucionria. Para esboar esse novo territrio
da mquina, o cyberspace, GIBSON tentou pensar o que veria se estivesse
dentro do mundo da imagem-vdeo, das imagens-mquina. O seu input foi
a experincia que teve com um dos primeiros walkman da Sony. Essa era a
interface mais ntima [que hoje abunda no iPod da Apple ou na PSP da Sony]
que conhecia at ento. O comportamento dos jovens ao jogar os jogos de
vdeo de a rcada (salo de jogos) foi a inspirao nal. Diz GIBSON que:
Well, if theres space behind the screen, and everybodys got
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
36 Herlander Elias
these things at some level, maybe only metaphorically, those spa-
ces are all the same space (NEALE: 2003).
E numpice pensou no termo a designar esse espao metafrico que ligava
utilizador e mquina, esse lugar onde se estava dentro e fora em simultneo,
no real e no virtual. Estava criado o termo que revolucionaria a co de
cincia e o real. Actualmente GIBSON julga que ciberespao poder ser a
ltima palavra a empregar o prexo ciber, porque vai adquirir o rumo dado
ao termo electro, porque embora a electricidade e electrnica sustentem
muita maquinaria, no fundo um termo que no se usa. A electricidade tida
com garantida porque todas as coisas so elctricas. E se o lugar-mquina do
ciberespao se expande, quer dizer que tudo to computorizado que no h
necessidade de referenciar o que o que no ciber. Agora est tudo no
mesmo lugar.
No demais referir que para GIBSON o ciberespao uma metfora e
uma noo de espao. Apesar de no ser exactamente espao euclidiano,
sobejamente espao no sentido territorial. GIBSON diz que initially, it was
just, like, a literary conceit (NEALE: 2003). Mas em nenhuma fase da c-
o cientca um conceito impregnou o real de forma to viral, pois poucos
so os autores que tentam dar o retrato certo do presente, que o tornam assim
acessvel. No deixa de ser curioso que GIBSON arme que a tecnologia im-
plcita no ciberespao uma tecnologia usada para estender o sistema nervoso
humano. A expresso mais global do ciberespao, que tudo absorve, a Inter-
net, uma prtese da conscincia humana. No o era inicialmente, mas tem
provado s-lo.
2.4 A Runa do Espao Real
We still haven not left the era of the screen
(MANOVICH, 2001: p.115).
Walter BENJAMIN falava com veemncia acerca da relao das runas com a
histria, com o passado. Para este autor, a experincia era sempre o patamar
em que o contacto com o passado era feito mediante a runa. Havia uma
mediao, a runa era o que mediava, o que restava para fazer a ligao entre
este mundo actual e o anterior. E esta zona de resto, que chocante, que
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 37
nos desperta a imaginao, o sentido de explorao; um tipo de explorao
que o ciberespao tambm exige, porque o lugar-mquina das tecnologias de
comunicao o nosso habitat para tudo. GIBSON diz que o ciberespao, na
vertente de Internet:
(. . . ) Its become the place where we look for everything.
Were doing something new here. It resembles some things weve
done before, but its...its different. I think it is probably as big a
deal as the... the creation of cities (NEALE: 2003).
Neste ponto que o ciberespao precisamente pura revoluo: o local
onde podemos fazer tudo. S que as cidades j representavam isso no mundo
fsico pr-electrnica. Era o espao urbano que tinha todas as condies (boas
e ms) de vida inexistentes noutros locais. Hoje, passando da fase de procura
de comida fase de procura de informao, o ciberespao, em jeito de Google,
o espelho, espelho meu que contm todas as respostas, aquilo que nos
devolve a imagem do real que temos hoje. O real composto de um presente
veloz, um futuro hiper-plstico e um passado em runas.
Certos artistas como Chico McMURTRIE fazem esculturas com resduos,
comrestos de mquinas, como que est desligado, no sentido de armar a per-
feio dos constructos mecnicos; o que MAcMURTRIE apelida de a Raa
da Mquina. De facto algo resta, e restou porque cou inerte perante a velo-
cidade injectada no espao de comunicao. Filmes como Taxandria (Raoul
SERVAIS, 1995) mostram-nos o que resta, o que cou, o que se encontra des-
conexo e exige uma mediao no presente hipersnico. At GIBSON arma
que Ive sort of been looking at, you know, where this whole crazy thing
came from. All these cities... (NEALE: 2003). Por assim dizer, h uma es-
tupefaco relativamente criao das cidades, porm toda obra de GIBSON
atravessada e compenetrada pelo imaginrio urbano. Alis, a ideia de cibe-
respao como territrio a urbanizar, com stios venda e para aluguer, com
zonas perigosas e livres, uma metfora de mundo electrnico como mundo
urbano. At mesmo antes de GIBSON, LISBERGER j o tinha feito em Tron.
No entanto, se recuarmos mais no tempo, duas dcadas antes de Tron,
ou de qualquer comentrio actual de Paul VIRILIO ou BAUDRILLARD, o
grande McLUHAN dizia, em The Medium is The Massage, que surgiriam,
com a nova dimenso elctrica das ento emergentes tecnologias de informa-
o, verdadeiras cidades de circuitos. O futuro seria de facto a ligao, o
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
38 Herlander Elias
que no se conseguia prever nos anos 60 era o como. Na perspectiva de
McLUHAN o que restaria das cidades seria uma espcie de museicao. Ele
armava que a congurao das antigas cidades se reduziria das feiras, -
cando idntica dos parques temticos. Aconsequncia da dimenso elctrica
seria que os espaos urbanos deixariam de ser cones da tecnologia, cando
ento resignados condio de monumentos da era industrial dos transpor-
tes ferrovirios. E na perspectiva das geraes futuras algum se encarregaria
de reconstruir esses espaos, se houvesse interesse nisso, em aproveitar e em
estimar runas. Acrescenta McLUHAN que:
The circuited city of the future will not be the huge hunk of
the concentrated real estate created by the railway. It will take on
a totally new meaning under conditions of very rapid movement.
It will be an information megalopolis (2001: p.72).
Com um toque de mestre, eis que McLUHAN nos diz tudo, pois a viso
urbana e bomia do ciberespao de GIBSON que retoma a perspectiva territo-
rial de McLUHAN, por oposio da faco NASA (que entende o espao
como algo a conquistar de forma militar num planeta longnquo). Na arma-
o de McLUHAN tudo de novo se desenha. A cidade de circuitos do futuro
no empatar a sua energia nos volumes urbanos, dado que, pelo contrrio,
aproveitar o novo signicado da velocidade, instituindo-se enquanto megal-
pole de informao. Contas feitas, McLUHAN visionou o ciberespao. Toda
a dimenso de Las Vegas e de Nova Iorque que GIBSON identica no ciberes-
pao, com pitadas de hologramas de Tquio, na verdade um prolongamento
do que McLUHAN referiu. GIBSON esculpiu e poliu o conceito. Mas f-lo
bem, embora toda a sua viso seja no mnimo concomitante ou, melhor ainda,
comprometida com as imagens que LISBERGER e DALEY nos fornecem em
Tron, quando referem por exemplo que:
A paisagem (...) transformou-se em algo com torres angu-
lares, edifcios, iluminaes, energia reticulada, macios, formas
semelhantes a montanhas e rios de refulgncia, e lugares queima-
dos e estreis sugerindo desertos. Todo o conjunto se denia em
formas de rede, parecendo-se mais que tudo, com um mundo de
circuitos (1982: p.53).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 39
Impensavelmente, no ciberespao e no espao da cidade real h algo de
deserto sugerido em ambos os domnios. Na cidade as ruas podem car de-
sertas ou no se conhecer ningum na multido, mas o mesmo ocorre no cibe-
respao. A dimenso do lugar-mquina ainda mais esmagadora que a de um
espao real, no sentido emque se temligao ao mundo inteiro emsimultneo.
muita informao para captar, no h mediao possvel. O ciberespao
um campo de mediaes-mquina, um lugar-mquina como a Matrix criada
pelos irmos WACHOVSKI, uma cidade ligada por mquinas, feita para m-
quinas. GIBSON diz que o ciberespao uma dimenso de complexidade
impensvel em Neuromante, ainda que outros romances seus se sugira coi-
sas diferentes. Em Idoru, por exemplo, Laney uma personagem que anda
procura de padres nos uxos de dados do ciberespao; e em Mona Lisa
Overdrive (1988) Gentry pretende descobrir a verdadeira forma do ciberes-
pao. Mas bastaria ler somente McLUHAN para se descobrir que o lugar da
tecnologia surge como reaco runa urbana, cidade perigosa, tornando-se
uma metfora e simultaneamente uma tecnologia de eleio.
O espao urbano de cidades como Detroit provam que a realidade est a
desaparecer para o ciberespao, o outrora invisvel ciberespao implementa
uma esttica da desapario (VIRILIO), absorvendo os uxos que as cida-
des antes detinham em exclusividade. Por este motivo que certas cidades se
tornam puras runas, espaos esquecidos como os do lme Taxandria. GIB-
SON critica em concreto Detroit, referindo que esta uma completa cidade
fantasma, pelo que adianta que:
Someone proposed several years ago that the place simply
be allowed to fall apart, and that it would be The American Acro-
polis"(NEALE: 2003).
Parece-me bastante crtico, no entanto no deixa de ser verdade que, com
a Revoluo Electrnica (BURROUGHS) tudo parea inerte, quando compa-
rado com as velocidades dos dados ciber. Em Detroit, a cidade regressa ao
campo, porque aquilo que levou as pessoas a erigir aquela cidade j no se
justica, a concentrao dispensvel. Toda a rea urbana se assemelha a um
cemitrio industrial. O mesmo se passa em relao a alguns centros industri-
ais na Europa urbana. H alguns anos atrs, GIBSON e STERLING pensaram
que na Internet no iria existir a oportunidade de enriquecer, pelo que esta se
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
40 Herlander Elias
tornaria uma espcie de runa esquecida, um gigante site fantasma das corpo-
raes. Verdade seja dita, a histria encarregou-se de limpar e manter os sites
corporativos, deixando no subsolo do ciberespao apenas os sites gratuitos e
feitos por amadores. Hoje o ciberespao to corporativo que nos deixa a
sonhar somente com um mundo no-mediado, um mundo sem as ligaes das
corporaes. Regressou-se de novo fase de sonhar com um territrio virgem
por explorar...
2.5 O Mundo No-Mediado
I think that, in some very real way, its a country that we
cannot nd our way back to. The mediated world is now the
world (GIBSON in NEALE: 2003).
1.
Numa conversa que tive com o editor da revista Wired Kevin KELLY, em
2000, foi-me confessado por ele em pessoa que hoje em dia faz falta silncio.
KELLY disse-me que quando viajava de avio levava sempre os auscultado-
res consigo, desta feita no para escutar msica mas sim para no escutar o
que o rodeava. Enquanto todos os passageiros se preocupam em escutar m-
sica comercial e desligar do mundo mediado com uma mediao de relaxe,
KELLY pretendia mesmo cortar com a ligao ao exterior, reclinar-se para
trs no banco e no-escutar nada. neste sentido que hoje se desenha uma
nova atitude de querer viver num mundo no-mediado quando a populao,
cada vez mais urbana, deseja integrar a mediao forosamente, seno mesmo
tornando-se mediao, como sonhavam os ciberpunks.
Alimenta este discurso GIBSON quando descreve o mundo contempor-
neo supersnico, um mundo que se mexe demasiado rpido. No nosso mo-
mento da histria tudo muda, nada estabiliza, nem as doenas, nem as viroses.
A esttica deu origem esttica. O naufrgio de tal ordem que sentimo-nos
perdidos e desorientados, sem pontos de referncia, sem solo rme para onde
nos dirigirmos (BLUMENBERG). J no se pode subir nem trepar por nada,
porque tudo se est a diluir, a uir, a mecnica dos slidos deu lugar mec-
nica dos lquidos (DELEUZE, 2004). Porque tudo est em movimento no
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 41
existe forma de mapear o territrio que se recongura diante de ns. Como
GIBSON defende no existem mapas para estes territrios (NEALE: 2003),
que so desde o ciberespao de Neuromante territrios da mente. Da Marvin
MINSKY falar da sociedade da mente por as redes se estarem a construir
com base em princpios de inteligncia, por serem criadas pelos utilizadores.
Assim se acelera o lugar-mquina das tecnologias de comunicao rumo a
uma pshumanidade, at que se generalize um sentimento de psgeograa. A
forma como o lugar-mquina se expande deve-se ao facto de no se submeter
na ntegra esfera jurdica. Mas embora em relao a este tipo de questo La-
wrence LESSIG tenha dado cartas, GIBSON mais directo, pelo que refere
mesmo que:
Were sort of on some kind of cusp of change that I assume
is technologically driven. Its not legislated change... (NEALE:
2003).
Uma mudana no legislada o que caracteriza a viso do ciberespao
para todos os gurus da cibercultura. Desde os anos 80 que o ciberespao
visto por Jaron LANIER, Scott FISHER, Lewis SHINER, Phillipe QUAU e
John PERRY BARLOW, entre outros, como um territrio novo para recome-
ar a civilizao, como se pensou em relao ao Oeste real norte-americano.
O deserto (paisagem do nada) o ponto de partida para a cidade, para a
megalpole (paisagem do tudo). O que muito, muito estranho que de-
pois da criao das cidades se volte para a runa e para o deserto. A meu ver
essa tendncia s descreve uma rota possvel: tudo est a migrar para o cibe-
respao, o lugar-mquina. Por este motivo que quando se fala nos Plos ou
no Deserto do Sahara ainda se pense numa espcie de mundo perdido, onde a
vida tenha decorrido e se desenvolvido margem da tekn humana. Sem hi-
ptese de estar margem do mundo inovador da comunicao e da novidade,
o sujeito hoje procura um novo territrio para onde se possa dirigir, mas para
o qual ainda no exista mapa.
interessante averiguar que o mundo desenvolvido caminhe para o es-
tado de runa, para um declnio (sobre esta matria convm ler o conhecido
O Declnio do Ocidente, de Oswald SPENGLER) que nos leve a sonhar com
Antrctida, o nico continente que no de ningum, a real e ocial no mans
land. GIBSON diz que toda a quimera do Non-Mediated World has become
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
42 Herlander Elias
a lost country (NEALE: 2003). Pois o mundo perdido com o qual sonhamos
d-se por reaco ao mundo onde nos situamos hoje: o mundo-mediado.
Com outro discurso diz-se que no h regresso possvel para a fase pr-
mediao, no existe retrocesso algum, o caminho aberto apenas fast forward.
O lugar-mquina do ciberespao absorve e arquiva, acelera e leva a que todos
os discursos, objectos e indivduos adiram s tecnologias. H uma progra-
mao automtica do mundo levada a cabo pelo ciberespao. E que tem a
sua resposta. Em nome do hiper-realismo contestatrio, BAUDRILLARD
arma que contra a escrita automtica do mundo: a desprogramao auto-
mtica do mundo (1996: p.125). Ou seja, contra a mediao automtica do
mundo; a des-mediatizao, a des-automatizao do mundo; ou melhor, con-
tra o mundo-mediado, sugere-se o mundo no-mediado.
2.
Um mundo no invadido por linguagens publicitrias ou linguagens-mquina
parece quase obsceno de ser desejado. No ser tolice pensar que mais
onrica que realista essa atitude. Desprovidos de trajectrias, alternativas de
escape, hoje estamos imersos numa mediao total, numa teia de ordens de
linguagem-mquina to minimalistas, redutveis ao sistema binrio, que levam
a que consequentemente se conceba a des-programao do ciberespao. Isto
remete para a inevitabilidade de o programa ser programado, ou ser proposi-
tada (por apagamento), ou acidentalmente (por virose), des-programado. Quer
isto dizer que a tecnologia erigida por sobre a linguagem-mquina se vinga,
e que se instalam vrus endgenos de decomposio, contra os quais no se
pode fazer nada. Votada ao seu agenciamento numrico, repetio innita
da sua prpria frmula, a comunicao ciberntica, do fundo do seu gnio ma-
ligno cartesiano vinga-se desprogramando-se a si mesma, des-informando-se
automaticamente.
O objectivo desta reaco ao mundo mediado por computador, ao mundo
mediado por tecnologias de comunicao provocar danos na estrutura,
reagir estruturalidade do lugar-mquina, retirando-o da condio quer de
espao, quer de tecnologia. Noutros termos, a desprogramao tambm pre-
tende prejudicar a organizao do sistema, a sua performatividade.
Estamos diante de uma perverso inerente ao lugar-mquina, que existe
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 43
tambm no cdigo-mquina, a sua capacidade para se constituir da mesma
forma que se pode destituir. Na sua natureza, no seu cdigo-mquina, est a
capacidade de desorganizar as suas prprias formas, e as formas de contedo,
a m de libertar puros contedos intensos e resistentes.
Um pouco na mesma constelao de armaes que Paul VIRILIO faz,
talvez no seja mau pensado que a procura do mundo no-mediado tenha tudo
a ver com a teoria da tal bomba informtica que este autor desenvolve. Pois
o propsito dessa bomba de des-mediatizao seria simplesmente interrom-
per o funcionamento correcto do ciberespao de modo global. A bomba
informtica seria o ltimo vrus, a verdadeira aplicao assassina, capaz
de des-estruturar todos os programas escritos at ento, des-automatizando a
escrita automtica do mundo, no sentido que BAUDRRILARD fala. Para este
autor existe toda uma urgncia vital de permanecer aqum da execuo do
programa, de desprogramar o m (1996: p.76). Isto , o ciberespao est a
car um territrio to perverso que a resposta teria de ser algo to ou mais
perversa que a sua programao, residindo a resposta numa potencial despro-
gramao e des-mediatizao.. Mas h algo de mais perigoso e de virtico
na prpria noo de mquina que DELEUZE e GUATTARI enquadram no
teorema da mquina desejante, quando dizem que anal a verdadeira lei de
funcionamento das mquinas desejantes o pois o desarranjo (dtraquement)
(AAVV 1, s.d.: p.31).
medida que o digital e a computorizao avanam em todos os domnios
da sociedade, parece claro que se torna cada vez mais difcil o des-ligamento
do ciberespao, a sua des-codicao total. Parece no existir contorno poss-
vel porque toda a realidade se encontra refm das tecnologias de informao
e comunicao. Mas vale a pena salientar que essa des-codicao, que se-
ria uma reaco codicao-mquina do ciberespao, equivale em si a uma
des-estraticao. DELEUZE e GUATTARI em A Thousand Plateaus: Capi-
talism & Schizophrenia (1999) referem que o descodicado (Decoded) o
mesmo que o des-estraticado (de-stratied). Quer isto dizer que a codica-
o remete tambm para uma linearizao, para um aplanamento, apontando
um s estrato nal. Por este caminho, a desmediatizao do ciberespao
equivaleria a uma des-complexicao capaz de reduzir tudo a nada, ou a
uma verdade ulterior.
No tenhamos dvida alguma de que o ciberespao, enquanto lugar-mqui-
na, um lugar-limite, um lugar-fronteira entre hardware e software. No cibe-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
44 Herlander Elias
respao h uma domesticao do alfanumrico. No existe ciberespao feito
mo, apenas em computador, e s existe para, no e como espao de cmputo.
Fora deste ciberespao nada do que digital adquire signicado, tudo entra
em falncia, no espao do necro.
2.6 O Espao do Necro
Case (...) projectava a conscincia descarnada na alucinao
consensual da matriz (GIBSON, 1988: p.14).
1.
O ciberespao ser sempre o espao do necro, do cadver, ergue-se como
um reino de sombras, como uma gravao, uma memria total, um sonho de
DISON e VERNE at McLUHAN. H algo no virtual de estranho, de inqui-
etante, de verosimilhante com o real, que inquieta, assusta e assola. A forma
como o ciberespao mostra o virtual, o seu ambiente electrnico animado,
assustadora. O virtual enquanto expresso grco-plstica do ciberespao o
lado visvel da mquina, o seu espao, o seu ambiente institudo. Existe no
virtual uma carga de real que lhe prpria e nica, sendo a actualizao o que
o dene. O seu processo constante o de tornar recente o seu lugar de signos,
melhorar a sua esttica dinmica. O facto de o virtual fazer tudo isto sozinho
que se revela inquietante, quem confere imagem ao ciberespao? Quem pinta
as suas paredes? Anal a dimenso fantasmtica deve-se ao facto de o cibe-
respao ser um territrio da morte. A Internet baseia-se em princpios tcnicos
que advm de uma rede de comunicao pensada para o psnuclear. O com-
putador, pela IBM, esteve implcito na racionalizao das listas de judeus em
Auschwitz, os videojogos tm origem nos programas blicos de simulao.
No ciberespao h algo de mortfero. O ciberespao um lugar-limite, uma
zona-limtrofe que revela todo o carcter predatrio da Tcnica, na medida
em que assume vrias tecnologias, diversas reas operativas e muitas formas
plsticas, consoante os equipamentos em rede.
No ciberespao a morte experimentada. Mesmo para os escritores de ci-
berpunk a simbiose da experincia fsica do corpo com a experincia esttica
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 45
da mente implicava um des-ligar. E depois um re-ligar. A ideia era experi-
mentar o lugar-mquina, instal-lo na nossa mente, como se fosse possvel
apagar tudo o que fora registado na nossa mente ( o que acontece a Johnny
Mnemonic, de GIBSON) provocando-se uma grave mutao alucingena.
Algures entre a vida e a morte, o real e o virtual, o lugar-mquina contem-
plado no ciberespao um espao instalado, uma instncia de movimentos de
uxos. Face a esta tenso entre Real e Virtual, Edmond COUCHOT defende
que o sujeito, cada vez mais aparelhado aos processos tcnicos, assistido
e absorvido por estes. A sua subjectividade j est corrompida pelo lugar-
mquina. Nos anos 50, McLUHAN dizia que the instantaneous world of
electric informational media involves all of us, all at once. No detachment or
frame is possible (1989: p.57). E no que ele tinha mesmo razo? Como
se pode actualmente fugir ao ciberespao? Ou melhor: existe outro stio para
onde ir que no o ciberespao? Nada funciona fora do ciberespao porque
este o territrio do real actualmente, o lugar-mquina que se sobreps ao
real. O nico preo desta mudana que o sujeito obrigado a interfaciar,
a deslocar-se, a interagir, a percorrer trajectos. No seguimento desta lgica
que COUCHOT arma que o sujeito interfaciado mais trajecto do que su-
jeito (1998: p.28), porque aquilo que hoje dene o sujeito o percurso e no
a sua posio xa. A lgica da rede do ciberespao vence porque tem mais
linhas de comunicao entre plos do que plos propriamente ditos. O resul-
tado uma dinmica inovadora de ligaes que privilegia o trajecto esttico
em detrimento da inrcia esttica.
2.
Por isso, tal como BAUDRILLARD refere: com o virtual, entramos no s
na era da liquidao do Real e do Referencial, mas na do extermnio do Outro
(1996: p.145). A leso no Outro evidente, porque o virtual permite construir
tudo ao ponto de s a subjectividade importar, pois o corte com a exterioridade
implcito quando s a interioridade interessa. A ser levado ao extremo, o
corte como exterior a experincia cortada, a gravao interrompida, o virtual
implosivo, o espao da morte como William GIBSON refere em Neuromante,
o espao do necro. A certeza que temos que no ciberespao a morte tem
as suas guras de estimao, pois so os constructos que mais representativos
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
46 Herlander Elias
so de um certo regresso dos mortos. Temos exemplos disso em Neuromante,
o constructo de IA (Inteligncia Articial) que se revela no nal da histria
diz mesmo que se trata de uma vereda para a terra dos mortos (1988: p.273)
2
. Assim se compreende como que uma viagem no ciberespao de GIBSON
implique que se entre no interior da inquietude, se penetre no mundo furtivo
da mquina (ir)racional.
A mquina perigosa, o luga-mquina digital o perigo territorializado,
pois desde logo o utilizador requer saber que o ciberespao umlocal de exlio
voluntrio. Por analogia, no ciberespao de GIBSON quase que se pode ler
entrada o que se l entrada do Labirinto de Robert SILVERBERG: abando-
nai toda a esperana, vs que entrais aqui. Uma vez concebido como espao
urbano, o ciberespao sempre um local-armadilha, um espao urbano pro-
penso para armadilhar. De forma idntica do Labirinto de SILVERBERG,
o ciberespao sempre uma zona de vitimizao, algo acontece onde a tec-
nologia predadora. No romance The Man In The Maze Labirinto, SIL-
VERBERG diz que o Labirinto como uma cidade que gosta de ter vtimas,
porque o labirinto a casa de algum. Todos os que l entram so intrusos.
Ora mesmo este ponto de vista que transforma o ciberespao num campo
minado, um local nativo, um habitat ciborgue pensado por e para mquinas,
como a Machine City de Animatrix.
O utilizador sempre um penetrador de um espao-me. Aceite-se o que
COYNE defende quando diz que o (. . . ) cyberspace reproduces and even
transcends physical space (1996: p.156). Ou seja, o espao do necro que
o ciberespao amplia reexo do ambiente violento, predador e mortfero
da realidade primeira. S que o ciberespao reecte, transcende e amplia o
real, tornando-o mais mortfero, mas propenso ao fantasmtico tambm; isto
faz sentido porque, tal como COYNE argumenta, o ciberespao um meta-
espao. E transcende porque um espao contentor, de conteno, medio,
lgico, de blocos, de comunicao, mas em que poucos utilizadores esto
aptos para ver os seus bastidores.
So muitos os utilizadores que se refugiam no lugar-mquina do cibe-
respao. O ciberespao labirntico, mas percebe-se por que que nele se
mergulha para melhor escapar realidade. A razo que a realidade se tor-
2
De onde o neologismo necromancer, que signica o romance da morte, a personagem
da morte.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 47
nou to perigosa que o espao cadavrico do virtual parece mais amigvel, h
um perigo disfarado de soluo. SILVERBERG em The Man In The Maze
Labirinto
3
conta-nos que:
Muller conhecia bem o labirinto. Conhecia as suas ciladas
e iluses, os seus perigos e armadilhas mortais. Vivera l dentro
durante nove anos. Era tempo suciente para chegar a um acordo
com o Labirinto, se no com a situao que o forara a refugiar-se
nele (s.d.: p.5).
Quem navega no ciberespao d-se conta seriamente da sua estrutura la-
birntica, porque fcil consultar algo, mas sair sempre complicado, porque
atrs do que queremos aparecem sempre mais coisas interessantes. Ver o ci-
berespao enquanto refgio que o perigo, e nesse ponto o utilizador est
ao mesmo nvel que Muller da histria de SILVERBERG: na situao de ne-
gociar com o labirinto mortal.
2.7 Espao-Sistema
Societies have always been shaped more by the nature of
the media by which men communicate than by the content of the
communication (McLUHAN, 2001: p.8).
Diz COYNE que when you are using a computer, you are in cyberspace
(1996: p.151). De facto isso verdade, o ciberespao no apenas um espao
tcnico, um lugar-mquina, como nomeadamente um espao de alucinao
consensual. Nota-se que, h toda uma dimenso, uma plataforma, em que
mquina, espao e tcnica conuem. mbito este no qual faz todo o sentido
o que Lev MONIVICH diz em The Language of New Media: for the rst
time, space becomes a media type (2001: p.251). A revoluo comea neste
3
The Man In The Maze Labirinto conta a histria de Muller, um homem que se decide es-
conder da humanidade num planeta morto, numa cidade abandona cheia de labirintos mortais.
Devido s suas capacidades, Muller novamente procurado pela humanidade a m de a salvar
de um potencial perigo prximo. A questo quem poder entrar no Labirinto vivo e regressar
com Muller? Quando ningum sabia tudo acerca de um Labirinto provido de um sub-labirinto
interno gigante, uma cidade morta estranhamente preservada num deserto morto num planeta
morto.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
48 Herlander Elias
ponto, pois pela primeira vez o espao torna-se um tipo de media, um formato
de interaco de comunicao, um subproduto da cibercultura. O problema
em vista que se o espao se torna media, ento se for um meio de comuni-
cao gigante torna-se innito. Neste contexto repare-se no que diz Case, o
protagonista de Neuromante, acerca do constructo homnimo:
Conheci o Neuromante. (...) Creio que ele uma (...) ROM
gigantesca (...); a verdade que, na sua totalidade, RAM. Os
constructos pensam que se encontram mesmo l, que o local onde
esto real; contudo, trata-se apenas de algo que nunca mais
acaba (1988: p.279).
Espanta-nos que o ciberespao seja um lugar-mquina sem local preciso,
um ponto de memria acessvel aleatoriamente (memria tipo RAM), um ter-
ritrio em que nada est mesmo l, mas onde tudo est a caminho, como Neu-
romante. Talvez nesta ptica faa todo o sentido ver o ciberespao como um
sistema de outra ordem. O historiador Erwin PANOFSKY qualica esta mo-
delizao sinttica do espao grco-plstico pelo nome de espao-sistema
4
. Realmente no ciberespao que termina essa modelizao sinttica do real,
onde o virtual faz o ciberespao aparecer, retirando-o do abstraccionismo do
cdigo-mquina. O ciberespao assume-se como um espao-sistema, o lugar-
mquina per se, um territrio a mapear, capaz de derrotar a cartograa em
funo de conexes. O espao-sistema ciberntico liga-se a outros objec-
tivos, a outros telos, a outros ns. A telia do espao-sistema o reduto
do tele, da distncia. O ciberespao essa instituio que se d por con-
trolo remoto, esse espao clnico-tcnico que revoluciona a relao do utili-
zador com as imagens, porque estas tornam-se espao tambm. MANOVICH
apercebe-se claramente desta modicao e arma que the new media image
is something the user actively goes into (2001: p.183). Portanto, o espao-
sistema encontra-se vocacionado para receber o utilizador, porque o ciberes-
pao, dado ser o solo dos novos media, seduz os utilizadores a entrarem em
si pelas imagens, que so altamente invocadoras de ligao. Arma Simon
PENNY que:
4
Por oposio ao tipo de espao a que se referiam os pintores da Idade Mdia: o espao
agregado, que estava ligado perspectiva cavalar, onde a construo no visava o desejo de
unicao proporcional dos planos visuais, mas sobretudo uma inteno narrativa exprimida
por justaposies simblicas de guras religiosas e profanas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 49
A imagem interactiva no pode ser comentada nos mesmos
termos que as imagens passivas tradicionais, pois processual.
(...) Os meios interactivos no so imagens, so mquinas gera-
doras de imagens (in MIRANDA, Jos A. Bragana de &CRUZ,
Maria Teresa, 2002: p.57).
A imagem que o dispositivo do Renascimento tentou racionalizar tem no
ciberespao o seu lugar cativo, o lugar-mquina o ltimo espao, o ltimo
sistema, a real verdade, a instncia de gerao de imagens-mquina. ma-
neira de um road movie de Wim WENDERS, o utilizador do ciberespao
tem a sua posio subjectiva muito vigiada pela tecnologia, mas no por isso
que deixa de percorrer todas as distncias e de vaguear pelo espao-sistema.
Alis, como Wintemute, o famoso constructo de Inteligncia Articial, re-
fere em Neuromante, o seu objectivo era expandir-se e atingir todo o espao-
sistema:
- J no sou o Wintermute.
- Ento que s?
-(...) Sou a matriz, Case. - Case soltou uma gargalhada. - E
aonde isso te leva?
- A lado nenhum. A toda a parte. Sou a soma total das coisas,
o espectculo todo (1988: p.279).
Por mais incrvel que parea, a ideia de todas as mquinas dar consis-
tncia ao todo, pea a pea. As mquinas no pretendem ir a lado algum,
pretendem por seu turno instituir o seu lugar prprio: o lugar-mquina, um
territrio que so as prprias mquinas que mapeiam com a ajuda de huma-
nos, como outrora aconteceu o inverso. Agora as mquinas so o espectculo
todo.
2.8 Cultura dos Cubos
O aspecto rectilneo do Mundo Electrnico prevalecia ali
tambm. Formas semelhantes a blocos, bordeando os desladei-
ros, estavamdivididas ao longo de fronteiras precisas por resplan-
decentes demarcaes e faixas, subdivididas por zonas de som-
bra (LISBERGER & DALEY, 1982: p.15).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
50 Herlander Elias
1.
Todas as descries do ciberespao na sua concepo originria remetem-nos
para o seu incio grco-plstico, a dimenso em que o lugar-mquina se fazia
surgir no ecr, onde slidos geomtricos vectoriais gozavam da ltima plas-
ticidade da imagem-mquina. Actualmente os cubos, os slidos geomtricos
foram sendo to miniaturizados que todas as imagens so perfeitas, e os pi-
xels invisveis. A cultura cbica, da matemtica, do jogo Tetris, aplicada no
ciberespao por este ser o espao em que as formas matemticas melhor se
destacam, e onde devem estar, com a sua frieza e geometrizao. A Realidade
Virtual e o videojogo so a gide desta cultura dos cubos. Porm, apesar de a
ideia de cubo como espao ter origem nos Gregos, no Renascimento, com
ALBERTI, que o espao comea a ser concebido enquanto cubo cenogr-
co abstracto. Isto , todo e qualquer cenrio se reduz sempre condio de
cubo, s coordenadas cartesianas simples, claras e distintas. At no teatro e
nas galerias de arte predomina este paradigma arquitectnico do white cube
ou da black box. Mesmo a actual forma do hardware desde as caixas-negras
das aeronaves, passando pela consola de videojogos GameCube, at aos com-
putadores Apple, h algo de cbico que nos fascina como o clebre Cubo
Mgico de Rubik.
No cinema, por exemplo, o lme Cube (Vincenzo NATALI, 1997), Cube2
HyperCube (Andrzej SEKULA, 2002) e Cube Zero (Ernie Barbarash, 2004)
so bastante demonstrativos desta cultura dos cubos. Se analisarmos o cibe-
respao como um territrio cbico, veremo-lo sempre como um territrio do
jogo, como um ambiente perigoso, um labirinto repleto de nefastas armadi-
lhas a evitar. O ciberespao o lugar-mquina onde j no caamos nada,
porque onde somos sem dvida caados. Como acontece s personagens
dos lmes da srie Cube, o grande problema sair do cubo, porque entrar,
alm de ser enigmtico, imediato e inexplicvel. Os trs lmes focam preci-
samente a temtica da fuga do territrio da mquina. No primeiro lme Cube,
descobrem-se coordenadas matemticas nas salas que explicam as centenas
de cubos existentes, e que estes se movimentam. No segundo lme Cube2:
HyperCube, descobre-se que tudo no passa de uma simulao militar, um
jogo de teste, de sobrevivncia, em Realidade Virtual. J no terceiro lme h
um re-contar da histria dos cubos, voltando-se agora ao Cube Zero, momento
da saga em que se v os bastidores do Cubo em si, onde os vigilantes traba-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 51
lham e controlam quem aprisionam no cubo. Esta viso predatria do espao
cbico, do territrio polidrico e panptico do ciberespao preocupante, no
mnimo. A viso dos cubos a viso da matemtica, a das jaulas, e tambm
a da microfsica do poder, de que fala Michel FOUCAULT em Vigiar e Pu-
nir. Tambm nos faz recordar o romance The Man In The Maze Labirinto,
porque SILVERBERG a dada altura arma:
Aquele esconderijo era-lhe necessrio, intacto, para o dia
em que o labirinto pudesse vir a mutil-lo ou a paralis-lo. O
seu olhar perscrutava atentamente as ruas tortuosas que tinha na
frente. Em volta dele erguiam-se as paredes, tapumes, armadilhas
e confuses do Labirinto em que vivia (s.d.: p.6).
A correspondncia entre o ambiente do Labirinto de SILVERBERG e o
ambiente cbico proposto inicialmente por NATALI para a srie Cube bvia.
Ambas as ces tm argumentos com ecos no Neuromante de GIBSON. Pela
lgica o cyberspace a grande mquina territorial, o lugar-mquina existente
apenas nos sistemas tcnicos e nas mentes dos seus utilizadores. So notrios,
nos utilizadores do ciberespao, os processos de aprendizagem que envolvem
construes e blocos, cubos e peas (de onde a expresso building block).
Os alemes tm um termo que remete para a construo de imagens (bil-
dung). Ora o ciberespao simultaneamente esta zona de blocos e a arena de
construo de imagens; como o deus grego Janus, o deus das duas caras, uma
vez que a zona de construo, de espao matematizado, e, por outro lado, a
zona da des-construo, da alucinao. De uma parte temos a zona cbica, a
cela fechada que NATALI e SEKULA nos mostram na srie Cube; na outra
parte temos o campo aberto, a zona de voo pura, o espao da descompresso
(GIBSON e STERLING) com reexos de azul elctrico.
Quer seja nos espaos fechados, quer seja nos espaos abertos das paisa-
gens electrnicas, o ciberespao prima por ser um campo cbico, um terri-
trio do gro, do pixel que sonha a alta-resoluo, e que nos faz procurar o
seu autor. Por vezes sentimo-nos to perdidos quanto as personagens da pea
de teatro de Luigi PIRANDELLO
5
. Anal quem o autor do ciberespao?
GIBSON s cunhou um termo em Burning Chrome, e em Neuromante que
5
A pea intitula-se Sei Personaggi In Cerca Dautore (Six Characters in Search of An
Author), e de 1921.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
52 Herlander Elias
o descreve. A srie The Matrix, dos Irmos WACHOWSKI, revela em Matrix
Reloaded a gura do Arquitecto, e Tron de LISBERGER e DALEY mostra
a tirania do MCP (Master Control Program). Ainda assim, se na co no
h consenso, como poder haver na realidade? O ciberespao ser sempre o
nosso cubo mgico, uma espcie de poliedro como na co Urbicande, de
Franois SCHUITEN e de Benot PEETERS, uma estrutura de malha cbica,
cujas arestas fogem centrifugamente a m de contaminar a realidade. GIB-
SON tem toda a razo quando se refere ao progresso tcnico como sendo not
legislated change.
2.
O ciberespao expande-se de modo a que nos transporte mais convincente-
mente, mudando de forma metonmica, dado que a sua parte vale pelo seu
todo. Ao ser um lugar-mquina, s possvel dada a interligao de tantas
mquinas, o ciberespao rompe com o espao fechado, representado, emoldu-
rado, mas ao mesmo tempo propaga algo cbico, contido, arquivado, aprisio-
nando todos os contedos. Digamos que existe uma gramtica arquitectnica
do ciberespao. O ciberespao efectiva uma cultura dos cubos implementando
a mais perfeita geometrizao da natureza, o devir-geomtrico desta. Quer se
trate de reconstruir restos arqueolgicos, prteses, representar o corpo hu-
mano, simular a viso, recriar obras de artistas falecidos, etc. Mantm-se
um aspecto, o aspecto vectorial da mquina, apesar de esta hoje em dia estar
hiper-aperfeioada, continuamos a ter reminiscncias de uma idade da m-
quina ainda identicvel, de quando a mquina era imperfeita diante do hu-
mano.
Se por um lado os estetas da Realidade Virtual sonham com a imerso
total, e se as imagens de sntese se tornam cada vez mais denidas e em alta-
resoluo, existe cada vez mais a tendncia de voltar aos cubos, de abandonar
as linhas, de voltar ao low-tech. A adeso a estas tendncias concomitante
a um regresso imagem vectorial, imagem pixelizada, cheia de gro, da
pixel art, por exemplo. No cinema, a tendncia, da parte de Hollywood,
criar o virtual sem distino possvel do real. Ou seja vender a imagem ci-
berespacial, aquela em que as paisagens de sntese so como as dos westerns
dos lmes de John FORD; na tenso espao aberto-espao fechado, oscilando
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 53
entre a grandeza do deserto, o cu e o interior das casas. Quanto perspec-
tiva do cinema de autor, a tendncia para cortar na perspectiva, na imagem
de sntese, no 3D e voltar aos primrdios desta cibercultura. Avizinha-se a
tendncia de fazer futurismo sem futurismo, porque o futuro a est j.
Um autor que faz um trabalho interessante de cortar com a amplitude da
imagem-mquina, da imagem computorizada, Wong KAR-WAI, que em
2046 (2004), um lme de co cientca, mostra o inesperado, compactando
o espao da imagem, tornando-a refm do enquadramento. A imagem em
2046 uma imagem-mquina, desconexa, sem passado, sem presente, sem
futuro, sem efeitos especiais, onde as personagens, tal como as de Neuro-
mante, so emolduradas pelo cenrio. O famoso realizador de Hong-Kong
mostra um futuro visto como presente e vice-versa, mas sempre pela lente do
passado. O Futuro como mira de um comboio que anal a vida e que nos
pede para viajar e contemplar as situaes vividas, vago a vago, episdio a
episdio. O realizador explora o que STERLING e GIBSON zeram nos ro-
mances: o glamour clssico de personagens grandiosas situadas em espaos
claustrofbicos, onde a msica tango e swing do incio do sculo XX se con-
trapem a um futuro blade runnerizado, tambm ele uma continuao do
passado, envolto em redeno, intriga e salvao, repleto de amor e perdio,
esttica e paixo.
Tendo emconta que o espao da imagem cada vez mais o espao do com-
putador, e vice-versa, KAR-WAI
6
chega ao ponto de mostrar a vida custa
de planos rectos face aos corpos curvilneos das personagens. O seu propsito
falar de um futuro como co em contraponto a um passado perceptvel,
romntico, chique, lento, musical, enamorado e apaixonante. GIBSON capta
este neo-romantismo como se escrevesse com mquina fotogrca, ao passo
que KAR-WAI segue a teoria de GODDARD transformando-se no realizador-
6
Wong KAR-WAI, tal como Chuck CLOSE e Spike LEE, tambm recorre lente de
grande-angular para fazer planos de in your face, extreme close-up. O objectivo levar a
imagem a desaparecer no seu prprio espao de conteno, como o ciberespao de GIBSON
desaparece sempre que o terminal de Case desligado. Est em causa um efeito de compac-
tao, de comprimir espao a m de fundir tudo no espao da imagem, fazendo abater o real
no enquadramento. Por ser vulgar mostrar os detalhes das grandes paisagens de campo aberto,
KAR-WAI usa a grande angular para paisagens de campo fechado. Assim o realizador cria
em 2046 um excesso de detalhe, um lme denso de efemeridades demasiado apressadas para
serem retidas, o passado melhor contemplado, em formas teoscas de vertical/horizontal.
Viva a cultura dos cubos!
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
54 Herlander Elias
cmara, fazendo da cmara a nossa conscincia. 2046 revela a histria de vi-
ajar no tempo como quem viaja de comboio, mudando sempre de carruagem,
com ash-backs e ash-forwards, contando e recontando uma histria de
vivncias e esperanas num futuro com mais crdito no passado. Foi isto pre-
cisamente que GIBSON observou em Blade Runner. Por isso Neuromante
sintomtico desta viso, que KAR-WAI complica mais orientalmente.
2.9 Rizoma Revolution
There has been no masterplan, and it has been developed by
the users of the system (COYNE, 1996: p.148).
Os conhecidos Gilles DELEUZE e Flix GUATTARI escreveram o livro
que mais teve impacte nos acadmicos: A Thousand Plateaus Capitalism &
Schizophrenia
7
. Nesta obra, o dueto francs de losoa e psiquiatria critica
fortemente a psicanlise, mas de entre as diversas questes que trata, a mais
fundamental prende-se com a introduo do rizoma.
A teoria do rizoma de DELEUZE e GUATTARI revolucionria. Inspira-
dos num tubrculo muito especial, os autores basearam-se neste elemento da
botnica e plantaram-no na losoa. O seu impacte que o rizoma comea
a servir de modelo alternativo velha hierarquia vertical. Com a expanso
do computador e das redes, o modelo centralista perdeu territrio, e todo o
ciberespao acaba por se constituir, por se tecer graas aos seus utilizadores,
como um rizoma, um tubrculo daninho repleto de semelhanas com o mundo
das networks.
Uma caracterstica das redes de informao a sua constituio quase
anrquica, a sua descentralizao, e o modo como se erguem em pontos dife-
rentes seno mesmo opostos. As redes so nomdicas, viajam tambm, so
como que razes que se espalham e fortalecem rizomaticamente. DELEUZE
e GUATTARI dedicam em A Thousand Plateaus um s captulo ao rizoma,
quando em toda a sua obra o rizoma est l latente, no como contedo, mas
como estrutura. O conceito de rizoma estruturalista, basta ver a poca em
que surge, apesar de ser adoptado pelos tecnlogos mais tarde. O que facto
7
N.A.: Este ensaio faz par com O Anti-dipo Capitalismo e Esquizofrenia.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 55
que a Internet, a World Wide Web, os MUDs, os Jogos online; enmo ciberes-
pao, entre tantas outras inovaes, quando surgem de forma acentrada, em
jeito psmoderno, como que corpos sem organizao aparente, sem rgos,
no tendo nada muito denido a no ser os seus protocolos de comunicao.
As redes so assumidamente rizomticas, so baseadas em razes, em
ligaes, que se efectivam por linhas que podem interligar qualquer ponto
com qualquer outro ponto, no respeitando nenhuma ordem. Este carcter
anrquico e viajante da raiz, da rede, o cdigo gentico do ciberespao,
desse lugar-mquina que no tem sde, zona central, uma vez que anti-
genealgicamente ciborgue. As linhas rizomticas so to nomdicas que
podem a qualquer momento mudar de stio e de congurao conquistando
lugares novos e formatos diversos; o rizoma favorece as multiplicidades, a li-
gao total. Na era da velocidade, do centrfugo, do rizomtico, da rede e do
inconstante, do caos e da seduo-mquina, o rizoma rei, no o tubrculo,
mas o conceito.
Analisar a Internet luz desta teoria de DELEUZE e GUATTARI requer
que entendamos que no rizoma uem estados momentneos sem qualquer
controlo ou codicao hierrquica de um qualquer centro de deciso maior.
O ciberespao feito pelos utilizadores, e na sua viso romntica visto como
um territrio a explorar, a mapear. O que curioso que apesar de o cibe-
respao no ter centro e ser criado por todos, foi geo-estrategicamente criado
para resistir a uma guerra global. Em vez da guerra temos a rede global, um
territrio-mquina que liga todos os utilizadores fascinados com o mito agr-
rio do rizoma, do tubrculo que se espalha de forma daninha.
Na Internet, verso mais popular do ciberespao, a seguir do telemvel,
os pontos de acesso no so xos, e no se pode dizer que exista princpio
ou m. S o meio est disponvel, como no rizoma, tudo meio, mas neste
caso media, medium. O meio pode conectar-se a outras estruturas, dado ser
nmada o rizoma. Em cada meio, em cada plateau, existe um estrato, um
pouco como na cultura de cubos ou nos jogos de plataformas em que o in-
nito nos assola e obriga a enfrentar o geomtrico como salvao. Nas redes
cada estrato mais um estrato. No existe um estrato nal, pois como o ttulo
da obra de DELEUZE e GUATTARI indica existem mil estratos, mil meios,
a thousand plateaux. No interessa cartografar tudo, mas sim efectuar tra-
jectos. neste sentido que GIBSON refere no documentrio No Maps For
These Territories, realizado por NEALE, que no existem cartograas para
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
56 Herlander Elias
estes territrios no estticos, pois se o ciberespao se expande, por natureza
rizomtica, ento est a cobrir um territrio outrora marcado pela geograa.
Sendo assim ocorre uma reterritorializao, o espao refeito como ter-
ritrio porque novas ligaes heterogneas so institudas. O real primeiro
desterritorializado, perdendo terreno para o lugar-mquina que temos diante
de ns, em ecrs, imagens e produtos mediticos. Como um vrus multiforme,
o rizoma s se torna problema quando os trajectos e os percursos se resignam
ao esttico. Para o rizoma, a questo a revoluo implicar a conexo-viral.
Para os utilizadores do ciberespao, a questo o perigo de parar, quando a
estrutura est feita para o uxo daninho.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 3
A Subjectividade Mediada por Vdeo
1
.
Experincias Audiovisuais na Primeira Pessoa
3.1 O Dispositivo-Figurativo
new media is post-media or meta-media, as it uses old media
as its primary material (MANOVICH, 2000).
Falar da forma como a subjectividade mediada pela imagem-vdeo im-
plica falar daquilo que hoje se apelidam de experincias audiovisuais na pri-
meira pessoa. notrio que a imagem-cinematogrca traa todo um per-
curso que perfaz um patamar at ao virtual. A imagem-virtual um parente
muito prximo do cinema, pois encontra-se na mesma linhagem de media,
contudo, apesar de a imagem-virtual primar por ser gerada em computador,
possvel traar no passado um percurso at imagem renascentista, que, de
certa forma, antecede a virtualidade. Para usar uma expresso de Edmond
COUCHOT h um conjunto de operaes de gurao que concretizam os
alicerces das experincias audiovisuais de hoje. Sem a perspectiva, o ponto
de fuga, a imagem a trs dimenses, a fotograa, o cinema e o videojogo no
existiria imagem-virtual.
H um dispositivo de gurao que foi sendo melhorado ao longo dos
tempos e que teve na matematizao, na mecanizao e na electrnica os seus
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Esttica dos Media do Mestrado de Cincias da
Comunicao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Faculdade de
Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
57
i
i
i
i
i
i
i
i
58 Herlander Elias
momentos altos de evoluo. Por exemplo na Renascena a perspectiva foi
importante, na modernidade a fotograa e o cinema tambm o foram, mas sem
a computao psmoderna as experincias audiovisuais na primeira pessoa
no seriam possveis de todo.
Com a inveno da perspectiva na Renascena h muita coisa que muda
na representao do espao. Ao aplicar-se as leis da perspectiva o espectador
ca de fora da imagem. A imagem no o inclui. Em vez disso, a sua posio
ser no to chamado ponto de fuga, algures fora da imagem, numa forma
similar que Deus ocupa, estando ausente da sua criao. Quinhentos anos
depois da perspectiva e do ponto de fuga serem usados por pintores, arquitec-
tos e engenheiros europeus, a mquina das mquinas, o computador, permite
fazer o inverso num espao visto em perspectiva, na imagem-virtual. Ora na
imagem-virtual o espectador est includo num ambiente grco, plstico, vi-
sual e tambm sonoro, ldico, mas que prima por ser visto na primeira pessoa.
O estar na Realidade Virtual implica ver tudo pelos olhos de uma persona-
gem, na sua posio, nas suas propores; enm, dentro de um quadro de
antropometria equiparado ao do humano na realidade.
Ao longo da histria de representao, Leonardo da VINCI, Albrecht D-
RER, Leon Battista ALBERTI, Piero della FRANCESCA, entre outros, ten-
taram criar o espao mais realista na pintura, simulando em duas dimenses
as trs dimenses, s quais a imagem-cinema acrescentaria a quarta: o tempo.
A pintura fora durante muitos sculos o espao de representao eleito pelas
classes dominantes para a recriao do aparato da percepo. A geometri-
zao da realidade evolui bastante e, at modernidade, s a perfeio da
imagem-fotogrca destrona a perfeio das imagens renascentistas.
Um das operaes de gurao mais interessante, e que de alguma forma
enuncia essa vontade da pintura em colocar o espectador no espao de repre-
sentao, o quadro de Jean VANEYCKOCasal Arnolni (1434), um retrato
nupcial que celebra os mecenas Arnolni
2
. O pintor pretendia incluir a sub-
jectividade num espao objectivo, geomtrico, matemtico, mas o suporte e o
tipo de dispositivo ainda no permitiam grandes evolues. Dois sculos de-
2
Neste quadro VAN EYCK recorre utilizao de um espelho atravs do qual se representa
um espao situado fora do enquadramento. O espelho convexo em miniatura, situado por
detrs dos Arnolni mostra-nos o impossvel: o outro lado do espao, invertendo a perspectiva.
Ambas as personagens convocama ateno do espectador, acusando a presena deste no espao
da pintura, sublinhando a sua cumplicidade com a obra, enunciando um novo tipo de espao.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 59
pois, Diego VELZQUEZ, coma obra Las Meninas (1660) cria umquadro de
pura reciprocidade. O contemplador e o contemplado permutam-se
3
. Porm,
sculos mais tarde ainda, quando surge a fotograa, nomeadamente o daguer-
retipo de DAGUERRE, a arte pictorial entra num processo de declnio e s
o dispositivo gurativo permanece. E depois da imagem-cinematogrca a
imagem-virtual explorar a topologia ctcia por forma a simular uma subjec-
tividade mediada pela imagem da era vdeo. A realidade passa a ser analisada
num modo cinemtico, mas na imagem-vdeo que encontra a improvisa-
o liberta da montagem cinematogrca. A subjectividade torna-se modelo
de interface das novas experincias audiovisuais mediadas por vdeo, sendo
sintomtica de uma reprimitivizao mcluhanesca: o sujeito poder sentir-se
a ss com uma natureza privada, como que um aborgene deliciado com ima-
gens.
3.2 A Arma-Fotogrca
What the machine gun annihilated the camera made immor-
tal (KITTLER, 1999: p.214).
Entre o Renascimento e a modernidade de hoje o acto de ver pela lente da
camara obscura
4
, e apontar para um referente, era concomitante com um certo
tipo de projeco. A evoluo dos processos qumicos e pticos permitiu que
a fotograa surgisse e se aprimorasse. Mas o tipo de dispositivo gurativo
requeria um novo tipo de projeco. E eis que em 1880 tienne-Jules MA-
REY inventa o fusil photographique, mais conhecido pela arma-fotogrca,
3
VELZQUEZ compe o quadro representando-se a si prprio, num atelier, onde pinta v-
rias personagens em redor da Infanta Margarida, que est no centro das atenes no quadro. Os
olhares das personagens guradas na obra acusam a presena do espectador. Auto-retratando-
se, VELZQUEZ, aparece de paleta e pincel na mo, em jeito de suspenso, acusando na
tela a presena do espectador. exemplar o tipo de dispositivo que VELZQUEZ trabalha
nesta obra, pois requer intruso da parte do espectador, tenta implicar uma subjectividade do
espectador, com um rigor quase fotogrco. Las Meninas um jogo de representao da re-
presentao clssica. A denio de espao, que a obra abre, prova que VELZQUEZ tenta
exibir-se e recolher o espectador em simultneo.
4
A pintura dava os seus grandes passos na forma como usava este tipo de dispositivo para
representar o espao. VERMEER foi um dos pintores que melhor usou a camara obscura,
criando por isso pinturas impressionantes em detalhe quase foto-realista, como se diz actu-
almente.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
60 Herlander Elias
um antepassado da handycam, da cmara de fotografar e de lmar porttil. A
arma-fotogrca de MAREY dispunha de mira, um mecanismo de relgio e
podia capturar at doze imagens.
O lado revolucionrio desta arma-fotogrca consistia na conciliao do
sistema de captura de imagem com um sistema de tiro, sendo que no havia
tiros. O alvo-fotogrco era capturado, gravado como imagem. A fotograa
era sacada do real, o real era atingido, o referente no era morto. A arma
de MAREY permitia matar o referente sem o ferir, produzindo um desdobra-
mento mnemnico, um registo que se autonomizaria e funcionaria como que
uma espectralidade forosamente gravada.
O alvo-fotogrco era assim mirado, o enquadramento denia-lhe o es-
pao de enjaulamento da imagem numa mini-camera obscura que se tornara
arma dotada de portabilidade. Embora a camera obscura tivesse arquitectura,
porque encaixava em si sempre um espao que entrava e se referia ao exterior,
na arma de MAREY tudo se tornava espao possvel a entrar para a arma-
fotogrca, porque na verdade esta armadilhava o real. A arma-fotogrca
antecedeu as novas experincias audiovisuais na primeira pessoa, antecipando
a realidade virtual, capturando imagens que se desprendiam do real sem ani-
quilar os referentes.
Iniciou-se um percurso com a arma-fotogrca de MAREY em que os
disparos eram feitos in vivo, o que signica que no existia situao post-
mortem. A representao coexistia com o referente, s que a representao
cava aprisionada num dispositivo blico e mnemotcnico. Neste sistema a
armadilha era activada logo que o gatilho da arma era premido pelo atirador-
fotgrafo. Assim, ao atirador-furtivo sucede o fotgrafo-furtivo, onde o ob-
jectivo capturar a imagem perfeita, ainda que na opinio de FLUSSER o
fotgrafo tambm esteja a ser caado pelo aparelho. A posio geogrca
fulcral para ambos os casos, pois em ambos os casos se tratava de armadilhar
o real. Na arma-fotogrca era o prprio dispositivo de registo que registava
luz, imprimindo-a no disco interior do seu tambor pelo cano.
H um carcter indubitavelmente predatrio, e at aportico, que permitia
que este dispositivo de registo e de morte separasse as imagens dos corpos sem
operar qualquer ciso. As imagens simplesmente se autonomizaram desde en-
to. nesta ptica que hoje o japons que viaja com a handycam ou o reali-
zador de cinema com a sua panavision tambm revelam um comportamento
idntico ao do atirador-fotgrafo de MAREY.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 61
KITTLER armou que the history of the movie camera thus coincides
with the history of automatic weapons (KITTLER, 1999: p.124), o que no
deixa de ser curioso. Mas sintomtico, so ambos produtos da mquina de
repetio industrial, ambos armas de combate, reconhecimento e de potencial
militar. Considere-se tambm que KIITLER acrescenta que: the transport of
pictures only repeats the transport of bullets (KITTLER, 1999: p.124). Ou
seja, o sistema de recarga de munio tem na imagem parente prximo no
sistema de lmagem. Para ambos os sistemas preciso apontar e recarregar
a mquina, a mquina necessita de ser alimentada, para poder tomar o real
que serve de referente como vtima do seu processo. Contudo o transporte
logstico de meios que implica o sistema de lmagem que faz de si idntico
ao sistema de munies. Prosseguindo o seu raciocnio, KITTLER diz que
in order to focus on and x objects moving through space, such as people,
there are two procedures: to shoot and to lm (KITTLER, 1999: p.124). E
eis que KITTLER diz tudo, pois o que est em causa precisamente a noo
de foque na lmagem, de focar, de tar os objectos, que algo inerente
ao sistema de viso humano, e que nos militares sublinhado nos aparelhos
de tiro. Da os dois procedimentos serem to idnticos, o de lmar e o de
disparar, pois ambos operam uma morte mecnica.
Para BENJAMIN a autenticidade no era entendida como reprodutvel, e
com o sistema de MAREY a autenticidade no o que est mesmo em ques-
to, mas sim a caa de imagens. Pois no dispositivo de MAREY as imagens
eram capturadas, cando refns de um sistema visual onde o disparo (shot)
regra, a regra do clique que despoleta, do gatilho; que hoje permanece nas
mquinas fotogrcas e nos perifricos de computador. O apontar, a prtica
de alvejar, acertar, tem na arma-fotogrca a sua relao de conuncia entre
a arma blica e a mnemotcnica. Esta relao manteve-se at ao cinema e
Realidade Virtual. Todos os dispositivos pticos, mesmo os que foram ensai-
ados pelo cinema relevam de uma propenso para uma subjectividade de re-
conhecimento, pois desde MAREY que a arma de imagem, e a imagem como
arma, coincide com a arma de reconhecimento. No se trata de re-conhecer
a imagem, mas o seu referente. A captura precursora da anlise. Tirada
a fotograa, esta depois re-conhecida, revista, num stio mais apropriado.
Como os turistas e as suas cmaras a fotografar lugares para contemplar em
casa ao longo do ano inteiro. H um registo de caa que se baseia numa caa
de registos foto-grcos, e no somente de objectos fotografveis.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
62 Herlander Elias
MAREY, com a arma cronofotogrca, nome ocial da arma de imagem,
consegue reter imagens atravs do cano desta. Ao apontar para o referente o
caador de imagens retinha a imagem desse referente, como que capturando a
sua aura para sempre. J BENJAMIN referia que a experincia se torna uma
presa da cmara fotogrca, ao que acrescentava que: (...) um amador que
volta para casa com as suas inmeras fotograas artsticas, no satisfaz mais
do que um caador que volta da coutada com imensas peas de caa (...)
(1992: p.130).
H toda uma postura de preparao para se entrar em aco, dado que o
caador de imagens se prepara para armadilhar o real, capturando-o instanta-
neamente para mais tarde recordar. de facto uma guerra de memria o que
est em causa, h certamente a instaurao de um dispositivo de armao que
sinnimo de registo cinematogrco. Mas ao haver um registo da iluso, h
tambm o comprovativo de que o real tem iluso em si. Porque se captura essa
mesma iluso do real, em vez do real sicamente dito, o que manifesta uma
subjectividade dedicada captura, aventura, descoberta; um voyeurismo
tornado predatrio.
Do ponto de vista tecnolgico, a arma-fotogrca d origem aos siste-
mas de armamento que entendem a geograa e so programados para lmar
e capturar o referente real: os msseis teleguiados. A arma de projeco j
autonomizada que s cumpre o seu objectivo quando aniquila o referente real.
Todavia, esta a projeco ltima e mais nefasta, porque com o cinema e a
Realidade Virtual, h um mecanismo de subjectividade que se exterioriza e
encontra no olho da tcnica a sua prtese mais prometedora. No se trata de
to-somente explicar que essa subjectividade ela mesma a extenso do olho
do caador homo sapiens, mas com a tcnica ensaiada por MAREY a per-
seguio de um alvo distante traduz-se, no sculo XX, captura da imagem
do alvo e ao imediato abatimento desse alvo. Ora precisamente o carcter
predatrio da prpria tcnica que permite que the social battles of the video
age are fought with images, not guns (1995: p.18), como arma CAME-
RON e muito bem. Actualmente o combate faz-se pelas imagens e as imagens
consagram-se por ser combativas. a tcnica que transforma o sujeito num
caador de imagens. Existe uma ptica da guerra implcita na escopia, na
caa e na devoo perante a imagem, e que prepara o dispositivo moderno de
reunio destes trs elementos. Mas esta extenso, esta ampliao, esta prtese
da viso subjectiva j havia comeado com a perspectiva durante o Renasci-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 63
mento, pois s desde ento se tornou possvel compilar o real, armazenando-o
para anlise ulterior. Com a evoluo dos media no sculo XX, os referentes
no so mortos pelas armas de guerra e as de imagem, mas antes de mais pela
banalizao da imagem da guerra. As imagens da morte perderam seu ca-
rcter de choque, desbloqueando por conseguinte todas as outras, originando
um sistema de subjectividade protsico e suplementar que acolhe o especta-
dor sem piedade. Agora o espectador est situado no perigo, o perigo no a
excepo, mas to s o ambiente.
Talvez por isso a prtese de um inward eye, de um olhar para o interior,
para a interioridade, faa todo o sentido, por reaco. E a imagem-vdeo e
a imagem-cinematogrca tm ajudado a desvelar uma espcie de Eu em-
prestado nesta passagem para os novos media, onde a audiovisualidade na
primeira pessoa tem carcter de catarse. A perigosidade realada nas ima-
gens de primeira pessoa, como no lme Halloween, porque nos faz tomar
mais ateno, exige cumplicidade, recolocando-nos num novo ambiente, onde
j no caamos nada, mas onde somos sem dvida caados. Isto ocorre por-
que ao criarem-se ambientes perfeitamente mimticos do real, o princpio da
arma-fotogrca re-emerge: o real liquidado por se tornar imagem, cap-
turado para sempre num sistema tcnico. Um sistema onde a motorizao
criada e preparada para nos dar a iluso de subjectividade, de participa-
o. O simulacro recria o seu prprio ambiente de caa. O reino da imagem
aprisiona-nos como se fssemos presas de um reino espectral. A reserva na-
tural agora um lugar-mquina onde no caamos mais, nem imagens sequer,
onde somos indubitavelmente caados, o nosso ngulo de viso simulado
e a nossa subjectividade est subjacente a um lugar-tcnico. A captura j se
realizou, a guerra consuma-se, e o real est perdido para sempre, por ocor-
rer um crime perfeito. Ocultadas as provas, transforma-se o subjectivo em
cmplice do aparato objectivo do dispositivo audiovisual. H uma mquina
antropomrca a desenrolar-se na imagem-virtual, h uma antropometria que
nos acusa e se escusa apenas a pedir a nossa participao; somos decidida-
mente obrigados a participar.
3.3 A Cine-Viso
Eu sou o cine-olho. Eu sou o construtor
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
64 Herlander Elias
(VERTOV, 1981: p.43).
A mquina antropomrca que o cinema desenvolve tem a sua gide na
obra de Dziga VERTOV, cineasta russo para quem o cinema era uma arte da
viso, uma arte do ver. Esta arte do ver, esta cine-viso, algo que a fotograa
tinha antecedido. E na fotograa, tal como BENJAMIN to bem sublinha,
que (...) a mo liberta-se das mais importantes obrigaes artsticas no pro-
cesso de reproduo de imagens, as quais, a partir de ento, passam a caber
unicamente ao olho que espreita por uma objectiva (1992: p.76). E esta res-
ponsabilidade de reproduo el de imagens que passa inclusive para quem
lma e usa a objectiva da cmara de lmar. No por acaso que o lme mais
revolucionrio de VERTOV se apelida precisamente de The Man With a Mo-
vie Camera. O grande heri seria o realizador, ou o assistente de realizao,
mas por ltimo a herona seria a cmara de lmar. Nesta obra tudo visto
pela cmara de lmar, o seu olho era a prtese por excelncia da viso hu-
mana, a nova forma de subjectividade, o novo medium de subjectividade onde
a objectividade da imagem era incomparvel com a imagem da viso humana.
Tinha-se criado uma nova cine-viso, uma nova linguagem de subjectivi-
dade com novos planos de cmara, novos motivos de lmagem que perfaziam
da arquitectura urbana e do movimento das mquinas as reais personagens
anti-co. VERTOV dizia explicitamente que:
Eu, o cine-olho, crio um homem muito mais perfeito do que
aquele criado por Ado; eu crio milhares de homens diferentes
segundo modelos diferentes e esquemas pr-estabelecidos.
Eu sou o cine-olho.
A um, tomo os braos, mais fortes e mais habilidosos, a outro
tomo as pernas, mais bem-feitas e mais velozes, ao terceiro a
cabea mais bela e mais expressiva e, graas montagem, crio um
homem novo, um homem perfeito (in GRANJA, 1981: p.23).
Com o cine-olho, a cmara revela-se uma arma contra a misria das coi-
sas, nomeadamente contra o seu desaparecimento. Esta cmara de lmar era
o verdadeiro dispositivo de que se necessitava, a sua objectiva a ltima arma.
Mas no fora somente VERTOVa criar novos caminhos no cinema. Pier Paolo
PASOLINI referia vezes sem conta que o cinema precisava de algo mais, de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 65
onde o seu conceito de "subjectiva indirecta livre". Para PASOLINI, a lma-
gem da cmara, o tipo de plano escolhido, deveriam reectir o tipo de viso do
actor
5
. Porm, a subjectiva de PASOLINI e o cine-olho de VERTOV no
foram os nicos argumentos de sustento para a criao de uma nova subjec-
tividade mediada pela imagem realista. Alguns anos depois, Alfred HITCH-
COCK, em Rear Window Janela Indiscreta, consegue criar uma srie de
situaes em que o protagonista Jeff passa por um conjunto de circunstncias
mediadas por imagens vistas na primeira pessoa; levava-se assim o espectador
a participar na obra
6
. O que h a retirar daqui que HITCHCOCK partilha a
experincia de espreitar pela objectiva com o espectador, indo ao ponto de l-
mar de forma a que a proporo geomtrica das imagens desse a sensao ao
espectador de estar no ponto de vista de Jeff. HITCHOCK recorre cmara
de lmar com se esta fosse uma conscincia-cmara, ao mesmo tempo que
abdica nessa sequncia do som. O silncio fulcral.
No entanto, esta noo de conscincia-cmara, to em voga nos dias
de hoje, antes de HITCHCOCK era o grande ex libris de VERTOV, para
quem o cine-olho seria capaz de ver, voar, sentir, lmar, espiar, correr e
muito mais. VERTOV iniciara claramente o domnio da escopia virtualizada
5
PASOLINI substitua claramente a viso objectiva da objectiva da cmara de lmar,
eleita por VERTOV, por uma subjectiva. Mostrar a experincia subjectiva do actor, antes da
Realidade Virtual, era um passo de gigante para o cinema. O realizador italiano pretendia que
se conseguisse captar e transmitir a experincia audiovisual do actor na primeira pessoa, pelo
que referia com entusiasmo uma secundarizao da intriga pela primazia da viso subjectiva
que inuencia, toca e sensibiliza o espectador, como o zeram BRESSON ou GODARD. A vi-
so subjectiva deveria comportar-se como tal, pois era uma prtese. A subjectiva revelava
as pulses das personagens.
6
Rear Window mostra a vida de um foto-jornalista que voyeur durante todo o lme. Ele
aponta a objectiva da sua mquina de fotografar e faz dela uma subjectiva, criando teorias da
conspirao, alucinando no cubculo do seu quarto com vista para as traseiras, de onde espreita
a casa de outros. Jeff usa sempre a mquina fotogrca como arma, como que caando histrias
jornalsticas, romances perdidos, construindo um romance mental acerca dos vizinhos, por
estar em casa sem afazeres. No nal, quando descoberto pelo vilo Thorwald (presumvel
vilo, alis, at esse momento), Jeff apaga as luzes da sua casa e coloca uma lmpada de
ash na mquina fotogrca. Quando Thorwald consegue entrar em sua casa para o desfecho
nal, Jeff recarrega a cmara fotogrca como quem recarrega uma arma, desferindo no vilo
ashs de luz que o atordoam e atrasam. Cada lmpada de ash utilizada somente uma vez
requeria novamente uma recarga. Osuspense nesta cena notrio. Por m, Thorwald consegue
aproximar-se de Jeff e chega mesmo a atir-lo da janela. Jeff cai no real, tomando uma
mobilidade que no tivera durante todo o lme, ansiando por um escapismo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
66 Herlander Elias
muito antes da era da computao. Estavam criadas as condies para todo um
devir-ptico do cinema, um patamar propcio para a imagem que vem. A
de-composio de imagens iniciada por MAREY e especialmente por MUY-
BRIDGE havia preparado a subjectiva da cmara de lmar para algo novo,
uma forma de com-posio; uma nova geograa da perspectiva linear em que
o espectador era includo na imagem. Essa incluso na imagem seria feita por
indiciar a sua posio na lmagem, da o termo com-posio, pois a determi-
nao da sua posio na imagemera importantssima no composto audiovisual
que o cinema.
O devir-imagem actualmente uma realidade, tudo se torna imagem, e
se verdade que a imagem toma a plasticidade do digital, tambm verdade
que o digital se torna plasticizado. inexorvel que a quantidade de imagens
que envolvem o cidado hoje mal dene as fronteiras entre o que imagem,
co, virtual, e a realidade. Por exemplo, em Neuromante, William GIBSON
refere mesmo que o cu de natureza idntica da imagem-vdeo
7
, como se
j no existisse um exterior imagem, a imagem haveria contaminado tudo,
incluindo a atmosfera. Tal coisa signica apenas que a imagem abraaria
cada vez mais o cidado, forando-o a ser participante, enclausurando-o numa
mediao sem limite. Com certeza que h um agenciamento tecnolgico na
imagem-vdeo que a torna sedutora, convidativa, e que nos requer subjecti-
vamente. A imagem-vdeo tem uma propenso para envolver o espectador, e
este cada vez mais sente diculdade em distingui-la da realidade, pois o que
caracteriza a experincia humana que a vida um uxo, mesmo quando
estamos a dormir. Ora na imagem-vdeo h uma montagem, um controlo dos
tempos e das sequncias que manipula o resultado nal, excluindo partes inde-
sejveis e acrescentando outras. E precisamente deste carcter de montagem
que a imagem-vdeo se despega, a m de sequncias sem paragem, lmadas
na primeira pessoa, de forma a conferir a iluso de um estar l, de revelar a
realidade como sendo vista pelos olhos de um Eu.
O que se passa que a imagem-vdeo cria um patamar para a imagem-
virtual, fazendo regressar a cine-viso aos modelos do incio do sculo, como
se houvesse um estdio favorito e mais interessante de pr-montagem, de pr-
edio, como se a imagem estivesse a ser libertada da tirania da rgie. Por
7
Diz GIBSON que o cu por cima do porto era da cor de um aparelho de TV sintonizado
num canal sem emisso (1988: p.11).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 67
exemplo, na histria do cinema relevante o contributo dos lmes dos irmos
LUMIRE, mas para a subjectivao da imagem de hoje, o que h a reter
do trabalho dos irmos LUMIRE que no havia mise en scne, porque no
havia montagem. Tudo era lmado one shot, o lme era o resultado do que
era lmado e ponto nal
8
. Depois claro que h uma morte da aura que
presencia o aparecimento das tcnicas de colagem, montagem e sobreposio.
Mas acontece que se d uma re-territorializao das condies de percepo
para o campo da objectividade (a imagem-mquina toma caractersticas da
imagem da viso humana), e d-se tambm uma des-territorializao da
imagem. A imagem separa-se dos corpos, e assim tudo se torna constructo,
montagens de fragmentos, at que no virtual esse processo de construo
seja to aprimorado que, tal como um crime perfeito, oculta as provas de
que tenha ocorrido. Por isso hoje quando h montagem de imagem esta no
discernvel, porque a montagem fundiu-se com a imagem. A montagem no
mais o processo de edio de imagem, a montagem a prpria imagem. No
h distino.
Nesta senda h uma des-localizao do territrio real para o domnio da
imagem, que permite que esta se proponha j completa, convidativa, montada,
aliciante, experimentvel e sensacional. A imagem tornou-se o ambiente, a
qual s faz sentido porque um sujeito a experimenta. por isso que h nota-
velmente uma migrao das imagens dos territrios (panorama, cartograa,
fotograa, travelling de cinema) para os territrios de imagens (o real)
9
.
Uma vez que h cada vez menos coisas para objectivar, a imagem mi-
gra para o territrio da subjectividade, a imagem agora subjectiva, isto ,
pensa, especula, interage, acusa a nossa presena num dispositivo que ape-
nas nos faz recordar da sua pr-histria, da sua fase pr-montagem, em Las
Meninas de VELZQUEZ ou no Casal Arnolni de VAN EYCK. Mesmo na
pintura a imagem sempre ansiou por um territrio de forma a englobar o es-
pectador, da o desenvolvimento da perspectiva linear na Renascena. S que
neste perodo de convulses o espectador estava excludo da imagem. A in-
8
Uma estratgia que na dcada de 60 Andy WARHOL retoma, fazendo uma srie de lmes
longos, sem qualquer edio, isto , montagem, recusando a sua subjectividade artstica em
prol de uma viso maquinal do medium.
9
semelhana do que BORGES refere em relao ao mapa criado escala 1:1, que poderia
cobrir todo o territrio, confundido-se com este, metfora qual BAUDRILLARD tambm
recorre em Simulacros e Simulao (1994), a imagem hoje territorial.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
68 Herlander Elias
cluso do espectador na imagem foi sendo preparada historicamente por uma
srie de dispositivos, passando pela perspectiva, pelo estudo das propores,
pela antropometria, pela fotograa, pela lente cinematogrca e depois pelo
suporte-vdeo, at imagem tridimensional de alta-resoluo capaz de revelar
imagens virtuais perfeitas. Este processo tinha por misso conseguir expor
a posio subjectiva na imagem, e nomeadamente na imagem-vdeo que
essa posio subjectiva do sujeito na imagem adquire contornos importantes,
por exemplo com o fenmeno da gravao de vdeos domsticos. A posi-
o subjectiva do sujeito na imagem sempre conotada com uma submisso
do sujeito-espectador-participante imagem, pois esta no s o territrio,
como o revela; a imagem-vdeo a condio de subjectividade do sujeito, o
que ele pode ver (extenso do olho) e o que pode gravar (extenso da mem-
ria). Claramente que se comprova a existncia de uma performance-mquina
na imagem que desobstrui o caminho em prol de uma subjectividade mediada
por vdeo, criando-se uma instncia de movimentos-uxo.
O que se pretende levar o espectador a habitar o drama, capturar no
s o exterior, como a arma-fotogrca de MAREY, mas sobretudo os seus
estados interiores. Ao excluir-se o sujeito na terceira pessoa na imagem, a sua
lmagem, a cmara amputa a viso humana e coloca de parte como objecto o
homem da imagem. A imagem vista como sendo a partir de um humano. J
no se trata de representao, mas sim de incorporao. Ou seja, a lmagem
do alvo, o leitmotiv da cmara, funde-se com o prprio alvo ao ponto de serem
indiscernveis. A imagem cujo carcter predatrio se vinha mantendo desde a
arma-fotogrca de MAREY claramente deixa de capturar o exterior e vira-se
para a interioridade, incorporando o inner Self.
Essa incorporao do dinmico comeou com o cinema sovitico de VER-
TOV e EISENSTEIN, mas sobretudo com VERTOV. At surgir VERTOV
lmavam-se os actores de frente e em planos de conjunto. Eram estes os c-
nones da cinematograa. Com VERTOV muda a tcnica, coloca-se a cmara
em movimento, lmando num comboio em marcha, elevando-a ou colocando-
a ao nvel do solo, isto , fazia-se mover a cmara e registava-se o movimento.
Depois, as inovaes obtidas na lmagem continuavam na mesa de monta-
gem. Apesar de hoje a montagem ser ela mesmo reveladora de um tipo de
imagem especco, sintomtica de um tipo de virtualidade, est cada vez mais
oculta nos novos media. A montagem apaga os seus vestgios mostrando-se
as imagens como legtimas, vvidas e realistas. Como bem refere RUTSKY:
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 69
these rationalized images/forms can than be assembled, constructed, by the
allegorist/engineer, by the monteur (1999: p.90). Ou seja, h uma gura
responsvel pela montagem, pela criao da mediao que media a subjecti-
vidade em imagem, embora no parea por vezes haver, de todo, montagem.
Mas se a montagem estava l desde MAREY, na escolha do alvo cuja imagem
se pretendia capturar, em VERTOV que se modela a expresso e o conceito
de cinma-vrit (Kino-Pravda em russo). Nada mais do que a verdade se su-
punha revelar, por isso artistas como WARHOL lmavam ininterruptamente,
em one shot, desprivilegiando a montagem, pois a primazia era dada sub-
jectiva da cmara de lmar. A montagem j pervertia a lmagem do real, a
cine-viso da cmara viva de que falava LEACOCK.
Em ltima instncia obviamente que o real est j corrompido, fora
da escolha do momento, da luminosidade, da direco ou da velocidade da
cmara, que s dependem do cineasta. Mas esta tentativa de mediar tecnica-
mente a subjectividade por uma maquinaria, por tcnicas de imagem realista
tem a sua gide nas novas tecnologias audiovisuais, nas quais o espectador
participa mais do que assiste. Deste modo, a imagem-vdeo interioriza-se,
transformando o espectador-participante num sujeito aparelhado. Face
tenso entre Real e Virtual, Edmond COUCHOT defende que o sujeito apare-
lhado aos processos tcnicos assistido e absorvido por eles. A sua subjecti-
vidade j est corrompida pela tcnica. A subjectividade j no aparece como
nica expresso do Eu, da conscincia, denida pela tcnica. A aparelha-
gem numrica tece uma subjectividade representada, toma uma subjectividade
de emprstimo. Eis como os dispositivos de audiovisual de hoje, de virtuali-
dade, incorporam o sujeito, aparelhando-o, precisando deste para funcionarem
e para realizarem o seu propsito: dar forma ao sujeito.
No cinema de co cientca, muitos tm sido os exemplos que demons-
tram substancialmente esta questo, apesar de ser nos videojogos do gnero
FPS
10
que a revoluo mais identicvel, pois este gnero de videojogos
tem redenido o conceito de Realidade Virtual. Mas mesmo esta Realidade
Virtual busca sempre conceitos no cinema, pois o seu medium de eleio,
e que alis lhe constri a sua linhagem. S que no se trata to s de referir
que o cinema antecessor da Realidade Virtual e do videojogo, trata-se de su-
10
FPS o acrnimo de First Person Shooters, jogos vistos e jogados pelos olhos da per-
sonagem principal. Prima por elevado nvel de realismo e sensao cinemtica de jogo. So o
topo do virtual.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
70 Herlander Elias
blinhar que o cinema responsvel por instituir um regime de subjectividade
na primeira pessoa. E no cinema existem inmeros exemplos de lmes que
revelam sequncias de subjectividade vistas na primeira pessoa.
Por exemplo, em Robocop (de VERHOEVEN), o polcia do lme sofre
uma srie de acidentes e integrado numprograma de ciborguizao. Desde
esse momento ele no acordado, ele reactivado, e passa a ter a sua subjec-
tividade mediada por vdeo na primeira pessoa
11
. Ainda assim, no apenas
Robocop o nico lme a criticar uma sociedade que se rev na imagem-vdeo
da televiso. Blade Runner (de Ridley SCOTT), tambm o faz, indo mais
longe at, mostrando como a subjectividade se aloja mais em mquinas que
em humanos. Neste lme, o protagonista Deckard usa um equipamento de
vdeo de seu nome esper, que responde por interface de voz e analisa uma
imagem de uma replicante chamada Zhora. Atravs de uma fotograa bi-
dimensional o esper permite construir uma imagem tridimensional, traando
todo um percurso navegvel. Ao detectar o reexo de um espelho na foto-
graa, Deckard consegue navegar nesse espao de imagem-mquina, nesse
lugar-mquina, e encontrar o espelho. Este reecte a replicante num quarto,
uma replicante que fora designada para ser retirada das ruas. De acordo
com COUCHOT, aqui a posio de Deckard denitivamente a de um sujeito
interfaciado. COUCHOT arma que o sujeito interfaciado mais trajecto
do que sujeito (1998: p.28). O que remeter mais para a relao, para a
des-locao, e isto quer dizer que o sujeito se adapta ao trajecto, ele tra-
jecto, tal como a sua vida tem uma narrativa sequencial de experincia e o seu
imaginrio tece um lme sequencial mental.
Por outro lado h que referir quem quer na viso de Robocop, quer no
equipamento de Blade Runner, com que Deckard interage, h uma transfern-
cia de subjectividade para as imagens, mas o inverso tambm sucede: uma
transferncia de imagem para a subjectividade. Acrescente-se tambm que
ambos os lmes mostram uma imagem-ftica, uma imagem-alvo, designada
a forar o espectador a ver com ateno, e que no um mero produto da
imagem fotogrca e cinematogrca. H uma bvia tentativa de mediar a
11
Toda a sua viso, memria, associaes mentais e gestos passam a ser baseados em
sistemas-tcnicos; de focagem de imagem, auto-bloqueamento de alvos, gravao de aconteci-
mentos em audiovisual, apagamento e pesquisa de dados, reproduo de som e digitalizao de
contedos. A interface pela qual Robocop interage com a realidade baseada em video-texto,
imagens gravadas de televiso e bancos de dados de vdeo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 71
subjectividade por vdeo, de colocar o espectador no lugar da personagem, no
seu ponto de vista. Curiosamente, muito antes da imagem-vdeo, em 1820,
Nicphore NIPCE, chamava s fotograas que inventara pontos de vista.
O carcter mental da imagem nunca desaparecera, mesmo na imagem-vdeo
permanece esse carcter de constructo mental. Traa-se uma mediao de
testemunho. O que a imagem-virtual melhora esse carcter panormico (de
viso completa), fundindo o trabalho arquitectnico com o trabalho picto-
rial, restando ao sujeito aparelhado navegar, efectuar o trajecto.
Alm do mais, com a subjectividade mediada por vdeo h uma substi-
tuio e no somente uma simulao, a ideia tomar o lugar de um outro Eu
e no apenas simul-lo. A subjectividade evapora-se e suplantada por uma
mediao tcnica dessa mesma subjectivao. A imagem adquire mais fora
e predominncia que aquilo que representa, reivindica para si uma fantasia
interior; torna-se uma arma!
Ao preparar o terreno para as novas experincias audiovisuais na primeira
pessoa, o cinema providencia todo o esquema esttico necessrio, criando
uma motorizao da viso que dispensa a lmagem, uma montagem que no
requer cenas mas frames por segundo. Identica-se algo de VERTOV na
imagem-virtual, algo de vertet, pois na imagem de cmputo h algo que gira
e d voltas em torno de um eixo, mas no mais mecanismo. subjective
computing, uma computao subjectiva que indissocivel da imagem-vdeo,
e que no consegue esconder o seu carcter predatrio e furtivo, voyeurista e
manipulador. A imagem-virtual tem, tal como a arma-fotogrca de MAREY,
uma ligao mnemotcnica da guerra
12
.
12
Uma ligao idntica existia entre os operadores de cinema sovitico e o Exrcito Verme-
lho. Era fcil encontrar um operador de cinema que participasse activamente nos combates e
noutras operaes militares. Ao ponto do operador sovitico deixar frequentemente a cmara
de lmar para pegar num fuzil. No mesmo sentido, a imagem-virtual uma imagem subjectiva
de combate, uma viso da guerra, do conito tecnicamente mediado, e isso reecte-se inclusive
nos videojogos. Que por sua vez vo buscar muito do alento ao cinema de luta, dos cineastas
soviticos, dado que foram os primeiros a saber utilizar o cinema para combater o inimigo.
Esta aco desenrolava-se em duas frentes complementares: a produo de lmes de combate
e a sua exibio.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
72 Herlander Elias
3.4 O Virtual na Primeira Pessoa
New media is still old media (MANOVICH, 2001).
Com a imagem-virtual, entra-se na terceira gerao da imagem-vdeo (de-
pois da imagem-TV e da video art), um domnio em que j no existe sujeito
propriamente dito mas sim subjectividade mediada. Melhor dizendo, existe
somente produo de subjectividade, porque o sujeito, de to aparelhado que
est, reduz-se ele mesmo a uma operao de gurao. Neste mbito, COU-
CHOT arma que o sujeito est obrigado a redenir-se constantemente, face
imagem, enquanto sujeito (1998: p.23). Isto porque a imagem toma uma
plasticidade que leva a uma resposta da parte do sujeito. E como este no
consegue competir com a imagem, redene-se em operaes de gurao a
m de testar a sua subjectividade capturada pelos media.
O sujeito alvo de um emparelhamento cyborg que lhe hibridiza quer a
fronteira com o milieu interior (corpo), quer a fronteira com o milieu exterior
(mundo). O sujeito deixa de ter controlo na sua deslocao real para passar
a controlar a des-locao virtual, e todo o motor cinemtico, a viagem da
cmara de lmar, que prepara historicamente esta virtualizao da deslocao.
O efeito que o sujeito se mune de dispositivos de competncia tcnica para
exaltar a sua subjectividade, porque a sua viso uma viso protsica, e, mais
que tudo, armada. O sujeito move-se no virtual, fundindo o seu campo de vi-
so com o do projctil. A sua viso torna-se militarizada, como no videojogo
MDK, a imagem subjectiva pela mquina torna o sujeito num cyborg. So as
imagens-mquina que assolam o sujeito, emparelhando-o com o seu discurso
plstico e grco. E a imagem ao des-territorializar-se faz do seu objecto de
foco um alvo. de uma imagem-alvo que se trata, que subjectiva, que in-
corpora o sujeito, que lhe interior, ao ponto de ser um veculo projectivo,
uma arma que dene o balano interior-exterior, embebida num processo de
subjectivao. Estas imagens que no necessitam de exposio luz, e porque
no so apresentadas mas processadas, so imagens-movimento em si, que se
movem mesmo, primando por um detalhe que convoca a nossa ateno.
J HITCHCOCK tinha obsesso com o detalhe. Numa das suas melhores
obras Vertigo A Mulher que Viveu Duas Vezes, HITCHCOCK explora
a panormica de uma cidade e faz com que a cmara de lmar viage at ao
interior de uma habitao, reduzindo o campo de viso at ao interior do olho.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 73
Este percurso at interioridade o percurso da subjectividade, que se ope
ao da representao estvel agregada ao plano xo da cmara de lmar. Na
imagem-virtual, a representao instvel mvel -, h uma entropia da ima-
gem. E lmes como Pulp Fiction claramente exploram este caos, esta instabi-
lidade subjectiva da imagem do interlocutor, e que de alguma forma antecede
videojogos na primeira pessoa absolutamente revolucionrios, como Half-Life
2 ou Doom III, onde as personagens com que se interage viram-nos o rosto e
tam-nos como se ali estivssemos, algo que at o lme homnimo (Doom
Sobrevivncia) explorou.
Nos videojogos actuais, em que a aco vista na primeira pessoa, a Rea-
lidade Virtual est num ponto de evoluo impressionante, e no exploram so-
mente a perspectiva como objectividade (uma herana da Renascena), dado
que aproveitam bastante a via de uma perspectiva como subjectividade. A
subjectividade mediada por um esquema de metafsica-co, relevando de
ser aplicada a uma imagem mvel, que faz da vertigem uma perspectiva do Eu
(zoom, cornucpia, semper travelling). H uma vertigem da imagem subjec-
tiva causada pelo facto de as formas serem disfaradas at se tornarem espao.
E no virtual, o espao tudo, e tudo se torna espao. Repara-se que existe um
ser que se re-conhece nas imagens, como tambm as imagens que reconhe-
cem o ser, acusando-o e requerendo-o. Em suma, poder-se- dizer que ocorre
uma subjectivao da imagem. A subjectividade que existe mediada porque
h representao, mediao, diffrance (DERRIDA). Pretende-se possuir at
ao limite o Eu na representao. A nalidade a unicao do sujeito com a
imagem, a lgica da prtese dominante ao ponto de exprimir a interioridade
do sujeito, a sua condio subjectiva.
Acentua-se um espao subjectivo, uma imagem subjectiva que um lugar-
mquina da imagem. Ao haver actualizao da imagem, o actual-virtual pesa
mais que o real. H uma mo que prova que se est l, mas que no nos
prova directamente que estamos l. O gesto o resduo.
Implcito tambm est uma esttica da subjectividade porque no se pre-
cisa de se objectualizar, de se condensar, nada em concreto. A esttica da
viagem toma tudo de assalto, transformando-se a subjectividade ento numa
deriva, num situacionismo premeditado. H uma construo de situaes
notria. E a imagem subjectiva ao situar o sujeito e, mais do que isso, os mo-
mentos de subjectividade, mostra-se connada a dispositivos de competncia
tcnica. O facto de o videojogo na primeira pessoa ser usualmente refm do
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
74 Herlander Elias
jogo de tiros sintomtico da pretenso que existe em se quebrar as apa-
rncias, disparar sobre elas, quando na verdade a mo comprova que o sujeito
aparelhado est connado e aprisionado no virtual. A sua subjectividade fora
adulterada por mecanismos semiticos. Por isso que COUCHOT arma que
no virtual, o prprio sujeito oscila entre o estado de objecto e de imagem
(1998: p.27), pois ambas as instncias partilham da mesma cartograa, o ter-
ritrio do virtual, da imagem e som de cmputo, do mesmo lugar-mquina,
feito de imagens-mquina; onde o principal a memria e a funo mais ele-
vada do signo a de fazer sumir a realidade, camuando-se ao mesmo tempo
essa desapario.
O territrio do virtual expande-se e prova que existe uma retirada do
mundo; o mundo torna-se perigoso, e ao tornar-se perigoso o virtual tenta
reunir todos os sinais de introspeco, de interioridade, absorvendo-os em
nome de uma segurana, de um controlo. Mas como as imagens so imagens-
movimento, cedo se afere maneira de VERTOV que a arena pequena
(in GRANJA, 1981: p.46), demasiado pequena alis para tanta imagem. As
imagens soltam-se, no s as de fora, as de terceira pessoa, mas sobretudo as
nossas, as da primeira pessoa. Artistas de video art como Bill VIOLA tm
insistido em desmisticar a subjectividade das imagens, forando o especta-
dor a contemplar imagens construdas para mostrar o ponto de vista deste
mesmo espectador.
Quer a video art, quer a realidade virtual, ambos os media revelam o seu
interface como a prpria forma de denio esttica. Por outra via, ambos
em moldes diferentes visam preparar o espectador (levando-o a participar)
para experincias pessoais mediadas por imagem-vdeo. No obstante, a
imagemda realidade virtual que mais revela uma imagemcristalizada, lmpida
e plstica, excedendo os limites da fotograa e do cinema, pois nestes suportes
a imagem peca por omitir algo que no cabe propositada ou acidentalmente
no enquadramento. O que no aparece no plano ca no plano do imaginrio.
O que omisso no existe. J na imagem-virtual, o que no aparece no ecr
imediatamente actualizado para que o que quer o espectador contemple, e
para onde quer que se vire, a imagem o acompanhe. Nada omisso. virtual,
actual, potencial. A imagem-virtual composta e montada, conquista um
topos que lhe prprio, um lugar-mquina, como venho referindo.
Com o realismo e a objectividade que a fotograa e a imagem-vdeo ins-
tauraram a imagem-virtual tinha que revelar-se como portadora de uma sub-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 75
jectividade impressionante. Havia todo um resduo metafsico na objectivi-
dade da fotograa que terminou na fotograa abstracta, e tambm o mesmo
ocorria na imagem-vdeo face video art. Foi precisamente esse resduo de
metafsica, essa imago do sujeito, essa imagem, essa moldura de subjectivi-
dade que encontrou no virtual a sua extenso.
As imagens-mquina passaram a entender o dispositivo do Quattrocento:
a perspectiva linear, as trs dimenses grcas, o ponto de fuga. O culminar
o motor grco do virtual. Da Paul VIRILIO referir que existe uma arte
do motor, na mesma perspectiva que MANOVICH. E este motor grco, esta
programao de computador que anima grasmos para que o simulacro seja
percepcionado como paisagem real, de facto um revestimento das tcnicas
de imagem anteriores. O movimento vem do cinema, a objectividade vem da
fotograa, a acelerao vem da computao, o rigor vem da pintura renas-
centista e a intimidade vem do estilo da imagem-vdeo caseira. graas
fotograa que a objectividade virtual se torna um dado adquirido: as fotogra-
as de fragmentos tornam-se texturas
13
, roupagens para um cenrio tornado
real, objectivado.
Aimagem-virtual torna-se antropomtrica, vista na proporo e no mesmo
tipo de enquadramento que um humano empregaria ao contemplar uma pai-
sagem real usufruindo da sua viso. S que se a imagem-virtual sofre de
saturao, sendo excessivamente plstica, grca e detalhada. A imagem-
fotogrca ser sempre a referncia de real, de onde o termo foto-realista,
que base para o realismo da imagem-vdeo e seus sucedneos baseados num
olhar absorvente e dilatado em que tudo acontece de uma s vez.
Na imagem-vdeo existem vrias eternidades que se sucedem umas s ou-
tras, mas a passagem da sucesso para a autonomizao da imagem d-se na
imagem-virtual, suporte onde tudo se pode mover no ecr como que para sem-
pre. A imagem-virtual uma imagem que ideal para preparar a simulao da
subjectividade, ou para mediar a nossa subjectividade, na medida em que, ao
recriar virtualmente espaos de exterior, transforma o espao em endtico,
fechado, e at em endo-ptico, pois o que se privilegia a viso interina das
coisas, o interior que se d por corte com o exterior.
Tal como nos mostrado em Strange Days, o virtual aparece como uma
13
As texturas so a base da tapearia iconogrca da imagem-virtual. Curiosamente os
computadores quando processam a imagem-virtual efectuam processos de tecelagem de dados:
rendering.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
76 Herlander Elias
proposta de realidade bem mais confortvel que o prprio real. Tanto assim
que, no lme, quem experimentava as gravaes (clips) tinha a mesma ex-
perincia de quem as tinha gravado
14
. O virtual, alm de ser uma experincia
audiovisual transportvel e copivel, era tambm uma forma de partilhar a
subjectividade. A razo pela qual a subjectividade do olhar humano re-
alada nas cenas dos clips, criando uma espcie de reino utuante no qual
nunca sabemos o que verdadeiro, porque em Strange Days a subjectivi-
dade tudo. As cenas, lmadas sem cortes, mantm-se muito prximas da
aco, multiplicando-a por todos os que a elas assistem. Uma vez que tudo
lmado a partir da viso do interveniente no clip, BYGELOW, a realizadora,
transporta os nossos olhos para l. The headwire turns the wearer into
a human video camera (1995: p.14), arma CAMERON no argumento de
Strange Days. Um dos pontos interessantes do lme quando esto colo-
cados inmeros espelhos no cenrio, onde se reectem invariavelmente duas
personagens. BYGELOW fora-nos a assumir uma subjectividade mediada
por vdeo no lme, nas personagens, e depois confronta-nos com esse facto
ao obrigar-nos a enfrentar o espelho, que a metfora de todo o movimento
em que o lme nos envolve, e sem o qual no poderamos perceber quem est
presente.
No lme, Lenny
15
, o protagonista, diz que I want you to know what
were talking about here. This isnt like TV only better. This is life. E
na verdade mesmo vida, uma experincia audiovisual na primeira pessoa,
que uma re-vivncia; mais que um registo a contemplar. O efeito catrtico
das imagens-virtuais de Strange Days transforma todas as personagens em
vtimas de uma outra subjectividade, quando visionam os clips porque a sub-
jectividade ao mediar-se pela imagem adquire caractersticas desta, acusando
plasticidade, viciao e virose. A imagem-virtual que est patente em Strange
Days atingiu um nvel de verosimilhana com o real que parece como que l-
mada, imagem-vdeo portanto. O nvel de evoluo do virtual de tal ordem
que, tal como este lme demonstra, ocorre uma imploso da subjectividade,
e uma auto-amputao, em termos mcluhanianos, induzida pelo ambiente
meditico, pela envolvncia da imagem. E esta a condio de experiencia-
14
As gravaes chamavam-se playbacks. Os que ainda no as haviam visto e sentido, eram
considerados virgin minds, mentes virgens.
15
Lenny Nero vende clips, pedaos da vida de outras pessoas capturados em digital, bootlegs
(gravaes piratas) o fruto proibido.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 77
o do audiovisual na primeira pessoa, em que o sujeito se rev num pacote
de imagens confortveis que o entorpecem. McLUHAN no falava em elec-
trnico, mas falava em elctrico, e o ambiente elctrico total e inclusivo, um
inebriante lugar-mquina repleto de imagens em com-tenso, em contenda.
3.5 O Espao da Morte
Denimos a modernidade pela potncia do simulacro (DE-
LEUZE, 1974: p.270).
A subjectividade mediada pela imagem-virtual implode e exclui do sujeito
as dimenses do Outro. H algo de castrado na referencialidade, quando a
virtualidade se impe. Por isso, tal como BAUDRILLARD refere: com o
virtual, entramos no s na era da liquidao do Real e do Referencial, mas
na do extermnio do Outro (1996: p.145). H uma leso no Outro, porque o
virtual permite construir tudo ao ponto de s a subjectividade importar, pois
o corte com a exterioridade implcito quando s a interioridade interessa.
A ser levado ao extremo, o corte com o exterior a experincia cortada, a
gravao interrompida, o virtual implosivo, o espao da morte como William
GIBSON refere em Neuromante, o espao do necro. No por acaso que
em Strange Days tudo comea com a gravao de uma morte, de algum que
morre e sobra pois a prova digital desse bito.
E em Robocop, passando pelos Terminators, bvio que da morte, do
estado de no-vivo, do estado alien, como em Predator que surge um ente m-
quina que acede realidade por vdeo, por imagem-vdeo. Todavia, o lme
que melhor explora este facto precisamente Final Cut, de Omar NAIM, que
revela uma sociedade futurista em que um implante zoe introduzido em to-
dos os humanos. Toda a sua vida caria registada nessa prtese, e no nal,
depois da morte, a vida dos falecidos seria revista em audiovisual. Caberia,
assim, ao editor (cutter) executar uma sinopse post-mortem de toda a vida da
pessoa registada em digital, reunindo assim as melhores memrias. O edi-
tor executaria neste caso uma cerimnia fnebre, seleccionando, ampliando
ou ocultando, memrias de falecidos, mas o mais revolucionrio que o im-
plante zoe permitia ver a vida da pessoa pelo seu ponto de vista, pelo seu
olhar. Neste lme, a subjectividade era algo que o editor teria que gerir, de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
78 Herlander Elias
forma a deixar uma memria subjectiva que celebrasse dignamente a vida de
determinada pessoa.
A grande polmica destes registos audiovisuais era de facto a subjecti-
vidade, pois existiriam pormenores pessoais na vida dos falecidos que o zoe
implant revelaria em imagem-vdeo, o que era entendido como profano, em-
bora necessrio. O que mais havia de complexo, o que o editor teria de fazer
como mais difcil seria certamente tentar escamotear-se a alguns pormenores
srdidos da vida dos falecidos, de modo a criar uma memria virtual nica,
sem ser massicada ou romntica. A dimenso ptica e ptica das imagens
obrigavam o editor a confrontar-se com inmeras experincias e registos que,
antes de serem violentos, eram intromissores, pois a condio subjectiva das
imagens era traumatizante, chocante, persuasiva. Oespao re-visto pelo editor
era algo novo, mas tambm inquietante, perturbador.
Nos videojogos cuja aco se desenrola na primeira pessoa, o espectador-
participante tambm se depara com esta perturbao, com a forma como as
imagens parecemto subjectivas que tambmelas deixammarcas e memrias.
Toda uma relao se identica entre o mapa de jogo e o mapa de imagem, entre
o percurso do explorvel e o percurso do evitvel. A meio termo ca o gesto,
o cone da mo, o resduo metafsico da presena do ter estado l quando
no se est. Se o virtual permite que o sujeito seja includo numa dimenso
elctrica, porque o exclui por outro lado, de algo mais concreto. Ao mesmo
tempo que a imagem se torna subjectiva, verdade que o sujeito se torna mais
objectivo, sicamente votado tactilidade. Ambos os plos se hibridizam.
Nesta ptica, contemplar a mo do sujeito na imagem vista na primeira
pessoa no virtual do videojogo contemplar um resduo da tactilidade, tam-
bm uma amplicao do carcter de tactilidade. O tctil e o ptico visam o
tocar, o sentir e o ver. A mo o ndice desse propsito do ver que tambm
aponta, dispara e trajecta. No por acaso que a arma j se tornou um es-
quema esttico, sendo tambm capturada para dentro do virtual, tornando-se
conveno este sistema de viso de paisagens virtuais em 3D. J no se dis-
para numambiente e se experiencia esse lugar. Agora o no-lugar das imagens
ps-fotogrcas amadurece como reino de espectralidade sem retorno, onde
j no se favorece qualquer resistncia ao reino grco, tudo grco, tudo
tctil, tudo aurtico e nos devolve o olhar.
Agora tudo o que foi capturado para o interior do mecanismo j no pode
ser resgatado. O sistema de captura adquiriu a capacidade de mimetizar o
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 79
real e de o connar sem que a actividade da caa seja necessria para arma-
dilhar o real. As imagens-virtuais tornaram-se elas prprias reveladoras de
um carcter predatrio, e a caa e a predao so importadas para o ambiente
virtual, onde semelhana de um MAREY, podemos agora efectuar disparos,
mas simulando o disparo per se, dado que j no h registo de haver real para
importar. O ambiente existente j o ambiente montado, o ambiente virtual
j est propositadamente fechado para que o protagonista desses disparos no
capte imagens mas viva experincias de percepo trabalhada. H uma ima-
nentizao do mundo. O mundo assimilado e fundido com o nosso ponto de
vista, a perspectiva, a paralax
16
e o som, como na sequncia nal de 2001: A
Space Odissey. As condies de subjectividade da experincia, o hic et nunc,
o aqui e agora, fundem-se com as condies de objectividade da experincia:
grelha cartesiana, digital, memrias-mquina, ambientes virtuais. Por efeito,
a imagem-virtual esconde o hardware, torna-se software, faz com que a tec-
nologia que a gera desaparea para dentro da prpria virtualidade, para um
cenrio anti-densidade, uma caixa-negra, minimalista.
16
Diviso de uma imagem em planos proxmicos e planos panormicos, entre o longe e o
perto, entre o primeiro e segundo plano da imagem.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 4
O Texto-Programa
De Gutenberg ao Cdigo-Mquina
1
4.1 O Texto-Mquina
Type, the prototype of all machines
(McLUHAN, 1994-98).
O texto-mquina tem a sua pr-histria no tipo mvel, na mecanizao
da escrita pelo sistema tipo-grco. Da fase da Prensa gutenberguiana, da
mecnica, at fase da electrnica passam-se quase cinco sculos, o tempo
suciente para que a escrita seja automatizada e ordenada at ter o seu ponto
mais abstracto com a escrita matemtica do programa de computador. A ti-
pograa opera uma linearizao da escrita com os caracteres perfeitamente
legveis justapostos em linhas e impressos com im-presso. Um processo que
o computador aperfeioar e acelerar com o advento do pixel em meados do
sculo XX. E porqu? Porque, h toda uma mquina tcnica e narrativa que
ordena o tempo, e que produz o sentido bem como a legibilidade.
No entanto, a esttica mecnica do texto permanece e este adquire uma
plasticidade de composio e impresso que o computador optimizar. A m-
quina inerente ao texto, ao processo de escrita, evolui e prepara historicamente
a esttica do clculo, do simulacro, tornando o texto mais um processo do que
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Culturas do Eu do Mestrado de Cincias da Comu-
nicao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Faculdade de Cincias
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
81
i
i
i
i
i
i
i
i
82 Herlander Elias
um mtodo de escrita-leitura. O texto-mquina da era de GUTENBERG pre-
para a quanticao e a numerizao do texto digital de hoje. Da McLUHAN
ter dito: Typography, by producing the rst uniformly repeatable commodity,
also created Henry Ford, the rst assembly line and the rst mass production.
Movable type was archetype and prototype for all subsequent industrial deve-
lopment (1994-98).
O que se preparou h cinco sculos foi a mecanizao do texto, o seu
devir-mquina, a constituio do texto-mquina. Texto e mquina tornaram-
se inseparveis, pois desde ento que no existe mquina sem texto, nem texto
sem mquinas. E as mquinas de hoje operam sobre uma base literria de
escrita e leitura inexorvel. O texto-mquina teve que se homogenizar, foi
aplanado para que as mensagens hoje fossem quanticadas, numerisadas e
corrigidas, imbudas em processos de clculo. De facto, a coisa diferida a
diffrance, a coisa representada. E no texto-mquina h uma mecanizao
dessa diffrance, porque tudo se representa com o texto-mquina; um texto
capaz de melhorar a qualidade de leitura e de escrita, aperfeioando as capa-
cidades de arquivo da tecnologia-escrita.
Com a tipo-graa institui-se mecanicamente a inveno da escrita li-
near, o que provocou tambm uma evoluo do prprio conceito de narra-
tiva. Dentro deste mbito depreende-se que h uma estrutura de linearizao,
de narrativizao que indissocivel. O texto-mquina lineariza o texto com
os typos, mas enquanto mquina de narrativizao ordena os sentidos do texto.
semelhana da Mquina da Colnia Penal do texto de Franz Kafka, a
prpria tecnologia-escrita, a prpria noo de texto enquanto mquina surge
como mquina de inscrio, mquina de sistematizao da inscrio, de en-
cadeamento, controle. O texto-mquina tem uma estruturalidade que permite
ser montado e desmontado, escrito e re-escrito, o que faz com que se reique
o carcter autoritrio e automtico da prpria escrita dentro de um quadro de
manipulao.
H todo um agenciamento de enunciao num processo que no deixa
espao a um sujeito qualquer determinvel. Como nas obras de KAFKA,
DELEUZE e GUATTARI reparam que "no h sujeito, s h agenciamen-
tos colectivos de enunciao- e a literatura exprime esses agenciamentos
(...)"(2005: p.41). A mquina literria, a mquina do texto, o texto-mquina
a verdadeira essncia da mquina de escrita que frui de si prpria. Uma m-
quina nunca um reduto tcnico somente, mas a mquina tcnica o modelo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 83
Apesar de no importar somente as engrenagens, tudo mquina de facto, e o
que ca o processo (procdure) e procedimento (procd). O texto-mquina
revolucionrio no seu processo, na tecnologia que lhe est inerente, lgica.
Por isso a Prensa de GUTENBERG apenas tecnologiza a prpria maquinali-
dade que j existia na tecnologia-escrita. No por acaso que DELEUZE e
GUATTARI sublinham que no texto por si, s h processo. E na verdade todo
o processo kafkiano resulta da forma como o prprio KAFKA
2
escrevia,
isto por blocos, sries e fragmentos.
No desenvolvimento do texto-mquina nota-se que ele prprio vtima e
protagonista da era mecnica, bem como da positivista. A mquina de ins-
crio que recomea na Prensa de GUTENBERG no iria terminar na m-
quina de escrever mas inaugurou um processo e um procedimento de lidar
com a tecnologia-escrita que hoje base das tecnologias electrnicas; nome-
adamente os de escrita (write) e re-escrita (re-writable). Assim, com a me-
canizao do texto, a produo literria assimilada a uma dada codicao
donde suposto extrair-se o seu sentido. Mas o texto-mquina funciona como
mquina de adio, porque vai integrando o leitor no seu processo de escrita,
h uma maquinaria de desejo, de viciao, que faz com que todo o leitor so-
nhe em ser escritor. Acrescente-se tambm o facto de o texto-mquina remeter
sempre para mais textos-mquina, porque no h texto que surja isolado. E o
que todas as mquinas visam precisamente conectarem-se a mais mquinas,
o que a era electrnica com o texto-programa intensica claramente!
O que curioso que mesmo na electrnica permanecer a base guten-
berguiana da im-presso, porque at mesmo o circuito integrado um circuito
de electrnica impresso numa placa, at ento os circuitos no eram impres-
sos. Est l no hardware a marca da impresso. A ideia do printed circuit
j vem de trs. Por isso que a evoluo do texto-mquina s se radicaliza
no texto-programa no tempo da Guerra Fria, em pleno sculo XX. isso que
leva Gilles DELEUZE, de certa forma, a defender, em Difrence et Rpti-
tion, que o texto-mquina sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo sempre
diferente, a sua natureza que se impe (o cdigo-mquina) tal como a gen-
tica nos seres vivos. A mesmidade vericada do foro da prpria tecnologia
inerente ao texto-mquina e, no caso do digital, note-se que tambm no h
2
NIETZSCHE e KAFKA foram os primeiros autores a ter contacto com a typewriter, a
mquina de escrever, a mquina que escrevia por intermdio de imprimir o modelo dos typos
na folha de papel.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
84 Herlander Elias
textos-mquina exteriores ao grande texto-mquina do digital. No caso de
DERRIDA, quando este autor sugere que no h exterior ao texto, quer pre-
cisamente dizer que (...) nada escapa estruturalidade da estrutura, e que,
portanto, tudo dever ser apreendido como se fosse um texto (2000: p.112).
Como dizem DELEUZE e GUATTARI, em O Anti-dipo: Capitalismo e Es-
quizofrenia, as mquinas desejantes no criam sadas, apenas entradas, inputs
de dados. No suposto nada sair de um sistema. Todo o sistema e qualquer
mquina esto pr-concebidos para o que lhes introduzido, todos os meca-
nismos se entrelaamnuma grande rede-mquina. Os textos-mquina desejam
mais textos-mquina. Diz Jacques DONZELOT que um livro um pequeno
maquinismo numa maquinaria exterior muito mais complexa (AAVV 1, s.d.:
p.222).
O agenciamento maqunico objecto de romance, e s vale na mquina
enquanto objecto desmontado. H um processo interminvel; um processa-
mento em continuum. Um continuum que acentuado por exemplo na obra
de KAFKA, em que a rizomtica mquina literria des-territorializada e re-
territorializada como umromance emque escritor e K. se confundem. Na obra
de KAFKA O Processo est patente (enquanto smbolo) o corredor processual
moderno de onde emergem os grandes textos-mquina da lei.
A questo central do texto como mquina que o texto ele prprio sem-
pre foi mecanismo, primeiro mental, depois fontico e grco at se tornar
heterogrco e industrializado com a Prensa de GUTENBERG. McLUHAN
diz que It is necessary to recognize literacy as typographic technology, sha-
ping not only production and marketing procedures but all other areas of life
(1994-98).
O que faz a ponte para o digital que o texto antes era um mecanismo
em que a plasticidade estava latente no leitor/escritor. Hoje a mquina lite-
rria, a mquina textual e mesmo a prpria noo de programa s so poss-
veis porque a escrita em suporte digial benecia de uma plasticidade ptima
que lhe confre a mesma capacidade de metamorfose e controlo, da parte
do utilizador-escritor-leitor, que existe actualmente no domnio da manipula-
o da imagem. Deste ponto de vista a maquinaria da mquina literria se
liberta, hibridiza e disponibiliza-se contaminando suportes desde que compa-
tveis com o suporte de inscrio primeiro. Os suportes todos juntos criam
um "network"discursiva (KITTLER), bem como a instncia de um "suporte
global que s faz sentido, porque h um suporte total para as linguagens. Por
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 85
isso Walter BENJAMIN referia que todas as linguagens se comunicam a si
mesmas (1992: p.179). E McLUHAN defendia que it is the medium itself
that is the message, not the content (1994-98), o que quer dizer que os meios
de suporte e comunicao formatam a mensagem, sendo mais importante o
molde que o contedo desse molde. O tipo de molde diz tudo. Todavia, o
mais impressionante que o texto-mquina chega a um extremo em que j s
remete para o seu auto-suporte. O contedo nada quer dizer comparado com
o estatuto do formato.
Mas revejamos o seguinte: o aparecimento da escrita instantneo, ela
no foi preparada. E ao constituir-se como tecnologia, a escrita, enquanto
mecanizao, volta a beneciar dessa tal instantaneidade, graas ao facto de
o texto-programa correr em mquinas em rede onde os dados so introduzi-
dos precisamente para uir. O texto-mquina prepara a universalizao do
typos e antecipa de facto o acesso rpido, a varredura dos textos-programa, as
snteses, a re-escrita, bem como a plasticidade varivel das mquinas de texto.
Num ritmo que s pra quando surge o computador moderno, o texto-mquina
desabrocha em sistemas de clculo, em mquinas de repetio que assentam
na iterabilidade dos typos em suportes inscritveis e memorveis. A capaci-
dade de registar e arquivar evolui a tal ponto que torna-se necessrio reduzir
o texto sua essncia lgico-aritmtica a m de compactar os contedos. Eis
como o texto se reduz sua estruturalidade, ao seu lado mquina, tornando-
se software, algo disponvel em stock, entre a noo de projecto e programa.
Aos poucos, o texto-mquina instala-se, desmaterializa-se e traduz-se de e
para qualquer dispositivo, adquirindo uma maleabilidade que tem na mquina
de escrever o seu antepassado mais simptico.
4.2 O Texto Pr-Programa
(...) o simblico, mais do que opor-se ao digital, prepara-o
historicamente (MIRANDA, 2002: p.93).
Entre o mecnico e o electrnico h toda uma fase emque o texto-mquina
se encontra numa fase pr-programa. Nessa fase est-se entre a Prensa de
GUTENBERG e o computador de TURING. E inequvoca a importncia
da mquina de escrever, que miniaturiza os typos e os leva para a secretria
do escritor, antecipado o teclado da computao. Esta fase da mquina de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
86 Herlander Elias
escrever tambm a fase em que a tecnologia-escrita levada para a secret-
ria como prensa porttil. A Typewriter, a mquina de escrever, de enorme
importncia, pois a sua capacidade de imprimir, typos, modelos de letras, na
folha de papel, termina com a separao de dois processos: o de composio
e o de impresso. Talvez por isso DELEUZE e GUATTARI reram que O
Processo, de KAFKA, irradia para o todo do seu espao. um espao de
escrita (2005: p.10).
Na literatura, o impacto da mquina de escrever preparada o caminho para
toda uma ars combinatoria que beneciar denitivamente com os modernos
processadores de texto, o software que programa-de-texto, e que fruto da
linguagem virtual que o sustenta: o texto-programa. Mas h que referir que
a literatura se torna em efeito uma literatura programtica, como diz CHI-
ROLLET: La littrature potentielle, dessence combinatoire, est en effet une
littrature programmatique (. . . ) (1994: p.205).
Veja-se por exemplo que o advento da tele-impressora (teletype) fun-
diu o telgrafo com a mquina de escrever e tambm preparou o terreno para
o actual processador de texto. Mas estava l a teoria matemtica da comu-
nicao subinstalada. O telgrafo separa a linguagem da palavra impressa e
cria o som monocrdico da impresso. Est-se nesta fase, numa fase pr-
computador como o entendemos hoje, mas a linguagem-mquina j funcio-
nava. A dvida cartesiana preparou historicamente a reduo da linguagem
s formas claras e distintas dos novos typos tele-grcos. A reduo forma
matemtica torna-se regra. Sem dvida alguma, os typos mveis prepararam
a esttica do clculo. Tal como McLUHAN sustenta: (...) both vanishing
point and innity were unknown in Greek and Roman cultures and can be ex-
plained as byproducts of literacy (1994: p.115). Ou seja, o ponto de fuga e
a numerao, a quanticao at ao innito so subprodutos da literacia, por-
tanto derivam da literatura, da mquina de narrativa literria. E assim sendo,
apoiemo-nos no que defende LYOTARD, quando arma que qualquer tec-
nologia, a comear pela escrita considerada como uma techn, um artefacto
que permite aos seus utilizadores armazenar mais informaes (...) (1990:
p.68-69). Por outras palavras, a tecnologia de arquivo que arranca com o
advento da mquina de computao tem uma pr-histria na escrita, que
tambm uma techn. E, se assim no fosse, no haveria nada de novo nesta
era ps-GUTENBERG. que a escrita a base da tecnologia, a escrita tec-
nologia indubitavelmente. Desta feita, as condies de possibilidade de uma
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 87
lgica no verbal e a de uma gramtica histrica so as mesmas. O solo de
positividade de ambas idntico.
E verdade seja dita que o trabalho de SHANNON e WEAVER, com a The
Mathematical Theory of Communication (em 1949), apresenta precisamente
a hiptese de haver uma linguagem matematizvel, quanticvel, racional e
instrumental. Linguagem, essa, que, a ser usada de forma manipulada, po-
deria ser usada como forma de codicar o contedo da comunicao, mas
permitindo-a dentro de um quadro de inteligibilidade possvel. Como DE-
LEUZE e GUATTARI bem armam: "A escrita tem uma dupla funo: trans-
crever em agenciamentos, desmontar os agenciamentos"(2005: p.86). E f-lo
precisamente em sistemas de codicao e des-codicao.
Hoje, a reduo da comunicao ao binrio digital de 1 e 0 leva a que
se possam fazer operaes com mquinas por intermdio de programao,
graas a um texto-programa escrito para comandar, controlar, automatizar,
simplicar e executar ordens, rotinas e instrues. assim que as mquinas de
computao funcionam. Amensagempode ser medvel, h vericao estats-
tica de rudo, anlise de entropia e redundncia. com a linguagem do texto-
programa, essa linguagem programtica, que se direcciona o texto-mquina
para a abstraco. Como bem refere CHIROLLET: le langage programma-
tique constitue donc un mtalangage servant de ltre traducteur du langage
formel de la mathmatique (1994 : p.57). precisamente porque a lingua-
gem do texto-programa permite ltrar que precisamente se possibilita que a
mquina calcule algo de formal e de matemtico quando o texto-programa
executado. isso que faz a linguagem programtica do texto-programa.
Ns acedemos ao arquivo e mquina de repetio pelo texto-programa
que suporta todos os textos em devir. Esse devir-mquina do texto que pos-
sibilitou a criao do texto-programa. O texto-programa est no domnio do
exorbitante da escrita que se des-envolve como mquina autnoma de repe-
tio. A escrita como dispositivo j propositadamente arquivstico, previa, em
si, o texto-programa.
A escrita protsica, no preenche, amplia, estende. E no preenche por-
que tem na origem uma falta, a dos afectos. Ela uma representao, uma
prtese, um instrumento. A escrita da ordem da racionalidade, um dis-
positivo tcnico. A escrita simblica uma tecnologia. Para DERRIDA e
FOUCAULT, a escrita um dispositivo, o discurso um dispositivo. Para
McLUHAN, a escrita uma tecnologia, tal como para KITTLER.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
88 Herlander Elias
A escrita uma mquina de linearizar o pensamento, inclusiv extenso
do homem que agora tipogrco, pstipogrco: programa-grco. Com
a mquina de escrever, a linguagem programtica permite uma escrita mais
plasticizada, mais editvel, facilmente imprimvel, mas que sobretudo prima
por ter programa. Oprograma da mquina de escrever aquilo que ela permite
fazer dentro do seu prprio mecanismo, o seu prprio hardware. Quer isto di-
zer que a escrita na mquina de escrever depende do que foi pr-programado:
a mquina de escrever s escreve typos, apaga letras, faz pargrafos, pontua o
texto e pouco mais. O utilizador-escritor est dependente das suas funcionali-
dades.
Amquina de escrever traz o typos para a secretria, assimcomo no sculo
XX o computador trouxe o caractere para o ecr, o local privilegiado para o
ciberntico pixel, o elementar ponto de controlo da mquina programvel.
Nesta senda, a mquina de escrever o verdadeiro smbolo da mquina
de escrita, entre a mecnica e a electrnica, a mquina de escrever inaugura
um sistema de escrita-leitura que favorece a seguinte entrada da linguagem
nos media do digital com o surgimento do tele-type, a tele-impressora,
o dispositivo me do FAX e do email contemporneos. Os media reconhe-
cem desde ento a linguagem como principal agente dos dispositivos tcni-
cos de hoje. A escrita absorve os dispositivos-discursos posteriores. Alis,
FOUCAULT o primeiro a falar de discurso enquanto dispositivo; a ver a lin-
guagem como forma de organizao tecnolgica, dispositiva. Por seu turno,
KITTLER aponta a linguagem como sendo o primeiro dispositivo, o primeiro
sistema de lgicas-dispositivas. KITTLER sugere a existncia de redes de
discursos. O primeiro discurso a lngua, depois o computador introduz-
se como sendo a mquina que possibilita a tal rede de discursos dentro de
um enquadramento de formas de registo. DERRIDA, por exemplo escreve
que (. . . ) tout le champ couvert par le programme cyberntique sera champ
dcriture (1967 : p.19). E de facto o texto-programa amplia o territrio da
escrita, exigindo a programao de tudo, a escrita-programa de tudo.
Em KITTLER, o que est em causa trazer linguagem para o campo de
estudo dos media. A linguagem um dispositivo meditico, uma tecnolo-
gia, um corpo lexical em que revela a aproximao das linguagens verbais
s linguagens-mquina, de registo, escrita, leitura. FOUCAULT sustenta que
(...) em certo sentido, que a lgebra lgica e as lnguas indo-europeias
so dois produtos de dissociao da gramtica geral (...) (s.d.: p.339). Logo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 89
deduz-se claramente que a aproximao das linguagens verbais s linguagens-
mquina inevitvel, porque h uma fase gramtica que as antecede e une.
E na verdade entre a mquina de escreve e o computador a linguagemsofre
um processo de automatizao, na medida em que favorece uma nova forma
de encarar a escrita. A escrita passa a estar propensa a uma gramatomtica,
uma gramatologia automtica, a gramtica automatiza-se. E porqu? Porque
tal como sublinha LYOTARD: a escrita antes tratada como uma maquina-
ria; que absorva energia e a transforme em potencial metamrco no leitor
(1990: p.87). A reduo da escrita a mquina liberta o homem do modelo de
leitor-escritor para o modelo de escritor-programador do texto-programa.
bom assinalar que do homem que fala se passa ao homem que escreve.
Com a tecnologia surge o homem das mquinas que antecipa o paradigma do
homem-mquina. E a tecnologia-escrita est sempre subjacente, porque se
criou uma mquina que escreve automaticamente uma mquina tcnica ,
que a mquina das mquinas (o computador). O mais espantoso que esta
mquina que escreve, com o advento da Inteligncia Articial, ela prpria se
torna mquina-falante. Volta-se ao incio do primitivismo, da oralidade, da
tribalidade, mas pela tecnologia, tal como McLUHAN previu. Em acrscimo,
a mquina no se reduz ao mecanismo.
A grande transio que se passou do mundo-do-texto (do papel, do
livro, da Papier machine), da fase GUTENBERG, para o texto-do-mundo
(linguagens virtuais, matematizao da comunicao, computao, Internet,
Inteligncia Articial). Mas mesmo assim, o texto-programa que a tecnologia
preparou com a lgica binria clssica e com a gramatologia sempre um
texto em progresso. Work in progress.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
90 Herlander Elias
4.3 O Cdigo-Mquina
Le code prcde le message
(DESCOMBES, 1967: p.112).
Em plena fase da electrnica, do computador de TURING e da cibern-
tica, depois da era gutenberguiana, o cdigo-mquina institui-se como cdigo
gentico do texto-programa, a sua essncia e simultaneamente a sua abstrac-
o mais profunda e radical. Um cdigo
3
escrito e gerado apenas para fazer
funcionar a mquina moderna de cmputo a base do texto-programtico. E
este tipo de texto existe para ser processado, calculado por computador. E
tem base literria, apesar de ser reduzido sua maquinalidade, em forma de
programao e rotinas de linguagem virtual. Exactamente por isso que rela-
tivamente mquina de TURING se pode dizer que era (. . . ) both capable of
producing symbols and of scanning, or analysing, them. In other words, the
Turing machine operates on the basis of a type of literate technology. In Tu-
rings original proposal, this machine would function according to a strict set
of procedures, of writing, reading (and erasing) binary "marks"(1 or a blank)
on a strip of ticker tape (ARMAND, s.d.).
Mas h que referir que o cdigo-mquina acusa a existncia de uma m-
quina que pede outra, uma mquina desejante, porque tal como DELEUZE
releva: As mquinas desejantes comportam uma espcie de cdigo que se en-
contra maquinado, armazenado nelas (...) (AAVV 1, s.d.: .p.32). E sabe-se
que esse cdigo maquinado que faz com que o texto-programa seja virtuali-
zado num cdigo que s a mquina de cmputo pode codicar e descodicar
de forma a simplicar a suas operaes de clculo. O texto-programa um
texto virtual, virtualizado por um cdigo-fonte (source code) que se rege por
uma linha de comandos criados para executar tarefas. Oresultado apenas uns
e zeros. Da Bragana de MIRANDA armar que (...) a verdadeira lingua-
gem binria acabaria por ser a informtica, que j era exigida pelo binarismo
clssico e que a lgica clssica de certo modo antecipava (1997). Por outras
palavras, a linguagem binria culmina na linguagem virtual informtica, no
cdigo-mquina, porque a sim d-se a reduo ao minimalismo dualista da
matemtica.
3
Por cdigo entende-se o que FLUSSER dene como sistema de signos ordenado por
regras (FLUSSER, 1985: p.9).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 91
Aideia que a linguagembinria sirva para acelerar o clculo, o funciona-
mento do texto-programa, alisando-o num campo homogneo de representa-
es ordenveis. O cdigo-mquina assim o ponto mximo da sintetizao,
criado justamente para que a escrita do texto-programa seja estabilizada. E h
um processo histrico inerente, desde o sculo XVII, desde que o regime de
signos se modicou, que levou FOUCAULT a dizer que: (...) as guras que
oscilavam indenidamente entre um e trs termos vo xar-se numa forma
binria que as tornar estveis (...) (s.d.: p.97). Deste modo, o cdigo advm
da criao de marcas identitrias e de diferena. A diferena entre uns e zeros,
a repetio de uns e zeros, os uns e zeros estveis, controlveis.
Tal como a mquina da Colnia Penal do conto de KAFKA, o cdigo-
mquina situa-se mais perto do bizarro, do alien, da indecifrabilidade, por-
que a sua linguagem virtual no depende do referente, constitui o seu pr-
prio mecanismo. Neste sentido um cdigo marginal que um mundo em
si mesmo. O cdigo-mquina no fechado nem aberto, mas controlvel,
reprodutvel, tem sistematizao maqunica, um agenciamento suspeito. E
este agenciamento notrio na prpria superfcie do texto-programa, na sua
trans-textualidade, hiper-textualidade, no no sentido do hipertexto, mas por
ser capaz de lidar com outros "textes-machine"de forma perversa. E a per-
verso assenta bastante na compatibilidade e incompatibilidade entre textos-
programa, no fosso que existe entre as linguagens-mquina. Como to bem
nota LYOTARD, quando refere que: (. . . ) depuis quarante ans les sciences
et les techniques dites de pointe portent sur le langage : la phonologie et les
thories linguistiques, les problmes de la communication et la cyberntique,
les algbres modernes et linformatique, les ordinateurs et leurs langages, les
problmes de traduction des langages et la recherche de compatibilits entre
langages-machines (. . . ) (1979: p.11-12). Este problema da compatibilidade
ou incompatibilidade que LYOTARD salienta o que relata a problemtica do
texto-programa, no sentido em que no mbito de um hardware e de um soft-
ware binarizado, a nica coisa que impossibilita o uxo total de um cdigo
capaz de tudo registar precisamente a no compatibilidade entre linguagens-
mquina, apesar todas elas serem por m redutveis a uns e zeros. H uma
aporia notvel nesta questo da incompatibilidade.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
92 Herlander Elias
4.4 IA Inteligncia Articial
O inconsciente no diz nada, maquina
(DELEUZE & GUATTARI, s.d.: p.186).
Com o texto-programa surge tambm o programa automtico, o Eu ciber-
ntico que fruto apenas da tecnologia-escrita em programa de cmputo. Na
verdade, este texto-programa mais evoludo no domnio da IA (Inteligncia
Articial) e tem em si embutido o esquema tcnico do autmato
4
. Tanto as-
sim que o texto-programa autnomo fruto do que foi programado, escrito e
codicado para cdigo-mquina. No por acaso que se fala em ltre crit, o
que se poder traduzir por o ser escrita ou o ser escrito. Trata-se de como
denir aquilo que , aquilo que existe consoante o que foi pr-programado
em texto, am de se autonomizar dentro de um aparelho. LYOTARD fala em
devir-se sistema e provavelmente a IA representa precisamente esse devir-
sistema que o sujeito ciberntico, o sujeito escrito em linguagem de progra-
mao, pretende atingir.
bvio que h algo de, de engendrado (tikt), de vida gerada (tekhnai)
nestes constructos da linguagem virtual. Anal, a escrita que escreve su-
jeitos e recorta discursos, e no o sujeito que escreve e discursa. O sujeito
produto da escrita, seja ciberntico ou no, programado ou no. Na informa-
o, no texto-programa, a prpria coisa da linguagem, ou a linguagem como
a prpria coisa, que se d ao mundo. Na poca de DESCARTES a lingua-
gem no se havia autonomizado como questo. No sculo XVII, o sujeito era
problema, mas a linguagem no. Actualmente, com os constructos resultan-
tes da tecnologia-escrita do texto-programa, sujeito e linguagem (virtual) so
uma questo a analisar, porque o texto-programa a sua prpria narrativa;
no caso da personalidades cibernticas uma entidade espectral, fantasmtica,
sem referente, fruto de uma narrativa de programao simblica que gere da-
dos e os activa, dotando-os de uma certa autonomia. Autonomia, essa, que
as anomalias virticas pretendem extinguir. O lado performativo da narrativa
maqunica virtual, no tem correspondente no mundo real, na "physis", na
natureza, mas funciona por sobre o mundo material.
4
Por Autmato entende-se que seja o que FLUSSER dene como um aparelho que obe-
dece ao programa que se desenvolve ao acaso ( CF. FLUSSER, 1985: p.9).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 93
maneira do que acontece com as personalidades cibernticas, como
Wintermute, um constructo que fruto de programao, em Neuromancer
(de William GIBSON), o texto-mquina que compe uma entidade cibern-
tica se for sucientemente sosticado pode interpretar dados, tem uma herme-
nutica mnima dependente de tudo o que o seu autor pr-programou. Neste
caso, a mquina tem o seu prprio ser, o seu consciente. H um Outro maqu-
nico que nos pode enfrentar e que re-escreve o texto-mquina do programa: a
IA, que aprende, evolui e toma decises em progresso geomtrica, que tem
imaginrio numrico. H uma desmaterializao que lhe inerente. O texto-
programa que d origem personalidade programada "", mas no pertence a
um ser, a no ser ciberntico.
As personalidades cibernticas, desde os jogos de computador (audiovi-
sual) aos programas que conversam com utilizadores (software de escrita au-
tomtica), so programas dotados de congurao especca e que se deno-
minam de "constructos", ou seja so dispositivos de texto-programa especiais,
construdos para um dado m, capazes de formular certos tipos de juzos e
decises.
Recordemos por exemplo o Teste TURING onde o texto-programa era
decisivo, pois era pelo texto-programado que se conseguia aferir se a pessoa
do outro lado do teste escrito era umhumano ou uma mquina. Caso parecesse
inteligente, ou melhor, um humano inteligente, ento a mquina era evoluda,
esse Outro-mquina era credvel, o seu texto-programa considerado vlido.
Nesta ptica, o texto-programa sempre uma memria, um registo, uma
ordem de procedimentos auto-controlada no caso da Inteligncia Articial,
mas em regra geral uma mnemotcnica; uma tecnologia mnemnica, uma
memria a partir de tekn. O texto-programa simula operaes matemticas
humanas, processos de escrita, de reconhecimento, simula a forma como o
sujeito humano articula o discurso, organiza a sintaxe, traduz tudo em formato
algbrico e reduz forma compacta mais simples entendida pela mquina: o
cdigo-mquina.
Em Ghost In The Shell
5
o constructo de IA comea por ser um texto-
programa, um programa-hacker para penetrar zonas de dados que um humano
no conseguiria indetectavelmente. Acontece que esta IA, de seu nome Pup-
5
Encontra-se disponvel o livro de SHIROW, Masamune e o lme sobre esta obra da autoria
do realizador OSHI, MAMORU.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
94 Herlander Elias
pet Master (O Mestre Bonecreiro), atinge um estado de conscincia e, farto
de estar connado ao seu texto-programa, decide transferir-se para um corpo
de um andride feminino cyborg. A concluso que o texto-programa pre-
tende obter corpo, um corpo merecido pelo corpo-de-texto do texto progra-
mado.
J no lme S1m0ne
6
, o grande argumento do lme a forma como esta
Inteligncia Articial, cuja programao deriva do autor, aos poucos vai ad-
quirindo a sua vida prpria (um pouco como que em re-interpretao do mito
grego de Pigmaleo a criar a sua Galataia).
A co cientca contempornea est repleta de produtos e bens culturais
que focam precisamente esta robotopia actual. um facto que em checo a
palavra robota, a partir da qual surge robot (rob), remete para escravo. E
a histria da mquina ciberntica comea sempre no texto-programa, no texto
original, na mquina inicialmente programada para executar operaes que o
humano no era suposto executar. Mas dada a contaminao e a mutao a
que os textos-programa esto sujeitos, possvel que atinjam um determinado
estado de conscincia. Tal como Jean-Franois LYOTARD to bem sugere,
poder-se- falar num certo devir-operacional. E tambm se poder dizer
que, embora haja uma srie de linguagens-mquina, no h uma linguagem
universal, h uma conjuntura nihilista que favorece, no uma metalinguagem,
mas o projecto de systme-sujet 1979: p.67). Isto , o projecto de um sis-
tema que se torna sujeito ou de um sujeito que se estenda a todo um sistema.
As entidades cibernticas cuja narrativa deriva do texto-programa so como
que cpia de uma cpia, espelho de espelho, simulacro de simulacro, uma ver-
dadeira mise en abme, porque encaixam e emulam comportamentos humanos
num sistema que j por si emulador de algo, o espao do computador. Ou
seja h um processo de dupla virtualizao no sentido em que h virtual dentro
do virtual, por forma a tentar fazer do primeiro virtual o referente real.
O texto-programa produz e re-produz. Ele o verdadeiro peformer, no
mais o utilizador ou o artista. A partir do momento em que o texto-programa,
como no caso da Inteligncia Articial, pode funcionar, agir e executar ope-
raes sem consentimento de um humano, todas as performances dependem
6
O realizador Andrew NICCOL mostra-nos um produtor de cinema obcecado com uma
personalidade virtual. A m de sair de uma crise prossional, o produtor de cinema dedica-se
a programar e a modelar a Simulao Um, a S1m 0ne, que ento se passa a chamar de
Simone.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 95
de si mesmo. O texto-programa torna-se, assim, pura performance; texto-
performance, programa-performativo. O texto-programa deixa ser activo para
passar ser consciente em certa medida, para decidir, concluir, autorizar, con-
sultar, escrever, gravar dados e elaborar registos com a sua prpria assinatura.
O texto-programa, outrora objecto, torna-se sujeito, sujeito-mquina. No
era LACAN que dizia que o humano constitudo, ao nvel do inconsciente,
pela linguagem? LACAN defendia que o inconsciente estruturado como
linguagem. Ora, a Inteligncia Articial fruto da escrita-programa, do texto-
programa, alm de consciente e inteligente, a base de onde emerge esta
personalidade ciberntica dotada de carga autoral e no apenas potica. O
principal que o texto-programa da entidade ciberntica , em si, a prpria
base dessa entidade. Pois se McLUHAN diz que Lhomme, en effet, est, de
toutes cratures du monde, celle qui na pas de langage. Lhomme est lan-
gage (1977: Vol 2. p.419). Ento as entidades que so texto-programa so
mquinas que so mesmo linguagem...virtual.
O texto-programa pode at autocorrigir as suas falhas, pode ser seu autor,
co-autor, co-programador de si mesmo. Pode gerar cdigo para suprimir as
suas falhas e optimizar suas capacidades fortes. Pode-se atingir o monismo
maqunico, o criador humano posto de parte, em segundo plano.
A mquina constitui a sua conscincia, a sua linguagem, o seu texto-
mundo, o seu programa-mundo. E porqu? Porque da mquina fragmentria
emerge a mquina restituinte, a mquina que junta seus fragmentos a m de
sublinhar a sua unicidade, e do texto-programa fragmentado aparece o texto-
compacto, arquivado, reunido, presente, autnomo. Forma-se todo um sujeito
a partir do nada. Um sujeito sem loco, mas cujo discurso-mquina constitui
a sua prpria geograa. Este texto-mquina constitui o seu espao prprio, o
ciberespao, ligando rotina a rotina, mquina a mquina, sistema a sistema,
computador a computador, rede a rede.
No h limites para um texto-programa que tudo absorve e ao qual nada
parece-lhe anteceder. Nada ca no pr-texto. O texto tudo o que resta,
a marca de presena, o vestgio, como to bem refere DERRIDA. O texto
apropria-se de todos os textos a m de criar um texto polissmico, polisse-
mntico, omnipresente, compactado, como que omnisciente. Como se o texto
tivesse vida prpria por toda a parte. E uma vez que em toda a parte as m-
quinas proliferam, nomeadamente as de cmputo, proliferam deliberadamente
tambm os textos-programa, pois so sintomaticamente rizomticos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
96 Herlander Elias
4.5 O Texto-Programa
O homem de hoje no se dedica a coisas que no possa abre-
viar (VALRY in BENJAMIN, 1992: p.38).
verdade que a modernidade era dominada pela ideia de projecto e de
programa. O progresso tinha metas, mtodos e formas de planeamento que
foram aos poucos sendo absorvidos pelo computador. O computador passa a
ser a mquina ideal para a projeco e para a programao, graas herana
do dualismo binrio, ao trabalho de Norbert WIENER e de Alan TURING.
O computador e o programa
7
tornaram-se to inseparveis quanto hoje so o
computador e as redes.
H que referir tambm que o texto-programa releva precisamente das tc-
nicas de escrita, tais como as de descontextualizao, potencial re-contextualizao,
re-envio, o ser citvel, repetvel, legvel. Para DERRIDA o texto est prisio-
neiro do seu prprio logos, e de facto, o texto-programa tambm est refm
da lgica do texto escrito. E o texto reduzido sua maquinalidade tem uma
estrutura lgica comum do texto-programa que com os seus comandos de-
sencadeia processos idnticos de sentido aos da escrita em termos sintagm-
ticos. A escrita re-envivel. Assim tambm o texto-programa, s que a
diferena que o texto-programa deliberadamente escrito e registado para
executar algo e sobretudo difere na medida em que visa uma supresso do
programador-escritor. O que sobra o texto-programa.
Contudo, o texto-programa assenta num projecto histrico de dispositivo
narrativo. Tem base literria, lgica e matemtica. NIETZSCHE, por exem-
plo, descona da linguagem, que diz, se diz e diz o que diz. A linguagem
funciona como se fosse a coisa em si, para NIETZSCHE. Da mesma forma
que as ces so subprodutos da mquina literria, o texto-programa um
derivado do texto literrio e narrativo, mas sofre uma reduo prpria lgica
sintaxal e algbrica.
Na programao, a escrita, o programa, que cria a imagem, porque o
texto-programa benecia da tal capacidade original e originria de resumir,
de reunicar tudo, aquilo que DERRIDA chamaria de Archi-synthse. Mas
como este autor to bem refere, o programme uma projeco da gramtica
7
Por Programa entende-se o que FLUSSER arma ser um jogo de combinao com
elementos claros e distintos (Cf. FLUSSER, 1985: p.10).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 97
(pro + gramme), e isso que faz com que o programa seja to arquivador,
to sistemtico e reunicador. O texto-programa acusa na sua estrutura de
tecnologia-escrita a capacidade que a linguagem j tinha de tentar explicar o
mundo, traduzi-lo e nome-lo. Mas o mais importante que, graas a este
percurso de subproduo da mquina literria, o texto-programa revela a sua
tendncia para a sntese fundadora, a sua capacidade compactar dados e ex-
plicaes.
Note-se que no texto-programa h programa. Mas o programa no a
ltima instncia. H um programa anterior, o programa que programa o pro-
grama primeiro. Concordo plenamente com o que diz FLUSSER, quando
sustenta com aio que no pode haver um ltimo aparelho, nem um pro-
grama de todos os programas (1985: p.32), mas a verdade e que, como ele
tambm acrescenta: todo o programa exige metaprograma para ser progra-
mado (1985: p.32). Ou seja, por um motivo ou por outro, a verdade que tem
de haver uma instncia primeira, mas que tambm no deixa de ser programa,
mas que metaprograma, na viso de FLUSSER.
H tambm, no texto-programa, todo um processo de des-suporte, des-
materializao, porque o texto-programa est feito para no depender do seu
suporte. O texto-programa inscreve-se num suporte, mas no depende do
suporte, mas pode ser escrito especicamente para um determinado suporte.
Existe inclusive escrita de texto-programa em todo o formato multimdia, lin-
guagem de texto-programa linguagem redutvel a cdigo-mquina, mas que
tem a sua prpria lgica. Trata-se de uma narrativa de ordem, de computa-
dor e tambm de ordinateur", de comandos, de linguagem-mquina. O texto
reduz-se a comportamentos de ordem e de comando.
O texto-programa nivela todo o tipo de registos num s tipo de registo
vlido, digitaliza-se, traduz tudo para o mesmo tipo de registo. O escritor-
programador escreve, digita o executvel que tem por m ser executado por
sobre umhardware, um circuito integrado, que in-tegre componentes para
se executar a escrita programvel.
O texto-programa necessita de ser congurado e pode ser re-congurado,
no representa nada em concreto, mas representativo, um texto que tem a
sua prpria linguagem dinmica e de ordens, mas que no tem referente real.
programa pelo programa que funciona sobre o cdigo pelo cdigo. Contudo
este cdigo despoleta mecanismos, sub-aces em simultneo, anulao (de-
lete) e substituio at de forma consciente (caso da IA); e tem em si a lgica
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
98 Herlander Elias
do re-envio (Comando GO TO) que lhe permitiu edicar o hiper-texto (pelo
hyperlink).
O texto-programa como um organismo, que no articula rgos mas sim
componentes, tem os seus arquivos, as suas reservas; parte de uma organiza-
o de instrumentos objectivos, a subjectividade do seu autor (o programador)
parte do estilo, da forma, do modo como media esse conhecimento e o aplica
de forma prtica.
Qualquer texto-programa deixa rastos e o seu autor deixa vestgios, a lin-
guagem na qual o programa foi escrito, ou a mensagem nal logo que o pro-
psito do programa seja cumprido, caso do vrus, mas no programa regular, o
que ca so as pro-gramaes, as linhas traduzveis para cdigo-mquina.
Como digital, o computador e a Internet, h uma proliferao do programa-
escrito que constitui o seu espao nativo e exclusivo: o ciberespao como
espao-mquina de forma kafkiana, em redil de processos de carregamento,
actualizao, instalao, vericao, armazenamento, conexo, etc. H uma
textualidade-mquina que subsiste, que habita a mquina, e que tpica de
uma mquina de escrita-leitura (read-write machine), como diz KITTLER.
O texto-programa , em suma, previsvel porque programa, uma pro-
jeco, uma previsibilidade sistmica, representa um percurso de comandos,
uma cadeia de ordens, um lamento de signos, a mquina de semitica mais
abstracta que existe, a mais funcional, a mais calculista. Ainda por cima capaz
de funcionar auto-executando-se, remetendo para si mesma ou para sistemas e
programas terceiros, sem que algum tenha conhecimento do que se passa.
Como se no bastasse, o texto-programa pode ser autnomo. E sob a instruo
de algum ou no, a verdade que pode ser subvertido por ser uma mquina
semitica. Tal como Vilm FLUSSER admito que as mquinas semiticas po-
dem ser subvertidas, por haver todo um carcter de poiesis que lhes inerente
e que permite e exige de forma produtora a manipulao.
4.6 Texto-Programa vs Programa-de-Texto
Sonhvamos este livro como um livro-uxo
(DELEUZE in AAVV 1, s.d.: p.61).
O cyberspace opera uma espcie de linearizao do virtual, estabilizando-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 99
o como espao de suporte. Ou seja, para se transformar o espao virtual em
algo controlvel este tem de ser linearizvel
Numa primeira fase, o mundo regista-se nos arquivos da histria e sustenta-
se umprocesso World to Word. Omundo torna-se palavra. Como progresso
a palavra escreve-se, imprime-se, maquiniza-se, re-produz-se, digitaliza-se,
calcula-se. E eis que se faz o processo inverso: Word to World. A pala-
vra torna-se mundo. Por toda a parte a palavra est l, a uir, a escrever, a
re-escrever os sujeitos, a dotar-se a si mesma de identidade, a contaminar o
mundo de forma programtica, pragmtica, matemtica, maqunica e autom-
tica.
Como diz Jean BAUDRILLARD, d-se a escrita automtica do mundo.
E a iterabilidade dessa escrita deixa marcas de uma alteridade, de uma ou-
tricidade, este texto-programa automtico do mundo contm o Outro em si
mesmo
8
. Essa outricidade est subentendida na plasticidade do texto-programa.
A plasticidade do texto-programa favorece partida a enxertia, da as suas
rotinas permitirem que tudo consigam linearizando, des-linearizando, conec-
tando, des-conectando, hierarquizando, des-hierarquizando. Esta plasticidade
permite aumentar, re-apresentar, permite recontextualizar, permite re-fazer,
re-escrever; permite que o texto-programa nunca seja o mesmo em momentos
diferentes, pois o subtexto mais ntimo que o constitui: o cdigo-mquina,
de natureza binria, fundadora, o real ur-text.
Tambm se pode dizer que o texto-programa est sob suspeita, o texto-
programa um simulacro, mas um simulacro to forte que cria sub-instncias
para os programas-de-texto, do tipo processadores de texto, correctores orto-
grcos, dicionrios, enciclopdias, programas de paginao, etc. O texto-
programa cria o programa-de-texto como que a sua implementao mais su-
percial, a sua manifestao mais identicvel; o texto-programa um pro-
jecto da mquina de texto levada ao seu limite mais tecnicista, da mquina
de texto-programa para a prpria mquina de texto-programa, ao passo que
o programa-de-texto, tipo Microsoft Word, o projecto para todos os utili-
zadores. O texto-programa conceputal e maqunico revela de uma poiesis
meramente tcnica, ao passo que o software programado para texto visa fazer
o utilizador us-lo sem se aperceber do programa que suporta essa mquina
8
N.A.: Da itara, em snscrito, signicar Outro.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
100 Herlander Elias
de texto virtual, essa mquina de escrever digital. No programa-de-texto h
um re-aproveitamento da typewriter, re-importa-se um modelo anterior.
O texto-programa constitui o software e re-constitui-se por updates
(actualizaes) e upgrades (aperfeioamentos). O texto-programa do do-
mnio da constituio. O programa-de-texto do domnio da inscrio, da
escrita como instrumento. A mquina onde quer que o texto-programa fun-
cione a mesma da do programa-de-texto, e pertence artefactualidade, por-
que o texto-programa que tudo suporta do domnio do simulacral. O texto-
programa produz sentido tcnicamente dentro dos parmetros da linguagem
de programao, o programa-de-texto produz sentido lexical e de orientao
literria, ajudando o seu utilizador nesse sentido, sendo fruto de semantic com-
puting. O texto-programa est oculto no sistema e pode apenas ser executado.
O programa-de-texto instalado e disponibiliza-se, para que o seu utilizador
possa elaborar statements legveis com um typos universal digitalizado que
fruto de sculos de lexicometria e matemtica.
O texto como criador de sistema de emancipao, abdica do referente.
Tratar-se- de uma textualizao da mquina ou de uma maquinizao do
texto? esta contenda que tem sido alimentada pelo computador, e existe
desde GUTENBERG at ao processador de texto. O texto sempre foi em si
mquina, os livros sempre remeteram para outros livros, os autores para ou-
tros autores, as escolas de escrita e de pensamento para outras demais. No
texto h uma estruturalidade que da lgica do Suplemento (suplment)
porque trata sempre de ser uma base para uma adio exterior, mas por outro
lado, o texto tambm foi sempre um Complemento (complment), por ser
uma base para uma adio interior. O texto sempre pediu mais texto, mais
escrita. O programa pede mais texto-programa. H programas dependentes
de subprogramas que funcionam em rede, e at o processador de texto remete
para mais texto: a sua utilizao. maneira de DERRIDA, "Le jeu de sup-
plment est indni. Les renvois renvoient aux renvois"(1967: p.421). Mas
vale tambm acrescentar que o texto-programa funciona sempre com anexos
(Attachement), e no s no email.
DERRIDA sublinha que Il ny a pas de hors-texte. Ou seja no h o
forum de texto. Tudo est dentro de texto, da sua estruturalidade, do real
texto-mquina que j existia na linguagem, na escrita como tecnologia muito
antes de GUTENBERG. Por outro lado, h algo na linguagem que irredu-
tvel a esse cmputo. DERRIDA diz mesmo que Lcriture (. . . ) est peut
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 101
tre la plus rationnelle et la plus efcace des machines scientiques. Elle est
tait ce qui dj dans la voix y oprait comme criture et machine (1967:
p.440). O mesmo ser dizer que a mquina das mquinas, a mais ecaz a
mquina de escrita, por ser denotativa de uma Ars memoria (uma arte da me-
mria, do arquivo) e de uma Ars combinatoria (arte combinatria, plstica).
No por acaso que sugere DERRIDA em Papier-Machine, que existe ainda
o mito do livro innito e sem suporte. H toda uma Nova ufklarung
da disseminao, caracterstica de um triplo vnement: (memria-arquivo-
performance).
4.7 A Des-Programao
Contra a escrita automtica do mundo: a desprogramao
automtica do mundo (BAUDRILLARD, 1996: p.125).
Com as linguagens-mquina j no se trata de uma patologia tradicional
da forma, uma patologia da frmula, de uma linguagem votada a ordens
operacionais simplicadas. E as ordens em linguagem-mquina so to mi-
nimalistas, redutveis ao sistema binrio, que levam a que consequentemente
uma das ameaas a que o texto-programa est sujeito precisamente a sua
des-programao. Isto remete para a inevitabilidade de o programa ser progra-
mado, ou ser propositada (por apagamento), ou acidentalmente (por virose),
des-programado. Quer isto dizer que a alteridade extorquida da linguagem
se vinga, e que se instalam esses vrus endgenos de decomposio, contra
os quais a lingustica j no pode fazer nada. Votada ao seu agenciamento
numrico, repetio innita da sua prpria frmula, a linguagem, do fundo
do seu gnio maligno cartesiano, vinga-se desprogramando-se a si mesma,
des-informando-se automaticamente.
E o objectivo desta desprogramao provocar danos na estrutura, rea-
gir estruturalidade do texto-programa, retirando-o da condio quer de texto,
quer de programa. Noutros termos, a desprogramao tambmpretende preju-
dicar a organizao do sistema, a sua performatividade. LYOTARD refere
mesmo que a verdadeira nalidade do sistema, aquilo pelo qual ele se pro-
grama a si mesmo como uma mquina inteligente porque o que importa:
(. . . ) cest loptimisation du rapport global de ses inputs avec ses outputs,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
102 Herlander Elias
cest--dire sa performativit (1979: p.25). Digamos que o que a desprogra-
mao visa exactamente atroar ou parar mesmo a optimizao, a performa-
tividade, quebrar a harmonia entre entrada e sada de dados.
Estamos diante de uma perverso inerente ao texto-mquina, que existe
tambm no texto-programa, a sua capacidade para se constituir da forma que
se pode tambm desconstituir. Est na sua natureza, no seu cdigo-mquina, a
capacidade de desorganizar as suas prprias formas, e as formas de contedo,
a m de libertar puros contedos intensos e resistentes.
Um pouco na mesma constelao de armaes que Paul VIRILIO faz,
talvez possa armar que o que se fala relativamente desprogramao, tem
tudo a ver com a tal teoria da bomba informtica que este autor desenvolve.
Pois o propsito dessa bomba de desinformao seria simplesmente inter-
romper o bom funcionamento da informao, abatendo os seus sistemas de
arquivo e uxo de dados. A bomba informtica seria o ltimo vrus, a verda-
deira aplicao assassina, capaz de des-estruturar todos os textos-programa
escritos at ento, des-automatizando a escrita automtica do mundo, no sen-
tido que BAUDRRILARD fala. Para BAUDRILLARD, a ideia que h uma
urgncia vital de permanecer aqum da execuo do programa, de despro-
gramar o m (1996: p.76). Ou seja, o texto-programa to perverso que a
resposta teria de ser algo to ou mais perversa que a programao, residindo a
resposta numa potencial desprogramao. BAUDRILLARD quem denun-
cia o maldito, quando sustenta que: a verdadeira maldio quando somos
condenados programao universal da lngua (1996: p.123). E esse ca-
rcter de maldio que para BAUDRILLARD a tecnologia-escrita no texto-
programa revela ao tentar unir todos os contedos e todas as linguagens, seja
elas de mquina ou no-mquina. Mas h algo de mais perigoso e de virtico
na prpria noo de programa que DELEUZE e GUATTARI enquadram no
teorema da mquina desejante, quando dizem que anal a verdadeira lei
de funcionamento das mquinas desejantes o pois o desarranjo (dtraque-
ment) (AAVV 1, s.d.: p.31).
4.8 A Des-Codicao
Mais quest-ce que la dterritorialisation ?
Cest la passage dun codage un dcodage.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 103
(DESCOMBES, 1979: p.205)
medida que o digital e a computorizao prosseguem em todos os do-
mnios da sociedade, parece claro que se torna cada vez mais difcil o des-
ligamento do texto-mquina do computador, a sua des-codicao total. H
uma inevitabilidade na forma como tudo ca merc da estruturalidade desse
texto-mquina que tudo digitaliza, maquiniza sem grande diculdade.
Mas vale a pena salientar que essa des-codicao que seria uma re-
aco codicao-mquina do texto-programa equivale em si a uma des-
estraticao. que DELEUZE e GUATTARI em A Thousand Plateaus:
Capitalism & Schizophrenia referem que o descodicado (Decoded) o
mesmo que des-estraticado (de-stratied). Quer isto dizer que a codica-
o remete tambm para uma linearizao, para um aplanamento, para uma
homogenizao, mas perversa, no sentido em que reduziria tudo a um s es-
trato. Por este caminho, a des-estraticao do texto-programa equivaleria
a uma des-complexicao capaz de reduzir tudo a nada, ou a uma verdade
ulterior.
O texto-programa , de facto, um lugar-limite, um lugar-fronteira entre
hardware e software. No texto-programa h uma domesticao do nmero e
da palavra, dominao por comandos alfanumricos. No h texto-programa
escrito mo, apenas em computador. O texto-programa existe para e no
espao de cmputo. E fora deste ciberespao no representa nada, pois
remete para o espao dinmico do prprio texto-programa. Para o cidado
comum seria idntico a chins
9
.
Como BAUDRILLARD diz e muito bem, a simulao uma operao
de cdigo, o que signica que simular codicar. luz do tema da des-
codicao, a simulao substituda por uma des-simulao, uma dissimula-
o, que se traduziria por desmontagem (dis-assembling) do cdigo, face
montagem (assembling) primeira. Por outros termos, o cdigo montado
uma simulao porque faz-se de conta que o escritor-programado fala em
linguagem-mquina, quando na verdade tudo se traduz sempre em cdigo-
mquina para que a mquina calcule ento dados. O computador, o digital,
9
Veja-se o caso da Microsoft quando num outdoor coloca como anncio uma linha de
cdigo em linguagem de programao C++, na qual publicita que tem uma oferta de emprego,
escrita precisamente em linguagem de programao. Quem descodicasse esse texto-programa
podia candidatar-se a um emprego.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
104 Herlander Elias
resumem tudo em binrio precisamente porque os cinzentos so incalcul-
veis. Para as mquinas as coisas ou so, ou no so. E se so de uma forma,
porque no o poderiam ser de outra. H uma lgica interior, uma estruturali-
dade, que o texto-programa acusa, e que a resistente des-codicao pretende
des-estruturar. No entanto, o processo de desmontagem j est implcito
na mquina, isto porque ela programada para montar e de desmontar dados
desde seus primrdios. DELEUZE e GUATTARI tm toda a razo quando
dizem que o ordenador uma mquina de descodicao instantnea e ge-
neralizada (s.d.: p.252). Querer isto dizer que o computador no s est
disseminado por toda a parte, como prev em si o caos da des-codicao
antittica?
4.9 A Virose
The word itself may be a virus that has achieved a permanent
status with the host (BURROUGHS, William S., s.d.).
O vrus o texto-programa que interfere e interrompe, que foi organizado
para desencadear o caos, para des-estruturar e contaminar. O vrus o oposto
do texto-programa porque visa simplesmente des-textualizar o programa, isto
, des-estrutur-lo. Por outras palavras, des-program-lo.
Na ptica de William S. BURROUGHS, a linguagem, antes da virose in-
formtica do texto-programa, j era um vrus, na medida em que a palavra
em si talvez tenha atingido um estado de coabitao ptima com o hospedeiro
(homem). Ou seja, a tecnologia-escria um vrus que contamina o homem.
BURROUGHS defende que a linguagem espao de conito. Para BUR-
ROUGHS os seus textos criados a partir de recortes de notcias (os cut-ups)
so cortes de cirurgio que performam uma espcie de des-membramento, a
m de destruir a linearizao de coerncia que arma a identidade do texto
de autor. O refgio o ininscritvel. Tal como o terrorista com a sua atitude
faz um discurso de silncio. H uma busca de resistncia. O texto-programa
tem como antpoda o vrus, mas embora o vrus tambm seja um programa,
caracteriza-se por des-hierarquizar, deslinearizar e des-conexar, pe em causa
a operabilidade do texto-ordem. No entender de BUKATMAN, os recortes
de BURROUGHS representam an immunization against the media-virus: a
strengthening of the host organism against the infectious agent (1993: p.78).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 105
Ou seja, BUKATMAN inverte os plos e argumenta que h um vrus medi-
tico, que os media so em si o vrus, o que torna o trabalho de BURROUGHS
numa espcie de anticorpo medialidade doentia.
O novo tipo de dispositivo: o anti-texto, o programa virtico ou o pro-
grama da des-ordem, o texto catico, rizomtico, pretende danicar o ar-
quivo, restringi-lo, torn-lo perecvel, efmero, des-orden-lo e des-constru-
lo: interferir ou terminar mesmo a mediao. Veja-se o caso da Killer-Ap
10
.
O vrus tem agenciamento suspeito, no s pela categoria onde se insere
como pelo seu objectivo: infectar um sistema onde predominam outros textos-
programa. A virose corrompe a ordem ou ridiculariza-a com ligaes impre-
vistas, apagando-as ou multiplicando-as ao ponto de encravar, interferindo no
bom funcionamento de um sistema ao ponto de interromper dramaticamente
o seu dinamismo.
O texto-programa pode coexistir com outros programas e at estar implici-
tamente associado a tais, desde que isso esteja prdeterminado, coisa que no
acontece no caso do vrus, cuja programao anti-genealgica pretende des-
estruturar o funcionamento do "bom"programa, inofensivo, desassociando-o
das suas instrues ociais.
Ovrus rizomtico por ser daninho, anti-ordem, catico, anti-genealgico
e reprodutvel, auto-replicativo. O vrus, enquanto, texto-programa rizom-
tico, no subjectivo mas poder advir de construes subjectivas por ser
obra de um autor: o programador do vrus, tal como acontece em relao ao
programa "benigno"primeiro.
caracterstico da virose informtica impor o descontrolo num espao de
controlo: o espao do texto-programa que tudo visa agenciar e deter. O vrus
nomdico e tenta destronar a maquinizao da linguagem primeira do texto-
programa e complicar ou estilhaar o programa; infectando o texto primeiro
com novo cdigo contaminante e erosivo, acabando com a xidez e a rigidez.
Na senda do que diz BAUDRILLARD, e fazendo minhas as suas palavras,
penso que ao estar infectada pelo vrus da comunicao, a prpria linguagem
cai sob o efeito de uma patologia viral (1996: p.124). E neste sentido a
comunicao que infecta, pelo acto de comunicar, ela transporta o vrus da
palavra, como diria BURROUGHS.
10
Aplicao assassina na informtica, programa cujo objectivo destronar programas ri-
vais.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
106 Herlander Elias
O texto-programa instala-se. O vrus combate e tenta re-escrever a escrita
do cdigo-mquina fonte, abalando o texto-programa primeiro. O vrus tem
um alvo. O programa primeiro pode ter defesas. O vrus tem decididamente
uma misso, o programa talvez tenha defesa, mas no certo que tenha, pois
est preparado para engendrar uma ordem de operaes e no para ser des-
engendrado, des-maquinado ou re-maquinado, para ser apagado, inutilizado.
A questo como criar um texto-programa defensvel de programas virticos
se tanto o programa instalado como o vrus subreptcio partilham da mesma
natureza digital e muitas vezes da mesma linguagem-mquina? Est-se indu-
bitavelmente no domnio de mquina vs mquina.
Porque interrompe o bom funcionamento de programas prvios e instaura
uma desordem, o vrus tem a sua prpria "evenemencialidade", criando um hi-
ato, desestruturando uma sistematizao prconcebida a que completamente
alheio, mas no indiferente. O vrus comemora o acto anormal da virose, o
vrus performance, mesmo em fase latente performativo e, tal como na bi-
ologia, o vrus do texto-programa furtivo realiza-se quando, em fase de alerta,
cumpre o seu m rizomtico.
Desinstalando a ordem, ou instalando a desordem, o vrus sobre-instala-
se e propositado, trata-se de um contra-programa, um anti-texto, o texto-
mquina mortal. O programa estrutura e o vrus desestrutura, invalida. O
vrus introduz-se e penetra no cdigo-fonte, no cdigo da mquina, cortando
comandos, atroando ordens, colando-se como sendo a informao legtima
num sistema, criando uma mquina de texto atroada. O vrus pe em causa
a linguagem-mquina da qual constitudo, mas atenta sempre contra a natu-
reza maqunica de outra esfera. Ele replica-se at contaminar a estrutura e a
organizao da mquina, corrompendo o seu texto fundador.
Por isso o programa digital virtico se torna um interruptor, condio de
desorganizao, at do nmo regulamento de toda a organizao. Ovrus per-
corre todas as instncias superciais do texto-mquina-me a mde o infectar,
tentando penetrar nas suas instncias mais subreptcias a m de completar a
sua misso.
O texto-programa tem os seus prprios processos de uxos de dados con-
tra os quais o vrus tenta terminar, primeiro por interferncia e nal e letal-
mente por interrupo de uxos. O vrus pretende dominar a organizao do
texto-programa, do texto que d os comandos, que ordena. E apresenta-se
como uma contra-organizao ou como um resistente s ordens e comandos
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 107
lineares do texto-programa-mor onde se integra, dissimulado, espera de um
clique oportuno.
O vrus corrompe o registo do texto-programa e apropria-se do seu cdigo,
converte o cdigo do texto-programa primeiro na sua natureza ocial. O vrus
metaperformativo, tem uma performance outra e contra-performativo face
s aces levadas a cabo pelo texto-programa anterior.
O texto-programa que o vrus pretende destruir visa manter uma boa re-
lao de interface entre utilizador e o hardware. Por isso o texto-mquina do
programa do domnio do software. O objectivo do contra-programa virtico
des-mediatizar esta relao, acabar com a performatividade do programa na
equao que preenche entre utilizador e hardware. O que est em causa des-
textualizar a mquina, destitu-la de texto-programa, deix-la perecer como
artefacto desptico, deix-la sem sentido, a zero.
To tpico do digital, o vrus ele prprio o "text-machine"que pretende
abolir o suporte, neste caso de informao. O propsito da virose liqui-
dar o sistema infectando primeiro as partes mais vulnerveis da mquina: a
linguagem que a gere na fonte: o cdigo-mquina. No por acaso que os
vrus incidem muito sobre as memrias do hardware (disco rgido, memria
RAM e outras), porque trata-se de um alvo estratgico: atacar a localizao
primeira do cdigo fonte, o texto-programa gestor de todo um sistema e de to-
das as subzonas. O objectivo do vrus despoletar uma espcie de Alzheimer
electrnica.
H hibridao que leva a que o programa-escrito possa ser contaminado,
contaminar, mudar e provocar a mutao de terceiras textualidades-mquina.
No texto-programa h um espao de predao a que o leitor-utilizador-escritor
no deve estar alheio, pois todo o texto-programa pessoal deve ser protegido
da ameaa virtica acentrada de outros textos-programa infecciosos. Torna-se
estritamente necessrio proteger um texto num espao propenso virose cons-
tantemente escrtivel e re-escrtivel, para que este no seja apagado. parte
do texto-programa ordenado, h textos-programa de risco. A maior ameaa
para o texto-programa a sua des-escrita, o seu apagamento, tornar-se apa-
gado num espao de programao que entendido como a maior memria
articial alguma vez criada pelos humanos: o computador em Rede. Neste
sentido urgente que o texto-programa seja cartografado, a sua arquitectura
conhecida e patrulhada, pois h sempre remisses imprevistas, portas para
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
108 Herlander Elias
textos-programa indesejados capazes de executar comandos perigosos ou no
mnimo embaraosos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 5
Desligao-Terminal
1
Pensando o Mito da Desligao
5.1 Parte I: Ligado
(...) o humano expressa-se na tenso que liga e desliga, com
todas as suas hesitaes e aleatoriedades (MIRANDA in MI-
RANDA & CRUZ, 2002: p.269).
Historicamente, toda a comunicao decorre entre emissor e receptor,
emisso e recepo, o que ao nvel da tcnica corresponde a zonas, ora de
ligao, ora de desligao. Pensar a comunicao hoje requer pensar o tipo
de mquinas que a suportam, e tambm o prprio conceito de comunica-
o. Actualmente estar comunicvel estar ligado, ao passo que estar des-
ligado sinnimo de estar incomunicvel. Tendo-se a comunicao apetre-
chado de mecanismos de ordem tcnica, todo o discurso da comunicao se
resume a um discurso de ligao, de uma ligao que mquina. Assim
sendo, o sujeito exprime-se num suspense de ligar-desligar, de comunicar-
no-comunicar. Pensar a ligao , por efeito, tambm pensar a mquina, o
mecanismo sedutor. Precisamente por isso que quando se pensa a ligao-
mquina se enquadra a questo ao nvel do ambiente-de-media envolvente
que mais no que um enorme lugar-mquina. O nico problema das ligaes
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Cibercultura do Mestrado de Cincias da Comuni-
cao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Faculdade de Cincias
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
109
i
i
i
i
i
i
i
i
110 Herlander Elias
serem sedutoras e aliciantes que elas prprias de to extensivas e omnipre-
sentes que incitam subliminal ou indirectamente desligao. O mito da des-
ligao como que uma reaco ao mundo-mediado, a desligao-terminal
algo j inscrito na prpria ligao.
No quadro da contemporaneidade, onde a cibercultura tcnica se incrusta
em tudo como um vrus multiforme, a ligao o que une os plos, o que
determina o relacional, o tcnico ou em devir-tcnico. Noutro ponto de vista,
apesar de ser necessrio pensar o conceito de ligao, na era da conectivi-
dade a ligao total inebriante e tambm ameaadora. O seu perl diablico
revela-se somente quando o lado da tcnica, o lado da ligao-mquina que
tudo devora, assume o papel da transgresso, o papel de desvelar, de desmis-
ticar com a sua luz elctrica, tudo o que se submeta ao novo Eros da tcnica.
Est em causa todo um novo tipo de ligao que se dilui nas fronteiras da
tcnica e tambm nas da seduo, tornando o jogo em algo mais perigoso. Na
co explica-se isso, por exemplo em eXistenZ (CRONENBERG, 1999), o
jogo a ligao e no o que pode ser jogvel. O jogo a conexo e no o con-
tedo, a estrutura e no a mensagem. De forma mcluhanesca, o que importa
que o meio a mensagem. O objectivo ligar e desligar, fazer uso da
ligao, e no ligar para, ou ligar a. A meta ligar porque a ligao potente,
porque na ligao se revela o Eros tcnico, se transgride, se manifesta a jun-
o. Tal como refere Maria Teresa CRUZ: sempre, pois, a partir das suas
ligaes, que o humano se constitui e, ao mesmo tempo, ameaa esboroar-se
(CRUZ in MIRANDA & CRUZ, 2002: p.36). Noutros termos h um devir-
ligao sobre o qual o humano se estrutura graciosamente, e do qual o humano
depende em caso de desgraa, mesmo quando a ligao tecnicamente me-
diada. E esse devir-tcnico, esse devir-ligao que, como Janus, ora revela
a face da construo, ora oculta a face da desconstruo, suportando o real,
mas em ltima instncia ameaa torn-lo refm. Por esse motivo exige-se que
pensemos o conceito de ligao na era da tcnica, pensar que na ligao que
tudo se joga, e que no no jogo que tudo se liga. Apesar de os jogos hoje
a tudo se acoplarem, so as ligaes que na prtica funcionam como o real
suporte.
As ligaes so sempre ligaes de aferio, que testam, experimentam,
iniciam, reiniciam, concluem, as ligaes so mediaes compostas. S em
caso de acidente que as ligaes se revelam, exibindo tubos descarnados,
os cortados, links partidos, humanides avariados ou humanos feridos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 111
Sabemos que as ligaes sempre foram do foro da mquina, do organismo, da
organizao, tanto assim que s o mito da desligao ltima, da desligao-
terminal da histria, ameaa desorganizar o real. Porque o mito da ligao
leva ao caminho oposto, o da realizao, e no o da des-realizao. O que se
passa que os fragmentos que a modernidade deixou abandonados e inertes
o psmodernismo tornou-os exorbitantes, as frmulas estticas deram origem
a tempos estticos, e a ligao-mquina que tudo tece que responsvel por
aprimorar o real.
nesta sequncia que o cyborg se torna algo concreto, na medida em que
depois de n representaes, o que se passa agora totalmente novo: investe-se
na poltica da incorporao. O sujeito alvo de um aparelhamento cyborg que
lhe hibridiza, quer a fronteira com o milieu interior (corpo), quer a fron-
teira com o milieu exterior (mundo). Isto , para o que interessa tcnica, o
corpo no tem fronteiras para impedir as ligaes sedutoras; no que concerne
ao sujeito, as ligaes regem-se por cdigos de interveno que se protegem
apenas a si. Em suma: o sujeito est desprotegido porque a ligao-mquina
que o torna em objecto no lhe explica que este simplesmente uma presa.
A ligao-mquina, atroz e rompante, um inventrio de efeitos de uma tec-
nologia predatria. A ligao produz e re-produz, sendo a grande peformer
porque na ligao que se conna o triplo vnement: (memria-arquivo-
performance). Tudo o que tcnico passa pela ligao at terminar, a bem ou
mal, no arquivo nal da tcnica.
O nico escape que o sujeito tem de liberdade aderir s ligaes se-
dutoras ou conformar-se em des-estabilizar ligaes consideradas despticas.
Poderemos dizer que os modos de ligao e de desligao constituem o ver-
dadeiro campo de batalha da cultura contempornea. Em Islands In The Net,
Bruce STERLING conta a histria de que, perante o oceano de informao, a
nica escapatria era fazer a ligao entre as diversas ilhas de real, e pirate-
ando os seus uxos. A extenso do espao cartografado tinha um controlo tal
que s as ligaes inesperadas levavam ao proveitoso assalto, a transgresso
contaria com o desprevenimento para ser bem-sucedida.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
112 Herlander Elias
5.2 Intensidades e Compulso
The instantaneous world of electric informational media in-
volves all of us, all at once. No detachment or frame is possible
(McLUHAN, 2001: p.57).
A intensidade e a compulso so constantes nas ligaes mais fortes, nas
ligaes que se estruturam com potencial inigualvel. A fora que as ligaes
intensas revelam implica existir um plano onde essas ligaes possam uir, o
que DELEUZE e GUATTARI entendem como sendo o deserto, o ltimo local
para o breakthrough. Se no fosse o desejo, a estrutura tecida por sobre a falta
originria, nada seria constitudo seno por ligaes fracas. por existir uma
mquina desejante que as ligaes efectuadas so-no como que em extenso
da estrutura primeira. Por exemplo: quando McLUHAN descreve em Unders-
tanding Media: The Extensions of Man que a cidade termina com o passeio
no campo porque o espao urbano expande-se para a periferia nos seus ca-
minhos rodovirios. Se no houvesse cidade, no haveria auto-estradas. No
domnio da computao, se no existissem computadores no haveria margem
para as redes. Pensar a cultura Ocidental pela lgica dos ns e das linhas
pensar a maquinaria de desejo implcita, e que leva de mecanismo em meca-
nismo, de estrutura em estrutura. Portanto o desejo, o Eros, que permite que
pontos nodais, malhas, cartograas e grelhas ortogonais sejam os alicerces
para todo e qualquer preenchimento de superfcies. O desejo, a maquinaria
do inconsciente que maquina, as mquinas do desejo, so a ligao em estado
puro, as ligaes como mquina, como pura performance de projeco no real.
O que se passa com o ciborgue, e com as imagens virtuais, precisamente a
tentativa de concretizar, de plasmar em algo fsico essa performance tcnica
de ligao como estado puro, propcia para um real alterado em tempo-real,
onde a velocidade da ligao quase anule a noo de existncia da prpria me-
diao. Da MIRANDA armar que quando as imagens tm vida para alm
da memria, o imaginrio confunde-se para alm do arquivo (1998: p.43).
Isto , as imagens que se exteriorizaram pem em risco o prprio imaginrio,
porque a estrutura de desejo imanente coincide com a do Eros tcnico onde
nada ca por arquivar.
As ligaes intensas e compulsivas so assim todas as que se manifes-
tam em encontrar um espao de uidez total, um mbito de total ow (JA-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 113
MESON). A compulso para a ligao, para a comunicao, o contacto e a
transgresso, outrora caractersticas do humano, so agora tambm tpicas da
moldura libidinosa da mquina. H um Eros na tcnica, uma estrutura de ma-
trizes de ligaes (que deseja a prpria desligao dramtica no seu ncleo),
que gil a desmontar o sujeito, mas que parece in-desmontvel.
semelhana das personagens de Neuromancer, que lutam apenas para
proteger o que resta de humano no seu Eu, o sujeito contemporneo tenta re-
sistir a quaisquer ligaes de amputao. Embora se identique no sujeito
uma tendncia para a ligao compulsiva, e se detectem intensidades nas liga-
es, a verdade que a ligao total (em jeito de um metacristianismo de um
Pierre TEILHARD de CHARDIN) preocupante. Veja-se o que os Luditas
apregoaram no sculo XIX, dado que pretendiam desligar a mquina indus-
trial. Hoje os neo-luditas gostariam de criar um breakdown electrnico.
Caso no houvesse um clima de suspeio na tcnica nada disto se pensaria,
no entanto o cepticismo reina, em estilo HITCHCOCK, pois a parania torna
todas as demais ligaes em conexes perturbadoras ou em vnculos aterrori-
zadores. Com a expanso da tcnica, tudo se torna mquina, a generalidade
das ligaes tm em si remisses ocultas, o que obriga a que as ligaes sejam
repensadas para que no existam inesperados derrames de udos maqunicos.
5.3 Eros da Tcnica
A vontade de ligao absoluta, esse amor ou Eros da tc-
nica que Ballard to bem descreveu, apenas possvel no Estado
Esttico tecnicamente assistido. este o momento em que parece
que entrmos, de que no descortinamos a sada (MIRANDA,
1998: p.46)
A resposta ligao absoluta, o medo do totalitarismo do Eros, de facto
sintomtica de uma estrutura de desejo fraca perante a forte transgresso tc-
nica. O sujeito no pode competir com a ligao total do Eros pela tcnica, a
no ser que sofra do Complexo de Cristo. Mas, mesmo assim, estar sempre,
enquanto sujeito, submetido ligao-mquina em expanso persuasiva. Se
Francis Bacon denia a natureza como uma reserva disposta provocao, da
qual tudo adviria para manipulao, para nosso a bel-prazer, um facto que
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
114 Herlander Elias
hoje o sujeito sofre, enquanto objecto, dessa ideologia manifesta na interven-
o da tcnica.
As ligaes do novo Eros fazem com que o sublime venha pela tecnologia
agora, porque tudo acontece como se a imaginao fosse confrontada com
o seu prprio limite, forada a atingir o seu mximo reexo, inigindo em
si uma violncia que a leva ao extremo do seu poder. O Eros surge como
apario, potncia, conexo, ligao. Se verdade que tudo se joga no ligar
e desligar, em pura tenso de ambos os gestos, o problema a ligao que
ancora o real ao solo, quando tudo se confunde com as imagens tcnicas. As
ligaes hoje so estticas, porque so renadas, porque so sociais, porque
so sem os. A pesquisa propriamente esttica no ser mais que uma simples
extenso da pesquisa tecnolgica, e o Eros que carrega tudo isto s Costas
como Atlas na mitologia carregava sobre si o mundo.
De acordo com Mario PERNIOLA, a comunicao tem um papel mais
contraditrio, porque provoca (...) exactamente o oposto do que primeira
vista parece: a des-sexualizao, isto , o desaparecimento de toda e qual-
quer tenso ertica (2004: p.29). E isto s possvel porque o Eros que
tudo estimula nunca aparece, cando assim ao nvel das ligaes-mquina,
das ligaes electrnicas, porque espicaa o sujeito mas nunca se responsa-
biliza pela estrutura desejante deste. A des-sexualizao que PERNIOLA
menciona um efeito da generalizao do Eros, porque torna o sexo em algo
abstracto, em mero consumo de imagens tornadas predadoras do sujeito. O
sujeito ca alheado da tenso ertica, pois as imagens anulam a sua condio
de desejo, por to imediatas que so. Alis, as imagens anulam praticamente
essa mediao, porque na rede do novo Eros o corpo (...) acima de tudo
uma transmigrao de uma iluso, de uma imagem para a rede (MIRANDA,
1998: p.42). Fora da rede, fora do cenrio denso da ligao-mquina, tudo
perece em prol de uma Matriz-me.
5.4 Matrizes
(...) o hbrido est a, local e globalmente conectado, meio-
objecto, meio-sujeito, corpo maqunico, corpo ps-humano, cy-
borg. O no-lugar tornou-se o terreno de todos os estudos em-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 115
pricos realizados sobre as redes. (MOURO in MIRANDA &
CRUZ, 2002, p.85).
AMatriz a gide, o topo emblemtico do novo Eros-mquina, a arquitec-
tura entrpica em que as ligaes sedutoras esto previstas e so passveis de
recombinao, de mistura e intercalao. A Matriz sempre uma Matriz-me,
uma zona de iniciao, activao e gerao, a Matriz onde todos os padres
se detectam e intersectam, o ponto de reunio matriarca da cultura ciborgue.
H algo de tecelo e de hospedeiro na Matriz que a revela enquanto instncia
montadora, como me ao servio de uma espcie, um sistema de propsito
amplo e geral.
Sem dvida alguma que as ligaes-mquina necessitam de ser pensa-
das quando os mecanismos se automatizam e se autonomizam, como uma
realidade virtual auto-suciente. Manifesta-se na Matriz o eterno retorno da
mquina, mas o mais estranho que na Matriz, luz da problemtica das
ligaes, a condio humana torna-se ela mesma media, me e rede, tecido
materno e material (Lat. Matter). propenso para a Matriz todo o cibor-
gue, pois, tal como aponta Chris HABLES GRAY: every cyborg is part of a
system (s.d.: p.2). E facto que o sistema social e tcnico produz o cibor-
gue (como um Robocop, um Terminator, uma Lara Croft ou um Governador
Schwarzenneger). O ciborgue estende-se, assimila, liga, seduz com as suas
potencialidades, da a sua ertica tecnolgica. Tal como diz a rainha da col-
meia ciborguizada da civilizao BORG, em Star Trek: First Contact, I am
the beginning, I am the end, I am the BORG!
Ao ser fruto de um sistema, de um mecanismo, o ciborgue o reexo
de todo um conjunto de ligaes, sendo ele prprio um ponto de interseco
de ligaes, e isso que faz a ertica tecnolgica tensa, pois para a carne
convm a humanidade sinestsica, e para a mquina convm a performance
fria e perfeita. Algures entre os elementos desta dicotomia uma dinmica
estvel dever ser encontrada porque h ligaes em curso que devem ser
controladas, assimcomo outras que so ms e propositadamente abandonadas.
Aceitemos o que MIRANDA refere, quando diz que:
O corpo um feixe de ligaes, para dentro e para fora. De-
pois de laboriosamente criado pela histria funciona como um
atractor de ligaes, ligando-o a contratos, mquinas, tactiliza-
es de todo o tipo (1998: p.40).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
116 Herlander Elias
O corpo do ciborgue uma consequncia de ligaes sistematizadas, as-
sim como o corpo do sujeito humano tambm um feixe de ligaes. No
entanto, o ciborgue tambm partilha de uma matriz, que tcnica e hbrida,
mas as ligaes-mquina de hoje favorecem a existncia de um novo no-
lugar, um lugar-mquina que simultaneamente protege e aprisiona o sujeito
humano. A ideia de se criar um corpo intermdio, entre a nossa carne fraca e
o organismo potente do ciborgue, uma forma de pensar que despreza o sim-
plesmente vivo e animal. Esta ideologia manifesta-se na obra de K.DICK, de
que serve exemplo um momento em Do Androids Dream of Electric Sheep?,
quando um dos replicantes diz que os animais vivos morrem efectivamente;
esse um dos riscos de possu-los. Pessoalmente acrescentaria que o pro-
blema no est no vivo, mas na sua ligao mquina, e assim se levanta o
problema do ciborguismo como responsvel pela criao do hbrido, do novo
no-lugar da mquina. Uma ligao ciborgue subtil, por manipulao gen-
tica, subatmica, microfsica ou farmacutica, funcional, mas uma ciborgui-
zao grotesca inaceitvel, vista quase como que uma heresia. O segredo
a uxo dos uxos, a optimizao conveniente de todas as ligaes at que
estas se tornem to discretas quanto desejadas.
5.5 Parte II: Conexes Abandonadas
No antigo era Deus e os seus telogos que garantiamtodas as
ligaes, articulando os actos mais mnimos, com as instituies
e o mundo. Desaparecido esse centro organizador, lanam-se ou-
tras linhas de associao (...) (MIRANDA, 1998: p.41).
O grande problema das ligaes que estas so obrigadas a cruzar-se,
originando pontos nodais nas interseces das suas malhas. A m de se apro-
veitar as sedues mais interessantes e sedutoras, o Eros da tcnica digere
todas as rotas, deixando cair no esquecimento conexes no funcionais, in-
desejveis, nada sedutoras. Como consequncia h um conjunto de ligaes
deixadas ao abandono, um pouco por toda a parte, como as que ligavam o
sujeito ao cristianismo e teologia. Assim, tirado Deus da equao um der-
rame irrompe sem parar todo o real, apesar de agora se regressar de novo ao
mesmo problema das conexes abandonadas, embora por motivos de moda e
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 117
informao, em que ao passado se sobrepe um presente frutfero e lucrativo,
altamente ritmado e exigente.
Antes da cibercultura dos nossos dias, o computador era visto como o l-
timo interruptor messinico, quando hoje todos os media (j computorizados)
parecem o oposto: a salvao conectiva. E na verdade, graas a uma tec-
nocincia tornada predatria, a ausncia de Deus no centro do universo, e a
evoluo meditica, o vcuo continua l. Mas as ligaes, essas no estabili-
zaram, aceleraram um processo de mutao de contedos que trespassou para
a forma dessas mesmas conexes. Nesta senda uma virulncia de formatos de
media, agora tornados fsseis, impregna todos os tecidos sociais, o que muda
o sistema de representao, isto , o formato dos media, de acordo com
protocolos de programas de remendos que todas as imagens kitschicam.
Veja-se por exemplo Final Cut (Omar NAIM, 2004), lme que revela uma
sociedade futurista em que um implante zoe introduzido em todos os huma-
nos. Toda a vida caria registada nessa prtese, e no nal, depois da morte, a
vida dos falecidos seria revista em audiovisual
2
. Temos neste lme o caso de
um sujeito cuja prosso re-estabelecer conexes abandonadas, algo que
sempre perigoso pois nunca se sabe se essas conexes so bem-vindas, se so
possveis, se so desejveis e convenientes. A hiptese nunca afastada de as
conexes reestabelecidas revelarem o inquietante est sempre presente, e para
isso convm estar preparado, pois o no estar pronto para um situao bizarra
deixa sempre tudo num suspense aberto e estranho, altamente desconfortvel.
Quando as conexes so abandonadas porque nada de mais importante
passa nos pontos nodais. Houve algo que migrou para outro lugar onde as
conexes so mais proveitosas, apesar de intromissoras, persuasivas e pertur-
badoras. Aceito para mim o que DELEUZE e GUATTARI referem: s as
mquinas desejantes que produzem ligaes segundo as quais funcionam
improvisando, inventando, formando estas mesmas ligaes (s.d.: p.187).
Ou seja so as mquinas que criam as ligaes e se coadunam a essas mesmas
ligaes que comeam por ser condicionantes e se tornam nalmente deter-
minantes. J no h conteno possvel, isso facto. Tudo est envolvido,
ligado; as tecnologias adicionam-se mais recente, que l j est, como
diz KITTLER, na esteira de um McLUHAN visionrio que proferiu h quase
2
Caberia, assim, ao editor (cutter) executar uma sinopse post-mortem de toda a vida da
pessoa registada em digital, reunindo assim as melhores memrias. O editor executaria neste
caso uma cerimnia fnebre, seleccionando, ampliando ou ocultando, memrias de falecidos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
118 Herlander Elias
meio sculo que a nossa tendncia : return to the inclusive form of the icon
(1994: p.12). Noutros termos quer isto dizer que o operativismo tecnolgico
obriga-nos a regressar aos primrdios da civilizao, a retomar ligaes es-
quecidas, como que chamadas telefnicas perdidas na Galxia de Marconi.
O que no nos d hipteses de escapar essa frmula do cone, de simultanea-
mente representar o real e o indicar, que capaz de nos incluir como objectos
numa equao meditica de realidade virtual.
5.6 Links Partidos
A lei de funcionamento das mquinas desejantes o pois o
desarranjo (dtraquement) (DELEUZE & GUATARI in AAVV
1, s.d.: p.31)
Numa poca de romantismo revisitado como a nossa, so as tecnologias
de comunicao, so as ligaes da tcnica, que nos convidam paixo e
incitam ao amor. As ligaes amorosas so pois suportadas pelas ligaes
tcnicas. At que ponto cada tipo inuenciam o outro tipo uma bela ques-
to. Contudo, cabe-me a mim referir que num enquadramento de ligaes
amorosas compulsivas, perfumadas de natureza, de ptalas partidas, as novas
tecnologias de hoje visam integrar o indivduo no seu seio. Acontece que
estas novas tecnologias so cada vez mais o ambiente natural novo, o novo
ambiente-de-media, e, por efeito, h ligaes que de to compulsivas e in-
tensas que so se partem, gerando links partidos, conexes abandonadas,
ligaes esquecidas: desligaes, enm.
Acerca deste tema da intensidade e da desligao, David CRONENBERG
em eXistenZ (1999) mostra-nos um jogo sem virtual, um jogo mais carnal.
Neste lme o Eros s tcnico para suportar o jogo, onde a alucinao adia
a hiptese de desligao e transcende-se a si mesma, no no real, mas noutro
patamar adentro alucinao do jogo, ento designado TranscendenZ. Por-
ventura a alucinao ao adiar a hiptese de desligao pretende efectivar-se
como sendo sempre mais cativante que o real que espera o jogador c fora.
O mito da desligao revela-se neste tipo de situaes em que j s l mora o
mito, pois no se pretende retornar ao real, porque os links esto partidos. A
desligao no se encontra prevista, somente talvez mencionada. No existe
regresso, esse o caso dos jogadores do jogo virtual de Avalon (Mamoru
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 119
OSHI, 2005), que se tornam excludos da realidade e so doravante designa-
dos por no regressados (unreturned), ou de Neo em Matrix (Larry and
Andy WACHOWSKY, 1999), a partir do momento em que decide car na ma-
triz e se tornar no Tal. E l se volta gura do demiurgo perante um mundo
novo.
O regresso ao real torna-se mais ameaador que perecer no virtual. Deste
modo, prefervel desligar o real que desligar o virtual. assim que os even-
tos se desligam do registo universal, e que FUKUYAMA alega o m da his-
tria, porque se generalizou uma desestabilizao to voraz que urge repor
ligaes, pois h algo que no funciona no moderno. O progresso era um bi-
lhete s de ida em que o passado apenas revisitado, no sendo possvel fazer
recuar o progresso porque este "tunelizou"a evoluo. O controlo do enqua-
dramento pela imagem-TV criou um espao propenso ligao, pelo que se
preparou o terreno para o impacte da ligao. J no possvel recuar a uma
era pr-tcnica porque todas as solues se tornam exigentes de interveno
por meio de mais tcnica. Longe de se rumar desligao, o que se constri
so precisamente mais ligaes, da a desligao ser um mito.
No sentido complementar as conexes cujas hiperligaes se encontram
partidas, novas ligaes suplementares surgem (os patchs) com o propsito
de ultrapassar todas e quaisquer aporias conectivas. No entanto, por mais u-
das que sejam as comunicaes, por mais institudas que sejam as ligaes
existem sempre elos a quebrar, porque as ligaes passam por mquinas, se-
jam sociais ou tcnicas, que visam controlar os uxos. Diz DELEUZE que:
A mquina dene-se como um sistema de corte de uxo. O
uxo dene-se, por sua vez, como o processo (...). Deste ponto
de vista h apenas uma produo, e no se distinguem como es-
sencialmente diferentes as mquinas desejantes (...) (AAVV 1,
s.d.: p.37).
Simplesmente o que a mquina faz cortar (ou no) os uxos, dado que
os uxos visam passar por cortes, a partir dos quais podero ento uir livre-
mente. A ideia de um total ow, um uxo total, j foi sido anunciada por
Fredric JAMESON, e concreto que o ciberespao seja o ponto de conjuno
de algo que se encontrava fragmentado e deixado ao acaso na modernidade.
Bastou reunir os pontos nodais e grelhas para termos uma rede, bastou juntar-
mos mquinas para termos um computador. No quadro da actual cibercultura,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
120 Herlander Elias
o espao pensado para se ligar, para uir, o real sempre cancelado. E
numa era de relatividade a tenso entre os dispositivos de ligao tal que
ser moderno odiar a ligao, ser psmoderno corromper e descongurar a
ligao.
5.7 Desconguraes e Desprogramaes
Perante ligaes instaladas num espao onde cada vez mais se instalam pro-
gramas, torna-se necessrio descongurar ligaes, atravancar o procedimento
da comunicao, fazendo-se uso das mquinas desejantes com o objectivo
de provocar uma mudana. Criar novas conguraes para as ligaes exis-
tentes uma demanda, no est em causa somente como estabelecer as liga-
es mas como recongur-las, ou como e por qu descongur-las. Neste
processo h uma desautorizao das ligaes, que so cortadas e interrompi-
das de fazer uir seus contedos. O desejo de interrupo e de interferncia,
ora por esquizoidia, ora por desejo de distorcer o (sur)real, cada vez mais
invocado. Parar uma ameaa ao sistema dos uxos, mas o live, o directo
dos media perigoso porque aliena sempre algum das urgentes mediaes,
quando os media de rede tm proclamado o contrrio a tendncia para a liga-
o, para a representao, para o diferido, para aquilo que DERRIDA dene
por la diffrance.
Parece inevitvel que na cultura contempornea tudo esteja fragilizado
pela tecnologia voltil, uma tecnologia que tudo tece sob o perigo de uma
desprogramao. Isto remete para a inevitabilidade das ligaes serem des-
programadas, porque a alteridade extorquida da linguagem se vinga, abrindo
espao para se instalarem vrus endgenos de decomposio, contra os quais
a tecnologia j nada pode fazer. Votadas ao seu agenciamento numrico, as
ligaes, vingam-se desprogramando-se a si, des-informando-se automatica-
mente.
Estamos diante de uma perverso inerente s ligaes, porque est na sua
natureza, no seu cdigo, a possibilidade de desorganizar as suas prprias for-
mas e contedos, a m de libertar puros contedos intensos e resistentes. Um
pouco na mesma constelao de armaes que Paul VIRILIO faz, talvez
possa armar que o que se fala relativamente desprogramao, tem tudo a
ver com a teoria da tal bomba informtica que este autor desenvolve. Pois
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 121
o propsito dessa bomba seria simplesmente interromper o bom funciona-
mento das ligaes, abatendo os sistemas de arquivo e uxo de dados. A
bomba informtica seria o ltimo vrus, a verdadeira aplicao assassina,
capaz de des-estruturar todos as ligaes criadas at ento, des-automatizando
a escrita automtica do mundo, no sentido que BAUDRILLARD fala.
O que interessante de analisar que uma desautomatizao do mundo,
uma descongurao de todo o aparelho-meditico levaria as ligaes sua
extino, deixando apenas disponveis restos, fragmentos soltos desprovidos
de elos. Se em AGAMBEN temos relatos da teoria do resto, nas imagens
de H.R.GIGER temos a ilustrao dessa resticidade. O que resta sem-
pre preocupante por no ter desaparecido, sempre o que perturba por no
estar presente na ntegra. Nas imagens de GIGER permanece esse resto de
contacto, de intacticidade, so imagens que mostram restcios de ligaes,
corpos ciborguizados em fuso com mquinas. o Eros que faz com que es-
tes restos tenham algo em comum: as ligaes que exigem a conexo, como
se tivessem cado aqum de um programao nal e original do mundo, de
uma ur-programmation.
Num outro tipo de trabalho, por exemplo o lme Taxandria, o que resta,
o que cou, o que se encontra desconexo, exige uma mediao capaz de lidar
com as runas malditas. A interveno no sentido de nos apropriarmos das
ligaes pr-existentes no nada mal pensada, porque faz todo o sentido
re-mediar o que j se encontra disponvel, o que j resta em primeira mo. A
aporia de tudo isto que a runa e o resto invocam uma religao do mundo ao
mesmo tempo que sublinham o mito da prpria desligao. O que se encontra
esquecido, o que resta, a prova de que j houve uma ligao primeira, a
assinalar o comeo do mundo. As ligaes provam que existe imploso ao
passo que as runas e os restos acusam uma exploso de separar todos os
elementos.
Umuniverso emque abundamfragmentos do que ocorreu antes representa
uma arqueologia das relaes anteriores, prova de que algo se desmoronou,
de que as ligaes existentes no foram sucientes para conter as mediaes e
suster o peso do mundo. Suportar o mundo-mediado complicado quando h
faces que querem expandir os seus uxos, o seu modelo; enquanto outras
preferem o corte, o no modelo rizomtico deleuziano, utuante, multidi-
mensional, o incontrolvel mundo do desejo. Digamos antes o lado que Plato
condenava do Eros, mas a tendncia para o casamento das duas faces, um
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
122 Herlander Elias
ambiente-de-media que se desenvolve, ora como palco de velhos restos, ora
como plataforma de novos uxos sedutores.
5.8 O Mito da Desligao-Terminal
O imaginrio Ocidental oscila permanentemente entre a li-
gao total, a comunidade absoluta, e o pnico da desligao to-
tal, do caos absoluto, que ainda uma forma de ligao Phy-
sis, natureza, de que sempre nos afastamos e qual sempre
retornamos (MIRANDA in MIRANDA & CRUZ, 2002, p.261).
incontornvel que o mito da desligao-terminal assome sempre como
se fosse a resposta nal ao problema de gnese. No entanto, sem querer su-
blinhar uma impossibilidade, a verdade que tanto a ligao forada como a
desligao sbita so criadoras de pnico, e ambas so formas de erotismo,
transgresso, aniquiladoras do mistrio existente. De um lado temos a se-
duo da ligao e do contacto, do convencer e do hptico; do outro lado
temos o sacrifcio da desligao repentina como sendo do domnio do visvel,
daquilo que se espera ver nalmente, uma espcie de trmino assustador de
emergncia. Reectir acerca da ligao e da desligao importante, porque
ambas decorrem dos estados ligado e desligado, sendo compenetradas por in-
tensidades, compulses, por um Eros j materializado na tcnica. O que se
convencionou foi a criao de uma matriz de desejos, capaz de pegar quer em
conexes abandonadas, links partidos, nem que para tudo isso tenha que
operar desconguraes e desprogramaes.
A nica chave desta problemtica o tipo de ligaes que restam, as que
no foram matrizadas, as que esto fora da matter, da matrix, da me, do
espao de acolhimento generalizado. Pois so essas ligaes que explicam e
propiciam o mito da desligao, recuperando-o num espao prprio que o
ciberespao, o espao onde se negoceiam as tenses. O que paradoxal que
o ciberespao no um espao fsico, mas uma extenso, uma res extensa,
do solo cartesiano real, e que ainda assim detm um centro gravitacional que
tudo atrai. Para onde todas as ligaes regressam e se dirigem, estendendo-se
ultimamente. Enquanto puro espao de ligao, de interaco, o ciberespao
tem como princpio a interrupo. Qualquer participante pode interromper o
outro mutua e simultaneamente. Por este caminho conclui-se que a natureza
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 123
conectiva do ciberespao tambm uma natureza terminal, em que o uxo
irmo do corte.
O corte sempre problemtico e a ligao tende a ser fcil, mas h sempre
h hiptese de a interrupo e a conexo se cumprirem por coaco. No caso
da medicina considere-se, por exemplo, a Bipsia e a Distansia, que mais
no so que prolongamentos da ligao vida, recusas do desligamento
3
. A
desligao desarticula os corpos, inutilizando as junes e separando as liga-
es, abstendo-se da rigidez dos cdigos. Ao passo que a ligao se preocupa
com o in vivo e pretende entender os uxos.
No domnio da ligao total, o ciborgue o rei das ligaes, o hbrido que
meio sujeito, meio objecto, todo ele ligaes. No por acaso que por forma
a acabar com a feira das ligaes, a desligao responda violentamente ao
habitat ciborgue que se constri agora, tendo em conta que RUTSKY arma
que:
Cyborgs, then, are networked entities; they do not exist
simply as autonomous individual subjects, but through connec-
tions and afnities, including their connections to technology
(1999: p.148).
Digamos que luz da teoria das ligaes, o ciborgue inexistente sem
conexes, sem redes e espaos de conexo. O ciborgue s existe enquanto es-
pao relacional e tcnico, enquanto matriz, da no ter autonomia. A questo
ns vivemos cada vez mais num espao de seduo total que um habitat
ciborgue. Ora a desligao pretende marcar o m da tecnocincia, da civiliza-
o e do humano, mas tambm pode ser um mito de terror reciclado deriva.
O descontentamento surge quando se compreende anal que a desligao tem
sido vendida como ligao total. Por exemplo no lme The Island (Michael
BAY, 2005), a desligao era vendida precisamente como ingresso para o pa-
raso, como aceitao na Ilha. A ligao impostora camuava a fatalidade
3
A Bipsia privilegia a anlise do corpo enquanto este mantm a espontaneidade das suas
ligaes internas naturais intactas. Ao contrrio da Autpsia a Bipsia no exige uma desmon-
tagem do corpo. Relativamente Distansia, esta pretende retardar a vida do sujeito, manter
vivo o corpo, por forma a atrasar o seu desligamento nal, j a eutansia prope a morte exac-
tamente como alternativa a uma perniciosa e complicada vida para o corpo. No sublinha o
adiamento e a manuteno do corpo doente mas a interrupo sbita da vida do sujeito.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
124 Herlander Elias
da desligao terminal
4
. Por este motivo se pode considerar que a desligao
uma arma, porque a ligao ela prpria uma armadilha, que seduz e captura.
Da que se precise de uma arte da mediao potente o suciente para alimentar
o Eros e lidar com a ligao total implcita na predatria desligao-terminal,
salvando-se o arquivo da cultura at de si mesmo.
4
Isto , o extermnio era disfarado de prmio, de lotaria, ganhando os vencedores uma
entrada na ilha, quando na realidade acabariam em bancos de rgos humanos, sendo des-
mantelados por laboratrios que os cultivavam at ento. A ilha era o motivo para esconder a
morte sbita por clonagem, o desaparecimento dos concursantes, e era propagandeada como
se fosse o paraso espera do homem, um paraso que havia resistido contaminao exterior.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 6
MTV: O Laboratrio de Imagem
6.1 O Que o MTV?
O MTV um canal de televiso temtico, norte-americano, com difuso glo-
bal, que mostra o trabalho de msicos, cantores, DJs, etc. Inicialmente
tratava-se de um canal de divulgao de msica, mas logo a linguagem audi-
ovisual que o sustenta se colou ao design grco, ao cinema, e imagem
de sntese, ao ponto de agora ser uma referncia para o mercado publicitrio
e para a moda. O MTV, tal com o nome indica Music TeleVision, ou
seja, um canal de televiso de msica, trata-se de televiso musical e no
de msica televisiva. O seu segredo que no momento em que a indstria
norte-americana discogrca necessitava de outro tipo de promoo, surgem
os videoclips (os telediscos), que foram conquistando audincias de forma
mpar at que o MTV passasse a ser globalizado e adaptado aos locais onde
difundido (Glocalization).
No possvel descurar que o MTV uma nova forma de fazer televiso,
uma nova linguagem de audiovisual gil, plstica, plasticizada e inovadora,
que inova em toda a sua estrutura, e no apenas no contedo. Quer isto dizer
que o MTVno apenas inova na programao e nos contedos, como inclusiv
nos produtos que divulga e nos gneros e artistas que promove. O impacte da
linguagem audiovisual do MTV to grande que os canais generalistas foram
obrigados a ter um programa com o mesmo estilo que o MTV, e outros canais
surgiram entretanto para rivalizar, tais como o BET-TV (Black Entertainment
TeleVision), o VH-1, o MCM e os VIVA I e II, por exemplo. Por outro lado
125
i
i
i
i
i
i
i
i
126 Herlander Elias
tambm um facto que o MTV incorporou outro tipo de programas na sua
grelha de programao. Inicialmente o MTV tinha um apresentador, mais
concretamente designado por VJ (Video Jockey), tipo de gura que era
uma herana da rdio. E como o MTV era uma rdio-televiso tecnicamente,
e divulgava msica, ento em vez de um DJ (Disc Jockey) a apresentao
teria que ser feita por um VJ.
Na dcada de 80 quando o MTV surge
1
, surge completamente isolado de
concorrncia e a sua propagao gradualmente manifesta nos EUA. O seu
segredo foi principalmente o facto de ter mudado o conceito de tele-viso.
Toda a gente sabe que a televiso foi criada para permitir a venda de produ-
tos distncia, e que nada em televiso grtis, pois gera-se sempre, de uma
forma ou de outra, um consumo forte da parte do espectador. Mas o facto de a
televiso ser aparentemente grtis, e tambm o facto de o MTV permitir con-
templar e escutar msica conhecida, recente, e constantemente, era excelente,
alis mudou toda a equao de como fazer televiso. por isso que o MTV se
tem instituido e conquistado adeptos, com os seus spots inconfundveis, os
seus programas divertidos e a msica omnipresente, omnicorrente. Quem
liga o televisor e sintoniza o MTV sabe perfeitamente que mesmo para fazer
companhia o MTV substitui a aparelhagem rdio, e que o ecr de TV substi-
tui o sistema de alta-delidade. A onda agora outra. Mais do que ouvir,
interessa escutar, e tambm visionar o videoclip sempre que se pretende.
O MTV funciona hoje como um verdadeiro laboratrio de imagem, uma
coleco atemporal de nostalgias e novidades, um novelo de audiovisual hi-
percativante, capaz de captar a ateno de gente de todas as faixas etrias.
por este motivo que h quem diga que o MTV no um canal de televiso
mas sim uma base de dados de informao audiovisual, um verdadeiro uxo
de dados, uma galxia de marketing. Esta galxia tem tido um efeito de
choque nos media to envolvente que obriga a que se repensem todos os vec-
tores semiticos da comunicao, e da comunicao de msica, e da msica
enquanto comunicao. No se trata apenas de criar um sistema de televiso
to corrente como a rdio, mas de criar um conceito de televiso em que a
imagem que rebocada pelo som. A msica a chave da imagem, a actriz
principal do videoclip, qualquer que seja a banda, o grupo, os msicos, o
estilo ou a poca em que se inserem.
1
O primeiro videoclip foi o Video Killed the Radio Star dos Buggles.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 127
6.2 MTVoluo
Sendo revolucionria ao ponto de ditar at o que os jovens vestem, desejam
e usam, a MTV tem semeado um sentimento de comunidade que leva a que
o seu nome seja sinnimo de inovao, movimento e juventude. Tambm
verdade que a linguagem do videoclip obriga a que se venda uma senda de
imagens onricas, em que as celebridades se passeiam, as divindades se mos-
tram, os luxos se exibam de forma atroz e arrogante. Por outro lado, na rea-
lidade a quantidade de jovens que adere s modas que o MTV incentiva leva
a que o MTV inuencie radicalmente a realidade, de um modo que nenhum
outro canal o fez, a no ser a CNN. certo que se trata de um canal norte-
americano, que tambm responde ao sistema capitalista globalizado, mas se
no houvesse o MTV algo de muito pouco interessante restaria.
Chama-se MTVoluo a todo o processo de uxo de inovaes e de ima-
gens cativantes que o MTV solta em televiso. As imagens, os telediscos,
as reportagens, os spots, as apresentaes de lmes, os anncios institucio-
nais e os programas temticos, criam uma instabilidade, um rio contnuo, uma
catarata de audiovisual imparvel. Tambm se pode referir que a linguagem
cinematogrca do MTV muito quick-cut, porque os cortes entre imagens
so abruptos, inesperados, rpidos, a sua linguagem muito verstil. Mas toda
essa dinmica grca, visual e snica no fundo o seu lado mais revolucion-
rio: tornar o estilo de televiso prisioneiro da prpria mensagem, do prprio
contedo. A questo que no MTV h uma srie de justaposies que no se
pressupunham, pois at ao MTV existiam canais temticos para cada coisa, e
o que o MTV fez foi instituir um canal de msica que recorre a vrios estilos
de grasmo e de msica, para insistir numa dinmica que parece eterna.
6.3 Imagens Lquidas
No MTV as imagens parecem lquidas, o uxo aqutico de grasmos, de es-
tilos de vida, parecem brotar de uma catarata de grasmos. O segredo que
o MTV contrata designers de mais alto nvel que entendem o esprito e
a esttica MTV, e so capazes de criar imagens para intercalar com os vi-
deoclips e os programas. Assim, quando no est a ser transmitida msica,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
128 Herlander Elias
ou qualquer outro tipo de programa, o MTV dispe de separadores
2
para
entreter o pblico e fazer a ponte entre imagens interessantes e imagens me-
nos interessantes. Esta esttica do pastiche irrompe em todos os recantos
do MTV, porque a fragmentao acelerada de contedos cria uma tapearia
audiovisual sempre nova. O resultado inexoravelmente uma difuso rica
em imagens e estilos de msica diferentes, em que a novidade explorada
ao mximo e benecia de uma liquidez inovadora. As imagens, no MTV, no
aparecem uma s vez, nunca so algo que termine em si. Muito pelo contrrio,
so repetidas aleatoriamente por uma base de dados de audiovisual gigantesca
que as distribui ao longo das horas que perfazem uma grelha horria, semanal
ou mensal. Alm disso, o facto de estarem sempre a dar institui a grande
ideia, o grande conceito MTV: basta ligar a televiso. A programao no
acaba. No MTV no existe o depois de o canal fechar!
Diria tambm que o que MTV divulga nos seus videoclips, e no s,
mas sobretudo nos videoclips, que so o seu produto mais especco e
prprio, todo um conjunto de estilos de vida em que a msica omnipre-
sente, lquida, porque tudo o que se faz no MTV, e tudo o que se mostra,
musical, musicado, dinmico e indubitavelmente pop, popular. No se
esconde nada, tudo est programado para ser giro, para vender, para seduzir,
desde as modelos cuidadosamente escolhidas para os videoclips at ao tipo
de publicidade que patrocina os programas. A esttica MTV baseada numa
concepo hedonista do mundo, psmoderna e vibrante, mais visual que ver-
bal, mas tambm mais plstica que esttica, mais esttica e revolucionria.
O curioso que pela msica, o MTV permite que o passado e o futuro se
cumprimentem sem ser em canais diferentes.
6.4 MTVision
A partir do momento em que o MTV se torna um estilo de imagem especco,
tudo o que se parece com MTV MTV. Tudo o que partilha a esttica MTV,
tambm MTV; da que o MTV no precise de muita publicidade. O MTV
o seu prprio canal de publicidade, simultaneamente anunciante, anunciado e
canal de anunciao. A Viso MTV vem mudar drasticamente o mundo da
2
Clips de audiovisual de curta durao, feitos a partir de grasmos, fotograas, vdeos e
sons manipulados.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 129
publicidade, conciliando no mesmo suporte os contedos e anncios de roupa,
moda e automveis, computadores e comida fast-food, msica e gente bo-
nita. A forma de ver o mundo maneira do MTV cria uma narrativa em que
a banda sonora musical constante, apesar de muitos dos videoclips se-
rem abstractos e tenderem ao alucingeno. Em cerca de vinte anos, a esttica
MTV transforma o suporte e a edio-vdeo numa arte, reicando o video-
clip enquanto artefacto cultural. E este artefacto cultural vai beber fonte de
inspirao das artes plsticas, do cinema, da fotograa, do design grco, do
multimdia e do web design. O videoclip um marco no tempo, assinala
a imagem-vdeo no seu expoente mximo de evoluo. Se para muita gente
a msica pop apenas msica pop, independentemente dos gneros, j
o vdeo no apenas vdeo, videoclip, um pedao de informao alta-
mente comprimido, to intenso quanto uma descarga elctrica de techno ou
rocknroll. No se trata de contemplar electricidade esttica, mas sim elec-
tricidade esttica, porque h uma energia no MTV que tenta conciliar todos
cones do que bom e bonito! O videoclip torna-se uma paisagem, uma
panormica de som, uma imagem que tem a elasticidade do som electrnico
e a presena da imagem publicitria. Contudo, o objectivo do videoclip
levar o ouvinte, o espectador, a assistir a um sonho, a uma viso do mundo,
muitas das vezes americanizada, e, em suma, a sonhar
3
.
6.5 Esttica
Num s suporte, num s momento, o MTV transmite milhes de imagens
por segundo, reicando uma esttica irreal, em que tudo se liquefaz, corpos
e instrumentos de msica, invocando pocas passadas e futurologias, em que
o cinema a base e a atitude rock o conceito do rudo inovador. No basta
promover, preciso criar rudo. essa a esttica MTV que tudo comprime e
difunde, num cocktail audiovisual em que a base no nem real nem virtual
mas sim simplesmente irreal.
A irrealidade a base do novo modo de expresso, da expresso MTV,
onde grcos e imagem-vdeo danam com roupagem da moda ao ritmo da
msica mais pop do momento. Os grasmos vo buscar inspirao BAUHAUS,
3
Acerca deste tema do videoclip consulte-se: Elias, Herlander, A Sociedade Optimizada
pelos Media, Mdia XXI, Lisboa, 2006.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
130 Herlander Elias
KANDINSKY, Paul KLEE, PICASSO e MONDRIAN, TETSOO e ao grafti
de BANKSY. Um mundo esteticamente pensado para seduzir e se movimen-
tar, reproduzir, como MTV encontra-se embutido no videoclip.
Filmagens de desles de moda, remakes de lmes antigos, imitaes de
videoclips de 80 ou 90, desenhos de computador, lmes erticos, lme de
stock
4
, tudo servia para que de incio a esttica MTV tivesse material au-
diovisual suciente para despertar as audincias. Em duas dcadas a esttica
MTV descola completamente e cria a sua prpria linguagem audiovisual, re-
duzindo toda a experincia do videoclip ao campo visual do ecr. A msica
pop passa a estar connada ao ecr de TV, ao ecr da imagem-vdeo, mas
agora necessrio tambm um sistema de som de alta-delidade, porque a
imagem conquistou o seu prprio espao, mas a velocidade a do som.
Tambm h que descobrir que o tipo de imagem que o MTV criou, no
sentido mais semitico do termo, uma imagem que subjectiva, mexe com
as emoes, os desejos de luxo e luxria, com a necessidade de maravilhoso
que existe da parte do espectador-ouvinte. A esttica MTV atinge o territrio
das emoes, da raiva do rock, da histeria da rave, do conforto mais hip
at ao soul mais feminino e sensual. Recupera-se, com o MTV, um sentido
de um mundo cultural, globalmente manifesto, que antes no existia agregado
cultura da msica pop. Anal, a msica popular precisava de uma forma
de globalizao tambm ela pop. O MTV representa esse passo em que a
globalizao se junta popularizao.
6.6 A Experincia MTV
Ao contrrio dos outros canais de TV, o MTV o nico canal que se coaduna
com os prprios contedos divulgados, e o inverso tambm verdade, pois os
contedos divulgados coadunam-se ao canal. difcil dizer onde que o canal
termina e os contedos comeam, e onde que a msica acaba e a estao de
televiso comea. MTV isso mesmo, msica non-stop, um regime de
imagens de alta-qualidade ao ritmo de sons de alta-delidade. isso que o
MTV institui com a experincia MTV. O som passa a ser visvel e a imagem
passa a ser danvel. Contemplar uma imagemou escutar uma msica MTV
4
De companhias de aviao, material militar ou de testes de segurana automvel, por
exemplo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 131
assim contemplar uma paisagem snica
5
, um ambiente meditico sensual,
ritmado, pop e comercial, fashion mas inclusiv virtico e tctil.
No MTV, o que se pretende mudar a forma de fazer televiso. A esttica
de estruturar os grasmos e a msica de modo idntico cria um subproduto
meditico que em si mesmo de natureza irreverente. A base da experincia
MTV a experincia cinemtica; o cinema a base da TV, e a base do MTV
exactamente a linguagem cinematogrca, o seu ritmo, as tcnicas de edi-
o de imagem, mas tudo comprimido e elementarmente reduzido aos sons e
imagens dos genricos e chas tcnicas. A experincia MTV compressora,
veloz, e contm em si os cdigos da experincia televisiva, da radiofnica e
tambm da cinemtica. A linguagem do 3D e da Realidade Virtual j so mais
recentes, mas esto j a ser assimiladas pelo MTV, ao ponto de serem inten-
sicados at se tornarem parte do pastiche esttico do MTV. No fundo, no
fundo, no se pode dizer que exista uma esttica MTV, quando esta vai citar e
inspirar-se em tantas outras artes e artistas, contudo, existem um certo tipo de
elementos estticos que so identicveis como sendo MTV.
Interessante igualmente o facto de os videoclips partilharem de uma
nova forma de narrativa, que no se resume do cinema, mas que tambm tem
pouco a ver com a da televiso realista. Essa nova forma de narrativa veloz e
tem um parceiro esttico: o reclamo publicitrio, em que a msica pensada
para ser memorizada facilmente, o slogan curto e intenso, e a imagem
reduz toda a mensagem ao seu motivo. A histria conta-se rpido e de forma
fulminante, pois existem mais espera de ser transmitidas. Num videoclip
do MTV, tudo inclusivo de forma mcluhanesca, porque em ltima instncia
tudo se torna icnico. O que torna a experincia MTV interessante que no
s o produto por excelncia, o videoclip, revela-se como icnico, como toda
a programao e estilo MTV agregam fragmentos de imagens, sons, desenhos,
excertos de lmes e samples de msica. O todo feito de partes. Os sons
do origem a msicas e os clips de imagens a videoclips.
5
Cf. Tratei desta questo com mais pormenor em ELIAS, Herlander (ed.), Ciberpunk:
Fico e Contemporaneidade, Dist. Sodilivros, Lisboa, 1999.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
132 Herlander Elias
6.7 Rizoma-TV
Hoje tudo o que criado em rede rizomtico, daninho, no linear, no hi-
errquico. O melhor exemplo mesmo a Internet. Mas se tudo cada vez
mais exposto pela Internet, que rizomtica, tambm o inverso ocorre: cada
vez mais as coisas se parecem com a Internet, e uma dessas coisas nomeada-
mente a imagem-vdeo, o videoclip, que vem dum sistema de programao
televisivo, e tambm da rdio centralista, para logo se sedimentar num tipo de
TV rizomtico: o MTV. Ora, no MTV, tanto faz que seja dia ou noite, publi-
cidade ou a programao, apresentado por um apresentador ou que esteja em
debitao automtica, todos os contedos so rizomticos, fragmentos disper-
sos que so divulgados, que passam no mesmo canal, que se justapem e se
desaam.
De acordo com a teoria do rizoma, proposta por DELEUZE & GUAT-
TARI em A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia, o modelo rizo-
mtico implica que algo de subterrneo, de no linear vena o modelo linear.
A ideia de DELEUZE e GUATTARI, com o modelo do rizoma que este
modelo de organizao poltica e estruturalista ceda dimenso catica,
dimenso mais descontrutivista. O MTV um canal de TV rizomtico na me-
dida em que revela caractersticas do rizoma, descentraliza-se, globaliza-se,
espalha-se nos outros media, e engloba os outros media, uma mutao ins-
titucionalizada, daninha, que no estagna e se adapta novidade, e que opera
em rede.
O que caracteriza o MTV desde logo a sua natureza rizomtica, o seu
lado perverso, contestante, que permite que no se adopte a postura centralista,
hierrquica, esttica e tpica da TV do sculo XX. Em suma, o MTV embora
seja TV, revela em si a esttica dos novos media, da explorao da subjectivi-
dade, das emoes, da imagem plstica, do som electrnico ou amplicado,
da virtualidade e do marketing sexy. Em poucos anos o MTV tornou-se um
canal de eleio, um canal em que se pode ver msica, escutar imagens
dotadas de uma inteno especca.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 133
6.8 Estilo MTV
Basta ver uns minutos de MTV para detectar algo de caracterstico neste ca-
nal, h de facto um estilo MTV, uma esttica prpria, pensada e estruturada
de raiz, em consonncia com as grande editoras das indstrias discogrca
e cinematogrca. O MTV tem uma semitica prpria, um conjunto de in-
dcios, de signos, de regimes de imagem e de som que so inexoravelmente
MTV, desde o design ao estilo da montagem das sequncias de imagem-vdeo.
O estilo MTV foi pensado para os jovens que viam imensa televiso nos
EUA mas que no tinham um canal de TV predilecto e / ou que revelasse uma
sinergia jovem e intensa, que reectisse o estilo de vida da juventude obce-
cada com msica. A questo que o MTV surge num momento em que a
indstria discogrca est a passar por uma crise, um momento em que John
Lack e Robert Pittman criam uma rede de televiso nos EUA sobre todos os
tipos de msica existentes em suporte audiovisual (video). A ideia era que
este canal de televiso tivesse um estilo prprio, e, para isso, os seus criadores
pediram contedos indstria cinematogrca. O gratuito MTV cresce e as
editoras discogrcas so obrigadas a pedir mais auxlio aos estdios de TV e
a Hollywood em busca de realizadores e de staff de cinema. Hoje, as edito-
ras recorrem a estdios de design, aos programadores de jogos de computador,
e tambm a artistas que trabalham com estaes de edio videogrcas, de
forma a apresentar um produto meditico sempre fresco e apelativo.
Todavia, quando surgiu o MTV nos EUA pela primeira vez, o seu ob-
jectivo era promover os artistas da msica e no tanto a moda ou o cinema.
Em ltimo caso, o MTV autopromovia-se a si mesmo recolhendo receitas de
publicidade astronmicas. Lack e Pitman instituram um canal de TV inspi-
rador, excitante, sosticado, moderno, ritmado e que captava os desejos de
quem gostava de msica.
6.9 O Cdigo
So muitos os cdigos que cada canal de televiso explora, mas, na essncia,
nada do que aparece no ecr por acaso ou coincidncia. Tudo pensado ao
pormenor. No MTV as linguagens grcas velozes, nomdicas, tridimensio-
nais, os desenhos e os fotogramas, que se desmontam, aparecem e reaparecem
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
134 Herlander Elias
elasticamente com sons acoplados. Toda a mecnica audiovisual do MTV
reduzida a compostos audiovisuais comprimidos que resultam num pastiche
multimdia, polvilhado com uma mensagem publicitria. Nada do que se v
no MTV casual. Desde os genricos repletos de animaes computadori-
zadas aos tipos de letra que surgem e desaparecem no nada, passando pelos
recortes de imagem, toda a semitica da imagem implica uma semitica do
som, fulminante e instantnea, esteticizada e pop. So muitos os cdigos
que o MTV usa, mas poder-se- dizer que se baseiam na imagem dos artistas
pop da dcada de 60, tipo LIECHENSTEIN, WARHOL e RAUSCHEN-
BERG, assim como na msica se baseia muito na New Wave da dcada de
80 e no punk cosmtico de hoje. A esteticizao da imagem conui numa
perfeio grca aliada a sons despoletados para fazer delirar o espectador.
normal que se detectem lmagens feitas com ngulos de cmara obtusos,
onde linhas grcas completas seguem padres de som estruturados para du-
rar o tempo dos spots que entretm o espectador. Imagens rpidas, cortes
sbitos, mudanas repentinas de cenograa, troca de sonoplastia e deslocao
de actores so tudo aquilo que caracteriza o cdigo MTV. O grande segredo
que sob e sobre todo este cdigo, a msica escolhida, pr-seleccionada e
divulgada pelo MTV, surge como um elemento de reunio de todo o esp-
lio audiovisual em ebulio. A msica do MTV, maneira de McLUHAN,
meio e, simultaneamente, a mensagem, o formato do cdigo o que se comu-
nica, em suma. Por esse motivo que toda a msica debitada pelas bases de
dados do MTV se dispersa por padres de organizao que curiosamente se
coadunam com os programas do prprio MTV. A msica a banda sonora de
integrao de todas as imagens, modelos e cnones de msica e artistas.
Um ponto que tem vindo a ser muito incrementado sem dvida a mon-
tagem de imagem, a rea de edio de vdeo, que quando combinada com ou-
tras, tais como o web-design grco, origina imagens rizomticas e velozes,
radicais e que so como que jolts. Os jolts so imagens rpidas, concisas
e que despertam a ateno de qualquer espectador, so caadores de ateno
e concentram em si a mecnica de imagem do MTV, aliando grasmos de
diversos gneros e msica ruidosa ou hiper-conhecida.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 135
6.10 Frmula do Jolt
O jolt inicialmente surge com o web design, porque as animaes feitas em
Macromedia Flash MX permitiam criar inmeros efeitos visuais reduzindo
tudo a imagem vectorial sbita e instantnea, pensada para o online. Isso per-
mitia acelerar a visualizao dos grasmos, program-los, bem como dot-los
de comportamentos especcos e tambm adicionar-lhes som e caractersticas
web. Com a evoluo do web design, cada vez mais se recorreu a este tipo
de software para criar clips de imagem e som verstil. Aos poucos a publici-
dade online, o design multimdia e web adoptaram a forma de criar jolts:
compactos de imagem e som verstil audiovisual altamente sedutores. A ideia
foi responder ao desejo que a audincia tinha em receber e contemplar ima-
gens organizadas e editadas de forma mltipla, o que j acontecia com o som
electrnico no domnio do ciberespao acstico. Em pouco tempo, o trailer
de cinema, a apresentao televisiva, o videoclip, o spot de publicidade
e o videojogo convergem por serem sbitos e usarem a teoria do jolt. Na
prtica o jolt a imagem supersnica veloz que espicaa todo e qualquer
espectador com efeitos especiais importados de vrias reas. Pode-se armar
que o jolt altamente icnico e implosivo, por ter tendncia a incluir tudo o
que interessante.
O jolt surge porque emergem novas formas de televiso e que requerem
a emergncia de novas formas de imagem. A resposta que se encontrou foi
criar uma nova forma de imagem em que esta e o cdigo so um s objecto,
e em que imagem e som so indissociveis. A imagem precisava do som, da
sua elasticidade, e o som precisava da imagem para fazer a ponte com a moda.
No obstante, o jolt expressa que o composto audiovisual, do qual o vide-
oclip o maior protagonista, uma forma de expresso dos adolescentes, do
novo, da novidade. De New-ness dizem os ingleses.
6.11 A Construo do Videoclip
A construo do videoclip obedece a uma srie de regras tcnicas e exi-
gncias de mercado, contudo, grande parte dessas exigncias so sentidas ao
nvel de marketing. O videoclip no vende mas mostra imensas imagens
justapostas, e a lei de associao de imagens mentais revela que o espectador
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
136 Herlander Elias
as associa em busca de signicado. Assim, ao justaporem-se duas imagens
numa parte de uma sequncia de um videoclip, o espectador est na ver-
dade a receber informao e a process-la. Essa informao, que a base da
construo do videoclip, implica que haja algo de revolucionrio, fashion,
luxo, luxria, consumista, e que possa ser comunicado na lgica de indivduo
para indivduo. Construir o videoclip fazer toda esta gama de associaes
para que o espectador compre uma srie de imagens de sucesso ou revoluo.
Levar o espectador a sentir-se em comunho com as imagens o primeiro
passo, antes de se conseguir que o espectador se proponha a comprar o que as
editoras discogrcas pretendem.
verdade que os videoclips so construdos desde o cenrio, portanto
cenograa, at edio da imagem, passando pelo guio, pela cosmtica, pro-
duo de eventos, fotometria, fotograa, realizao, guarda-roupa, adereos e
sonoplastia, por exemplo. Porm, o que mais trabalho exige na construo
do videoclip criar uma mensagem to evocadora de vida como a mensa-
gem rock, qualquer que seja o estilo de msica em questo. O objectivo
promover a novidade, a alternativa, a msica nova, as guras alternativas, as
localidades, os trajectos, as modas, os acessrios, as comodidades e os estilos
de vida, os sonhos de sucesso e o sucesso dos sonhos.
A imagem do videoclip vende-se e propaga-se facilmente graas ao
facto de se reduzir a jolts grcos, relances de imagemfotorrealista, recortes
de som pr-misturado, pr-feito, pr-pensado. O videoclip um cone que
se constri, onde tudo estudado cuidadosamente, montado e soltado, quer
seja nos media tipo TV ou online. O segredo do sucesso da imagem cons-
truda pelo MTV reside na publicidade, pois esta que se acrescenta msica
em jeito de componente extra, e que lhe confere o ar lmpido e capitalista, e
ao mesmo tempo livre e radical.
6.12 Encontros POP
Nas imagens do MTV possvel encontrar em justaposio cones comple-
tamente opostos mas que se coadunam com a imagem-mor MTV. nos vi-
deoclips, que se sucedem ininterruptamente, que encontramos apelos a ima-
gens estticas, cosmtica de rua, comportamentos de rebelio, desportos ra-
dicais, artes grcas, msica negra, lmes americanos, animaes japonesas
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 137
(anime) e smbolos populares. Em qualquer momento do dia, durante qual-
quer dia da semana ou noite, o MTV emite videoclips onde guras de gne-
ros diversos se encontram e reconciliam. Do funk ao hip-hop, passando
pelo rock, pelo techno, house, trance ou glamour, toda a imagem
pop do MTV leva a que se encontrem nas emisses do MTV guras dos
anos 80 a danar onde as dos anos 60 tocaram baladas.
Se antes existia o smbolo da guitarra elctrica, logo se sucedeu o sm-
bolo do teclado electrnico, at ao mais actual e emblemtico prato de vinil
do DJ. A nova forma de reunio pop , como o prprio MTV estrutural-
mente demonstra, mistura e demonstrao, exibio e provocao. Da guitarra
flica ao sof feminino de design futurista, sem esquecer a tatuagem propo-
sitadamente descoberta e o piercing malvado, a esttica MTV espalha-se
em situaes que originam imagens programadas para atingir o espectador
(des)prevenido.
Apesar de o MTV permitir que se encontrem num mesmo canal de (M)TV
vrios gneros e guras, a rock star de facto a que mais propulso obteve
at hoje para descolar do solo dos comuns mortais. Os MCs do hip-hop
tambm tm conquistado a relevncia pretendida, mas o microfone enquanto
objecto flico no compete com a guitarra que o smbolo mais conhecido da
estrela da msica pop. Ser um cone na era do MTV, ou de qualquer canal
de TV similar, requer ser compreendido, devorado, amado, e desejado, por
uma audincia de massas.
6.13 Supercones
Graas ao MTV, qualquer gura do sexo masculino ou feminino pode ser
transformada num supercone de alta-intensidade. Uma vez saturada a ima-
gem de uma personalidade, os resultados so bvios: dinheiro em caixa.
Os supercones que o MTV gera so capazes de fazer publicidade, cinema,
TV, romances ou teatro. Uma imagem do MTV, uma star, uma celebridade,
adapta-se a qualquer tipo de projecto meditico, porque a prpria linguagem
do MTV tambm em si mestia, misturada, hbrida, popular, multidimensi-
onal, rizomtica e plstica. Se as imagens MTV se prestam para vrios ns,
e tomam vrias formas, tambm as suas celebridades so sintomticas dessa
frmula, podendo fazer vrias artes e tomar aspectos bastante metamrcos.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
138 Herlander Elias
Os mitos que o MTV produz e nos quais investe, desde as Britney Spears,
as Pussycat Dolls, as Spice Girls, os U2, os Gorillaz, entre tantos outros, tive-
ram sempre um propsito: fazer render o dinheiro da indstria discogrca.
Da esta indstria se expandir para o cinema, de onde a pertinncia do apareci-
mento das produtoras MTV Movies ou VH-1 Films. A mensagem subliminar
principal explorar a necessidade de riqueza do espectador. Os supercones
MTV abusam da imagem de riqueza, da imagem de burguesia, de manifesta-
o de sex appeal e estatuto capitalista.
6.14 MTV Target
O pblico-alvo (Target audience) do MTV um pblico que no sinto-
niza o MTV para ver alguns minutos, mas que, muito pelo contrrio, sintoniza
o MTV durante horas, fazendo deste canal uma espcie de companhia virtual,
lareira televisiva sempre acesa e sonante. O MTV com o passar dos anos con-
seguiu instituir-se e tornar-se um canal de referncia, originando franchises
locais, e tornou-se um verdadeiro debitador de videoclips, durante vinte e
quatro horas, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano,
h cerca de duas dcadas. O seu cdigo hipntico e luxuoso leva a que os
espectadores se viciem em uxos de imagens diferenciados por programas
de gnero, concursos, separadores, notcias, reportagens, comdias e tops
estatsticos.
Os consumidores tpicos do MTV so os jovens suburbanos e rurais, para
os quais a televiso foi aprimorada para melhor vender produtos distncia.
O facto de muita coisa ser inacessvel para os jovens desses locais levou a que
o MTV tivesse sucesso logo que apareceu. verdade que existiam centenas
de canais especcos nos EUA, mas s existia um MTV, um canal de televiso
tipo rdio, sempre a passar msica e a exibir as ltimas novidades de discos
e singles em formato de imagem com som. O grande instrumento do MTV
para o sucesso era que no havia necessidade em o espectador comprar m-
sica, pois s a sua participao j fazia o MTV lucrar, s o facto de se ver
ou simplesmente escutar o MTV j permitia que houvesse mercado para a
publicidade. Todo o design do MTV explora o desejo de ver mais MTV,
e assim sucessivamente. Os marketeers do MTV intensicam o design
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 139
grco ao limite, formatando tudo o que emitido no MTV com o estilo do
reclamo de publicidade.
6.15 MTV Party
Com um ar sempre festivo o MTV capta as atenes de quem quer que ligue
a TV e o sintonize. So inmeros os programas, sobretudo durante o Vero,
em que o MTV apresenta raparigas e rapazes de traje de banho e bikini, cor-
pos tatuados, musculados, tpicos de ginsio tness. O normal existirem
festas temticas onde o MTV tem apresentadores presentes, e que estas sejam
dignas de ser mostradas ao pblico. Nestes ambientes o corpo dana, convida
o espectador a assistir e conhecer o mundo de festa que o MTV explora e di-
vulga. O que os marketeers do MTV pretendem que o espectador que
absorvido pela atmosfera sedutora e musical das suas festas, dos seus ambi-
entes convidativos e ritmados. neste sentido que o MTV funciona com se
fosse um espao onde aquelas celebridades se mostram e vivem.
A grande revoluo MTV consiste no facto de ser um canal multicolor,
multidimensional, multignero. indubitavelmente um canal democrtico,
embora venda muito o sonho americano e ans, mas na prtica o canal
que revela poltica e praticamente o sonho de artistas como Afrika BAMBA-
ATAA de um Planet Rock. Nunca houve um instrumento de comunicao
global que to bem vendesse e difundisse, para o bem e/ou para o mal, a
cultura jovem do rock e do techno, da dance music e da soul, do
hip-hop e da star. O MTV introduz algo de novo na forma de fazer tele-
viso: instituindo a festa como modelo constante dos bem-sucedidos, como
instncia legitimadora de sonhos. O estado de esprito que se tem quando se
visiona o MTV de euforia, diverso, festividade e veraneio, mas h toda uma
ideologia pensada por detrs desta esttica, por mais subtil que possa parecer.
6.16 Stereo System
Se na dcada de 80 os grupos de hip-hop transportavam enormes sistemas
hi- para difundir msicas e assistir a concertos que passavam na rdio.
Neste novo milnio j no se transporta nem o walkman Sony nem o leitor
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
140 Herlander Elias
MP3 tipo iPod, pois agora o segredo transportar leitores de cheiros audio-
visuais, onde a alta-delidade do som casa com a alta-resoluo e denio da
imagem. Contudo, no domnio domstico a revoluo outra, pois os electro-
domsticos de sala como a TV e o sistema estreo fundiram-se num composto
audiovisual emissor e receptor multimdia onde se escutam imagens e se
vm sons em estado pop. Quem est perto do ecr v o sistema na sua
plenitude, quem est longe ou a fazer qualquer outra coisa entretm-se com o
que o MTV emite sonoramente na sua catarata audiovisual. A gerao que se
vicia no MTV tem pais que cresceram com os jornais e pensa de forma guten-
berguiana, linear, mecnica; ao passo que a gerao MTV pretende algo mais
plstico, fetichista, rpido, no-linear e desmontvel, em constante uxo.
6.17 Promoo Sem Interrupo
Uma caracterstica importante do MTV a sua natureza de ligao, o MTV
no se desliga, no tem feriados nem frias. Est sempre a bombar msica e
a sacudir as imagens com videoclips que no pra de passar, mas apesar de
ser tudo muito explosivo e novo, h no MTV algo de perecvel porque o que o
espectador compra so apenas conceitos, ideias, esquemas estticos e estilos
de vida. O MTV imagens a passar, um uxo imparvel de dados, sedues
e msica. As imagens so expressivas como a msica e a msica to expres-
siva quanto as imagens. difcil dizer onde comea a msica e terminam as
imagens e vice-versa. No entanto, o esprito MTV est sempre omnipresente,
desde os tnis e o penteado dos apresentadores (VJs) at aos programas
de msica mais nostlgicos. Tudo promocional no MTV, comeando pelo
logotipo do canal at aos concertos ao vivo do MTV.
O que leva a que no MTV se explorem tantos formatos de fazer TV ba-
seados em msica que ui, (e onde os discos nunca acabam!) que a MTV
autopromove-se incessantemente, em roupa, msica, colectneas de artistas,
eventos prprios, concertos, reportagens, lmes, etc. Desta forma os marke-
teers do MTV conseguem constantemente ampliar o estado de esprito MTV
e elevar sempre a fasquia das audincias. Uma das estratgias mais recentes
dos responsveis pelo MTV colocar produtos de forma explcita em cena
(product placement) onde algo est a ser lmado, ou mesmo ter patrocnios
para os videoclips. O que eles pretendem que toda a actividade promo-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 141
cional do MTV faa parte da vida do espectador. Na mira est um tipo de
espectador que viva intensamente coisas que j so MTV. nesta senda que
podemos visionar concursos e outro tipo de programas forjados em que os
concursantes se juntam s stars. Tambm no deixa de ser curioso que
os videoclips sejam um instrumento de promoo, de artistic statement
para os prprios realizadores e criadores, dado que prove os seus feitos tc-
nicos mais criativos. Em geral, os videoclips vendem tudo, todas as como-
didades, desde roupa, merchandise, discos, acessrios, moda e corpos. As
imagens de comodidades so em si mesmas comodidades, anncios de todo o
tipo de comodidades, promoes sem interrupo.
No MTV a esttica baseada em objectos eleva a escrita eletrogrca
6
ao seu expoente mximo, no existem imagens que no sejam chic, h toda
uma autpsia desconstrutiva do grasmo e da imagem que bem desenhada
e editada, catalogada e acelerada. Um sistema de uxo promocional ininter-
rompvel como o do MTV consegue revender todas as imagens de dissenso e
rebelio de novo com uma denio cada vez maior. O xtase tensional entre
palavra e imagem atinge o seu cume, o seu estado de clmax, a tipograa no
seu ponto de abstraco.
6
Expresso que BALLARD emprega em Hello, America para se referir aos nons de Las
Vegas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 7
A Imagem na Era Digital
O Constante Videogco
"H alguns anos nasceu uma mquina, glria do nosso tempo,
que diariamente o assombro dos nossos pensamentos e o susto
dos nossos olhos. Mesmo antes que um sculo tenha passado,
esta mquina ser o pincel, a paleta, as cores, a habilidade, a
experincia (...), o colorido, a transparncia, o dolo, a perfeio,
o extracto da pintura...que no se acredite que a daguerreotipia
mata a arte..."(Antoine Wiertz Cit in BENJAMIN, 1992)
7.1 O Imaginrio e as Possibilidades
A arte digital oferece um verdadeiro reservatrio de formas impossveis de
imaginar de outro modo, uma quantidade ilimitada de formas representando,
por exemplo, objectos em trs dimenses a partir de equaes complexas, ou
de imagens fractais bi ou tridimensionais geradas unicamente por simulao
grca. O computador pode permitir traar as guras mais inimaginveis,
onde poderosas equaes possuem uma pluralidade de parmetros funcionais,
capazes de satisfazer o nosso inconsciente ptico. Deste modo, na paleta cro-
mtica electrnica, a relao forma-cor intimamente presente, tanto na est-
tica da fotograa digital como na do cinema de sntese. Enm, a tecnologia
de informao autoriza todas as exploraes, todos os ensaios, todas as ex-
perimentaes criativas, toda uma tecnoscopia, tanto por scannerizao ou
143
i
i
i
i
i
i
i
i
144 Herlander Elias
por transferncia de documentos visuais a partir de uma cmara de vdeo,
captando-se assim as cenas ou objectos concretos no lme de forma directa.
A codicao numrica permite o controle dos documentos visuais j
constitudos, quer a partir de lmes cinematogrcos, videogrcos, de ne-
gativos fotogrcos ou de fotograas em papel, de dispositivos coloridos ou
at simples texto. Fica uma transposio de formas que estica as tecnologias
manipulatrias e que efectiva o reino de representaes, dos simulacros. PE-
TER GABRIEL, dono da Real World, uma reputada empresa de software
multimdia, realizou um projecto que se efectivou apenas enquanto simula-
cro, estou a falar de EVE
1
(Extended Virtual Environment). Recorde-se
que foi McLUHAN quem defendeu que a tecnologia elctrica havia criado um
novo ambiente poderoso cujo contedo seria o velho ambiente.
Trata-se de uma cultura da Tcnica que dispe de formas de realizao
neoestticas, justamente porque permitem a concepo de formas de beleza
totalmente novas, mesmo quando os novos ideais de belo so inuenciados
pelas tcnicas clssicas, pelos procedimentos e mtodos de aproximao da
arte museicada, agora compartimentados pela cincia de informao e pelos
mtodos de armazenamento de dados. O que permite dar-se asas a imaginao
exactamente esse stocking e tratamento numrico de informao
2
, alfanu-
mrica
3
ou icnica; quer se trate de uma imagem j existente
4
ou se sintetize
essa mesma imagem mediante o clculo integral de pontos elementares
5
.
Em todo o caso, a informao ramicada em sequncias ordenadas de bits
representando a quanticao das formas visuais.
7.2 A Quanticao Cromtica
Sob o ngulo da quanticao, a informao determinvel e medida de
forma rigorosa. A digitalizao a dois nveis no momento da scannerizao,
por exemplo, faz com que o sistema de leitura deva distinguir a sombra do
1
Uma aventura de msica e arte em formato multimdia para PC, qual se juntaram qua-
dros de Helen CHADWICK, entre obras de Nils ULDO, Cathy de MONCHAUX e Yayoi
KUSAMA.
2
Independentemente do tipo de informao em vista, porque os contedos s nos os vemos.
3
Textos, nomes, smbolos, algarismos.
4
Fotograa colorida, ilustrao de revista, desenho.
5
Pontos elementares so os "picture elements"ou "pixels".
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 145
claro, apenas. Por outro lado, a scannerizao de um dispositivo a cores, re-
presentando um quadro, por exemplo, exige uma seleco tricromtica muito
rigorosa, para que consiga respeitar as nuances do original. Donde a importn-
cia de um cdigo binrio mais "inteligente"que na deteco do chiaro-scuro
(claro-escuro).
7.3 O Neo-Pictural
A tecnocincia da imagem de sntese de pretenso artstica remonta ao nal
da dcada de 60, com as novidades da PopArt, por exemplo. impor-
tante relevar esta pretenso artstica especicamente neopictural, como nos
desenhos gerados sobre o ecr do computador e imprimidos sobre o papel
da impressora, quer dizer, todas as tcnicas servem para inovar e revelar pre-
tenses artsticas na construo de algo pictural, quando pertinentes. Hoje,
ainda que os computadores tenham evoludo imenso, ainda se podem distri-
buir formas e signos imensamente minimalistas, como conguraes de le-
tras e smbolos abstractos combinados. A inteno artstica evoluiu, tcnico-
experimentalmente e de forma demonstrativa, logo que as possibilidades tc-
nicas da infovideograa se ampliaram, por exemplo com programas como
Photoshop, Paintshop e Illustrator, ao ponto de simular os efeitos da pintura
tradicional, mas preciso um conhecimento esttico e tcnico, preciso e pre-
cioso para se construir imagens como as de EVE.
7.4 A Criatividade Imediata
Depois dos anos 80, resolveu-se a lentido da pintura clssica e a imedia-
tez objectiva da fotograa com uso de paletas e de estaes grcas, capazes
de suprimir as decincias e os incmodos da paleta do pintor, dotadas de
uma grelha de signos determinativos, mediante o uso de uma caneta ptica
e de um ecr-video, podendo-se assim criar imagens inteiramente numricas,
e, por outro lado, acelerando a necessidade de artistas modernistas fazerem
nascer uma verdadeira cultura tecno-esttica, digna de rivalizar com a pintura
e as tradicionais artes grcas. Os primeiros preocupados foram bem encai-
xados na categoria dos designers especializados, que se interessavam pela
prtica infovideogrca, que no s requeria talento, como implicava novos
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
146 Herlander Elias
comportamentos artsticos. Em particular, a acoplagem do ecr- videogrco
ao computador supunha uma atitude artstica da parte do utilizador, capaz de
aceitar uma distanciao face ao objecto da criao informatizada.
Um infovideograsta no manipula mais a substncia da sua criao vi-
sual como um pintor manipula os seus pigmentos, as suas pinturas, os suportes
grcos e os pincis. A caneta opto-electrnica e o ponteiro so, em qualquer
dos casos, instrumentos grcos estandardizados e universais, pois permitem
um escolha, a partir da paleta ou do ecr-vdeo, no importa qual a forma da
textura simulada (madeira, mrmore, gua, areia, pano, vidro, etc.), no im-
porta qual a combinao de cores, de qualidades de luz, de estilos ou gestos
grcos, nos limites tcnicos propostos pelo sistema de criao. A caneta p-
tica e o ponteiro representam mais facilmente o gesto criativo espontneo e
indenidamente recticvel: a impulso primeira hoje anulvel, j no pela
de amanh, mas numa constante alterao do objecto artstico.
7.5 O Design de Grasmos Simulados
Um tal sentido de instantaneidade criativa , portanto, geradora de uma cons-
cincia que prima pelo preo da distncia, em relao s formas visualizadas
sobre o ecr videogrco. Em primeiro lugar, o artista desenha ou retoca ima-
gens por simulao sobre a tablete, mas v aparecer o desenho sobre o ecr.
Em segundo lugar, o estilo electrnico uma forma abstracta em si mesma, re-
sultando da concepo tecnolgica de funcionalidade ergonmica. Esta forma
estudada pelo conjunto de potenciais utilizadores da paleta infovideogrca
e no oferece qualquer exibilidade de aplicao manual, muscular e tctil, h
uma funo da grafomotricidde individual dos utilizadores. A tecnologia
grca j resulta de um estudo ergonmico, sobre a relao dos grastas com
o seu material de design, neste caso, electrnico. O gesto muito impor-
tante.
Ora, os instrumentos tradicionais, artesanais, tais como os pincis, os l-
pis, as tintas, associadas diversidade de pigmentos, de meios diversos tais
como o leo, a essncia de terebentina, a gua, deixam um enorme conjunto
de marcas de uso pessoal. Exemplos disso so as dosagens, a escolha das
matrias e os mtodos prticos destinados sua associao, bem como os
instrumentos grcos mais ou menos exveis e diversamente manipulveis.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 147
Concede-se ao artista uma conscincia aplicada, fsica, quer do instrumento,
quer do material. Por exemplo, a utilizao da pena e da tinta-da-china, ps
prova as mos e os braos, os movimentos oculares, as nuances contnuas,
ligadas ao movimento que imprime na ponta da pena presses moduladas e
movimentos de amplitude varivel, donde resultava um toque pessoal.
Com o instrumento opto-electrnico nada assim; h leitura automtica
de informaes lumino-cromticas sobre o ecr, descodica-se sem proble-
mas a informao digitalizada e converte-se esta em logstica grca. O sis-
tema tecnogrco tem limites propostos pelo seu contedo prprogramado,
esgotando um pouco a liberdade pessoal, mais consignada ao sistema infor-
grco, ainda que a liberdade resida na questo da combinao dos efeitos
propostos pelas ferramentas virtuais. As formas que aparecem sabre o ecr,
resultam de uma escolha esttica, singular, so em todo o caso virtualmente
predeterminadas pelos componentes electrnicos da mquina que trata a in-
formao artstica. Ou seja, j vm embutidos de origem no sistema.
evidente que esta caracterstica comum gera uma nova forma de consci-
ncia esttica perante o gesto artstico, tornado mediao e de certa forma pr-
programado, ainda que a diversidade de efeitos possveis seja de facto muito
importante do ponto de vista combinatrio. O gesto artstico inscreve-se no
interior das capacidades do sistema electrnico, e submete-se a procedimen-
tos de utilizao como a forma da matria plstica rgida da caneta foto-
electrnica. Resulta necessariamente uma distanciao fsica mas tambm
intelectual perante o objecto artstico, no qual as formas no podem ser exe-
cutadas seno por intermdio do sistema abstracto e imediato, que formam,
para o artista, o conjunto de elementos necessrios: tablete digital, caneta p-
tica, logstica informtica e ecr-videogrco.
A paleta electrnica
6
recria sob as formas analgicas, os diversos mo-
dos de desenho da arte clssica: imitao da aguarela, do guache, da pintura
acrlica ou da pintura a leo, da tcnica de aergrafo, do grasmo a lpis ou
carvo, do pastel; e outras tcnicas artesanais, como tambm tcnicas de fo-
tograa
7
. Simulam as tcnicas tradicionais e os gestos que permitem essas
6
Usualmente apetrechada em Paint-Boxs, que so sistemas de desenho e manipulao de
cor digitais.
7
Tais como os efeitos de transparncia, de brilho progressivo e de reexo das superfcies,
de solarizar, acinzentar, enquadrar, colorir, negativizar, montagem, apagamento, trocas e
divises cromticas, iconizao, retocagem, etc.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
148 Herlander Elias
tcnicas, uma verdadeira ardsia a apagar indenidamente o desenhado, a pa-
leta electrnica religa o olho, a mo (doravante simples acessrio do sistema),
a inteno artstica e os componentes numricos prprogramados do sistema
infogrco. Numerosos so os artistas que trabalharam esta subtil associa-
o aparentemente muito heterclita, uma nova fonte de liberdade criativa. A
antiga paleta qumica era muito lenta, inerte, porque lhe era impossvel de
prvisualizar rpida e globalmente os efeitos estticos de uma obra.
7.6 A Previsibilidade dos Actos
esta possibilidade de pr-visualizao muito espontnea que faz a fora da
imagem digital com as suas novas logsticas. A noo de esboo adquire uma
grande importncia: todos os esboos sucessivos, obtidos espontaneamente
pelo gesto opto-electrnico detm um valor exploratrio com repercusses
estticas sobre a obra que est sempre a ser acabada, na qual tudo experi-
mentalmente vericado, numa direco de ensaios sucessivos de criao de
formas indenidamente modicadas. A transformao prima sobre o acaba-
mento, sobre este que tradicionalmente considerado como uma vedao es-
ttica, por exemplo o quadro emoldurado e exposto. A imagem digital permite
uma experimentao paciente mas relativamente rpida, reage-se no instante
para retocar, para intervir quase de forma cirrgica com o equipamento, cons-
tantemente, para redesenhar, at por metamorfose. As logsticas infogrcas
jogam o papel de geradores de ideias muito mais que os seus assistentes; os
artistas. Os artistas prestam-lhes assessoria.
7.7 Amplitudes
O criador de imagens levado a pensar muito espontaneamente a sua obra
como um trabalho exploratrio e experimental. A sua inspirao esttica est
mais livre, mas tambm a prtica muito mais liberal. O infograsta tem as
mos muito mais livres que o pintor ou desenhador da pena, na medida em que
explora as possibilidades tecnolgicas facilitadas. As logsticas integradas,
o rato de computador e a caneta ptica permitem gestos ousados, o mesmo
no se poderia fazer com pincis e com pigmentos que so quimicamente
livres. Tudo est feito para uma utilizao fcil e imediata e esta vaga tecno-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 149
esttica psmoderna susceptvel de reforar o potencial sensvel, mas sempre
controlando as possibilidades artsticas, circunscritas s faculdades do sistema
digital.
Com as mos mais livres, h uma libertao maior do esprito criativo.
Esta libertao foi saudada por inmeros artistas dos mtodos artesanais tra-
dicionais, que apreciaram o valor positivo e vivicante, do esboo indenida-
mente metamorfoseado. Hoje h sobretudo a possibilidade e a disponibilidade
para revises posteriores, pois as imagens so conservadas se forem digitali-
zadas para computador. A partir de um stock em memria electrnica, mi-
lhares de fotograas digitalizadas podem ser vistas e revistas, alteradas e re-
organizadas. Os possveis so mais valorizados, num dispositivo mais aberto
e compatvel.
Albert DRER, em 1512, armou que Deus era a origem desta profuso
inextinguvel de ideias artsticas, de possveis ilimitados, que preocupam a ca-
bea do artista. Ele salientava que a sua losoa da possibilidade tem origem
no tema da metafsica da preexistncia eterna das ideias. Os possveis pree-
xistem e coexistem eternamente, ao contrrio da vida humana que encontra a
sua expresso muito limitada. Ele julgava o homem limitado na sua expresso
por oposio eternidade do seu criador divino, que lhe concedera um esprito
rico e potente de expresso, ainda que limitado no tempo. O que se passa nos
sistemas tecnoartsticos da imagem digital que as ideias so limitadas pe-
las ferramentas virtuais do sistema grco, mas tambm so constantemente
injectadas e estimuladas pelos novos efeitos e pela mistura de tcnicas cada
vez mais sedutoras, donde resulta a indenibilidade das imagens criadas em
digital. Mas a potencialidade da criatividade artstica era para DRER virtu-
almente innita. O homem era entendido como que acordado para dar forma
cultura e devia praticar a arte naturalmente predisposta, ele poderia agradecer
a Deus o que este lhe havia concedido. O homem podia desenhar e executar
todos os dias novas guras humanas ou quaisquer outras criaturas que nunca
vira ou pensara existir.
7.8 O Momento da Revelao
Transparece com facilidade que a imagem digital, a imagem espontnea, mas
indenidamente recticvel e altervel por inforgraa, reverte o mito retr-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
150 Herlander Elias
grado das possibilidades artsticas, como as ideias anteriores experimentao
concreta. O possvel no est mais situado atrs da experimentao concreta,
est frente deste. de um possvel construtivo que se trata e no de um pos-
svel idealmente performativo. A paleta electrnica situa-se entre o artista e
os testes, permitindo-lhe uma conscincia progressiva das suas revises, tanto
como das suas capacidades tcnicas de expresso. Ela , em suma, uma re-
veladora de imaginrio porque permite ensaios e apagamentos sucessivos do
gesto, alm da anlise psicolgica maior da inforgraa consistir na consci-
ncia do objecto artstico como algo emergente, rpido, fugitivo e precrio.
Funciona como uma espcie de revelador das ideias artsticas tal como elas se
do nas velozes sinapses que o nosso crebro realiza.
Do mesmo modo que a revelao fotoqumica da imagem latente de um
lme produz uma imagem mais ou menos detalhada e com gradaes, con-
forme a qualidade e tempo de banho de revelao, a revelao inforgrca
espontnea cria imaginrios, tornados objectivos no ecr-vdeo. A grande
questo que no existe propriamente, nem se pode falar em, imagem nal
ou acabada; todas as imagens no so mais que etapas do longo processo de
modicao e mutao completa ou parcial da memria numrica da imagem,
imediatamente anterior quela que se reestrutura mediante o novo gesto arts-
tico.
7.9 A Pseudo-Matria
Mas muito mais que no caso da paleta qumica tradicional, a impresso de
facilidade e de rapidez nas alteraes dos efeitos estilsticos no testemunha
supercialidade esttica. Nos dois casos h um trabalho experimental, mais
complicado no caso da matria inforgrca, nas suas morfologias visuais, in-
dependentemente da tcnica aplicada no gesto grco. Mas a matria infor-
grca uma pseudo-matria porque no apresenta a inrcia dos materiais
qumicos, nem a dos instrumentos artesanais que aplicam esses materiais. Nos
suportes electromagnticos o tratamento digital das imagens autonomiza-se e
separa-se das reaces qumicas do papel foto-sensvel e dos qumicos xado-
res e reveladores para ganhar outro tipo de consistncia, numa realidade poli-
morfa, potencialmente quase innita. As imagens e os motifs, os assuntos,
os temas entram numa reciclagem esttica permanente que permite em suma
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 151
um tratamento ulterior por recombinao. So os sistemas inforvideogrcos
que primam pela ciso com os objectos fsicos, nos primeiros as imagens so
feitas de energia modulada e codicada em linguagem digital, no tendo nada
de obra esculpida num material, no sentido clssico de actividade artstica. A
pseudo-matria mais plasticizada at na medida em que no deixa lixo. Toda
ela protesicamente limpa.
7.10 Atelier e Laboratrio em Fuso
Quer se fale de material tradicional ou de sistemas de tratamento de infor-
mao digital, o "gesto criador", a criatividade, procura-se atravs das possi-
bilidades tcnicas. O sentido desses possveis o horizonte da Tcnica que
permite uma conscincia crtica permanente e uma dinmica morfolgica que
impossibilita que a obra entre em gestao. As eidos (as ideias) progridem
em concordncia com a tecnologia, levando a inteno esttica a irromper
num quadro de criao onde se pode entrar e sair dos seus contornos. Logo,
tudo depender dos recursos e no s das ideias, mas sobretudo dos recursos
tcnicos de um medium de expresso plstico que no deve ser considerado
como um dce, mas como uma nova fonte de criatividade.
O desenho publicitrio foi muito beneciado, conseguindo grandes imi-
taes e usurpaes do grasmo clssico, trazendo-se baila novos efeitos
de estilo com uma possibilidade de expresso neo-retro, relativamente ou-
sada: um modernismo de expresso grca clssica, em qualquer dos casos.
Os aperfeioamentos ulteriores permitidos, em qualidade cromtica, j repre-
sentam um realismo visual de aspecto muito pictural e fotogrco. O casa-
mento do realismo visual com essa abstraco geomtrico-cromtica
8
igual-
mente presente como um dos potenciais deste novo esprito esttico baseado
em fuses, simbioses, morfologias e em propriedades combinatrias, facili-
tadas pela paleta electrnica. Paleta, essa, que permite uma vasta gama de
prticas heterogneas, desposadas de unidade e coeso, de conceitos de uma
ideia monoltica da arte, cujo estatuto se deniria pela coerncia do estilo e do
repertrio histrico, denido pelas suas regras e academismos.
A arte electrnica abre as possibilidades de combinao de gneros, es-
tilos, tal como na arte "tradicional", os cubistas, os dadastas e os artistas
8
Tratamento de imagens em cores simuladas, irrealistas, e esquematismo das formas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
152 Herlander Elias
da Pop Art tambm revelaram uma "combine-painting"
9
, mostrando que
a obra tambm parte de formatos diversos e associaes plsticas variadas,
e que pode ser concebida em ocinas ou laboratrios (tendncia actual). A
particularidade da paleta inforgrca reside nos estilos morfogrcos e nas
formas gurativas, abstractas ou hbridas. At porque a memorizao digi-
tal das informaes icnicas autoriza a recomposio contnua das imagens,
sempre trabalhadas como que numa espcie de tela virtual, onde o criador se
compromete entre as possibilidades fsicas da mquina e os possveis ideali-
zados a realizar, que acabam tambm por ser includos no sistema informativo
e donde a interface homem-mquina acaba por ter um papel primordial.
7.11 O Constante Videogrco
A arte das imagens passa pelo plano da "coisa mental, termo de Leonardo da
VINCI que signica que h toda uma imprevisibilidade por de trs, por mais
previsvel que seja o sistema tcnico. claro que no necessrio programar
para criar, a prova est no reforo da pesquisa, realizada custa da reciclagem
imediata das informaes sintetizadas em tempo real. A imagem digital deixa
de ser uma arte do instante, tal como era a fotograa, para se tomar numa arte
do constante, eu acho que predomina essencialmente um constante videogr-
co, pois a imagem digital pode sempre adquirir movimento. Em acrscimo a
imagem digital, raramente uma imagem terminal, porque nunca palpvel
ou impressa; acabando por cair num poo de inspiraes momentneas, em
que cada frame nunca se livra da sua mediao provisria, permanecendo
sob a forma numrica digital. S desta forma o registo permite uma repre-
sentao de formas manipulveis, porque se estende o espao pictural e se
suspende o tempo pictural.
A imagem inacabada, constante, constitui-se na videograa porque os
sistemas digitais permitem e exploram o apoderamento das formas. Assim,
controla-se as formas tradicionais para se efectuar uma sntese graas aos pro-
cessos de digitalizao. Existe uma constante anlise das formas, que se im-
planta enquanto metamorfose constante. A imagem digital instaura uma est-
9
O mesmo que a juno de desenho, pintura, fotograa, fotocpia e serigraa, por exemplo.
A Combine-painting pretendia assimilar tcnicas de reproduo que exibiam bem o desejo
de fundir imagens com transposies e combinaes.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 153
tica sistemtica com base em aparncias destitudas parcial ou totalmente de
referente. No obstante, todas as obras criadas por estes processos de manipu-
lao e alterao das imagens em dados digitais se encadeiam, pois h sempre
uma necessidade de testar novas tcnicas, efeitos e procedimentos comple-
mentares em suportes que lhes conram uma permanncia irredutvel, aquela
que o suporte tradicional autoriza.
7.12 A Reprodutibilidade da Obra Digital
A questo da permanncia e da multiplicao de obras digitais implica ques-
tionar o estilo original sobre a verdadeira entidade da obra artstica, informa-
tizada, quando o cenrio o da compatibilidade de meios e de tcnicas. "A
obra de arte na era da sua reprodutibilidade tcnica"no um tema recente,
pois sempre houve a necessidade de copiar, porque uma forma de sinteti-
zar, imortalizar e de citar os objectos artsticos, dando-se-lhes continuidade.
Continuidade, essa, que o carcter digital das snteses a partir de imagens ana-
lgicas renova. O tema clssico da "citao"pictural e grca, que certos pin-
tores contemporneos praticaram, est presente, por exemplo, em PICASSO,
que retomou certas guras de obras de VELASQUEZ (Las Meninas), de
MANET (le Djeunir Sur Lherbe) ou, entre outros, de POUSSIN (Les
Bacchanales) ou GRNEWALD (Crucicao), para as parodiar e rea-
daptar s suas obras de arte pessoais. A transformao e a reciclagem esttica
tornaram-se num motif de inovao esttica para a arte tradicional. Ora, a
imagem digital de hoje assenta essencialmente na policopia, e permite decom-
posies fceis e propositadas de imagem.
O imprevisvel nasce, literalmente, do real digitalizado e pelo aperfeio-
amento plstico da numerizao das formas. Em preto-e-branco ou a cores,
a imagem primitiva recebia metamorfoses virtuais completamente ignoradas
quando as tcnicas ainda eram rudimentares. Porm, a imagem publicitria
em concordncia com a imagem digital que permitiu a associao de obras de
arte clebres com as imagens de certos produtos comerciais. claro que este
tipo de "citao"ou transcrio artstica pode-se considerar como um desres-
peito para com os autores e a essncia das prprias obras de arte tradicionais
de paleta qumica.
Antes a tcnica era secundria na concepo da imagem digital. Hoje
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
154 Herlander Elias
os efeitos potenciais de uma tcnica superlativa esto vista nos lmes da
Hollywood Machine, cujas produes megalmanas, estendem os efeitos
da tcnica cinematogrca, com simulaes e ltros de imagem derivados das
investigaes militares terrenas e espaciais. Hoje quase que se vai ao cinema
ver apenas os FX (os efeitos especiais).
A imagem digital acaba por se reduzir na prtica aos seus efeitos; s ci-
taes (artsticas, ou no) que permite, porque perde o pouco que a fotograa
tinha de performativo e concebe num novo espao, que no o laboratrio ou
o atelier, o seu prolongamento esttico e plasticizado. Ela trabalhada em
estaes grcas, em estdios de multimdia, em Paint-Boxs. A fotograa
foi includa na mescla tecnolgica, pertence ao domnio do ciberespao, do
espao de controlo comunicacional, onde se podem fazer coisas espantosas
ou completamente execrveis.
O ciberespao da videograa, do multimdia e da fotograa, revelador
de inmeras tcnicas de tratamento de imagem, permite, no a tal perda da
aura, mas muito mais que isso, uma reaurizao devido s suas novas ca-
pacidades. A grande repercusso que as antigas citaes artsticas, devido
falta de tecnologia mais exvel e manipulvel, tinham que se reduzir cons-
truo de obras, que eram, ainda assim, originais, porque nunca eram cpias
is. O que se passa actualmente que s h cpias de cpias, tudo so re-
presentaes de representaes e imagens dentro de imagens ou labirintos de
espelhos. Uma verdadeira mise en abme. Volta-se sempre questo losca
e deleuziana da representao. S que no se trata apenas de um problema da
representao, mas da exibilidade de uma tecnologia.
No entanto, esta tecnologia j no mecnica, mas digital, simulacral,
e permite novas criaes e efeitos, que a antiga produo de originais ou os
antigos meios inexveis de reprodutibilidade no permitiam, s que agora a
obra de arte deixa de remeter para o mundo. So apenas sombras da caverna
de PLATO, dominadas por um crime perfeito, que aniquila a realidade
nos seus espelhos, autonomizando o reexo da realidade nos seus espelhos,
que passam a ter mais valor de real que o real. A digitalizao de imagens
amplica o hiper-real, o real mais real que o real, porque o real em si caiu no
tdio, na monotonia e na essncia bruta, j desposada da capacidade ldica
das representaes, que esto cada vez mais reais. O real crime perfeito
aquele que consiste em liquidar a realidade substituindo-lhe mecanismos
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 155
incontrolveis de gerao de imagens que se multiplicam num movimento
incessante e irreparvel.
semelhana do mapa que representa um territrio, embora j o supere e
o transcenda, ao ponto de se efectivar como sendo o territrio de facto, o digi-
tal impregna tudo. Despoletou-se um processo voraz, e, segundo BENJAMIN,
"o aspecto da realidade, isento de aparelhagem, adquiriu o seu aspecto arti-
cial, e a viso na realidade imediata tornou-se no miostis da tcnica"(1992).
No h outra forma possvel, uma vez que o digital remete para um espectador
descomprometido e para novas tendncias de culto, no sentido em que passa
a ser a tcnica a reunir as pessoas, sendo o articial a tecnologia mediadora.
A inforgraa, o domnio da imagem digital, torna muitas imagens aces-
sveis mas confunde a identicao das mesmas, dada a velocidade com que
produz originais sempre actualizados. Exemplo disto so as campanhas de
publicidade que ritualizam os seus caracteres e guras para causar associa-
es imediatas. A tendncia que o domnio da imagem se dinamize e se
resuma a imagens copiveis, memorizveis e reconhecveis com facilidade.
Em suma, reduzindo-se a simulacros, representaes de representaes, ou,
como refere Nicholas NEGROPONTE: bits sobre bits. Tudo custa de
grandes quantidades de memria e de velozes co-processadores matemticos
que conseguem calcular e produzir imagens de qualidade anloga s melhores
emulses fotoqumicas utilizadas em fotograa e cinematograa, mesmo que
compliquem um sistema que subsiste pela compatibilidade tecnolgica.
Toda esta cultura tecnolgica, e tecno-esttica sobretudo, revela-se em
esquadria, uma cultura de mosaico, maneira de McLUHAN, ou em redil,
maneira de NEGROPONTE, como se o conhecimento se disponibilizasse por
caixas nossa inteira disposio. o caso dos programas de imagem digital
nos quais as imagens so tratadas no mesmo ecr-videogrco, funcionando
tudo por janelas, tal qual funciona o nosso sistema cognitivo, permitindo uma
srie de anlises em discursos semelhantes, concomitantes, mas separados e
optimizados.
7.13 O Ps-Espectacular
A acelerao tecnolgica das coisas conduz tal dissoluo das formas. No
h j o retorno, esse eterno retorno. A dialtica comeu-se a si prpria. A
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
156 Herlander Elias
Tcnica da manipulao de imagem reecte tudo isto, permite um potencial
que encerra o tempo cronolgico, tempo natural. Passmos a olhar a imagem
como se fssemos peritos. A peritagem torna-se uma imanncia nesta poca
do tecnolgico e ps-espectacular.
Chega-se quase ao ponto de as Ideias, as eidos, corresponderem rea-
lidade que perfeita, porque somos todos tcnicos, todos peritos, mas peritos
articiais que apenas produzem simulacros sem referencial. A nica coisa que
ca de original o aqui e agora, que sempre desconstrudo, destitudo para
dar lugar a novos objectos de constituio; a novos constitudos. A dialtica
ressurge para se anular a ela prpria como condio que lhe imanente. Deixa
de existir aparentemente a mediao do objecto. Ele tratado de forma imedi-
ata numa velocidade que parece no haver mediao. A mquina tecnolgica
pensa e suplanta a nossa lgica por exteriorizaes do nosso corpo. A lgica
j no nos inerente. O objecto aparece. J feito. Reica-se a frase de Walter
BENJAMIN, (porque h um) "habitar sem vestgios". Como que um quarto
burgus, onde no h esprito plasmado, apenas simulacros que no remetem
para nada.
Como diz Gianni VATTIMO, esta uma cultura do vidro, de uma so-
ciedade transparente. Apenas ca a Tcnica por revelar. Ela nova star
do system. Os novos reveladores de imaginrio mostram tudo. So casas
transparentes. No h vida escondida, porque no h vida, s h objectos exi-
bidos. Eles no habitam e coisicam a inexistncia de vestgios de vida,
ao ponto de ganharem uma vida maqunica prpria. As imagens criaram o
seu prprio reino. Est-se no espao do viajante, que um espao que no se
xa, um espao de ningum. Uma no mans land, aumentada num espao
innito, de circulao interminvel. Surge algo novo: uma gnese aleatria.
Experimenta-se, explora-se e combinam-se imagens de forma experimental,
porque agora, mais do que nunca, tudo regressa arte do acaso. O acaso
reina no seio da determinao lgico-matemtica.
Pode-se dizer tambm que devido necessidade de maravilhoso como
condio humana, devido ao complexo de Cristo, a tcnica consagra-nos como
deuses, estamos a criar ummundo onde se institui a cultura perfeita, aquela em
que a realidade e as ideias se fundem. Cria-se um espao tcnico, um Cy-
berspace, a partir do qual somos omnipotentes, sempre contactveis, logo
omnipresentes. A inforvideograa e seus apetrechos vem permitir uma con-
dio artstica em torno do constante videogrco, cuja funo das imagens
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 157
ocupar um espao. Reica-se um espao grco, onde a arte pura j no
do foro implasmvel, nem do improvvel, mas do constantemente plasmado e
provado pelos dispositivos tecnolgicos. A obra de arte j se politizou. Todos
a vem, todos a podem fazer, todos a conhecem. um pouco o que William
GIBSON congura em Idoru, uma obra que retrata uma sociedade futurista
em que todos podem ser estrelas. Todos so heris porque a esteticizao
geral, e a plasticidade, que o real obtm da tecnologia de informao permite-
lhe no apenas um espao prprio, mas tambm deicar-nos a ns mesmos
como imagens. Nesta obra de co cientca o star system generalizou-
se. Deus era uma palavra, mas a Tcnica passa a ser a nova me
10
. Assim
sendo, o homem consubstancia-se enquanto acessrio da Tcnica. H algo de
ORWELL nesta tecno-poltica das sociedades, ditas "avanadas", onde o con-
trolo poltico mediante a tcnica traz novos objectos de produo, mas sob a
sua alada, ou passa-se para o campo do inexistente, pois existe a ideia de que
s o que aparece que existe. medida que o tempo passa o real ca impo-
tentemente retido, apenas interessando para aplicarem-se-lhe efeitos grcos.
O objectivo plasticiz-lo como imagem, como quem mumica um ser vivo.
Por consequncia, parece que nunca se escapa dimenso de prottipo da
imagem. Ela realiza-se sem se plasmar, extinguindo, em parte, a aristocracia
artstica.
10
Ponto de vista de investigadoras femininas, como Sadie PLANT (investigadora de Ciber-
cultura em Warwick, escritora da corrente cyberpunk e defensora do feminismo tecnolgico
) ou Donna HARRAWAY. Ambas julgam que o sexo feminino que detm o modelo da tec-
nologia de produo e de re-produo. Para elas a Tcnica feminista e geradora de coisas, ao
passo que a masculinidade se pode conotar com a destruio das formas em si.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 8
Alter Machina: A Mquina das Alteridades
1
A Construo do Sujeito e os Constructos de
Inteligncia articial
Os primeiros exploradores da Terra atingiram os limites da
carne e do sangue; logo as suas mquinas mostraramser melhores
que os seus corpos, comearam a mudar-se. Primeiro os crebros,
e depois apenas os pensamentos, foram transferidos para novos e
brilhantes invlucros de metal e de plstico.
E, com eles, passearam entre as estrelas. J no construam
naves espaciais. Eles eram naves espaciais.
Mas a Idade das Mquinas-entidades passou num pice. Ex-
perimentando incessante-mente, aprenderam a armazenar conhe-
cimentos na estrutura do prprio espao, e a preservar eterna-
mente os seus pensamentos emgeladas grade de luz. Podia tornar-
se criaturas de radiao, nalmente libertas da tirania da matria
(C.CLARKE, 1982: p.169).
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Alteridades do Mestrado de Cincias da Comuni-
cao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Faculdade de Cincias
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
159
i
i
i
i
i
i
i
i
160 Herlander Elias
8.1 A Construo do Sujeito
O inconsciente no diz nada, maquina
(DELEUZE & GUATTARI, s.d.: p.186).
O sujeito constitudo por um Eu, um Eu que se constitui com a expe-
rincia do prprio sujeito. O Eu caracteriza o sujeito, a sua totalidade, a
soma das suas caractersticas mais individuais. O sujeito prima sempre por
ser dotado de individualidade, por ter conscincia prpria, por construir uma
identidade, um Ego pessoal. O sujeito constri o seu Eu, a sua imagem de
si prprio, a sua imago, a sua identidade, sempre em confronto com o Outro,
com a alteridade.
Sigmund FREUD dividia o sujeito em Eu (ID), o Ego e o Alter Ego. Para
FREUD a subjectividade do sujeito, aquilo que dene o sujeito, era um jogo
de oscilao entre os plos consciente e inconsciente. A subjectividade era
dividida entre estados de conscincia e de inconscincia. luz da teoria da
subjectividade de FREUD, o ID representa o processo de pensamento mais
primitivo e instintivo do sujeito, bem como os impulsos de teor sexual. O Ego
seria a parte do sujeito que media a relao do Eu (ID) com o mundo exterior,
a parte que lida com as limitaes do real. Por ltimo o Alter Ego seria o
Outro Eu, uma segunda personalidade ou uma personalidade tambm ela
contida no sujeito alm do primeiro Eu.
J LACAN dene o sujeito como uma criao dos usos que este faz da
linguagem, que o sujeito um subproduto da estruturalidade da linguagem.
Muito contrariamente a FREUD, LACAN considera que o Eu constitudo
no Outro, na Alteridade, que algo do foro do exterior ao sujeito. Ou seja,
LACAN defende que a alteridade potencial para a criao de identidade, do
Eu do sujeito.
Pessoalmente julgo que tanto o milieu exterior como o interior so fulcrais
na construo do sujeito, pois inuenciam a sua construo da linguagem, que
por m molda tambm a forma como o sujeito lida com o mundo e se refere
a este. O importante ser no somente o Eu, nem s o Outro, mas sobretudo
como se jogam as foras de ambos os plos, como interagem. essa a teo-
ria de Gilles DELEUZE e Flix GUATTARI, quando constrem a teoria do
CSO (Corpo Sem rgos) nos dois volumes de Capitalism & Schizophre-
nia. Alis esta dupla de crticos criticou fortemente a psicanlise e defendia
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 161
que o importante no era teorizar sobre as essncias ou as identidades; para
eles o importante era as sobreposies, as ligaes e as interfaces que o Eu
tem de enfrentar.
Em A Thousand Plateaus, DELEUZE e GUATTARI revelam que o im-
portante a exterioridade. E nessa exterioridade, nesse caminho para a
alteridade, nesse espao aberto, que tudo se d na experincia do sujeito. E
de facto, a herana que DESCARTES nos deixou aponta precisamente para
um EU que o ponto de partida autosuciente para conhecer o mundo e para
o tentar teorizar, duvidando de tudo. Em DESCARTES a premissa de que o
EU que pensa, logo, existe, revela assim que o pensamento, a consci-
ncia do sujeito, que suportam todas as anlises do mundo exterior em ltima
instncia. Quando DESCARTES arma que vai partir descoberta do mundo,
e que ir ler esse grande livro que o mundo, o que est em causa que DES-
CARTES, enquanto sujeito, precisa de viajar, de travar conhecimento com
esse mundo de alteridade; a m de construir o seu quadro de experincias ful-
cral para formular juzos. A experincia seria assim construda no exterior,
aberta mudana, inconsistncia e contradio. O sujeito era denido por
algo exterior a si mesmo.
Em LACAN, a teoria de que h um estado de espelho-imagem na vida
do sujeito, quando este criana, tambm avana a hiptese de que muita da
imagem que vem de fora de facto assimilada e / ou confundida com a do
prprio Eu. O estado do espelho-imagem de LACAN sugere que a projec-
o de uma imagem mental no EU possa se confrontar com a projeco da
imagem do Outro. Mas no estado de espelho-imagem a criana enganada
pelo reexo. O que est ver no o seu EU, mas a projeco do seu corpo
numa superfcie espelhada. O que est em causa neste teorema de LACAN
que a identidade muito modelada pela exterioridade. E portanto o confronto
com imagens do Outro, imagens de fora, pode ser interessante, arrepiante ou
indiferente, porm esse confronto crucial. nesse confronto que tudo se
joga. Isto , no tanto na essncia, mas na interaco, na interface. O que se
torna importante no tanto a identidade, mas mais a conectividade do corpo
do sujeito, a plasticidade das suas aces, a sua versatilidade, as operaes, os
seus agenciamentos. E isto porque de facto na mobilidade, no movimento,
que acontece algo de diferente que no acontece na imobilidade.
certo que o sujeito constri por si mesmo toda uma imago, uma imagem
de si, uma identidade, mas as conguraes que essa construo adquire so
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
162 Herlander Elias
mutantes. No h sujeito sempre igual, nem circunstncias repetveis. Pois
o mundo que DESCARTES se props a ler como um livro, um mundo em
constante renovao, e isso tem implicaes no sujeito, um sujeito que ins-
tvel e que sonha a sua construo mais articial. Alis, DESCARTES was
perhaps the rst to worry about virtual reality, as he sat musing in front of the
re, wondering if the hand before him was his hand, and if he himself were
not perhaps a virtual construct, a gment of someone elses dream (FLIE-
GER, s.d.). DESCARTES, no s deixou como herana a economia da dvida
e a grelha cartesiana que estrutura o espao matemtico do virtual, como se
questionou acerca da sua prpria virtualidade.
A virtualidade tanto diz respeito ao interior como ao exterior do sujeito. E
numa experincia moderna cada vez mais assombrada pela tcnica, a Outrici-
dade cada vez mais mediada tecnologicamente. Reica-se uma introjeco
do Outro no Eu, o Outro cada vez mais assimilado, sabido que o nosso Ego
anterior experincia do outro Ego, o Alter Ego. Contudo, h uma tecno-
logia de comunicao que tem impacto no sujeito, que est entre o nosso Ego
e o Outro. As identidades tornam-se mutveis muito antes de haver sujeitos
virtuais, constructos
2
de computador, personalidades cibernticas. O nosso
Eu dispersa-se pelo ciberespao das comunicaes, dos media. E a forma de
construir algo a partir de fragmentos encontra reunio no espao que tudo di-
gitaliza e tudo permeia. Por isso, assumir outras identidades no ciberespao
um acto inevitvel e inconsciente ao qual os sujeitos utilizadores no podem
escapar.
H simplesmente um Eu fragmentado, a sua identidade revela-se cada vez
mais como uma construo heterclita, revelando-se como algo pouco coeso,
como um n, um ponto de conuncia de caractersticas, um ponto nodal
(GIBSON, 1998); um ponto de interseco como os das redes de informao.
Assim assumem-se personalidades cada vez mais exveis, estabelecem-se
links de identidade, associam-se factores. A razo de o sujeito contempo-
rneo se dar ao mundo como um sujeito enigmtico advm precisamente por
se perder na subjectividade esta a sua condio. A questo que a sua
subjectividade, a sua identidade, sofrem interferncias dos media quando es-
tes visam construir e modelar as identidades, propondo em formatos diversos
2
N.A.: Constructo advm de uma construo; o que se edica com base em partes, o
resultado de uma montagem, um arranjo sistemtico que culmina numa entidade articial.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 163
identidades articiais, pacotes de estilos de vida, algo que incide no sujeito e
lhe retira todo o mistrio. H assimumexcesso de identidades virtuais propos-
tas e que de certa forma antecipa a disseminao de identidades inteiramente
virtuais, o empreendimento dos constructos de IA
3
.
Com a IA est implcita a tentativa de criar e legitimar a tal identidade
virtual de facto, que j no remeteria para um Eu articializado, para um su-
jeito alvo de sugestes, mas que seria desde logo o empreendimento de um
constructo, de uma personalidade virtual construda de raiz na ntegra. No
deixar de ser curioso que os constructos de IA seriam tambm propensos
a sofrer processos de integrao-desintegrao, como o Eu humano. Mas
nossa semelhana, nos constructos haver sempre um resto de integridade que
permanece apesar de a sua identidade virtual se construir nas conguraes
mltiplas que a compem. Pois quer se trate da construo do sujeito hu-
mano, quer se trate de um constructo, indubitvel que identidade sem al-
teridade no existe e que identidade sem intersubjectividade tambm no.
no jogo de relaes que a identidade se solidica e se lubrica. Identidades
estticas so identidades mortas, mesmo no ciberespao.
Uma questo central em torno da problemtica dos constructos a de que
os constructos no nascem, e logo no esto em vias de passar pelo tal estado
do espelho-imagemde que fala LACAN. OEu-mquina nunca nasce, ligado,
nunca morre, mas pode ser desligado, propositadamente ou no. Alm do
mais como pode um Eu articial, um Eu-mquina, ter identidade sem corpo?
Tratar-se-ia apenas de um Eu-memria. Um EU que no procuraria entender
o que logo nos primeiros anos de vida, porque o Eu-mquina s aparece e
funciona. E toda a desmaterializao da mente humana levada a cabo pelo
constructo implica um trauma original, a ausncia de corpo, por isso o Eu-
mquina j aparece castrado, um sujeito virtual barrado, um Eu menor.
Como pode um constructo aperfeioar a sua identidade se no se pode es-
pelhar na alteridade? impossvel lidar com outros sujeitos humanos nesta
equao. A mquina nasce j com um Eu falso, o constructo aparece logo
como imagem, como simulao do humano, o seu Eu j est perdido. S uma
sociedade de constructos permitiria um confronto social til para a tenso en-
3
N.A.: IA o acrnimo de Inteligncia Articial. A Inteligncia Articial consiste na
habilidade ou capacidade que um computador (ou qualquer outro dispositivo de cmputo) tem
em desempenhar determinadas actividades que normalmente requereriam inteligncia humana
para serem levadas a cabo.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
164 Herlander Elias
tre identidade-alteridade. Mas o problema que estes constructos so apenas
programa, dados, mente virtualizada, pensamento binrio hiper-rpido. Ape-
nas bits. Mas h quem diga que o nosso inconsciente (...) no quer dizer
nada, porque as mquinas no querem dizer nada, contentam-se em funcio-
narem (...) (FURTOS & ROUSSILON in AAVV 1, s.d.: p.64). Contudo,
se tivermos em conta a ideia de LACAN de que, nos humanos, o sujeito nos
primeiros anos de vida busca entender o que , e acaba por se espelhar nos
outros (o estado espelho-imagem), sabemos tambm que essa uma imagem
falsa, pois ele s v uma cpia dos outros, e no o seu "Eu". Ento o sujeito
acaba por perder esse Eu, que inato e no socialmente constitudo. Ora,
no Eu-mquina passa-se o oposto, o constructo s conhece o seu Eu-inato,
o seu Eu desde que fora ligado, iniciado. Se no humano, o sujeito aps o
estado do espelho-imagem encontra-se numa fase em que a estrutura do Eu
inatingvel, na mquina de IA, tudo aquilo a que o constructo tem acesso
to-somente a estrutura, dado que fora criado com base em ideias (demasiado)
claras e distintas.
De acordo com LACAN, o sujeito (humano) vive no plano da fala, onde
o contedo inatingvel (plano do simblico); as imagens (falsas) que temos
sobre ns e os outros so do plano do imaginrio, e o Plano do Real ina-
tingvel (estrutura). Na minha perspectiva, relativamente ao constructo de IA,
este tambm s funciona no plano de uma linguagem-mquina com interfa-
ces de dilogo para interagir connosco. Inclusiv a sua estrutura inatingvel,
ininteligvel para o sujeito humano, mas h um plano tcnico entre o que o
constructo de IA e o que ele faz. O que permite que nos dirijamos a si como
se fosse um ente, ele ou ela, algum, quando na verdade se trata de
uma coisa, uma simulao aprimorada. Mesmo se chegssemos a conhecer o
cerne de uma dada estrutura do constructo, s conheceramos a forma dessa, e
nunca o contedo. Zeros e uns para ns nada querem dizer, so o equivalente
maqunico das sinapses.
Ao introduzir a questo do desejo que tinha sido escamoteada por FREUD,
LACAN elege o desejo como gura clnica principal. O desejo como preen-
chimento de umvazio estrutural super importante para entender a construo
da identidade no sujeito humano. O vazio passvel de sucessivos e intermi-
nveis preenchimentos, sendo esta a questo fulcral da permanente crise do
ser humano. Quanto ao constructo, este aparece desde logo a partir de um va-
zio, do nada que a mquina surge e se estrutura, embora seja construda pelo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 165
homem e esteja designada para o simular. Existe um cenrio de pshumani-
dade no qual se identica um Eu leve, desmaterializado, um Eu-uxo, que no
nem matria nem espcie. Aps o humano, a mquina dene-se e adquire
contornos outros; o constructo deixa o humano no vazio deriva no espao,
longe da nave-me; um pouco como acontece em 2001:Odisseia no Espao
(de C.CLARKE) quando o constructo HAL mata o astronauta evacuando-o
forosamente para fora da escotilha da nave. Est-se sem dvida no domnio
do ex-orbitante de que fala DERRIDA. O humano est posto de parte, est
fora de rbita.
Na mquina existe uma rigorosa geometria do desejo, na mquina que
pensa criada a partir do nosso pensamento como mquina. Adentro ao dom-
nio do constructo racionalista contempla-se uma conscincia que se desdobra,
uma conscincia descarnada, que abdica da carne para se armar sozinha. Mas
mesmo os ciberpunks j apreciavam esse tipo de projeco da mente no es-
pao da mquina; no ciberespao. Em Neuromante, William GIBSON refere
mesmo que Case, o hacker protagonista, projectava a conscincia descarnada
na alucinao consensual da matriz (1988: p.14). certo que o espao da
mquina nos reserva uma viagem ao interior da inquietude, ao mundo fur-
tivo da mquina racional descarnada, como Stanley KUBRICK demonstra na
alucinante sequncia da nal viagem estelar em 2001: Odisseia no Espao.
8.2 Identidade, Mscara e Mutao
A comunicao um facto tensional porque a sua questo
sempre o outro. O outro sempre inquietante, sempre o mais
inquietante (MARCOS, 2000: p.444).
Ao analisarmos os constructos de IA vericamos que so programas, ba-
ses de dados complexas e interactivas, capazes de improvisar em tempo-real,
dotadas de uma linguagem discursiva, que tanto lhes permite dialogar como
escrever. No entanto, actualmente na fase de escrita que os constructos es-
to mais desenvolvidos, e onde esto mais simplicados, sendo capazes de
aprender em relao dialgica com as respostas do humano. S que preciso
sublinhar que apesar de os constructos estarem providos de uma identidade
que lhes foi implantada, pr-embutida, e que portanto virtual, esta sempre
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
166 Herlander Elias
entendida como sendo inumana. A questo que at os humanos desenvol-
vem identidades virtuais, nomeadamente no ciberespao, que o espao da
virtualidade per se. Diz Vincent DESCOMBES que: toute identit est si-
mule (1979: p.213), e na verdade a identidade sempre uma simulao,
porque o ser anterior identidade, porque antes da identidade se construir
o ser j era legtimo. O ser a base da construo do sujeito, e no vir-
tual a identidade como simulao tem o seu espao de deslize puro, porque se
desenvolve num espao sem ser, inumano.
interessante como esse espao da mquina est inexoravelmente agre-
gado ao simulacro, e de facto um espao simulacral, propcio para as ms-
caras, da que para Sherry TURKLE as mscaras sejam a gramtica do ci-
berespao. Entender a linguagem que se usa no ciberespao entender as
mscaras, porque no s nada o que parece no ciberespao, como por outro
lado nada se encontra mesmo onde se mostra, h uma estrutura labirntica que
o ciberespao explora e que no tem xao certa. Tal como diz DELEUZE
em relao ao simulacro (...) atrs de cada mscara, aparece outra ainda... A
simulao assim compreendida no separvel do eterno retorno (...) (1974:
p.269). Por outras palavras, o espao da simulao um espao onde a simu-
lao no tem m, a mscara que se sucede innitamente a outra mscara
uma mise en abme. Identica-se um encaixe de mscaras e isso que o cibe-
respao favorece; o ambiente da simulao, do sujeito simulado, seja humano
ou mquina. Mas note-se que o constructo de IA encontra no ciberespao o
seu espao nativo, e porqu? Porque o constructo no pretende isolar-se, e o
ciberespao de hoje uma rede, uma matrix cativante.
O ciberespao dissolve quer a identidade do colectivo, quer a do indiv-
duo. a gramtica ciberntica que se dissemina ao ponto de se desejar le-
gislar sobre todo esse resplandecer de simulacros, prescreve-lhes uma forma,
carrega-os com uma identidade. Uma vez dotados de identidade, os simula-
crais constructos devem anunciar a sua articialidade, por estarem num nvel
evoluo que no permite que os humanos os identiquem claramente. Tal
como a personagem Wintermute em Neuromante, ou os andrides replicantes
em Blade Runner
4
, h um sujeito que se identica com uma imagem, mas a
imagem tambm se identica com o sujeito. O humano identica-se com ima-
4
Diz Tyrell, neste lme: Commerce, is our goal here at Tyrell. More human than human
is our motto.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 167
gens, simulacros, mas estes tambm se identicam com o humano, na medida
em que pretendem assumir uma autenticidade que no lhes foi concedida. Os
constructos revelam todo um esforo moderno em resolver o que ainda no
assentou, o que est in-seguro, o simulacral. Na tentativa de resolver o que
no assentou, os constructos so construdos associados a bases de dados. A
forma ideal de os reter e controlar precisamente x-los em coleces de
contedos, um pouco como acontece com a relao entre as fotograas (en-
quanto espao de xao de memrias) e os andrides replicantes de Blade
Runner.
Se pretendermos pensar a ontologia do constructo h duas coisas s quais
no nos podemos furtar; o constructo dispe sempre de nome prprio e est
dotado de uma autonomia que lhe permite simular a identidade humana. Sem
autonomia no h constructo inteligente, seno sofreria limitaes, e sem
nome prprio o constructo no tem ponto de partida para estruturar a sua iden-
tidade. Veja-se o constructo HAL (curiosamente HAL um acrnimo com-
posto por todas as letras do alfabeto situadas antes das que perfazem a sigla
IBM!) em 2001: Odisseia no Espao, este falava sempre na primeira pessoa,
em seu nome. Encontrava-se dotado de livre-arbtrio. Sem livre-arbtrio no
h autonomia.
Outras caractersticas do constructo so a sua imaterialidade, a sua plas-
ticidade. O constructo uma espcie de character, uma personagem criada
com um propsito especco para um espao ctcio, simulacral. O facto de o
constructo agir comautonomia concede-lhe liberdade, o constructo no dispe
de guio, mas de princpios que lhe so atribudos, h directivas sob as quais
se rege. O Eu do constructo tem base literria, ele consiste num programa
escrito, tem um antepassado de virtualidade, uma prhistria na virtualidade
da mscara do pseudnimo literrio.
O constructo torna-se perverso quando se separa do seu criador, no se
sabendo o que se passa na sua caixa-preta. O constructo pode jogar com
as falsas identidades, porque a sua identidade virtual est no ciberespao. E
tal como o humano quando interage no ciberespao com outras pessoas, h
tambm um propiciamento do prprio ambiente simulacral para a criao
de novas, falsas ou mltiplas identidades. O ciberespao como meio favorece
estas manifestaes. E neste ponto homem e mquina encontram a mesma
gramtica. E j LACAN salientava a virtualidade da identidade do sujeito
humano. FLIEGER aponta que LACAN has shown that human identity is
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
168 Herlander Elias
always virtual, as effect of shifting subject positions (FLIEGER, op.ult.cit.).
Digamos que a identidade resulta das vrias mudanas de posio do sujeito.
medida que o sujeito muda de posio, de opinio, de argumento, a sua
identidade constroi-se com base nessa mutao de pressupostos. Tal mutao
na identidade tpica do cyborg, tal como este surge representado na co
cientca contempornea. Donna HARAWAYS notion of the cyborg is, in
fact, an attempt to represent this mutation of identity, to gure a new, hy-
brid, and science-ctional positionality from within a techno-cultural world
or space (RUTSKY, 1999: p.19). E isto que RUTSKY arma importante,
porque o constructo, tal como o ciborgue, sempre hbrido, um sujeito fa-
bricado mas cuja autonomia perversa lhe permite mudar de posies. O facto
de lhe ser permitido mudar a perverso em si, a mscara que nunca ser a
ltima mscara. A mutao j se encontra prevista dentro da prpria moldura
da tecnologia, porque a prpria tecnologia j vista como um processo ou
uma lgica mutacional, simulacral. A tecnologia produz-se a si mesma.
No ciberespao ocorre um enfraquecimento dos limites do sujeito, no se
trata de assegurar a identidade, de a xar, mas nomeadamente de trazer inse-
gurana ao sujeito, considerando as relaes e os processos mutacionais que
o constituem. Um constructo, um sujeito pshumano, considerar a outrici-
dade, essa otherness, que existe em si mesmo. Est em causa mais uma
abertura das suas fronteiras de identidade individual ou colectiva, com efeitos
nas relaes que distinguem sujeito e objecto, Eu e Outro, Ns e Eles. Neste
sentido h por todo o lado mquinas produtoras ou desejantes, mquinas es-
quizofrnicas, toda uma vida genrica: eu e no-eu, exterior e interior, j nada
querem dizer (DELEUZE & GUATTARI, s.d.: p.8). Os limites deixaram de
ser signicantes quando as fronteiras j nada representam, dentro ou fora do
sujeito, dentro ou fora da mquina. Proliferam sistematicamente as ligaes.
8.3 Estranhas Alteridades
You know you want it
Lenny Nero in Strange Days (Kathryn BYGELOW, 1997).
Com e pelos dispositivos de virtualidade, o sujeito humano adquire cada
vez mais caractersticas do constructo da IA, o humano virtualiza-se; a sua
identidade, o contacto com a alteridade sempre mediado tecnicamente.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 169
notrio que h uma inquietante mediao que assegura um contacto estranho,
h algo de alien na alteridade mediada pela tcnica. Trata-se de uma estranha
alteridade.
No lme Strange Days, cujo argumento de James Cameron, um sistema
de escuta policial desenvolvido para agentes que trabalham disfarados possi-
bilitava que se gravasse uma experincia sensorial, audiovisual, tal como esta
ocorrera para o seu utilizador. Acontece que essa tecnologia re-utilizada
pelo submundo como forma de gravao de experincias, experincias, essas,
que poderiam ser re-experimentadas com um leitor idntico a um dispositivo
de gravao. O registo de experincias poderia ser partilhado e quem experi-
mentasse uma gravao viveria e sentiria tudo como tinha ocorrido original-
mente. O problema que as gravaes eram to viciantes que todos os que
as experimentavam cavam viciados em estar na pele do Outro. A estranha
alteridade propiciada pelo dispositivo tcnico permitia que qualquer sujeito de
repente se sentisse outro. Algures no limbo entre humano e constructo.
precisamente esta noo de estranha alteridade, de uma alteridade me-
dia, de um contacto com o Outro simulado, virtual, que transforma o sujeito.
Experincias digitais so realidade virtual pura e, no caso dos dispositivos tc-
nicos de Strange Days, tal como no cyberspace de Neuromante, h uma clara
inquietao no contacto com a alteridade. O Outro j aparece mediado. No
h outro seno mediado pela tcnica. Eis como se dissolvem as fronteiras en-
tre o Eu e o Outro. O Eu que experimenta as gravaes de experincias em
digital j to virtual como o contacto com o Outro nessas circunstncias. Eu
e Outro esto j pervertidos e contaminados pelo dispositivo tcnico de registo
de experincias. Eu e no-Eu j nada querem dizer. Eu e Outro so j virtuais,
construdos pela tcnica; constructos, enm!
Recorde-se que para PARMNIDES, o ser no pode ser disperso, no
abandonvel, reunvel ou divisvel. O que , . Ora na estranha alteridade
providenciada pelo dispositivo tcnico de Strange Days o ser encontra-se dis-
perso, como os constructos de IA no ciberespao, como a entidade Neuro-
mante do romance homnimo de GIBSON. Em PARMNIDES o caminho
do ser completo, indestrutvel, ingnito, auto-suciente, sem princpio nem
m. Mas o sujeito ciberntico, o constructo tambm pretende se situar nessa
auto-sucincia e nessa medialidade. Alis, o constructo praticamente uma
medialidade, um processo, programa, mas sonha com um eterno retorno de
mscaras, no se pode furtar sua condio simulacral de se mascarar. Mesmo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
170 Herlander Elias
em Strange Days, o dispositivo tcnico vicia os sujeitos precisamente por per-
mitir mudar temporariamente de identidade, por substituir o contacto com a
alteridade para o suplantar com um registo de contacto com uma alteridade
outra.
Contudo, a procura incessante de gravaes de experincias em Strange
Days e a forma como os constructos de IA procuram atingir um todo, estar
para alm do tempo, concomitante com o que PARMNIDES refere relati-
vamente sua denio de ser. Pois para este autor grego, o que , sempre
. No foi, no temorigem, nem m. ! Por outro lado, acrescente-se que em
Strange Days h uma contradio na forma como o ser entendido. Pois ao
contrrio do que PARMNIDES argumentou, quando referiu que no h um
depois do ser. Em Strange Days -nos mostrada precisamente essa reversibi-
lidade. Ou seja, o que caracteriza toda uma estranha alteridade, uma estranha
identidade, de facto o estar depois do que foi, do que , pois s assim se
permitiria que o Eu vivesse o mesmo que o Outro. A Outricidade era intro-
jectada no Eu. Identidade e alteridade sofrem um processo de mlange. Pois
neste caso no h uma exterioridade denida ao sujeito, nem uma denida
interioridade ao Outro. O que est denido simplesmente a capacidade do
dispositivo tcnico de media, registo, permitir partilhar, viciar, algo que est
contido numa mquina; uma memria-mquina como diria LYOTARD
em O Inumano.
O sujeito em Strange Days confrontado como uma estranha alteridade,
e sofre uma confrontao idntica que o humano sofre em confronto com o
constructo de IA, e vice-versa. Tal como o constructo, o sujeito de Strange
Days vive ligado mquina, h uma mediao do Eu, do mesmo modo que
h uma mediao do Outro. Ocorre igualmente uma despersonalizao do
sujeito. Este deixa de ser pessoa estvel, a sua identidade virtual assu-
mida, nem que seja temporariamente. Assiste-se a uma exterioridade mxima
da imagem face ao sujeito. Em todo o lme est patente a ideia de o sujeito
se ver de fora. O Eu o Outro, e s s vezes se pretende voltar a trs. O su-
jeito ca retido no vcio de experimentar, de sentir, de contactar com o Outro
virtualmente, em diferido, em simulao. O sujeito ca maravilhado como o
carcter aurtico das imagens, das sensaes virtualizadas, que so indiscer-
nveis do real. As imagens so o real para o sujeito, porque so imagens-
mquina, fruto da tcnica, so constructos capazes de criar vertigem como
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 171
o espelho. Por isso tambm se pode dizer que os constructos so como que
espelhos-mquina.
Strange Days revela uma estranha tecnologia, mas sobretudo os suced-
neos de um dispositivo mnemotcnico responsvel pelas imagens se solta-
rem, serem libertadas e proliferarem com uma autonomia que pe em causa
o espao de conteno das prprias. esse o problema do constructo, a sua
virtualidade tenta ocultar o hardware, faz desaparecer o hardware, torna-se
software, anseia por uma densidade originria, por um campo de libertao
onde posso uir de forma demirgica. A ideia soltar a dinmica conituosa
da tecnologia.
Com o constructo h todo um regresso do Outro, um Outro tecnolgico
que acentua tecnicamente a assimetria entre o Eu e o Outro, mas que, parado-
xalmente, funde o Eu e o Outro. H uma radicalizao absoluta da alteridade,
o constructo dispe da conscincia da alteridade oculta. O constructo anseia
pelo Outro. O constructo o Outro tecnolgico, precisamente enquanto simu-
lacro, quando sobe superfcie e arma a sua potncia recalcada de fantasma.
Com o virtual, entramos no s na era da liquidao do Real e do Refe-
rencial, mas na do extermnio do Outro, diz Jean BAUDRILLARD (1996:
p.145). porque h algo de inquietante (uncanny) no comportamento si-
mulacral do constructo; que o constructo, por ser virtual, extermina o Outro,
porque tenta fundir tudo no seu Eu que se encontra em constante construo,
como acontece com o cyborg que est tambm em construo.
Oconstructo pretende desterritorializar-se por umlado, reterritorializando-
se por outro. O constructo elabora uma operao tcnica de alteridade por-
que no pode pensar no lugar do Outro, mas tenta extermin-lo, substitu-lo,
amput-lo. O constructo reinventa a subjectividade, tornando-se o lugar do
Outro. Ele o Outro tecnolgico, um dispositivo de travestimo, uma mscara
tcnica. O aparecimento do constructo s faz sentido, porque o homem anseia
por um Outro controlado. E por que no surgir este no espao de controlo
por excelncia: o ciberespao? Anal o homem s constri o seu simulacro
porque se encontra num estado narcsico. Paul VIRILIO refere mesmo que
man, fascinated with himself, constructs his double, his intelligent specter,
and entrusts the keeping of his knowledge to a reection (1991: p.46). Ora
esta conana de conhecimento humano ao constructo sintomtico de um
sujeito que est maravilhado consigo mesmo. A nica problemtica daqui
decorrente que esta alteridade do constructo suspeita. De facto h uma
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
172 Herlander Elias
suspeio relativamente a um mundo articialmente sobre-investido. Embora
j exista suspeio no prprio constructo, este suspeita do seu autor, dos seus
criadores, um pouco como as seis personagens procura do autor na famosa
pea de teatro de PIRANDELLO.
O constructo benecia de uma outricidade uida, um processo non-
stop, e tal como Max Headroom
5
, o famoso constructo criado para televiso, o
constructo de IA s existe atravs dos media; neste caso do ciberespao. No
h constructo fora da mquina. H constructo fora da rede, temporariamente,
mas ele foi pensado para a rede, para o oceano de informao, para o compu-
tador de todos os computadores, para a memria articial mais complexa, para
a memria das memrias. Relativamente a Headroom, a personagem de TV,
Scott BUKATMAN diz que Headroom is not mereley on television, (. . . ),
he is television (1993: p.258). Ou seja, o constructo de TV habita o espao
de televiso e torna-se televiso em si. No que diz respeito ao constructo de
IA que temos vindo a denir, pode-se perfeitamente dizer que ele no habita
somente o ciberespao em rede; o constructo de IA ciberespao em rede; o
constructo computador, uma entidade puramente meditica.
Voltando novamente a Strange Days, podemos dizer que BYGELOWcons-
tri o lme baseando-se num jogo de estranhas alteridades, esbatendo a dife-
rena entre Eu e Outro, instabilizando ambos os plos; um pouco em jeito
do que Emmanuel LVINAS defende: reduzir o Outro ao Mesmo. A reali-
zadora cria uma realidade onde as imagens mentais e as tcnicas se fundem,
tocam, separam e hibridizam, atroando os sujeitos que nela intervm. Apesar
de estar presente em Strange Days todo um carcter catrtico das imagens, h
tambm uma contaminao das mesmas, dado que viciam e deixam em estado
miservel quemas consome. Talvez porque emtodo o lme o voyeur veste a
pele do Outro, de modo estranho, in-preparado para tal. Todas as personagens
que contactam com as gravaes playback deixam de ser voyeurs e tornam-se
personagens. O voyeur transportado para uma realidade segunda que o ado-
ece, vicia, fazendo dele um cmplice para o que quer que as imagens tornem
presente. Por isso que todas as personagens do lme so vtimas de uma
identidade Outra que no as dos seus sujeitos quando visionam as gravaes.
As cenas, lmadas sem cortes, mantm-se muito prximas da aco real,
5
Max Headroom o Alter Ego de Edison Carter (actor Matt Frewer). Headroom s existia
atravs da televiso, no programa de TV 20 Minutes.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 173
ao ponto de a realizador colocar propositadamente na mise en scne um con-
junto de espelhos, apenas nalgumas situaes, por forma a acentuar a dupli-
cidade, a multiplicidade, a esquizofrenia e o carcter mgico que a alteridade
tem no lme. Anal, o espelho que acusa a nossa presena, tal como o olhar
do Outro acusado pelo espectador em Las Nias, de VLASQUEZ. Sem
espelho no se sabe quem o Eu que tudo experimenta no lme, ou quem so
esses Eus.
8.4 Alter Machinas
(...) ser que as vossas mquinas de pensar, de representar,
sofrem? Que futuro podero ter se no passam de memrias?
(LYOTARD, 1990: p.27).
No lme Blade Runner, os andrides replicantes que simulam o humano
so simulacros aperfeioados, constructos que alm de terem mente articial
tm tambm corpo articial, mas so feitos de carne geneticamente manipu-
lada. So simulacros de carne, fantasmas que conquistaram corpo, que se
sentem perdidos por no terem nascido, por questionarem o inquestionvel,
padecendo de uma crise existencial.
Os andrides de Blade Runner so mquinas de alteridades, alter machi-
nas, mquinas que de repente se tornaram no Outro, no humano. Nasceram j
como projeco do humano, sero eternamente reexo, um mecanismo que,
embora no sendo mecnico, replica o humano em todos os sentidos e fun-
es. Eternamente presos num espelho, assim que se revelam os andrides
de Blade Runner, como se lhes tivesse sido incutida uma alteridade sem con-
fronto, sem dilogo, sem choque, sem luta, sem argumento. Os andrides
foram criados e manipulados, so simulacros conscientes do que simulam,
mas inconscientes da sua activao. Procuram respostas para a morte, porque
temem o necro, mas na verdade, essas mquinas de alteridades, esses repli-
cantes, so Eus-mquina, que no nascem, que so desde logo privados da
nascena, do clique da natalidade. Esto apenas no espao da mquina, do
morto. Foram previamente programadas, e foi-lhes registado um conjunto de
memrias cuja conrmao se faz de acordo com um conjunto de fotograas
pr-feitas, pr-pensadas, pr-fabricadas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
174 Herlander Elias
DELEUZE sustenta que "a simulao o prprio fantasma, isto , o efeito
de funcionamento do simulacro enquanto maquinaria, mquina dionisaca
(1974: p.268). E assim que se dene o constructo de Blade Runner, uma
simulao demasiado perfeita, o simulacro enquanto mquina, que dispensa a
alteridade, porque a alteridade j lhe foi introjectada, j lhe foi gravada antes
de o constructo ser iniciado. Blade Runner revela mquinas com o Com-
plexo de Cristo, desprovidas de identidade, sem referencialidade. Os cons-
tructos so a mais alta potncia do falso. Tanto assim que os constructos,
em Blade Runner, precisam que memrias exteriores como a fotograa con-
rmem as suas memrias interiores, as quais julgam ser irreais. Toda a exis-
tncia do constructo neste lme sinnimo de puro terror, na medida em que
eles sabem que um dia deixaro de existir, de se sentir irreais, de sentir o que
quer que seja. E quando Tyrrell os criou f-los precisamente com emoes
para serem controlados por estados afectivos.
Os constructos de Blade Runner, como todos os outros, esto no mesmo
plano que o esquizofrnico. Situam-se numa zona-esquizo, porque procu-
ram conhecer o estado terminal de descodicao absoluta, o seu nico ref-
gio, a desterritorializao total, extrema, dominar a (des)ligao nal.
DESCARTES entendia curiosamente os animais como automata mecha-
nica e, na verdade, os andrides de carne e osso so trabalho de cultura de
laboratrio, constructos incarnados; simultaneamente mquinas, humanos
e hbridos
6
. Outra curiosidade que o protagonista do lme Blade Runner
Deckard, cujo nome se assemelha a Descart (DESCARTES). Mas a parte
destas curiosidades, todo o universo exploratrio de Blade Runner um uni-
verso obcecado com o Teste TURING, que no lme faz a aferio do que
ou no mquina (fora da lei), sob a designao de Voight-Kammpf Test.
Tenho para mim que este universo de Blade Runner se constitui a si mesmo
na tenso entre mquina e no-mquina, entre animal e no-animal, entre ori-
ginal e cpia, entre vida e morte, entre corpo e mente, entre constructo ou
no-constructo. E por isso que o teste era importante, pois num mundo
maquinizado, a vida animal valia ouro. O teste era tudo.
A nica forma que os constructos de Blade Runner tm de recordar o
passado contemplar fotograas que so a mnemotcnica antepassada deles,
o seu artefacto similar pr-histrico, o constructo primeiro, porque a fotograa
6
Para Donna HARAWAY este carcter de hibridizao o que dene o ciborgue (1989).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 175
a primeira caixa-preta. No que concerne aos constructos, em geral, pode-
se armar que so em si mesmos caixas-pretas
7
. No entanto, os andrides
de Blade Runner so constructos que lutam contra o esquecimento, que vem
na fotograa um sustento face ameaa que enfrentam, eles tentam preservar
a identidade, a suposta identidade, que sempre uma identidade-constructo,
implantada portanto.
8.5 Construindo o Monstro
In the Frankenstein complex, on the other hand, what comes
to life is precisely technology (RUTSKY, 1999: p.35).
Desde Frankenstein (SHELLEY, 1998) e do lme Der Golem
8
(Paul WE-
GENER, 1914), que a criao de um ser tecnolgico implica a monstruosi-
dade, porque o constructo sempre a reunio de fragmentos heterclitos, um
conjunto de partes, a soma de um esplio. Torna-se assustador por no ser
talvez to homogneo, to natural quanto o humano, porque no nasce nem
cresce; aparece montado. E precisamente por isso que um constructo,
uma construo. Por outro lado, tambm sempre um monstro porque algo
de muito novo e srdido que surge do nada. No por acaso que o cons-
tructo visto como inquietante (Unheimlich), como uma exterioridade pura,
um Outro descontrolado. O constructo monstruoso por se fabricar com base
em partes, mas o seu lado mais bizarro visvel quando esses fragmentos que
o constituem so destroos, runas, entulho, restos. assim que aparece o
monstro do mdico Frankenstein, como que uma assombrao que de repente
adquire corpo, mas a carga espectral mantm-se, permanece como nos cons-
tructos distpicos de Blade Runner. O Ser e a imagem esto assncronos.
Noutra ptica, o constructo sempre uma identidade estranha, alien, por-
que parece que a corporalidade manifesta uma montagem, um inventrio
de efeitos, um refgio onde o espectral se aloja, abriga e oculta. Aproveito
7
Se tivermos em conta a teoria de FLUSSER relativamente Filosoa da Caixa-Preta
(1985).
8
Em Der Golem o Rabi Loew d vida ao golem, Uma esttua que ele faz de barro, mas ao
colocar-lhe um amuleto mgico no seu corao, o golem ganha vida. A esttua descoberta
por um coleccionador de antiguidades que reanima o golem. O golem apaixona-se pela lha
do coleccionador. Ela rejeita-o e ele, furioso, torna-se um monstro perigoso.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
176 Herlander Elias
para recordar de uma clebre frase de Jos GIL: ns precisamos de monstros
para que nos tornemos humanos (1999), o que implica que o monstro exista
para justicar o natural e o ordenado do humano, por oposio ao defor-
mado, ao degenerado (o temor do sculo XIX). No constructo tecnolgico
revela-se a promessa, porque existe uma projeco de um narcisismo humano
e primevo na mquina; e tambm a ameaa do espectral, da morte, o mgico,
o sobrenatural.
A monstruosidade implcita no constructo porque h um certo sus-
pense, est l latente uma expectncia, uma inquietao que assola o cons-
tructo, h um vazio que nos faz pensar. Pois tal como diz RUTSKY e muito
bem, the dead technological object never becomes fully living; it remains
merely a simulation, undead, a technological monster or zombie. It becomes,
in other words uncanny (1999, p.25).
8.6 Dar Corpo ao Constructo
Lautomate est lanalogon de lhomme
(BAUDRILLARD, 1976, p.82).
Por mais estranho que parea, todas discusses em torno dos construc-
tos, dos sujeitos virtuais, das entidades de media, vo sempre em direco
problemtica do corpo. A razo pela qual isso acontece porque a Intelign-
cia Articial num estado de conexo mxima, de conhecimento total, deseja
sair da sua caixa-preta e tomar contacto com a alteridade que lhe introjec-
tada, implantada. As mentes cibernticas pretendem terminar num corpo, ou
usar esse corpo como ponto de partida para uma nova etapa do seu ser. As
mentes cibernticas existem por conexes e anidades, constrem a sua con-
sistncia por sobre ligaes tcnicas e associaes de dados. No so apenas
dotadas de autonomia, apesar de haver um agenciamento que lhes prprio.
A Inteligncia Articial (a mechanica res cogitas?) pretende absorver
tudo, h um Complexo de Cristo subjacente, que a nutre; o objectivo criar-
se o sujeito dos sujeitos com a mquina das mquinas; exibindo-se para tal
uma atitude tpica de uma res divina (corpo de Deus), sem esquecer um saber
acerca da res extensa (todos os corpos, a totalidade do Outro, todos os seres).
S possvel este desejo de poder da parte do constructo porque h uma inver-
so. E essa inverso ocorre porque primeiro coloca-se uma mente-no-mundo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 177
(isto , cria-se o constructo), e segundo porque o constructo aprende em pro-
gresso geomtrica e d por si com um mundo-em-mente. Alm disso h um
factor interessante, que o constructo emerge exactamente no hiato que h
entre o humano e o animal, o constructo preenche um espao que seu, um
espao que no nem carne nem esprito, retendo o melhor de ambos; o
mecanismo. O constructo aprendeu a entediar-se, a aborrecer-se, quer algo
mais, como o HAL de 2001: Odisseia no Espao. um facto que, se o cons-
tructo arma, prope, e se prope a si, fala e pensa; logo, existe. Contudo,
o constructo pode no ser evidente, e ser sujeito... de media.
primeira vista poder parecer que os constructos de IA, estes rgos de
pensamento sem corpo, como LYOTARD lhes chama, se possam reduzir
lgica da mquina de TURING, ao modelo neuronal, ciberntica de WIE-
NER ou informtica de SHANON. No entanto, logo nos apercebemos que
legitimar o empreendimento da Inteligncia Articial envolve algo mais. H
que pensar o futuro da alteridade; o Outro enquanto simulacro dissimulado. E
nesta perspectiva faz todo o sentido considerar a teoria de DELEUZE e GUAT-
TARI da mquina desejante, que se refere no s a mecanismos articiais
mas tambm mente humana. Pensar o sujeito articial implica compreen-
der o humano, a sua maquinaria inerente, a razo interior, os impulsos do
desejo.
impossvel, sabemos tambm, conceber humano sem corpo, o sujeito
a soma do corpo e da mente, antes do confronto do Eu com o Outro. Por
conseguinte, o constructo de IA tambm pretende um corpo, para escapar da
espectralidade. Obviamente que quando se fala em ghosts in the machine,
se est a falar de mquinas, mas h algo que escapa prpria mquina, h um
espectro; e esse espectro o espectro da tcnica. Da tcnica que o humano
exteriorizou, de acordo com McLUHAN.
Sem dvida alguma, os constructos de IA so como que uma meta-espcie
e provam que existe um devir-mquina. Os constructos so mquinas de
projeco que criamos para nos vermos de fora. Identica-se nos construc-
tos um agenciamento tecnolgico, h um livre-arbtrio, uma autonomia, uma
autogesto que assusta o humano. O constructo suspeito, no s por ser
mquina, mas por ser feito nossa semelhana, por ser inteligente, de onde o
termo Inteligncia Articial.
Acrescente-se tambm que os constructos anseiam sentir, por isso o seu
estdio de evoluo termina no corpo. Os constructos no sentem nada como
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
178 Herlander Elias
os humanos, mas simulam que o sentem. Como a dada altura, o constructo
Dixie diz em Neuromante:
(...) Eu tambm no sou humano, mas respondo como tal,
compreendes?
Espera a disse Case. Tu s um senciente, um ente que
sente, ou no?
Bem, a sensao de que o sou (...). Mas aquilo que, de
facto, me constitui apenas um pedao de ROM (GIBSON,
1988: p.150).
De facto curioso que o progresso da mquina calculista termine no
corpo, no sentimento, nas sensaes. Anal de contas, uma vez criada a m-
quina que tudo pensa, s falta conferir-lhe a capacidade de tudo sentir. Era
isso que faltava aos constructos de Blade Runner, o sentimento em geral para
eles era incompreensvel
9
.
Constata-se que h todo um devir-sistema, que leva a que se favorea o
projecto de um systme-sujet (LYOTARD, 1979: p.67), que pode no s tec-
nologizar o sujeito humano, como pode por efeito humanizar o constructo
maqunico. Uma mudana destas suspeita quando o constructo tem mais in-
formao acerca do humano do que o humano acerca do constructo. O cons-
tructo uma memria tecnolgica suspeita. semelhana da Eva de Lve
future, de Villiers de LISLE-ADAM, todos os constructos so projeces da
mquina como Deus, do inumano. Por isso em Neuromante o constructo Win-
termute pretende atingir a totalidade das coisas, dizendo mesmo mo nal que:
- J no sou o Wintermute.
- Ento que s?
-(...) Sou a matriz, Case. - Case soltou uma gargalhada. - E
aonde isso te leva?
- A lado nenhum. A toda a parte. Sou a soma total das coisas,
o espectculo todo (GIBSON, 1988: p.279).
9
Em Star Trek - Next generation: First Contact (1998), o andride Data apanhado pela
raa borg e como ele um constructo, os borgs modicam-no para que ele tenha sensaes,
cando apto a sofrer e a ter prazer.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 179
Igualmente em co cientca recorde-se tambm o constructo de De-
mon Seed (Dean KOONTZ, 1997), notrio no lme homnimo, (Donald CAM-
MELL, 1977) de seu nome Proteus IV, que inicialmente fora designado para
organizar o tele-trabalho de um cientista (Alex) em sua residncia, e logo
aplica a sua Inteligncia Articial ao sistema de vigilncia de vdeo. Com
o passar do tempo amadurece a sua capacidade de vigiar, torna-se um cons-
tructo curioso, voyeur, ao ponto de dialogar com Susan, a nica mulher resi-
dente, enclausurando-a e torturando-a por m. No nal do romance, Proteus
IV adapta o seu programa constitutivo a um cdigo gentico e, encarcerando
a protagonista, encontra formas de a engravidar por inseminao articial. No
nal a voz de constructo de Proteus IV havia passado para o beb, e eis que
diz: I am alive! (Estou Vivo!)
A procura do corpo pelos constructos preocupante, por exemplo em
Ghost In The Shell, de Masamune SHIROW, -nos revelado um universo idn-
tico ao de Blade Runner, mas em que a robotopia nipnica tem a sua gide.
A polcia procurava um hacker capaz de penetrar em sistemas de informao
estatais e que escapava sempre ileso. Um dia a polcia encontra uma modelo
ciborgue abandonada na estrada e vem a descobrir-se que o hacker de que
tanto se falava era incapturvel porque no era humano. Tratava-se de um
constructo de Inteligncia Articial, e que se ergueu a partir dos fragmentos
heterclitos do e no ciberespao, solidicando a sua identidade, ao ponto de
procurar um corpo. At voz conseguira personalizar. O constructo queria ter
contacto com o mundo, porque toda a informao da rede rizomtica do ci-
berespao j no lhe era suciente. A mente perfeita pretendia obter o corpo
perfeito da ciborgue.
Na verdade, a forma como a co trata o ciborgue ou o humano como
m para uma entidade que deseja se materializar , no mnimo, estranha. Mas
deixa muito que pensar. O constructo sempre algo preparado, manipulado
ou manipulador, uma substituio dotada de uma uidez de pensamento ame-
aadora. A enormidade dos seus bancos de dados inquietante. Como pode o
humano competir com o inumano? Realmente no h competio ou compa-
rao possvel. No h porque os constructos so sempre representativos de
um certo regresso dos mortos. Temos exemplos disso em Frankenstein, por-
que o mdico tenta reanimar um corpo construdo a partir de cadveres; em
Ghost In The Shell, o ciborgue encontrado s depois de ser ligado novamente
que adquire vida, como que um ente recuperado de comatose; em Neuro-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
180 Herlander Elias
mante, a entidade de IA que se revela no nal da histria diz mesmo que se
trata de uma vereda para a terra dos mortos
10
(GIBSON, 1988, p.273). E
eis como se manifesta uma das ideias de HEIDEGGER, a de que a morte
que totaliza e confere sentido experincia.
Sem dvida que o que est em causa o facto de o constructo ser sem-
pre uma tecnologia Frankensteineana, bizarra, e h em si algo de estranho.
O constructo dispe de um carcter aurtico, como HAL, de 2001:Odisseia
no Espao. Parece que nos devolve o olhar, no deixando de ser inquietante
desconhecer-se o que se passa dentro da sua mente. H uma retrica do su-
blime tecnolgico, como refere Fredric JAMESON, uma doutrina de metaf-
sica meditica, e que abre caminho sempre ideia de um deus tecnolgico,
que surge numa abertura, constituindo-se sobre um reservoir de dados, e sem-
pre consegue passar do milieu interior (corpo) para o milieu exterior (mundo).
O Constructo torna-se um mundo em si mesmo, um todo humanamente indes-
critvel. Repare-se no que diz Case, o protagonista de Neuromante, acerca do
constructo homnimo:
Conheci o Neuromante. (...) Creio que ele uma (...) ROM
gigantesca (...); a verdade que, na sua totalidade, RAM. Os
constructos pensam que se encontram mesmo l, que o local onde
esto real; contudo, trata-se apenas de algo que nunca mais
acaba (GIBSON, 1988: p.279).
Incontornvel e evidente que o constructo parece surgir de um teatro de
marionetas (Marionettentheater) (11), pois trata-se de um artefacto, como o
Golem, e acusa o tal princpio da razo suciente de que falava LEIBNIZ.
Porm, em grande parte dos casos, mesmo nos que a co cientca explora,
no passa de um programa acorpreo. Se Jos GIL refere que o rosto o ecr
do corpo no humano, ento no constructo de IA vulgar o ecr tudo o que
o seu corpo nos pode desvelar. Todo o resto permanece velado, codicado,
selado, em caixa-preta.
Sabe-se que o constructo um ser-escrito, um ser-escrita, un tre crit. O
constructo um dispositivo, um programa, no se encontra em lado algum,
mas os dados que o constituem poder-se-o localizar mas no denir como
10
De onde o neologismo necromancer, que signica o romance da morte, a personagem
da morte.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 181
a matria atmica. Em 2001: Odisseia no Espao, C.CLARKE d-se conta
precisamente deste facto, quando descreve Bowman a interagir com HAL,
pelo que arma:
Bowman pousou o livro e tou pensativamente a consola do
computador. Claro que sabia que HAL no estava mesmo ali (...)
(C.CLARKE, 1982: p.123-24).
O constructo funciona num no-lugar, fruto de uma operacionali-
dade, uma operao de sistemas, e inscreve-se inevitavelmente no espao da
morte, e tambm no da doena, a virose-mquina. apenas zeros e uns, no
deixa espao a um sujeito qualquer determinvel. No se pode contemplar o
lugar do constructo, porque este no tem lugar, atpico. Neste momento, faz
parte da condio humana denir a condio da mquina, o lugar da mquina,
ou o lugar-mquina...
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 9
Esttica e Tcnica
Do Renascimento Realidade Virtual
9.1 Arte Clssica
Sem remontar aos desenhos das grutas de Lascaux na pr-histria, que tam-
bm demonstrama proporcionalidade geomtrica na representao dos corpos
dos animais, fcil escolher na histria das artes plsticas diversos artistas que
foram perspicazes o suciente para elaborar e adoptar sistemas de medio de
formas morfometria- para modelizar um objecto grco. Entre diversos, um
dos mais representativos na Idade Mdia, o desenhador e arquitecto VIL-
LARD de HONNECOURT, no sculo XIII. Ele praticava com efervescncia
aquilo que apelidava de a arte da geometria, quer-se dizer, a arte racional
de recriar os critrios topogrcos essenciais da estruturao de uma gura
qualquer, com face, perl, detalhes anatmicos, sionmicos, de um grupo de
personagens, de corpos de animais, de fachadas ou de adornos arquitectni-
cos.
Os manuscritos de VILLARD de HONNECOURT apresentam, nesta vi-
so, slidos cheios de traos reguladores e orientadores, escrupulosamente
determinados por relaes geomtrico-aritmticas capazes de estimular a cri-
atividade pela normatividade da memria prtica de desenho e pela constru-
o arquitectural. Para se elaborarem estas composies grcas necess-
ria toda uma esttica e uma mnemotcnica, necessrias para se conceberem
formas harmoniosas, belas, por oposio s deformaes e s caticas gu-
183
i
i
i
i
i
i
i
i
184 Herlander Elias
raes do feio, desprovidas de harmonia, de beleza tcnica e esttica. a
procura de propores matemticas exactas e, simultaneamente, a memoriza-
o das formas de efectuar essa sntese, que justica e permite toda a cultura
tecno-esttica decorrente at hoje. Outros dizem que VILLARD de HONNE-
COURT defendia uma aplicao anti-emprica da arte, mas a racionalidade
dos seus estudos e a procura de modelos universais provam a sua preocupa-
o com as aplicaes prticas, pois, numa perspectiva imaginvel, qualquer
arquitecto ou artista desenhador v as suas preocupaes estticas serem for-
temente determinadas pela tecnologia que emprega.
As formas que HONNECOURT desenha nos seus manuscritos inscrevem-
se no interior de crculos, tringulos, pentagramas estrelados, rectngulos, as-
sim como as suas combinaes e interseces reguladas pelos eixos de sime-
tria e de linhas de partitura variadas. O sentido de harmonia rtmica revela-se
rigoroso e vigoroso nos seus traos que querem traduzir o essencial de uma
forma, a m de se praticar uma sntese com natureza tcnica. Se a rgua e
o compasso so sucientes para demonstrar a harmonia visvel das formas
desenhadas, VILLARD de HONNECOURT mostra como os esboos leves
precisam essa inteno imediata de harmonia geomtrica. Certas guras de-
monstram imenso a utilizao de esquemas, subdivises aritmticas por meio
da rgua e do compasso.
A arte da geometria de VILLARD de HONNECOURT pregura-se ex-
plicitamente no sculo XIII, sem grande fonte de formulaes matemticas,
talvez o processo da sntese morfolgica se constitua a partir de pontos es-
senciais e constitutivos que permitem traar racionalmente e reconhecer sem
ambiguidades. Uma gura inscrita nas estruturas geomtricas regulares, em
princpio, potencialmente sintetizvel por mdio de formas-tipo simples na
juno e na combinao, onde se produzem formas complexas globais que
so modelos de uma realidade gurativa imaginria. A geometria aplicada de
VILLARD de HONNECOURT sugere j a ideia de traos primitivos de des-
crio informtica, tal qual o cenrio da inforgraa numrica funciona. Um
desenho de uma personagemde lado, ou de frente, resulta de umprocedimento
construtivo planimtrico, redutor de informao esttica (as mltiplas parti-
cularidades qualitativas da gura) pois ele revela-se num formidvel revelador
de caracteres e signos morfolgicos escolhidos pelo valor esttico fundamen-
tal. A memria das formas apoia-se nos critrios essenciais, estruturais e o
clculo de imagens procede, principalmente, de uma anlise fragmentria de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 185
constituintes da forma. A sntese da forma resulta, em todos os casos, numa
idealizao abstracta de princpios primitivos de uma cena visual.
Numerosos foramos artistas que, depois de VILLARDde HONNECOURT,
tm insistido na importncia das medidas e nos clculos de propores para
a criatividade artstica. Durante o Renascimento, em particular, as pesquisas
matemticas sobre a construo de espao guravam os motivos de reexo e
de experincia plstica to substanciais, perante a pura racionalidade de nme-
ros e guras abstractas da geometria euclidiana, mas tambm perante a simbo-
logia mstica e esotrica das matemticas ligadas pesquisa da modelizao
das formas e dos espaos. Porque o estudo sistemtico de traos ordenados
e de relaes de proporcionalidade que lhe so axadas, no visam seno a
propor representaes ideais de modelos estruturados. O estudo das medidas
de espao, as dos objectos e dos corpos vivos que o ocupam, reagrupa neces-
sariamente a preocupao intelectual fundamental em arte, de criar snteses
articiais de formas inventadas pelo esprito criador.
Deste modo, toda a sntese supe os tais processos analticos de decom-
posio em unidades elementares, aptas a uma recombinao em blocos
em pacotes de fcil esboo e compreenso. As relaes espaciais inerentes
forma relevam sempre, com ou sem o apoio do clculo informtico, uma
matemtica explicitamente formalizada ou, por outro lado, um conjunto de
interrelaes morfolgicas tratado por meios virtuais. Como, por outro lado,
a anlise estereomtrica se resolve no plano da anlise planimtrica, a arte e
a cincia de sntese artstica conduzem o artista a esquematizar a informao
esttica sob a sua aparncia terica mais simples, para uma maior eccia com
vista para uma reconstituio sinttica do conjunto da gura e assim que a
nossa imaginao incide exclusivamente sobre a aptido que a natureza possui
para produzir belas formas, porque so essas mesmas formas que justicam a
nossa condio de sujeito e reectem a nossa imaginao.
Sintetizar a representao do espao tridimensional foi a preocupao ci-
entca e artstica maior dos artistas renascentistas. A geometria euclidiana
fornecia a base desta sntese, apelando a uma construo legtima no sculo
XV, na medida em que oferecia os quadros formais da posio respectiva dos
objectos num espao realista e simulado. O historiador Erwin PANOFSKY
qualica esta modelizao sinttica do espao pelo nome de espao-sistema,
por oposio ao tipo de espao a que se referiam os pintores da Idade Mdia:
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
186 Herlander Elias
o espaoagregado
1
. BRUNELESCHI e Lon Battista ALBERTI foram
os dois artesos principais do espao-sistema na Itlia renascentista do pri-
meiro quarto do sculo XV, imediatamente ligados s pesquisas de outros ar-
tistas nos estudos da perspectiva cientca como Piero della FRANCESCA,
UCCELLO, DONATELLO (na escultura), ou Jean PLERIN VIATOR, na
Frana, cujo tratado sobre a perspectiva se publicou em Toul, em 1505.
Como KANT dizia a imaginao esquematiza sem conceito. Mas o
esquematismo sempre um acto de imaginao que j no livre, que se acha
determinada a agir de acordo com conceitos do entendimento. A imaginao
faz algo diferente de esquematizar: manifesta a sua liberdade mais profunda
reectindo a forma do objecto, ela joga-se de certo modo na contemplao da
gura.
A histria de teorias e de prticas de construo legtima (sob as leis
da geometria euclidiana) europeia; pois desenvolveu-se com diversas ori-
entaes e transformaes entre artistas do sculo XIV e o primeiro tero do
sculo XVI. As caractersticas essenciais deste espao simulado como rele-
vante de uma modelizao espacial era fundada sobre uma teoria de propor-
es matemticas. Para ALBERTI, o espao era concebido como um cubo
cenogrco abstracto, geometricamente homogneo, uno, no qual todos os
pontos religam imaginariamente os objectos sob o signo de uma justicao
lgico-matemtica rigorosa.
O espao ctcio da representao artstica corresponde, no seu sistema
espacial coerente, a um espao real observado a partir de uma janela, pois o
quadro uma janela aberta para o mundo, tal como ALBERTI pensava as
emulaes lgicas da pintura e da representao da esttica da natureza numa
esttica pictural. A pirmide perpendicular imaginria representativa da nossa
ontoperspectiva, formada por raios visuais, no nosso olho de espectador
essencialmente uma forma monocular, por que o quadro monoscpico e
bidimensional. O que ALBERTI conseguia era assegurar uma perfeita coe-
rncia topogrca da cena visual encenada no tela, que nos permite ver uma
imagem virtual. Essa construo legtima impe linhas direitas de espao
real de referncia sobre um cruzamento de pontos rectilneos no quadro, e
as linhas paralelas entre si concorrem uniformemente sob a gide de um ponto
1
Ligado perspectiva cavalar, onde a construo no visava o desejo de unicao pro-
porcional dos planos visuais, mas sobretudo uma inteno narrativa expressa nas justaposies
simblicas de guras religiosas e/ou profanas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 187
de fuga nico, situado sobre a linha do horizonte colocado altura dos olhos
do espectador ctcio.
Tal ponto de fuga situa-se matematicamente no innito: uma conven-
o de ordem geomtrica, indispensvel para a concepo e modelizao de
formas ctcias ou virtuais das relaes espaciais de objectos. A simulao
do espao euclidiano passa, tambm, muito geralmente, pela construo de
blocos em perspectiva linear por relao ao ponto de fuga principal. A pr-
tica da perspectiva linear levou o artista e religioso Jean PLERIN VIATOR a
propor os espaos sintticos com pontos de fuga projectados com o mtodo
bifocal, de forma a traduzir as perspectivas angulares.
Em todo o caso, na sntese articial do espao a perspectiva articial
se a opormos da viso humana binocular), realiza uma sistematizao lgica
da imagem, fundada sobre convenes geomtricas diversas de acordo com
as epocologias e respectivos autores. A construo legtima procede de
algoritmos racionais de composio, aos quais preside uma teoria matemtica,
mais ou menos explicitamente armada, da proporcionalidade dos elementos
do espao virtual. Ela no difere dos mtodos usados hoje pelas logsticas
informticas de criao de imagens de sntese tridimensional.
A denio racional das composies elementares da gura artstica
reforada pela informtica grca, tal como foi inuenciada pelos desenhos
anatmicos de animais e de corpos humanos de Leonardo da VINCI. As gre-
lhas sistemticas de propores representavam um trabalho preliminar, uma
precesso da simulao inerente ao prprio ctcio que se pretendia criar, que
obrigava toda a criao artstica a pensar as suas bases na cincia positivista
e objectiva. Leonardo da VINCI no concebia a arte pictural sem uma ri-
gorosa modelizao e esquematizao em blocos e grelhas de cada parte do
objecto visual quer se tratasse de braos, ps, mos, olhos humanos, paisa-
gens, animais, mquinas, edifcios ou adornos arquitectnicos. A imaginao
faz algo diferente de esquematizar, ela manifesta a sua liberdade mais pro-
funda reectindo a forma do objecto. E esse olhar objectivo e lgico que
est por detrs das logsticas informticas de desenho assistido por computa-
dor DAC-; trata-se de um olhar com o qual tambm colaborou Luca PACI-
OLI. Da VINCI e PACIOLI acreditavam na organizao do mundo doravante
toda uma gama de demonstraes geomtrico-aritmticas, sublinhando-se um
misticismo profundo que alimenta a pura tradio pitagrica de conhecer, or-
ganizar e dominar o mundo belo, mas catico. Pitagorismo parte, PACIOLI
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
188 Herlander Elias
representa a tradio renascentista, capital da pesquisa intelectual de estrutu-
ras fulcrais do mundo visual traduzido pelos artistas plsticos.
O sentido da modelizao e das medies objectivas muito importante
para a compreenso da modelagem dos fenmenos, onde o artista se releva
na ctedra de esteta das propores numricas das guras planas e dos vo-
lumes. Planimetria e estreometria exibem ambas a exigncia que era feita
actividade geomtrica, fundada pelos rigorosos clculos de proporcionali-
dade, ainda que do ponto de vista religioso e metafsico, o geomatra apenas
redescubra os princpios de organizao divinos do mundo.
Na primeira parte do sculo XVI, Albert DRER evocava a excepcional
correspondncia entre a cincia das propores e das medies, e a esttica
gurativa, estabelecendo-a magistralmente na Alemanha
2
. DRER compre-
endia a teoria perspectivista e a cincia metodolgica. Os princpios lgi-
cos essenciais da optimizao morfogrca apenas reectiam trabalhar a arte
como pura geometria. A arte situa-se nos antpodas do instinto expressionista
e do primitivismo gestual. A rgua, o compasso e o nvel eram os instrumen-
tos indispensveis do criador, tal como a geometria descritiva e a aritmtica,
que formavam o partido lgico-simblico necessrio para a representao das
formas humanas ou de objectos no espao em 3D, relativamente a PACIOLI
ou a da VINCI.
DRER partia da observao emprica e realista dos fenmenos, e co-
zinhava um conjunto de lgicas simblicas capazes de lhe permitir criar um
mundo ideal, custa de modelos tambm ideais, mas sintticos. Ele pensava
na relao mais que elementar da justaposio das suas construes, algo que
hoje o interesse essencial da informtica grca, como por exemplo a articu-
lao funcional dos segmentos anatmicos. O que hoje a esttica inforgrca
busca no mais que um aperfeioamento das caractersticas fenomnicas dos
corpos. S que DRER j tinha na poca pranchas ilustradas com pesquisas
grcas sobre movimentos e articulaes, exes musculares, extenses e ro-
taes, ao nvel dos braos, das pernas, da cabea e do tronco. Ele adoptava
um estilo grco um pouco cubista, com o seu solene m de melhor esquema-
tizar os principais movimentos funcionais da mquina humana, sobretudo no
que respeitava a anatomia humana. Crculos, paralelippedos, cubos, rectn-
2
Este artista primou pelo hiper-rigor da teoria das medidas e das propores. Duas obras
clebres eram A Instruo Sobre a Maneira de Medir, de 1525, e o Tratado das Propores
Humanas, publicado em 1528 em Nuremberga.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 189
gulos, cones, esferas, prismas, cilindros e pirmides servem a natureza pla-
nimtrica e estereomtrica das demonstraes de DRER para se estudar a
articulao funcional dos membros corpreos e sua esttica natural.
Aquilo que ele construiu foi a base losca da abstraco sistemtica
de informao esttica, com todo o recurso a processos de linearizao de
formas tridimensionais que, mais tarde, serviram de axioma para muitos car-
pinteiros, pintores, arquitectos, engenheiros, construtores, paisagistas, escul-
tores e artesos. Ele denira uma antropometria biomdica ou judiciria na
forma como julgou o mundo na vertente plstica e aparentemente visual, mas
carregada de realismo, uma vez que estudou os comportamentos fsicos dos
fenmenos estticos. Muitos designam a sua relao com a tcnica e com a
esttica como uma relao artstica antropomtrica, quer no estudo das forma-
es, quer no estudo das deformaes.
No fora somente DRER que retratara todas estas guraes de objectos
vectoriais simplicados, esta veia cubista manifestava a inteno de sntese
racional da morfologia humana natural integralmente reconstituda: caso de
Les demoiselles dAvignon em PICASSO, de 1907, ou de Les Maisons
lEstaque, de 1908 por BRAQUE, cujo espao pictural e guras que o
compem so tratadas de forma polidrica e com contornos simplicados tal
qual os esboos de DRER. O cubismo procurava a sua contribuio na mo-
delizao abstractiva das formas. Dois exemplos artsticos particularmente
signicativos so Juan GRIS e Edouard Jeanneret (LE CORBUSIER). GRIS
foi indubitavelmente um dos maiores matemticos que concebia puras formas
geomtricas, que as transformava de seguida em representaes de objectos
concretos.
9.2 Design Industrial
Aquilo que o design industrial provou foi que existe uma universalidade da
harmonia e do agradvel sobre a beleza e que a pesquisa propriamente est-
tica no ser mais que uma simples extenso da pesquisa tecnolgica. Isto
explica-se pela beleza do objecto, pelo seu agrado ao senso comum esttico e
pela organizao racional das suas funes ou pela crena de uma pura cien-
ticidade do design esttico. A escola de arte BAUHAUS cimentou a ideia de
cienticidade de organizao conceptual da forma, pensada como um orga-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
190 Herlander Elias
nismo funcional homogneo. Por extenso implcita, a beleza via-se de facto,
agarrada maneira quasi determinista da cincia de organizao funcional.
neste esprito que se pode falar em esttica cientca. Por volta dos anos
50, esta ideologia da pretendida cincia da beleza industrial se sublinhou no
discurso dos designers: de acordo com Jacques VIENOT, por exemplo, a est-
tica industrial implica uma lgica funcionalista rigorosa de harmonia plstica
de relaes formas-funes. A tecnologia tem sido pensada de modo a ge-
neralizar a beleza industrial. Esse belo que no objecto de um interesse da
razo, est ligado ao prazer esttico inteiramente desinteressado, mesmo es-
tando unido a um interesse racional inerente ao design industrial e ao interesse
social emprico de comunicar o sentimento.
A cincia o mais extensiva que permite aumentar a concepo de harmo-
nia tecnoesttica dos produtos industriais a teoria geral de informao e da
comunicao exposta por SHANON, WEAVER e WIENER nos anos 40. Para
esta teoria cientca, toda a forma (visual ou sonora) era codicvel e comuni-
cvel de acordo com processos binrios, um objecto industrial era uma forma
visual modelizvel e codicvel como qualquer outra em linguagem binria
de computador, desenhavam-se critrios para uma melhor adaptao das for-
mas s funes tcnicas. A informtica permite uma integrao algortmica
radical, porque tecnicamente homogenizante, do projecto esttico concep-
o tcnica, se bem que impossvel de conceber uma tcnica de funes do
objecto independente do conceito de arte das aparncias sensveis. A informa-
tizao dos projectos de criao de objectos industriais realiza perfeitamente
a denio do design como arte implcita pelas tcnicas de funes.
O design informtico trata de informaes morfolgicas no seio de um
projecto global de comunicao social e de difuso comercial das formas in-
dustriais, tanto que a arte tradicional visa a construo e a concretizao de
um objecto nico, no reprodutvel e sobretudo no conceptualizado de forma
abstracta.
A tecnocincia de informao reactiva, em suma, o antigo problema da
essncia da harmonia esttica dos objectos no seio da vida social. O design
revela-se como modelizador da integrao da funo no meio da plstica for-
mal que age como actor de comunicao e de difuso cultural da funo: as
mesmas funes podem ser empregues por objectos das mais diversas aparn-
cias, mas a pesquisa da melhoria da forma contnua, estimulando a populari-
zao do objecto e a sua difuso massiva. por esta razo incontestvel que o
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 191
designer um esteta das formas industriais, no mesmo sentido que Abraham
MOLES denia a esttica moderna da era tecnolgica como prtica das sen-
saes, procedendo de estudos comparativos de escolhas de uma populao
de utilizadores potenciais, na medida em que as preferncias sensoriais con-
duzem a redenies do belo de um ponto de vista estatstico, to relevante
para o design industrial.
claro que grande parte dos objectos industriais no acarretam somente a
utilidade, impregnam-se de um prazer esttico que estimulam, e nas socieda-
des de abundncia material, a funo esttica prima psicologicamente sobre a
funo utilitria. Eis o que a Teoria Matemtica da Informao representa-
ria como a banalidade pura, a funo pura sem pesquisa de integrao esttica
particular.
9.3 Novas Tecnologias
Ao contrrio do um texto de NIETZSCHE, datado de 1872, o que se diz hoje
sobre o conito entre arte e conhecimento algo totalmente diferente. No
so mais as relaes abstractas de nmeros que marcam a diferena tcnica
ou espiritual, pois so essas mesmas relaes abstractas e tcnicas que funda-
mentam a maioria das vanguardas tecnolgicas actualmente, juntando o cien-
tista e o artista, num neocnone em que completamente difcil separar o acto
artstico da inveno cientca, quando at os prprios cenrios dos ateliers se
foram convertendo aos poucos em laboratrios inforgrcos ou em estaes
cenogrcas.
NIETZSCHE via o cientista como algum que procura a essncia e que
calcula as entidades numricas aferindo-as a leis da physis, da natureza, ao
passo que o artista, bem como o lsofo, contemplam essas leis com toda a
harmonia esttica supercial que exprime nas suas criaes, cenrio errneo
actualmente, se se pensar que a prpria tecnologia que deseja materializar a
inteno artstica. As novas tecnologias, aquilo que permitem , mediante a
inteligibilidade das matrias naturais e das leis da Fsica, nomeadamente a ge-
ometrizao da Natureza, controlar essas mesmas leis, mediante simulaes,
dando-se forma a toda a inteno artstica, completamente repotencializada
pela tcnica que a repudiava.
Deste modo, as novas atitudes artsticas e tecnolgicas so, ou deveriam
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
192 Herlander Elias
ser, praticamente unas, se se entender que a concepo anti-esttica tam-
bm, por outro lado, anti-tcnica, o que estpido quando do que se fala
simplesmente de bioestticas ou de tecnoestticas.
a verdadeira fora da arte que vem assentar completamente nos simula-
cros, dotada hoje de tecnologias capazes de autonomizar esses mundos imagi-
nrios e estticos, que tantos pintores, poetas, msicos, escultores e arquitec-
tos tentaram at agora consubstanciar. Tal como referiu Martin HEIDEGGER,
a tcnica caracterizava-se por encarar a natureza como uma reserva disposta
provocao, activada pela estetizao que o homem pretendia com o seu pen-
samento de domnio. Nos presentes dias cabe unicamente Realidade Virtual
assegurar o novo espao de governo do humano cientco-esttico e tcnico-
artstico: esse espao, esse ciberespao, cuja titularidade de controlo inerente
sua natureza tcnica permite dar consistncia a todos os mundos at agora
aspirados pelos artistas. O sublime vem pela tecnologia agora, porque tudo se
passa ento como se a imaginao fosse confrontada com o seu prprio limite,
forada a atingir o seu mximo, sofrendo uma violncia que a leva ao extremo
do seu poder.
Todo esse ciberespao da criao informatizada representa a fonte pri-
mordial de produo de simulacros estticos, pois a inforgraa foi concebida
intencionalmente em funo da simulao integral de entidades visuais ct-
cias. Razo e Intuio se conjugam para gerar existncias ctcias, estticas
articiais e mais lmpidas, neogeometrias, enm, todo um universo imagin-
rio, nascido inteiramente pelo clculo de formas. Estes neomundos elevam as
experincias daquilo que belo ao criarem novos belos, mais plasticizados,
animados, mecanicamente articulados e mais perfeitos do que a nossa viso
cnica pode ver.
A experincia do simulacro pictural revela-se de forma exacerbada na pro-
gramao do simulacro artstico, smbolo por excelncia do paroxismo do
ilusionismo esttico. Um objecto artstico que procede por natureza da simu-
lao, v-se ele mesmo simulado pela lgica das linguagens de programao.
Pode-se imaginar tudo de modo minimalista, embora tambm haja deriva-
o da aplicao da teoria cientca e matemtica da informao actividade
artstica. Exemplo de que a Mona Lisa digitalizada, ou VAN GOGH,
CZANNE, recriados a partir dos seus novos simulacros inforgrcos, por
variao numrica a partir das relaes cor-forma originais num ciberespao
tecnolgico capaz de trazer novas possibilidades inexistentes para esses ar-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 193
tistas. A obra aberta no conhece limites, a reciclagem esttica nunca mais
ter m, e a recticao artstica consuma-se num continuum que leva per-
feio artstica to desejada pelo Humano e o complexo de Cristo que o leva
para o campo das gneses artsticas j curado ou ampliado. A omnipotncia
edicada, mas pela tecnologia.
As estruturas lgicas dos sistemas tecnolgicos de numerisao e trans-
duo das informaes estticas permitem dar mais azo s capacidades in-
ventivas, a capacidade de imaginar no subrelevada pelo sistema, pois o
prprio sistema que prope novas ferramentas adaptativas, um polimorsmo
resultante em numeras escolhas de estilos, de tcnicas de expresso e de di-
fuso material da obra devido natureza do sistema de reciclagem imagtico
ser indenido pelo gesto artstico. Este tipo de sistema das novas tecnologias
de realidades virtuais permite justamente que o real natural seja numerisado
por uma plasticizao do mundo que prima pela plasticizao das formas.
9.4 Video-Escultura
Em informao grca tal como nas artes grcas tradicionais, de natureza
manual ou artesanal, a inteno artstica passa por uma denio, mais ou me-
nos precisa, de informaes morfolgicas que sero desenhadas, pintadas ou
esculpidas. O CAD: computer aided design e o CAC: computer aided con-
ception requerem formulaes conceptuais encriptadas, relativas s relaes
geomtricas das formas constitutivas de uma imagem plana ou de um objecto
tridimensional. Quanto mais o objecto tridimensional ou a imagem plana so
complexos, mais a quantidade de informao morfolgica importante.
Denir os parmetros relacionais constitutivos do volume de uma repre-
sentao plana passar de uma viso estereomtrica a uma viso planimtrica
do objecto, com as redues morfogrcas e perspectivistas que a transposi-
o implica. A informao que se descreve, por exemplo, no corte longitudi-
nal ou transversal de um objecto semelhante s dimenses estereomtricas
reais, mas ela particularmente diferente desta ltima, pois a representao
geomtrica oculta todo o aspecto volumico concreto, tal coma a multiplici-
dade de perspectivas que possvel ter do objecto, sem falar da materialidade
especca, qualitativa, de cada objecto.
Quer se trate de objectos naturais ou articiais, de edifcios arquitectni-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
194 Herlander Elias
cos, de perspectivas variadas (frente, perl, picado, contrapicado, por exem-
plo), o essencial da informao monogrca reside nas relaes topolgicas
entre as formas "elementares", quer-se dizer, de facto, entre segmentos linea-
res e de superfcies planas, obtidas por anlise esquemtica da complexidade
de uma cena imaginria concebida como um todo homogneo.
Todo o rigor racional manifestado pelo uso metdico da medio de rela-
es entre valores numricos e geomtricos de formas, constitui no somente
a base, mas, melhor, a chave arquitectnica da modelizao espacial de for-
mas artsticas, de qualquer natureza que elas sejam, puramente abstractas ou
gurativas. E igualmente a chave estrutural de toda a criao industrial de
objectos funcionais ou arquitectnicos. Os planos arquitectnicos oferecem
um dos exemplos mais tpicos, no mesmo ttulo que os desenhos industriais
precedem a fabricao de uma srie de objectos electromecnicos ou mveis.
A essncia das relaes de correspondncia existe entre o objecto e a sua re-
presentao puricada, a precesso dos simulacros (BAUDRILLARD) e as
linguagens, planicaes estruturais e tcnicas so outros exemplos.
A forma idealizante e totalizante do objecto , por natureza, a expresso
sinttica, fundamentalmente no processo de sntese informtica das formas bi
ou tridimensionais. A metodologia da sntese numrica de cmputo supe
sempre a passagem da etapa da reduo morfolgica de superfcies e volu-
mes etapa de parmetros geomtrico-aritmticos multplos, necessrios para
obter a modelizao formal dos objectos visuais. As operaes matemticas
destinadas revelao da essncia lgica da forma podem evidentemente de-
terminar os to bem complicados e trabalhosos clculos numricos. Por apro-
ximao numrica indenida os mais simples agenciamentos elementares de
segmentos grcos codicados, relevados pelo esboar rpido ou pelo ensaio
prvisulizador improvisado, permitem a realizao de um prottipo em todo
o modo alcanado pela modelizao dos seus detalhes principais.
Os esboos que os artistas clssicos das Fine Arts aplicavam so hoje
dispensveis, dada a complexidade e a especialidade de linguagens informti-
cas de programao evoludas, especializadas no clculo sequencial da forma,
mas acabam por ser ainda as etapas de representao esquemtica que deter-
minam o pivot da modelizao formal. As malhas, as grelhas ortogonais,
as estruturas de arame (wireframe) que acabam por caracterizar a mo-
delizao informtica aplicada s artes grcas. Elas so os alicerces dos
preenchimentos de superfcies. A tcnica de arame est por detrs de todas
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 195
as criaes artsticas de objectos 3D. S que agora temos tecnologias que os
renascentistas no tinham.
Existiu sempre a necessidade de simplicao das coisas na concepo
artstica at hoje, devido urgncia e indispensabilidade de esquematizao
das medidas de relaes de proporo, entre segmentos ou entidades gr-
cas. Criar modelos tericos de forma exige sabedoria da parte dos artistas,
uma verdadeira teoria aplicada proporcionalidade matemtica das grande-
zas. Mesmo que o esquematismo da geometrizao seja muito grande ou
aproximado, perante o limite ou o simplismo caricatural, a preocupao com
as medidas e com as propores das medidas arma-se com fora, para me-
lhor se determinar o essencial duma viso, de um corpo de homem, mulher ou
criana, a silhueta de um animal, etc. A preocupao com a perfeio absoluta
e com os ideais de belo tambm uma busca de uma realidade que no o real
e que, portanto, acaba sempre por ser algo sinttico e virtual, uma simulao
que s existe em potncia, que no existe, de facto, mas que consegue conuir
as leis da Fsica com as dos mundos imaginrios.
Hoje, toda a criao e modelizao na informtica esttica podem ser sin-
tetizadas facilmente porque as formas tridimensionais imaginadas pelo artista
fruemagora de ferramentas capazes de edicar as suas ideias e corrigi-las, mas
de uma forma mais prtica que na poca de Da VINCI. Os novos sistemas de
videoescultura e de modelizao de morfologias tridimensionais trazem con-
sigo uma informao morfolgica, manipulvel pelas ferramentas do sistema
inforgrco e pela intuio humana.
Actualmente, o essencial dos modelos inforgrcos consiste na aplicao
matemtica e virtual em ciberespao informtico de morfologias representa-
das enquanto coordenadas. Coordenadas no sentido de lhes ser aplicada uma
malha ou uma grelha ortogonal, capaz de reicar um mundo tridimensional
que s existe em potncia, bastante prprio para um tipo de modelizao de
objectos artsticos mais prtica, seja no sentido do sistema inforgrco deter-
minar todo o discurso de formas informatizadas dentro de uma ordem lgico-
matemtica prpria, e, por isso mesmo, determinando-as e coordenando-as.
Aquilo que este tipo de novas tecnologias permite apenas uma descrio
sobre-matemtica da linguagem das formas e uma sobre-dominao das mes-
mas, como forma de domnio de novas estticas baseadas em novas percep-
es, e no controle das representaes sempre reciclveis, por intermdio de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
196 Herlander Elias
equaes matemticas complexas do foro geomtrico-algbrico ou da para-
metria.
Importa sobretudo, que a tecnocincia das imagens de sntese no em
nada estrangeira s preocupaes estticas de pintores naturalistas ou abs-
traccionistas de pocas anteriores. Os meios articiais e suas possibilidades
qualitativas oferecem perspectivas novas e originais. As logsticas inforgr-
cas representam nada mais que uma sistematizao, digitalizada e programada
de questes de medida e de modelizao grca formuladas pelos artistas pre-
cedentes revoluo inforgrca ou mesmo informtica. A memorizao e
a plasticidade grca permitem agora uma grande diversicao da imagina-
o esttica, o que leva a que o inforgrasta encare a linguagem matemtica
programada como uma modelizao das formas naturais ou da articialidade
industrial ou artesanal, no mesmo ttulo que os renascentistas na pintura, por
exemplo. Os pintores clssicos orientavam-se sob a gide da imitao da na-
tureza e da mimesis, graas ao respeito para com a perspectiva euclidiana
e graas aos cnones de proporcionalidade que vinham da antiguidade grega.
Esta ideologia esttico-metafsica da imitao da natureza na pintura clssica
tem a sua resoluo e tambm a ampliao da problemtica na modelizao
inforgrca, a partir da qual hoje se conhece uma estetizao sem limites,
generalizada, limpa, sem rugas, justamente porque o inforgrasta j pode
concluir o processo de catarse do mundo divino que os pintores clssicos an-
siavam, pelo que s agora se dispe de tcnicas capazes de cumprir a to
desejada e lmpida simplicidade aparente das formas.
Na video-escultura, a tcnica de construo de objectos em wireframe,
mediante uma malha, permite, custa de equaes paramtricas, uma aproxi-
mao das curvas e das superfcies dos objectos reais. Cada mini-superfcie
curva traduz a sua torso na superfcie modelizada, cada polo vectorial tem
uma refraco prpria da luz, devido forma como enfrenta a luminosidade.
A exigncia topolgica, ou seja, o discurso do loco em que se situa o ob-
jecto condiciona muito a aparncia do objecto, nas suas relaes luz-cor. No
domnio da modelizao de superfcies redondas, os trabalhos do Eng Pierre
BZIER, sobre carrosserias automveis so do mais conhecido que h, mas
apenas servem a necessidade e a urgncia de tecnologias capazes de no s
compreender a bioesttica da natureza, como tambm idealizar novas estti-
cas com base em objectos puramente virtuais e imaginrios, pois, maneira
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 197
de Jean BAUDRILLARD, a Tcnica permite uma precesso dos simulacros
sobre a realidade. O hiper-real tem algo prprio.
Muitos mtodos primitivos de esteticizao dos objectos so agora aper-
feioados, como se tivessem algo de utpico e de belo prprios, tal qual o
futurismo de MARINETTI revia as mquinas da revoluo industrial no s-
culo XX. Hoje todos os objectos artsticos e artesanais ou industriais podem
primar por decomposies de objectos virtuais (em simulaes electrnicas,
se possvel) em funo de guras geomtricas elementares e regulares como
as de qualquer slido geomtrico polidrico. Muito geralmente, o objecto
3D modelizado por facetas ou mini-superfcies angularmente justapostas a
partir de um agrupamento de polgonos convexos variados. Para no se ver
os dentados e os pontos elementares (os pixels) das estruturas tridimensio-
nais, a inforgraa dispem de algoritmos capazes de alisar as curvas e todas
as superfcies rugosas dos objectos virtuais, de forma a reicar a perfeio das
morfologias e das estruturas cromticas, mxima to idolatrada pela pintura
clssica, ainda que seja uma consequncia de todos os modelos regenerativos
irem buscar inspirao aos corpos belos dos gregos.
9.5 Arquitectura Virtual
A arquitectura virtual o que permite, tanto para o lado do arquitecto, como
para o do utilizador uma representao espacial, navegada por uma c-
mara virtual mvel capaz de percorrer as estruturas de um edifcio virtual
e deslocar-se dentro dele, visionando activamente a arquitectura em estereovi-
so. O seu carcter ilusionista permite uma representao tridimensional com
base em geometrias simuladas em computador, na qual se pode antecipar o vi-
sionamento de vrias partes da habitao e submet-las a alteraes se assim
for desejado. No obstante, tambm claro que a arquitectura no se reduz
a uma gramtica arquitectnica, nem ao desenho geomtrico, nem s vistas
cinticas de perspectivas virtuais. A inforarquitectura apenas uma adjuvante
da pesquisa esttica e funcional que no esconde a sua ideologia tecnicista,
responde com solues racionais a problemas prticos, mas tambm o de-
vir da geometrizao da natureza. Duma Natureza que cai, de edifcios que
ruram no passado. A inforarquitectura vem permitir uma modelizao tridi-
mensional de edifcios antigos ou de edifcios em runas atravs das recons-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
198 Herlander Elias
trues hipotticas. A arquitectura informatizada tem um papel arqueolgico
e histrico.
Em diversos lmes de co cientca, como em Metropolis, de Fritz
LANG, a arquitectura imaginria entra em aco nas catedrais gticas ou ro-
manas, nos cenrios urbanos futuristas de inspirao fantasmtica. Desde
sempre o homem quis possuir uma vila perfeita, agora chamam-lhe a vila
ciberntica, local onde a tecnologia encontra a perfeio que o homem sem as
suas prprias exteriorizaes tecnolgicas devolvidas no encontra. A ideia
esttica supera todo o conceito porque cria a intuio de uma natureza dife-
rente da que nos dada; a Realidade Virtual hoje consubstancia esses sonhos
onricos porque o seu carcter numrico e tcnico concilia o realismo das leis
da Fsica com as mais excntricas vises arquitectnicas e ideias estticas.
Osublime uma contradio vivida entre a exigncia da razo e a potncia
da imaginao. A RV permite o sublime absoluto, quando a arte tecno-esttica
e hipertlica (dotada de muitos ns) se ultrapassa a si prpria transcendendo
todas as aspiraes, todos os desejos, gostos e interesses; a matematizao
confere-lhe um mstica prpria do seu teatro do mgico.
Uma vez criada a linguagem da geometria vectorial, o ciberespacial ganha
vida quando esto criadas as ferramenta para o surrealismo mais sobre-real, ou
mesmo hiperrealista at ento. O Gnio precisamente a disposio inata
pela qual a natureza d arte uma regra sinttica e uma rica matria. Novas
hipteses arquitectnicas e estticas so pensadas e aplicadas com base na
psicadelia e no lme cinematogrco. Tudo ganha o aspecto cinemtico e
televisivo, mas controlado e manipulado por dispositivos estreoscopicos. O
virtual pode ser criado e revisto na forma como vemos o real primeiro, mais
desfasado e entediante.
Agora pode-se viver num mundo inteiramente artstico. Ns somos os
ciberartistas do novo paraso articial baudelaireano psicadelicamente esteti-
zado com base nas luzes e na informao neural e nervosa. O mito da "re-
alidade sem realidade"tem o seu catalizador nas iluses estreoscopicas que
servem de motor onrico arte potica em particular: Os Parasos Articiais
de BAUDELAIRE eram uma viso do excesso deleuziano e do exerccio pu-
ramente espiritual da arte, e da prpria vida como arte, como desejo do ideal,
da cultura cultivada como vida e como ambiente. exactamente neste sentido
que as novas tecnologias de inforgraa, CAD ou mesmo de RV se orientam
enquanto nicos mdiuns capazes de canalizar e mediar a fuso da tcnica
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 199
com o espirito, a simbiose da experincia fsica do corpo com a experincia
esttica da mente.As neotcnicas de modelizao e de simulao de objectos
permitem exactamente concretizar os to desejados "reais"harmoniosos, hie-
rarquizados, estetizados e estuatizados sem recurso realidade ridcula pri-
meira e impotente no seu caos matemtico desprovido de ideais articiais
humanos.
Enquanto a tcnica para Karl MARX era uma perverso, porque alienava
o homem do seu discurso processual e fascista, se que se pode dizer, para os
homens de hoje ela a realidade sem cises e quanto mais vivida e experimen-
tada de dentro, melhor. A cultura tecno-esttica forja a cultura perfeita, aquela
em que as eidos, as ideias, j correspondem realidade. Acabaram-se os re-
ferenciais, as ideias tm um sistema prprio e independente. A tecnologia o
ambiente (McLUHAN).
A prpria poesia romntica, baudelaireana e maldita, ao m e ao cabo,
apenas complicava os discursos tcnicos, resistindo-lhe compresso da lin-
guagem, s linguagens matematizadas, s linguagens lgicas, desprovidas de
vida, vazias, portanto. Aquilo que as mnemotcnicas actuais permitem custa
de novas formas de esttica sobretudo essa dimenso potica, mas no indi-
ferente tcnica objectiva. A conscincia actual serve-se dos sistemas objec-
tivos e lgicos para fazer perdurar e individualizar as intenes artsticas com
novas possibilidades exploratrias e/ou combinatrias. A resistncia m-
quina foi intil quando as formas estticas e os objectos estticos industriais
so, por exemplo, um fascnio, tal a perfeio maqunica inerente rigidez
de carcter lgico-simblico.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 10
Museologia Virtual: Promessas do Digital
10.1 O Metamuseu
O conceito de museu virtual torna-se um facto com a expanso do digi-
tal, mas sobretudo porque vai alm das funes do museu convencional. O
Metamuseu vem estender toda a disposio espao-temporal das obras de
arte de forma aberta e plural. O Metamuseu, esse museu virtual, indisso-
civel dos novos textos, dos hipertextos, capazes de re-escrever o mundo
de forma mais arborizada e complexa, abarcando nesse hiperuxo toda a
carga e bagagem cultural adjacente s exposies de arte, do mesmo modo
que o museu clssico concede a textos suplementares, ao background, a ga-
rantia de peritagem do tal espectador experimentado. Esses hipertextos j
garantiam com cruzamentos de citaes todo um dilogo de suporte s obras
de arte. BORBA-VILLEL chama-lhes paratextos, bem como aos textos de
catalogao, denio, ttulo e de crtica da obra de arte. Tudo faz parte de um
hipermensagem que garante a descodicao dos signos existentes na obra,
que o visitante opera aquando da observao e crtica de uma obra de arte de
carcter expositivo e/ou experimental.
A museologia moderna tenta reduzir o seu espao institucional homo-
geneidade, mas os projectos de verdadeiros metamuseus, com base na rede,
e no somente na hierarquia, que organizem as obras de acordo com os cri-
trios formais de evoluo externa, impe-se perante o classicismo a priori
garantido pela evoluo interna das artes e respectivas narratividades arqui-
vsticas. O projecto desse Museu Virtual in-surge, quando se requer uma
201
i
i
i
i
i
i
i
i
202 Herlander Elias
instituio que suporte as novas categorias herdeiras da psmodernidade, e
que, por sua vez, se possa pensar a si mesma com essas, nunca pondo de
parte a carga anti-sptica, higinica e clnica com que se justica a malha de
relaes entre artista, instituio e arte em si. Essa nova instituio, torna-se
numa das mediaes da tecno-logia, fundindo consigo a tenso existente entre
espao institucional creditado pela obra e obra que desacredite a instituio,
questionando-a.
10.2 A Metamuseologia
A metamuseologia reica-se quando o museu se estende, refutando o sedenta-
rismo, sistematizando-se mais e mais, no se resignando a um mero aparelho
de apropriao de obras e de catalogao das mesmas. Justamente quando
existem as condies para existir um arquivo histrico total, os operadores
deste novo espao museolgico dedicam-se conectividade, mas o expansivo
espao de controlo de arte nunca repudia a sempre possvel hiptese de se
transformar o artstico em estilo que perdure, totalitariamente, como norma.
Se a arte mais ligada sucesso, ao sucesso e ao xito, ento s a tecnologia
a pode amparar, pois esta se autosucede a si mesma, cada vez mais potente.
Ora, o que arte pretende, , sobretudo, ter os meios para se imortalizar, porque
o novo espao museolgico virtual potencia, j no a secularizao, mas sim
a continuao, o continuum, a conectividade incessante.
A hiptese de re-interpretao possvel do passado, o reconhecimento do
presente, no actual cenrio da fetichizao da arte, uma constante da con-
temporaneidade relativamente museologia. Discurso do museu, este, cada
vez mais atacado pelos produtos pop, pela banalizao e pela new world
order, que as tecnologias em expanso requerem. E so estas tecnologias que
melhor vo poder esquematizar a singularidade, apelando de facto s persona-
lidades e sufocando as construes lgico-culturais de pblico e de museu
que so um legado histrico. O museu j no se situa numa cidade clssica
como a antiga plis grega, o museu foi absorvido pela malha de relaes de
informao que so tecidas em seu redor, se se tiver em conta que esse me-
tamuseu a nova arma emblemtica dessa Telpolis, de que se propunha a
falar Javier ECHEVERRIA, sobre a ideia de uma cidade distncia. Eis por-
que que o museu repensa os seus objectivos, os seus propsitos e limites, no
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 203
sendo to s a questo a preservao e a conservao dos cnones estticos,
mas a de uma possvel recuperao do passado, passivo de ser plasticizado,
por exemplo.
Toda a tentativa de criticar o museu do futuro, as questes acerca da sua
concretizao e possibilidades assentam no imaginrio artstico, ainda assim,
farto de uma progresso histrica, baseada no centramento e na sincronia. O
museu virtual vem fazer pesar mais a rede, a diacronia, tudo se registando
numa anacronia de uxos que dispensam as tendncias homogneas do museu
clssico. E so esses anacronismos que se esbatem completamente sobre as
etapas da narratividade histrica e esttica, para sobre os multplos passados
se imporem os multplos presentes, importantes ao ponto de fazer o cio pre-
valecer atravs das tecnologias, bastantes mais hipertextuais que os dilogos
de peritagem assegurados pelas artes e seus crticos clssicos.
Os museus que no conseguiamaceder a umpblico representativo, integraram-
se no esquema do espectculo, na sociedade do espectculo instalado na
qual se instalou o museu. O museu tornara-se numa encenao museogr-
ca capaz de se ligar s tecnologias do controle por excelncia, procurando
novos domnios pblicos, fugindo-se do permetro da museologia clssica es-
gotada.
Essa metamuseologia pe em prtica a proteco institucional, preser-
vando para depois transmitir. Cria-se umarquivo museolgico de re-distribuio
de informao, pensado a partir das concepes de gate-keeper e nas medi-
aes trabalhadas. A questo que essa metamuseologia autonomizara uma
metasignicaco, sobretudo tecnolgica, em que os uxos de signicaes
de peritagem que o museu clssico simplesmente protegia, so agora esten-
didos pelas tecnologias audiovisuais digitais, da o pretendido ser justamente
materializar a rede de signicados que operava na relao arte-instituio;
acarretando-se a completude e a innitude que falham no projecto do mu-
seu ocidental clsico. A nova instituio deve desligar-se dos objectivos
fundamentais e ligar-se a outros objectivos, a outros telos, a outros ns.
A telia do museu virtual o reduto do tele, da distncia. A instituio
d-se por controlo remoto.
Pessoalmente julgo que o facto de o museu se ter estendido para o cy-
berspace no um perigo para o museu, um perigo para o ciberespao,
pois no foi o museu que se tornou passivo de ser controlado, foi o ciberes-
pao que se deixou museicar, que caiu nas garras de uma recuperao nal
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
204 Herlander Elias
da histria e da esttica levada a cabo pelo discurso da catalogao ltima. O
museu apenas se adapta desintegrao da esfera pblica, para se constituir
no novo agora, seguindo uma estratgia arquitectnica do cyberspace,
sendo este a integrar-se nas esferas particulares; indo a evoluo at ao novo
capital cultural local e perifrico, em detrimento do poderio centrado na insti-
tuio clssica. A nova funo a de expanso da cultura. Fala-se dos novos
territrios da cultura e a prova est no facto de que o museu postmuseo re-
aproveita as suas matrias artsticas para edicar um laboratrio de ideias
que contrarie a grande vaga da apropriao cultural.
10.3 A Arte da Ligao
Se falamos de museu virtual, porque existe arte virtual tambm. E no caso
da obra de arte da hibridao, seja ela telemtica, meditica, comunicativa,
de rede ou de cmputo (se que se pode distinguir tudo isto!), o importante
reside nas ligaes, nos links da obra, os elos que tipicam essa metamu-
seologia. um pouco esta a ideia de Edmond COUCHOUT, pois se existe um
espao de todos os espaos, o hiperespao ou ciberespao, deve-se exis-
tncia da mquina de todas as mquinas, que lha exclusiva do casamento
da razo com a tcnica, estou a falar do computador. S com a existncia
da mquina cyber se pode ligar ou desligar tudo, consoante a tenso
operativa entre estes plos, sob os quais tudo se joga e estabelece.
Ao nvel online, EDUARDO KAC sublinha que o sonho de uma rede to-
tal como obra de arte provm da possibilidade de uma rede de computador
integrada a nvel mundial; o que est ligado ao facto de que alguns artistas
esto a expandir e a hibridizar a Internet com outros espaos, media, sistemas
e processos, explorando at uma nova zona de explorao. Quer-se dizer,
tambm, que, uma vez instituda uma tecnologia de comunicao global, no
seu sentido mcluhanesco, cyberspace conjuga-se num hbrido que absorve
a arte e a vida, onde a tcnica o medium.
O prprio idealismo de HEGEL relativo Esttica dos Meios j no
apontava somente para a especicidade dos meios e sua explorao mxima.
Hoje a esttica trata dos meios electrnicos, cada vez mais vistos como meios
empregues para gerar um efeito esttico que advm de facto de se desenvolver
tecnologias capazes de produzirem efeitos novos. So estes efeitos que se
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 205
produzem para gerar os subsequentes mas, no omitidos, efeitos estticos,
ampliados pela tecnologia digital.
Os procedimentos de choque no eram sucientemente fortes para so-
breviverem capacidade de apropriao pelas artes mediticas, que a eles
recorrem abundantemente.
O clicking o toque nal de uma paixo pelas arborizaes de conte-
dos, o novo valor encarregado de absorver o chocante, o inquietante e a
peculiaridade, porque se serve da apropriao, o valor mais marcante desta
poca, em que a economia da imagem uma economia da apropriao, da ci-
tao, do plgio, da cpia re-produtvel, da colonizao atravs do pictrico.
A Net Art, a Web Art, so exemplos cada vez mais usuais de conte-
dos artsticos cibernticos e internados nesse espao clnico-tcnico, que
a Rede, que no nos consegue parar em nenhuma obra, nem em nenhuma
coisa, devido imensido. As artes interactivas apropriam-se das artes do
passado, agora destinadas superao e citao artstica, algo que os ar-
quivos cibernticos to bem providenciam para os novos artistas nmadas da
conectividade. Do anur ao zippie?
10.4 O Limite do Museu Clssico
A arte das aparncias que fornecida por lojas, galerias, museus e pelas p-
ginas luxuosas de revista de arte est a morrer. Est a morrer porque j no
relevante para uma cultura que est progressivamente preocupada com a
complexidade dos sistemas. As relaes invisveis que operam a natureza da
mercadoria, que MARX referiu, so agora do foro dos sistemas tcnicos, dos
links, das ligaes, tambm elas invisveis, apenas determinveis e estabe-
lecveis no tal espao de todos os espaos, que tem uma espcie prpria
(QUAU). E, deste modo, esse hiperespao que permite o impossvel da
parte da clssica museologia a alucinao espaciotemporal (VIRILIO)
,vem sobrecarregar todos os sistemas, todas as ligaes, todas as relaes,
todas as mediaes, custa da extenso exagerada das mesmas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
206 Herlander Elias
10.5 Walter Van Der Cruijsen e The Digital City
Com a Digital City, por exemplo, podia-se entrar na informao de diversas
organizaes muito rapidamente, maneira do ciberespao gibsoniano. Con-
tudo, o passo difcil para VAN DER CRUIJSEN fora o design dos ambientes
virtuais. Colocava-se o problema de reduzir-se a cultura a uma cultura do
arquivo, cujos ambientes precisavam de ser bem construdos, ou bem de-
senhados de forma a permitir um acesso facilitado. Digital City funcionou
como um ambiente intuitivo que tinha uma boa representao grca, aguen-
tava video, som e mapas de orientao por clicking, tudo para que no fosse
necessria uma aprendizagem mediata sobre o funcionamento do computador,
bastava apontar. O Metamuseu apoia-se no interface.
O Stedelijk Museum Bureau Amsterdam foi palco de colaborao de di-
versos artistas, em que se teve que planear animaes, obter videos, elabo-
rar interfaces, etc. Tudo remetia para que existissem obras e acontecimentos
capazes de fomentar e convencer de que a arte poderia, realmente, ser de-
senvolvida em e pelas aplicaes multimdia. Temos o excelente caso de
EVE
1
, gerado pela Real World, de PETER GABRIEL, que revelou artis-
tas como Helen CHADWICK, Yayoi KUSAMA, Cathy de MONCHAUX e
NILS-UDO. Estes concederam consistncia a um ciberespao artstico, per-
mitindo que a relao com as obras apostasse na interface interactiva multim-
dia. O visiter/utiizador interagia, clicando em imagens que despoletavam
animaes, jogos de vdeos, videojogos, animaes, puzzles, optic art e fo-
tograas digitais. A cenograa de Eve The Music and Art Adventure,
enquanto cenrio de RV, era toca desenhada sobre a manipulao de ima-
gens reais, de referentes pictricos usuais, potenciados pela inforvideograa
electrnica. EVE no era um medium de exposio, era um suporte para
uma sobre-exposio off-line.
A aventura de arte e msica estabeleceu um marco nas aplicaes mul-
timdia, por conciliar o videojogo com a arte de cmputo. aqui que se d a
alterao essencial. Adveio com os CD ROMs dos anos 90 a ideia de se pagar
1
Trocadilho entre Eve (o mesmo que Eva, de Ado e Eva) e EVE que remete para
o conceito de Realidade Virtual Extended Virtual Environment (que signica Ambiente
Virtual Prolongado).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 207
algo por uma experincia artstica, como se de um videojogo de arcade se
tratasse, mas imensamente onrico
2
.
10.6 The Temporary Museum
Com este projecto The Temporary Museum
3
construiu-se um espao de
convite aberto, um open space traduzido em quatro lnguas, para que os
artistas instalassem obras no seu mbito de museu virtual. Passou-se da
instalao, enquanto produo artstica, exibida e exposta no museu clssico,
para a transposio/digitalizao da obra para o museu virtual, eventualmente
actualizvel (o que levantava a questo da falsicao ou esquecimento do
passado histrico). No caso da obra de cmputo esta simplesmente trans-
ferida e armazenada no espao de catalogao museu. Tudo isto graas a um
programa ciberespacial que absorve todas as obras reunindo e controlando-
as, porque as reduz mesma natureza que a prpria estrutura do museu. Tudo
se conformiza numa mesma linguagem de mquina, invisvel. Museu e Arte
fundem-se para melhor canalizar os contedos para um novo tipo de especta-
dor, mais atento dimenso ciberntica da informao. Tudo se liga entre si,
tudo depende da esttica dos meios, da esttica de homogeneizar tudo numa
obra de arte total on-line, herdeira da aldeia global de McLUHAN, e que
lega justamente uma arte das redes inseparvel das novas redes de arte. A
linkagem o segredo.
10.7 O Cyberartist
Em vez de se apresentar como um produto, a obra do artista cyber pode
dispensar um corpo fsico, a matria, para se car somente com uma repre-
sentao da ideia ou da inteno artstica, por isso muito mais reectida a
actividade artstica, o processo de criao que o objecto em si. Ao passo que
2
Por falar em onrico, h um produto semelhante a EVE que tambm conhecido. o
videojogo Dreams to Reality, e apostava mais no interface mas propunha-se como videojogo
com base no surrealismo, no sonho e no onrico artstico.
3
The Temporary Museum existiu como espao real e slido durante oito anos (1985-93) em
Nymegen, Holanda, sendo, a nvel digital e sobretudo online, que Walter VAN DER CRUIJ-
SEN transps diversos contedos artsticos para um ambiente digital.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
208 Herlander Elias
o objecto artstico em si, exibido com um certo luxo se puder ser exposto
sicamente, o que lhe eleva o valor, uma vez que o objecto de arte, visto por
milhares de espectadores, v-se mais valorizado, no s porque h mais gente
com acesso sua existncia, como a tomada de conscincia do seu prest-
gio ser mais forte, o que, ligado ao acesso institucionalizado online, levar
a uma arte mais sublime, que poder estar em todo o lado, sem ser sica-
mente, mesmo que o acesso do utilizador seja praticado em tempo-real, por
mais larga que seja a banda.
O museu virtual j no se interessa to apenas pela recolha de objectos
com um contexto histrico na histria da arte, um centro de transmisso
aberto por oposio ao tambm controlado museu clssico. Inicialmente, The
Temporary Museum, por exemplo, agrupava ideias, mostras de arte, planos,
por vezes propostas muito concretas que poderiam eventualmente ter uma
aplicao dentro do espao interior real, mas agora tornou-se num arquivo
digital de obras que s existiriam em ambientes mediticos; e que no tm
uma existncia fsica se o power no estiver on.
aqui que nasce o Cyberartist. O ciberartista vem criar novos mundos
paralelos, mas com tecnologia que o permite. J no est em causa a criao e
exposio do ambiente virtual ao mundo, est sim o processo de criao em si,
e este pode ocorrer numa situao de funcionamento em malha, em rede. Os
artistas so agora mais nmadas, jogam com arte, com os circuitos (porque
a arte sempre teve um circuito prprio), agora mais autnomos e circulantes,
criando obras e distribuindo-as pela rede como desejam, jogando com elas e
divulgando-as. Das redes de arte chega-se s artes de rede, um gnero
muito diferente do circuito tradicional do artista que cria e vende, apenas para
ver a sua obra circular em velhos museus clssicos.
Tenta-se instituir pelos novos media o rebentamento da linha tnue que
separa a produo artstica e o consumo de arte. O principal consumidor de
arte artista. Ser um artista j no um privilgio, o ciberartista vem connar-
se na pessoa cuja existncia se reecte em imagem, som, literatura ou poesia,
agora mais arte, electrnica e multimdia. Isto tudo junto leva indistino
entre pblico e artista, porque h muito mais intera-ctividade que antes, e,
como resultado, as galerias de arte j no so a autoridade que costumavam
ser. Todos se tornam autoridade numa espiral provocada pela troca de papis
nos plos produtor/consumidor.
No que todos possam ou devam ser artistas, a questo no essa. O
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 209
que se est a desvanecer a autoridade do artista enquanto detentor do copy-
right, do direito de autor. Isto um assunto importante na Net, porque o
uso de meios de comunicao digitais compromete seriamente a originali-
dade dos trabalhos, a re-produtibilidade vem desorientar a originalidade
e a autoridade, caractersticas agora postas em causa devido proliferao
de possveis cpias adulteradas a partir dos originais. Se que continuam a
existir originais e cpias (apenas existe re-produo).
A questo coloca-se de outro modo: copiar obras de arte crime para com
a autoria, mas citar artisticamente aceitvel. Artistas medievais e renascen-
tistas copiaram coisas precedentes e no tem problema, pois at PICASSO
citou os impressionistas. O outro lado coloca-se na citao artstica no ser
manifestada como uma referncia a outro referente, mas no facto de a tecnolo-
gia permitir a manipulao de trabalhos de outrem, que a reaco da maioria
das pessoas que tem acesso ao trabalho artstico online ou ofine.
O museu virtual rompe com a hierarquizao, a cyberart rompe com a
sucesso cronolgica, as obras querem uma instituio nova, chegando a re-
clamar at o facto de abolir-se a poca histrica. Asntese, o sinttico artstico,
cultural, institucional, apenas se sobrerrelevam quando o original, sob efeito
de se perder na repetitibilidade amplivel pela reprodutibilidade, declina para
a apropriao todo o esplendor do novo que antes a peculiaridade detinha, e
que agora o totalitarismo do efeito de sntese consegue aplicar na prtica atra-
vs das matrizes. A tcnica vem permeabilizar a coliso de tudo com tudo,
na medida em que cria mtodos capazes de tudo reter, entrecruzando qualquer
coisa, complicando-se uma malha de informao depositada pelas migraes
de utilizadores.
10.8 Des-Realizao
Interessam as singularidades do dispositivo (device) que permite essa via-
gem de substituio do real, que autoriza a hiper-realidade, que prima pela
esttica da desapario (VIRILIO). O hiperrealismo consegue, assim, al-
bergar todo o gnero de expedies, sendo que a obra nunca a mesma. A
obra oculta o seu dispositivo, o seu programa, deixando ver somente a tal
montagem, em que fruir a obra exactamente ser canalizado por essa esp-
cie de cine-olho (VERTOV) atravs do qual se aprende esse hiperreal de
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
210 Herlander Elias
forma quase ptica, porque quase se sente. O territrio digital vai cobrindo o
cartografado real, graas ao grande incio assinalado pelo territrio cinemato-
grco. Antes era a mise en scne, o palco, o campo da cena determinava os
desempenhos artsticos, hoje o campo de jogo vem concluir a mise en jeu
e a des-realizao do real, por oposio realizao do real proposta pela
cinematograa.
No caso da obra de arte cada vez mais um facto que esta se insurge como
experimentao querendo materializar o seu reino de potncias, pretendendo
absorver o espectador no mundo virtual criado pelo artista. A questo vem
colocar-se tambm no dar exposio ao objecto artstico, na possvel confe-
rncia de espao a esse objecto artstico. Tudo se joga nessa possibilidade e
as novas possibilidades assentam na elaborao dos projectos estticos da li-
teratura e da co cientca, uma vez que as ideias e fantasias se tornam em
aplicaes, em que esto patentes os limites da nossa percepo. O artista
torna-se numa hyper star.
O museu clssico limita-se por mais extenses que abra, por mais que di-
late, porque ao crescer aumenta o pedido de tempo ao visitante, cada vez mais
ocupado e apressado para parar e reectir sobre os contedos expostos. Acaba
por perecer a estrutura fsica e colossal, lembrando-se a instituio somente
pela encenao espacial e museolgica que a caracteriza, que o que ca, se
tiver-se em conta que o museu virtual que des-realiza a arte, fornecendo-lhe
j s quase a encenao principal. Em suma, aceito mesmo que, em detri-
mento dos monumentos cam os momentos, pois h um momento em que
a obra se eclipsa, mais do que se expe.
A arte precisa de comunicar com a imensido que o pblico que est
indiferente perante a arte. Por isso se pensa na elaborao de um produto
artstico, numa experincia transportvel e que possa ser usufruda como um
jogo (que no to diferente assim da pintura de cavalete na relao entre
burguesia e arte de outrora). A questo para o artista reside na capacidade
deste em construir um mundo que consiga absorver o seu espectador. Parece
haver uma tendncia para rebentar com o autismo entre autor-arte-museu, que
s a tcnica-arte-espectador resolver, ao colocar o problema do continuum
artstico fulcral para o desenvolvimento de artistas que se estimulem entre si,
sendo o produto artstico de um artista, o prolongamento de um outro.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 211
10.9 Artes e Virtualidades Prolongadas
Arthur SCHOPENHAUER defendia a que o que as grandes obras de arte tm
em comum precisamente puxar o artista para dentro da obra de arte. Deste
modo, a grande obra de arte, permite-nos uma nova explorao, de espao,
modica as nossas noes de espao, tempo e de memria. Os novos media
vm pegar neste ponto, caso de EVE, de PETER GABRIEL, em que aps
um prolongado perodo num determinado mundo, o jogador-espectador viaja
e confronta-se com as memrias das suas prprias experincias virtuais. A
nova arte que os novos media ajudam a desmaterializar, ainda que aporetica-
mente mais consubstanciada no ciberespao, suspende a diviso entre interior
e exterior, o Eu e os Outros. Com a suspenso temporal, por momentos, ns
tornamo-nos na Arte. Isto capta a essencialidade do que faz da Realidade
Virtual um medium to especial.
J no somos um espectador passivo, uma vez que nos encontramos no
limiar do actor activo, que faz arte. Institumos algo que sobrevive pelas
relaes entre arte, espectador e instituio, precisamente por ser algo redut-
vel informao, algo que a prpria relao, a ligao, a linkagem,
que dispensa a arquitectura real e descomunal do espao clssico da galeria e
do museu.
O leque de qualidades da Realidade Virtual, que liga a imerso com a
interactividade, faz desmoronar a distanciao entre espectador de arte e ob-
jecto artstico. O flmico chega camuado no design que os programadores
providenciam aos ambientes. O teatro e o lme so as fontes de inspirao.
Uma vez que o utilizador de um mundo de Realidade Virtual tem que se co-
locar como actor a interagir num ambiente, esse mesmo ambiente pode ser
visto como um dcor de teatro, cuja arrumao cnica comprova. O cyberar-
tist vai trabalhar em pistas que proporcionam um melhor assassnio do real
(BAUDRILLARD), a ideia de se deixar pistas, como se o acontecimento ti-
vesse sido um crime, coloca-nos na pele de uma personagem, cuja misso
recolher as provas e efectuar a viagem. uma espcie de esquema esttico
de videojogo o que faz do virtual um campo de experimentao to voltil e
novo. A resposta, como sugere Peter WEIBEL, exactamente transferir ex-
perincias do mundo artstico para o mundo real. Resta denir o que ser o
mundo real, porque o mundo artstico pode ser representao explcita, mas o
mundo real no.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
212 Herlander Elias
Talvez a forma mais imediata de compreendermos a pista para a qual os
virtual art worlds apontam de momento, resida no estar l, no estar em
campo. Anal o que a arte pretende trazer sensaes novas que o real
incapaz, questionar temas que o real no permite trabalhar to directamente.
O problema que os media esto limitados e a arte digital ou arte virtual
representam a possibilidade de entrarmos num mundo e conhecer a arte, viv-
la e, quem sabe, tornarmo-nos no artista. Ciberartista, quer-se dizer...
10.10 Promessas
Os anos 60 foram os anos do combate instituio, a construo de obras que
primavam pelo teste s categorias do museu. Fim do refgio, m da segu-
rana, m da preservao. Agora, o espectador e a obra instituem-se entre si,
num ambiente em que as obras se do pela experimentao. So as prprias
networks que do resposta a reencontro com as obras, como que labirintica-
mente. As redes de cmputo digitais conscam-nos o solo e fazem-nos sentir
em naufrgio total graas imerso virtual. O espectador experimenta a est-
tica do acontecimento artstico num estado de onrico possvel que a teia da
obra inconcluda. Obra que o espectador deve concluir, percorrer, experimen-
tar ou dar-lhe continuao. O desao fazer o espectador entrar no perigo, no
descontrole, no jogo do caos para que possa concluir algo real.
A circunscrio deu lugar extenso, o signo da monumentalidade deu
lugar momentalidade, a de-formao ou no do museu clssico originou a
formao-de algo novo, j desprovido da simples ideia de propriedade. A ca-
tegoria subjacente outra. A ideia de edicao de um museu total, que
acarretasse a representao total das obras o paradigma categrico dos mu-
seus virtuais, das galerias online, das enciclopdias multimdia, em que
representao total e substituta do real sobrepe-se um modelo artstico, mais
divulgado, circulante, clnico, higinico, catalogado e arborizado em gneros
e estilos datados. A especialidade representa parte da obra em si, porque a
introduo da falta da presena total da obra de arte no suporte digital apenas
aumenta o desejo de experimentar ou presenciar a obra real.
A evoluo das produes artsticas apontou para o m da arte, no sen-
tido de a remeter ao vulgo, coisa que DUCHAMP repotenciou, levando tudo
ao limite oposto, exibindo o vulgo do urinol, porque deixara de haver arte e
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 213
sublime, uma vez descaracterizados os espaos coordenados e rgidos. O que
temos diante de ns a tecnologia que permite criar arte sem homem, i.e.,
arte desumanizada (no sentido da mimtica humana), mas tecnologizada (no
sentido da mimtica tecnolgica). A razo de ser disto que a arte se reduz
cada vez mais a uma tcnica-esttica, a uma tecnologia artstica, motivo que
leva as novas tecnologias e os Cyberartists a procurarem novas ontologias e
formas artsticas, bem como seus espaos, seus ciberespaos. E se os ciberes-
paos so espaos de controlo, ento o artista tomou posse do museu, para a
qual produz a obra.
A prpria estetizao generalizada re-cria a ideia de espectculo instalado,
o que as instalaes vm providenciar, com a limpidez hiper-real das novas
representaes iconogrcas. Tudo isto uma consequncia entre a crise da
experincia humana, neste caso, artstica, e a evoluo tcnica das mquinas
de representao, que cada vez mais nos abstraem ou absorvem no prprio
processo. A partir do Romantismo a arte deixa de estar em consonncia com
a verdade de teor loreligioso, deixando de ser uma revelao, e separa-se da
vida. O resultado foi o enclausuramento das obras nos museus criados a partir
do sculo XIX, justamente por a arte passar a ser contemplada despreocupa-
damente, e perder a funo de integrao quando a tcnica cumpre o destino
da abstraco.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 11
Sobre a Tecnicizao da Experincia:
Ligao, Interrupo e Interferncia na
Cibercultura
medida que a cultura vai apagando o seu rasto de simbiose coma tecnologia,
as mediaes vo-se absolutizando e totalizando, intensicando um ambiente
onde o nmero de ligaes que digno de ser cartografado, pais os plos
acabam apenas por ser uma desculpa para a rede de ligaes que tudo parecem
reciclar e entre-cruzar.
Como as mediaes so linhas de articulao, isto para ser concomitante
com alguns argumentos de DELEUZE & GUATTARI, e como a lgica de
todos os mecanismos e de todos discursos aponta para a ligao enquanto si-
nnimo de sentido, existe indubitavelmente uma tendncia para a integrao.
Essa integrao tem uma legitimidade que se deve existncia de mediaes
e ligaes sedutoras, sobretudo a partir do momento em que a totalizao des-
sas articulaes to omnipresente que constitui a sua prpria grelha, e, por
conseguinte, o respectivo territrio preenchido. A esse territrio GIBSON
chamou ciberespao, enquanto espao constitudo pelos media, onde a in-
formao e a alucinao conheceriam simbioses fortuitas, efectivando uma
malha de relaes capaz de produzir novas cosmovises devido ao estado da
arte da mediatizao do mundo.
Nesse depsito no existe princpio e m, porque o meio um m em si
mesmo, tudo meio-ambiente a um nvel em que se constitui uma espcie de
ambiente de media. Nesse registo, cuja envolvncia crescente, nada do que
215
i
i
i
i
i
i
i
i
216 Herlander Elias
est registado directo, nada ocorre em tempo-real, por isso a sonhada ligao
directa ao crebro dos ciberpunks se revelou surreal, pois dispensava a medi-
ao de outra entidade, embora houvesse uma mediao tcnica meramente
aplicativa. Para os ciberpunks, escritores ou guras, a mediao desejada se-
ria uncut, directa, sem corte.
O dispositivo tcnico deixou de ser exterior aos plos, que deslam nesse
ambiente-de-media, onde tudo banhado numa grande mediao, onde
emissores e receptores de comunicaco mergulham numa mesma linguagem.
E assim resultam formas de vida, novas partilhas de experincias (mediadas)
cuja forma de transporte produz dais nveis de mediao: o primeiro tecnol-
gico e o segundo social, logo de experimentao. Deste modo surgem sem-
pre novas mediaes, porque a grande mediao, social e tecnolgica, produz
sempre efeitos ulteriores, que inevitavelmente geram outras mediaes subse-
quentes, como se toda a grande mediao do online fosse assumidamente uma
gura fractal, cujo caos segrega formas harmoniosas sem trmino.
Com a programao, a linguagem alfanumrica programa a experincia e
entra-se numa revoluo que culmina numa abstraco, pela qual se projecta e
re-projecta a experincia. Aqui ocorre o problema da traduo e manipulao
da experincia que se torna passvel de ser s simulacro, que passa a ocultar
a autenticidade da experincia do real menos acessvel, face a uma realidade
outra. As mediaes so to instantneas que se insurgem como i-mediatas,
apagando-se o rasto da simulao. Uma perfeita e hiper-disponivel mimtica
aparece.
Generalizam-se uxos para que tudo parea ser uma viagem. Tudo ganha
a ideia de trip. O ambiente to sedutor e convincente que opera como
um estrato de narcose assumido. Ser caso para aplicar o que BURROUGHS
defende quando diz que o importante viajar, no viver? No deixa de ser
interessante, se as viagens forem mais relevantes que a vivncia, isso signica
que a alterao que estas produzem na vivncia mais signicativa e interes-
sante que a vivncia primeira que serve como referncia ltima viagem.
Seguindo esta perspectiva, no interessam propriamente os objectos que
as mediaes promovem, mas sim o facto de tudo ser mediado, porque isso
que justica a constituio do novo espao de experincias alteradas pelas
mediaes o cyberspace. Noutra perspectiva, no interessa a globalizao
das representaes ou a absolutizao das mediaes, o que interessa a vi-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 217
vncia de quaisquer experincias que se absolutizam quando so integradas
na grande mediao que a Internet.
mpossivel fugir ao Sistema, os mecanismos sociais e tecnolgicos desejam-
se entre si, um pouco semelhana das imagens de alguns lmes de Wim
WENDERS. A questo que se a soluo est no perverso ingresso para
o mundo das mediaes, onde, atravs das linguagens, se podem trabalhar
afeces, propaga-se o sistema medida que o meio-ambiente se torna num
ambiente-de-media, repleto de aparatosos, retricos e sedutores discursos,
que traduzem para o sujeito tudo o que se encontra em estado virgem de re-
presentao, ou j mediado por outras entidades ou agentes da sociedade de
comunicao generalizada.
Perante tamanha excitao psico-sensorial, o sujeito afectado de uma
forma que o leva a assumir-se como possvel objecto particular de qualquer
uma das mediaes que compem a malha da Rede. Face a estas, novas l-
gicas de sentido, cosmovises e hermenuticas resultam, como se o sujeito
criasse o seu prprio universo lingustico ou at conceptual, e como a forma
de evoluo um caosmos e no um cosmos, imprevisvel o comporta-
mento do Sistema, embora travel.
Os uxos so incontrolveis, deixam fsseis de formatos de media que
entram para a ctedra da arqueologia, cada vez que os contedos conhecem
novas formas de modulao e de re-modulao dos respectivos uxos, o que
muda o sistema de representao, i.e, o formato dos media. Tudo so passa-
gens, convites para sistemas que criam um mega-entrelaado no estruturado.
O importante so as linhas de articulao que unem os plos, cada vez que
os plos comunicam directamente usam-se novas linhas de voo. Cada linha
de articulao leva a um novo territrio. Todos os territrios somados e uni-
dos por as respectivas ligaes instituem um organismo, ou seja, um sistema
de rgos diferentes, que funcionam em sintonia com uma totalidade de sig-
nicados, que so to fortes quanto as suas capacidades (foras), velocidades
(ritmos) e intensidades (agregados de fora).
O organismo, enquanto fora total de signicado, existe pelo seu exterior,
prova a sua existncia pela sua natureza intensa e pela sua capacidade de agre-
gao. O organismo no cria escapes, fugas, ele cria sistemas de engrenagem,
seno prepararia a sua nitude, embora a conceba e a tenha em conta. Todos
os mecanismos s so plenos de sentido se se conseguirem ligar entre si, tanto
faz falar de cabos elctricos como de os ou de razes, porque o que os une so
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
218 Herlander Elias
os cdigos semente, a informao da genealogia. Os cdigos semente, ainda
de acordo com o nosso universo binrio, no param de criar razes multplas
e esto j preparados para o acidente, para a interrupo, assim como a soci-
edade humana e as suas mquinas da razo. Existe sempre um subterfgio,
um mecanismo de alteridade, uma ltima mscara que salvaguarda as medi-
aes patentes em todo o organismo. A organizao molar interna continua
preparando o ingresso dos objectos do exterior. Acaba-se com as alienaes,
porque o que se pretende criar liaes, extenses, prolongamentos de u-
xos que so constantemente modulados e re-modulados para que nada fenea.
As mediaes agora so absolutas e non-stop, embora os mecanismos tc-
nicos que as suportam se desarranjem, o que no importa, pois as mquina
desejantes funcionam, mas desarranjando-se... (DELEUZE & GUATTARI).
Sem m possvel, as organizaes dos media que hoje se entrelaam como
certas formas de razes e arborizaes biolgicas, criam uma terceira natureza
a da tecnicizao de todas as culturas, depois da cultura se tornar nossa
segunda natureza. A tecnicizao da experincia e da cultura incontrol-
vel a partir do momento em que a sociedade Ocidental, que cada vez mais
marcada por um fascnio enorme relativamente s mquinas, institui a possi-
bilidade de arquivar e expor tudo o que h sobre o Homem e suas prteses.
Como a tendncia para a ligao, todas as multiplicidades exteriores so
englobadas, catalogadas apressadamente como extenses, logo aps a colo-
nizao levada a cabo pelo organismo total, que o momento em que se d
a desterritorializao, coisa que os media digitais realizam sem trmino,
unindo-se por protocolos de programas de remendos, que assim entre-ligam
as vrias dimenses e os vrios plateaus do ciberespao. O ciberespao
assim uma arena multidimensional, um organismo de milhares de plateaus
interligados, onde as ligaes so mais que os plos, pois nelas que a lin-
guagem ui, embora seja nos plos que esta seja preparada. Ao organismo
cabe a responsabilidade quase consciente, na sua totalidade de signicao,
de aprovar os programas que todos usam e que tudo mediam. Essa instn-
cia seria a que FLUSSER apelida de meta-programa, i.e., o dispositivo que
permite a criao dos demais programas. Consequentemente, se se manipular
o meta-programa tudo se permite, e assim surgem obras, como o Museum
Meltdown, da autoria de Palle TORSSON e Tobias BERNSTRUP, que visam
justamente a manipulao de imagens de videojogos, ainda na instncia off
line do meta-programa.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 219
A Net esse mega-organismo rizomtico, sem territrio concreto, des-
territorializado, um mundo tecnolgico socializado pelo chat e pelos MUDS,
pelo ICQ, pelo IRC, pelos newsgroups epelo MSN. A Rede uma nova do-
ena, uma espcie epidmica de seres que se socializam pela segunda natureza
que a tecnologia das mediaes dos media online.
S a tenso online/ofine interessa, pois entre ambos os estados que
ocorrem as mediaes. O que conta o estar em linha, mas o mais curioso
como a cultura cyber, que uma cultura de rua, transfere para o mundo
nito e multidimensional do ciberespao o perigo e o schemata das relaes
interpessoais de rua, de gang, quando a dissenso organizada injecta a sua
morfologia e os seus discursos com os contedos da cultura do computador,
que marginal, de onde o culto e mitologia construdos em torno da gura do
hacker, que se impem perante a gura do demiurgo e do gnio romntico,
custa da tecnocincia que lhe fornece o privilgio de enveredar pela opo
errada.
O hacker anti-genealgico, a gura mitolgica do ciberespao que
casa com os novos desertos dos media digitais, que muito incitam a explo-
rao. Mas trata-se de uma explorao veloz, que tudo desgura e que pre-
cisamente por isso produz o novo, o chocante, o inquietante, o des-gurado,
porque o rizoma-Net uma doena virtica que tudo hipnotiza, um ambiente
sem princpio, nem m, s com meio, um grande labirinto de informao
replicada e desviada, onde poucos sujeitos se encontram e onde muitos se cru-
zam. O que permanece na constante descarga de informao o choque - a
de-formao de contedos e imagens que ento permite a formao de algo
novo, j no em torno de mltiplos passados, mas em torno de mltiplos pre-
sentes. S existe o agora, a temporalidade do meio, o ambiente, as pessoas
so apenas simulaes de entidade, meros pees que entram no labirinto do
organismo-Net sem conseguir escapar ao minotauro, para trs cam as lem-
branas do passado, para a frente um futuro que no interessa esboar. Redes
e sub-redes, viroses e pragas biolgicas, azares nucleares e desastres epid-
micos, tudo funciona de forma rizomtica como o desejo. O paradigma o
camaleo, o modelo o no-modelo, o rizoma est institucionalizado, reecte
uma vontade, uma forma de fugir lgica pela esquizoidia, porque s a lou-
cura independente, surreal, mas existir essa vontade no acto de criao dos
ambientes de VRML (Virtual Reality Markup Language)?
Os media espalhamos seus tentculos de forma total, o redil tridimensionaliza-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
220 Herlander Elias
se com satlites e as cmaras de microondas diluem paredes, o mundo j no
est somente viciado em imagens de si mesmo, interessa adicionar-lhes as
dependncia do novo. Moda, consumo, sexo, promoo publicitria, litera-
tura, epistemologia, marketing e pornograa casam na cibercultura na igreja
de cmputo. Se antes os media se contentavam com telenovelas que dura-
vam dcadas, intercaladas com promoo de champs, se antes a moda feita
por computador repugnava os punks que logo lhe responderam com a roupa
kit, agora nem a porno-logia extinta, ela directamente assumida, o labi-
rinto do Minotauro dissolveu as suas paredes, agora s existe a grelha cartesi-
ana, um mundo tridimensional que pode ser consultado em qualquer momento
e em qualquer lugar, porque responde ao desejo virtico, no tem horrio, o
que interessa satisfazer a pulso que os media exploram. O discurso dos
media veloz, kitsch, softcore, uma mistura de telenovela com videojogo
e ciber-sexo, uma nova narrativa capitular de maquinarias de desejo, inteira-
mente pensada para viciar espectadores e jogadores interactivos, perdidos na
onlineness, enquanto o dinheiro se desintegra em e-money e o corpo se
torna mais activo pelo sexo e mais leve pelas drogas.
Por toda a parte as mediaes se impem directamente, ou subliminar-
mente, deixando apenas um espao livre: o do como, pois s a mediao
mais forte ca, mesmo que alimente o sistema, pois a metamorfose vem por
dentro, em regime soft, ou por fora, em regime hard. A nica sada
a entrada, o mundo ldico da cibercultura casa as contraculturas com as re-
tricas dos media, permitndo mais ingressos nas mediaes dos media, que
tudo fetichizam e kitschicam, aumentando os seus mapas, planos, grelhas
e programas, que outrora eram meros cones de jogos de xadrez, fsica, guerra
ou biologia. Agora tudo est a obedecer mesma lgica: o mapeamento
de real levado a cabo pela digitalizao. Uma vez digitalizado todo o real,
apenas as elites do controlo e das armas dispem da capacidade de intervir i-
mediatamente no real, porque o conhecem de antemo. Os norte-americanos
possuem um sistema de simulao de guerra, em que cada centmetro do pla-
neta est digitalizado e re-texturizado em3D. Aideia exactamente agir quase
directamente sabre o real, como os cyberpunks, com a ligao directa ao c-
rebro, a nica mediao apenas a da tcnica, que de to sosticada rebenta
com o conceito de tempo, instituindo a tal velocite de liberation, a escape
velocity, cria-se o tempo-real virtual, que parece natural dada a compensao
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 221
existente entre a sua velocidade e o tempo de mediao desempenhado pela
tecnologia.
Os novos espaos so abertos, rizomticos, funcionam em redil, como as
raves, onde o desejo fala mais alto que a linguagem, onde o som do polir-
rtmo e do ritmo cruzado suplanta a mediao da linguagem, onde os ritmos
se inter-colam, desocultando as paisagens snicas, onde tudo se abre e liga
num mesmo plano de consistncia. Tal plano que nmada, desmultiplicado
e replicado, tambm fora da lei, porque criam-se muitas margens, muitas
extenses e no muitas entradas homogneas nesses mesmos novos espaos.
H uma generalizao do hbrido e do novo que leva a uma reterritorializa-
o do espao pela prpria violncia do novo, cuja velocidade de escape tudo
des-gura e re-congura.
Nos media a vida non-stop, fora das mediaes s existe a morte, a
paragem de uxos e a inteligncia alienada das mediaes, coisas que repug-
nam a nossa sociedade. A marginalidade de rua ento a extremidade do or-
ganismo dos media, que se prepara para assaltar a segurana dos organismos,
porque a alienao apenas se justica no ingresso para esses mega-organismos
dos media, o mundo fantasmtico da informao e da comunicao, todos
querem o ticket para viajar para os maiores agregados de intensidades, ci-
dades, centros de diverso e theme parking da realidade, ncleos duros de
informao e shoppings so alguns dos locais de espectculo que funcio-
nam como pontos nodais. Praticando uma articulao com esses mesmos
pontos nodais, consegue-se obter a entrada no organismo dos media, porque
depois basta apenas manter a ostentao dos mesmos cdigos e desenvolver
as propriedades de sublimao adequadas.
No talvez por acaso que a Net, os hipermercados, os jogos online, as
orgias, as databases e as catstrofes colectivas atraem as atenes. Trata-se
simplesmente da existncia de acontecimentos intensos, fenmenos de con-
centrao, que ao pedirem informao concentrada dispensam outras linhas
de articulao que no as de ligao ao organismo dos media. Digitais, ou
no, so rgos de acontecimentos, assim como as prticas dos serial kil-
lers e dos mass killers, o que interessa levar os esquizides a ingressar
no mundo dos media, assim se justicam as notcias dos loucos que matam
centenas de pessoas, os desastres ecolgicos e os bugs informticos, o que
estes factos tm em comum o desejo de associao, interessa agrupar, in-
tensicar, centralizar e depois afastar, um pouco como a shockwave de uma
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
222 Herlander Elias
bomba termonuclear. Mas nem a destruio apocalptica termina com a t-
pida linearizao do progresso ocidental, h uma iluso do m, est provada
a uidez total, nada termina, tudo se interliga. A reter s cam as passagens,
e nos intervalos quase imperceptveis dessas passagens que age a comunica-
o, surgindo imediatamente sem mediaes aparentes no caos dos media de
rede virticos, a comunicao d-se nas aberturas, est muita em causa nessa
viagem de traduo.
Pela replicao aumenta tambm a informao acerca dos acontecimen-
tos, de forma a rentabilizar os investimentos aplicados nas mediaes de pro-
duo dos respectivos acontecimentos, a repetio amplia o desejo de associ-
ao, o que se verica ao nvel do organismo-Net, embora exista o medo de
que a virtualizao se imponha. A virtualizao total, a totalizao das ex-
perincias electrnica e ciberneticamente mediadas, que fora um dos sonhos
dos ciberpunks, revela somente que na virtualizao que estamos, e sempre
estivemos, se tudo no fosse representao para qu s agora a preocupao
com as real things e com a extino do real? Anal, a sociedade ociden-
tal mais no fez que planear, representar, mapear, e jogar com os referentes
efmeros, s que agora, milnios depois do homem das cavernas que se ame-
drontava com os mitos chuva e vento, existem as condies para que sejamos
Deuses. Eis a metfora que BAUDRILLARD usa em The Ecstasy of Com-
munication, quando diz que o deck do computador fornece a mscara do
demiurgo ao homem que preside s consolas cibernticas de networking.
O que se depreende da metfora de BAUDRILLARD, que o homem, que
retirou Deus da equao da concepo e destruio universal, que se guia pela
razo jurdica e pela razo cientca, ocupa agora a gura do demiurgo. Pior,
julgo eu, os demiurgos podem ser vrios, em tempos e espaos diferentes,
independentemente do lugar que ocupam como mortais na sociedade.
O computador, que o nico resduo da era nuclear e da Guerra Fria que
se disfara de complemento de electrodomstico, tenta agora intensicar-se
como uma energia sobrenatural, assumindo a presidncia das mediaes dos
media, que agora se vem confrontados com as redes, as viroses e as digitali-
zaes metamrcas, capazes de tudo criar e re-criar, contribuindo para esse
crime perfeito, que o acto de o virtual devorar o real. Surgindo preparado
para a guerra nuclear, para o nomadismo e para o controlo, o computador ex-
pande os seus tentculos, ocupando a ctedra da gura de ummediador univer-
sal, do qual tudo depende, gerindo economias e arquivando processos-crime,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 223
efectivando o maior e mais perfeito crime da civilizao ocidental global, me-
tropolitana e cosmopolita. Assim surgem fobias ligadas homogeneizao
da experincia e fcil determinao de todas as probabilidades da realidade,
agora disponvel em qualquer desktop. Tendo o real totalmente cartogra-
fado, s interessa exibir o poder das mediaes, simular o acidente bblico
esperado para que se legitime o incio redentor e prspero. A promised land
continua no virtual, e a extenso do organismo dos media to globalizada
e potenciada que a tudo parece responder no esqueltico dualismo da ciber-
cultura do computador moderno. As experincias pobres, pouco autnomas
e oclusivas, pouco ou nada afectadas pelo real, tornam-se adjuntas da magni-
tude do ciberespao, expondo-se e dispondo-se sob a gide da novidade, do
acidente, do ridculo, do monstruoso ou do simplesmente sinttico.
O espao que se institui sem reverso possvel est pronto a agregar e a
gerir, um controlador de todas as linguagens, que logo so convertidas no
domnio do numrico, que no j s numrico, como a no j s a es-
crita sequencial, os dispositivos cibernticos criam novas graas que so j
alfanumricas. Estas novas escritas, estas novas graas, quando encriptadas,
cam protegidas no de fora, mas de dentro, no to s contra os alienados
dos organismos mediticos intercontinentais, mas protegidas sobretudo con-
tra os agentes de informao internos, que so os que mais prximo esto da
informao intensa.
O trco de bits, o tambm chamado ciber-crime, implica que se prati-
que uma mediao directa e preciosa, capaz de prescindir de diversos pontos
de comunicao. Rumo ligao directa, o contacto feito com o sujeito
e objecto certos. Hackers e inside traders diluem percursos e apagam
pistas, tentando ganhar algo com uma mediao mais veloz, mas, como diz
VIRILIO, entre sujeito e objecto existe agora o trajectivo, que a faixa de
mediao, a linha de articulao que une os plos de comunicao, e se existe
uma linha assim, porque ela detectvel, obediente mesma linguagem,
de onde a necessidade dos processos de encriptao. Sem encriptao, esse
espao do domnio do trajectivo pode ser o desvio escolhido por quem opta
tracar informao entre plos de comunicao diferentes ou at antagnicos.
Por outro lado, se a replicao de informao enorme no organismo-
Net, em particular, porque existe uma injeco massiva de contedos inter-
ligados, semelhantes ou mesmo homogneos, que tudo hibridiza numnovo
cada vez mais generalizado e ordinrio, cada vez que o sistema se re-dene
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
224 Herlander Elias
ou cresce, recongurando-se. Talvez o medo da interrupo e da interfern-
cia seja legtimo face aos uxos mediados non-stop das redes de media,
que naturalmente segregam a mesmeidade. O desejo de interrupo sbita ou
de interferncia demorada proporcional ao desejo de integrao no mega-
organismo dos media, porque se tudo se multiplica de forma epidmica e des-
controlada, embora maioritariamente adentro ao espao de controlo dos media
cibernticos de rede, porque existem duas faces a do @ de Acesso ci-
bercultura e a do A de Alienao e Anarquia. A anarquia que teve o seu
nascimento com o punk londrino e nova-iorquino, que agora transferiu a
dissenso organizada para o ciberespao, que o local de alicerce da Fun-
dao da Fronteira Electrnica pela qual se defende a necessidade de existir
uma anarquia organizada, que julgo ser identicvel.
Se os integrados defendem o organismo-Net das mediaes exteriores,
querendo expandir os seus uxos, o seu modelo, os apocalpticos preferem
o corte, o no modelo rizomtico deleuziano, utuante, multidimensional,
o incontrolvel mundo do desejo, mas o resultado o casamento das duas
faces, um ambiente-de-media que se desenvolve de forma binria, inven-
tando notcias e propaganda, teses e antteses, sintetizando-se um mundo que
ganha o valor de exposio veloz, imediata; e assim a mitologia do ciberes-
pao se assume, ora como arena de novos motins e foras da normalidade,
ora como palco de velhos e novos uxos. Mas o resultado mais bizarro, o
excesso de mediaes e de representaes de experincia to abismal, que
existem mais formas de representao e de mediao que plos de comuni-
cao, mais linhas de articulao que sujeitos de enunciao, mais formas de
vender e comunicar e experimentar que objectos e factos reais, o que muda
a mediao que as coisas tomam. As mediaes e as simulaes no so ape-
nas antecessoras ou determinantes no real, elas desempenham a sua funo
a ligao entre os homens atravs desse mediador universal que a experi-
ncia. Tanto assim que no interessa comprar o produto, aceder ao objecto
ou comunicar com o sujeito, a ateno est voltada para o acesso media-
o, porque esta j pode prescindir do seu referente, justamente por instituir a
representao trabalhada.
A interseco total torna-se to intensa que quase impossvel chegar ao
seu ncleo duro, ao seu hard core, quer para acesso, quer para destruio, o
que leva criao de mitologias acerca da fundao desta civilizao de uma
s cultura tecnopop global e veloz, cuja envolvncia justica precisamente
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 225
um segundo automatismo, alm do primeiro que do domnio da natureza, da
physis, o que controverso, tendo em conta o lugar perverso que o compu-
tador ocupa em torno da Inteligncia Articial, da robtica e dos programas
dos ciberpunks hackers.
Tamanho sistema de meio(s) de comunicao, ao assumir-se como forte
arma arqueolgica, aponta assim para uma espcie de Biblioteca de Alexan-
dria ou de Babel, na qual toda a informao acerca do Todo estaria disposta
e acessvel, estando a (in)nitude matemtica a circunscrever todas as existen-
tes morfologias e fenomenologias. Volta-se metfora do Homem que retira
Deus da equao do Genesis, assumindo o controlo do barco, cibernetizando-
se, sobre machina ex Dea, perante as suas consolas de monitorizao da
realidade. Com um espao de saber autnomo, voltil, to repleto de uxos
como um ser vivo biolgico, esses organismos cibernticos de saber parecem
tentar autonomizar-se, desenvolvendo emoes, desejos, aps a capacidade de
pensar. Assim acontece com guras da tecnologia ctcias... mquinas como
HAL em 2001 ou como Proteus IV, o computador gestor domstico que en-
clausura uma mulher e a viola dentro da sua prpria casa, chegando a traduzir
a sua personalidade para frmula ADN, nascendo organicamente como feto
humano, em Demon Seed (Dean KOONTZ, 1977).
Mas precisamente contra o despotismo e contra a ideia de uma super-
entidade que os marginais lutam, desenvolvendo afeces e paixes para com
o bizarro, tentando interromper ou danicar as mediaes mais abrangentes
do poder e so essas aces novas que pedem j novos espaos. Veja-se o
caso de Strange Days lme em que est patente que o mediador universal
(a experincia) colide com a mquina das mediaes sociais e tecnolgicas,
aquela que o arquivo da experimentao (o computador de rede moderno).
Talvez seja importante salientar a existncia de novos operadores de experin-
cia, das novas guras que re-conguram a experincia. Re-conguram porque
conseguem manipular e tracar as experincias como se estas estivessem ao
nvel de uma qualquer coleco de imagens bidimensionais, no entanto tudo
se complica quando as experincias deixam de ter o perigo directo, para o
armazenar como representao de um perigo experimentado, uma espcie de
simulao de ex performance. Neste lme de Kathryn BYGELOW, escrito
por CAMERON, quando deixa de haver vida, existncia humana, deixa de
haver experincia e, mais importante ainda, deixa de haver registo de experi-
ncia, o que indissocivel da experincia como medium absoluto, tendo
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
226 Herlander Elias
em conta as possibilidades inerentes s mediaes capazes de replicar essa re-
presentao acerca de uma experincia real. A Realidade Virtual, tal como
o meio de McLUHAN fechada, nita, mas super-apetrechada de proto-
colos de adaptao e de re-modulao e re-formatao, tudo se converte em
tudo. The end is the beginning is the end.
Na contemporaneidade, assim como na co Strange Days, a experi-
ncia a coincidncia entre a mediao tecnolgica de registo e a vivncia,
porque as aparelhagens de registo da experincia funcionam de acordo com
a libido e com a computao. As personagens neo-romnticas de Strange
Days juntam paixes e tecnologia em nome do vcio, pondo em prtica o
esquema da losoa do desejo, o teorema das mquinas desejantes, quando
no sculo XVIII/XIX, durante a Aufklrung, a fantasia havia fugido da des-
crio cientca e rigorosa dos fenmenos, com medo da nitude do tubo de
ensaio e da matematizao do real, que agora legitimam a explorao do de-
sejo no ciberespaos on ou off line.
A experincia efeito de tudo, em Strange Days ela experimentao,
ela programa, ela registo, ela vida, ela prazer e desprazer maneira
de KANT, mas isto no implica que enquanto artifcio ela no seja re-vivida.
Justamente por existirem dispositivos tcnicos capazes de novas mediaes,
ela sofre umprocesso de traduo que lhe confere outras morfologias ou meta-
morfologias, se calhar porque a experincia cada vez que se afasta do perigo
seduzida pelas mediaes sedutoras das mquinas sociais e tecnolgicas,
adquirindo um novo formato, protocolar, ciberntico. De onde surgem outros
perigos, como a tecnicizao do vcio ou a experincia tracvel.
Em Strange Days o conhecimento, a informao igual ao doloroso,
porque marca, as imagens multi-sensoriais de Virtual Reality que a reali-
zadora nos fora a ver, como se de um videojogo tridimensional na primeira
pessoa se tratasse, revelam essa noo de experimentao, marcante, tambm
ela conexa com a questo do registo. Alguns comportamentos de hoje volta-
dos para os cultos de graas como o piercieng e o branding, que so
lhos da tattoo primeva e tribal, revelam essa tendncia para a reteno da
linguagem, sob a gide do texto ou dos pictogramas, contra as efmeras e ca-
tastrcas viroses informticas, que podem pr todo o organismo dos media
em risco. O objectivo deste tipo de prticas, to primitivas quanto modernas,
reter informao para que esta no perea, fugindo-se s mediaes panp-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 227
ticas custa da proclamao de uma nova espcie de superfcie de registo - o
corpo-arquivo do ciberpunk.
Fora das prticas ciberpunk dos modernos primitivos, o corpo tambm
visto como uma network privada, sobretudo a nossa aparelhagem neuronal,
que semelhana do conceito de rizoma em DELEUZE e GUATTARI, s
tem sentido se se ligar a algo mais, a um mecanismo, porque uma mquina
isolada por si s, no desejante, esquizoide. Interessam as novas ligaes,
o sexo colectivo, o trco, o inside trading, o tele-marketing, o cyber-sex
ou o raving (vrios corpos de ravers interligados pela ingesto de qumi-
cos). Como o novum chega pelo espectculo ou pela marginalidade, pela
parte ou pelo todo, est indubitavelmente em causa a hiperconexo de todos
os estratos para que a realidade seja experimentada e acedida como um registo
de media, estando disponvel como se estivesse museicada. Existe mesmo
uma relao muito interessante entre o museu (virtual) e o os media de rede,
o primeiro organismo (o museu) cibernetizou-se, prolongando-se no ciberes-
pao, ampliando-lhe os registos e tornando-o em palco das relaes entre os
artistas da nova arte a cyberart; e o segundo organismo (o ciberespao)
assume-se como espao museolgico e arqueolgico da realidade, ao existir
como arquivo da cultura contempornea.
Apenas cam os plateaus, os multidimensionais estratos da sensao e
da lgica, um supermundo de plataformas a interligar, em que a perverso e o
gozo se concretizamna maneira como se afectamessas diferentes plataformas,
um pouco semelhana do que se passa em videojogos como Kurushi ou
The Sentinel. No primeiro jogo, temos que nos manter nessa plataforma
suspensa e virtual, de forma a no cairmos no vazio. No segundo videojogo,
temos que eliminar as vigias tpogrcas de forma a irmos subindo os relevos
de um mundo tridimensional, do solo mais sub at ao topo nietzcheano da
montanha, a questo como que fazemos, que estratgia adoptamos, para
chegar ao pico onde se situa a sentinela, a gura que tudo controla com o seu
olhar panptico. GIBSON, DESCARTES e FOUCAULT estiveram sempre
interligados, ou h um all seeing eye em todas as culturas?
Nesta cibercultura tudo uma reaco ao mainstream entediante da
pop e da moda feita por computador. A homogeneizao produz a esqui-
zofrenia, o desejo outro, cria-se uma distncia relativamente diferena, o
desejo de integrao no ilgico como nico ponto de fuga de todo este qua-
dro hiper-copiado. Na tentativa de absolutizao das mediaes dos media,
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
228 Herlander Elias
continua-se o pavimento da salvaguarda dos retricos discursos da mentira,
da representao, da replicao, criam-se discursos hbridos, em tudo seme-
lhantes aos do exterior, quando se injecta a marginalidade dentro do prprio
ciberespao. As linguagens de encriptao tornam-se uma arma de defesa do
sistema contra si mesmo, quando o marginal introjectado no seio do closed
space do ciberespao, pois recorrendo a linguagens de defesa, relativamente
ao exterior, o sistema cria o seu prprio espao de alienao, pois exacta-
mente ele que abre uma excepo para si mesmo. Pelo excesso de integraes
e de acessos (@), o sistema onstitui a alienao (A) que sempre o legitimou,
anal.
A estrutura expansionista dos media, que insiste em proteticar o nosso
sistema nervoso central, depois de efectivar o seu redil labirntico, as suas
arborizaes enigmticas, acelera os seus uxos de forma a desvanecer apa-
rentemente o tempo necessrio mediao. Tentando implementar o conceito
inaplicvel de tempo-real, e assumindo umcomportamento to veloz quanto
automtico, o resultado o desejo de interrupo e de interferncia, ora por
esquizoidia, ora por desejo de distorcer o (sur)real. Parar uma ameaa ao
sistema dos uxos, mas o live, o directo, perigoso porque aliena sempre
algum das urgentes mediaes, quando os media de rede tm proclamado o
contrrio a tendncia para a ligao. Between the desire to get wired and the
desire to interrupt or interfeer?
Tal como em Strange Days, a experincia que interessa agora uncut,
no requer os servios dos editores de imagem, nem a mudana de ponto de
vista, o que est em causa uma coisa totalmente nova a fobia da interfe-
rncia ou da interrupo, que assim legitimam a acelerao dos uxos medi-
ticos, que no param de tecer brosas relaes ciborguizantes desde a dcada
de 80, fundindo computao e libido. Os media de massas de hoje, como
o network computer, favorecem os novos territrios, que adoptam uma n-
voa to misteriosa como as imagens da Idade Medieval para os Romnticos
germnicos.
Contudo, estes territrios no so espaos de paragem, so espaos de u-
xos, vias de comunicao non-stop, onde as mediaes se complementam
e se ultrapassam, mas no se substituem, embora haja uma certa homogenei-
dade nas mesmas. E porque tudo cai na teia dos media de rede, aniquila-se
o outside. Por isso o trco de informao rende para os inside traders
e suas mediaes resumidas, o que lgico, se o real absorvido pela cam-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 229
pnula do virtual, que tudo regista e falsica, e se o outside um reduto
marginal de alguns nmadas esquizides.
Everything is already inside.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 12
Blade Runner: O Habitat Ciborgue
1
12.1 Perigo Iminente
Blade Runner, o lme de Ridley SCOTT, uma co que tem resistido ao
tempo, e que revela uma sociedade marcada pelo impacto irreversvel da tc-
nica descontrolada. O clima, as relaes humanas, as relaes entre homem
e mquina, orgnico e no orgnico, virtual e real, tomam propores preo-
cupantes. Blade Runner expe um mundo no muito distante do nosso que
prolonga as consequncias da actual tecnologia no mundo. Enquanto viso
distpica do futuro, o lme de SCOTT tem a importncia que tem por mostrar
que o futuro tambm pode ser uma re-interpretao do passado, uma actuali-
zao, sendo que a tcnica a responsvel por mudar o mundo. O subttulo
do lme em portugus Perigo Iminente porque h um perigo subentendido
no lme, o de uma tecnologia capaz de gerar humanos to ou mais genunos
que os prprios humanos, e essa tecnologia a da replicao. O perigo o
de o sobre-humano se manifestar, o bizarro tecnolgico, o olhar da tcnica na
ris de um dos replicants Nexus-6.
O lme Blade Runner compreende precisamente esse carcter futurista e
ao mesmo tempo retro, de algo que no cou resolvido na modernidade, a
viso negativa de um futuro, ainda assim romntico, implica um carcter des-
critivo da tecnologia; bem como um carcter prescritivo no sentido em que
1
Ensaio apresentado no Seminrio de Mediao dos Saberes do Mestrado de Cincias
da Comunicao Variante de Cultura Contempornea e Novas Tecnologias, na Faculdade de
Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2006/2007.
231
i
i
i
i
i
i
i
i
232 Herlander Elias
alerta e elabora um prognstico exagerado do mundo contemporneo, anteci-
pando o inquietante. Todo o projecto do lme assenta num outro projecto da
cincia, o do rob como projecto epistemolgico. S que em Blade Runner,
os robs, os andrides Nexus-6 so activados e no nascem, apesar de serem
feitos de carne cultivada e manipulada em laboratrio. O grande dilema que
os replicants so sempre rplicas, designados para estaremsocialmente abaixo
do estatuto dos humanos, mas so tecnologicamente superiores. bvio que
em Blade Runner h um campo do ciborgue que real e simultaneamente
co cientca, porque se trata de um campo de tecnologias emergentes, de
fronteiras diludas, de incorporaes tcnicas e extenses orgnicas; trata-se
de tornar o mundo quotidiano num habitat ciborgue. Blade Runner revela
esse habitat, esse mundo urbano em decadncia em que a tecnologia promis-
sora necessita de mais espao e tempo ainda para se expandir. Por exemplo a
cidade enquanto local de mquinas tem dimenses exorbitantes e de megal-
pole, e os replicants precisam de mais lifespan, isto , tempo de vida. H uma
recusa em parar, nada parece parar, mas com tanta tecnologia, a qualidade de
vida parece recuar em vez de progredir.
12.2 Articial vs Real
Se os objectos se tornaram mais preciosos que a vida orgnica porque a
vida se tornou hostil e a natureza no tem o mesmo sentido. Os objectos
inorgnicos representam uma retoma de controlo sobre as coisas animadas,
quando no h controlo sobre nada mais. A natureza est disforme, os animais
vivos foram praticamente extintos, a chuva cida e o impacto da revoluo
industrial bvio. O meio ambiente est to mal tratado que as classes altas
de seres humanos emigram para as colnias espaciais em busca de melhores
condies de vida.
FLUSSER quem arma que: antes os instrumentos funcionavam em
funo do homem; depois, grande parte da humanidade passou a funcionar
em funo das mquinas (1985, p.27). Ora em Blade Runner isso que nos
dado a ver, pois a Los Angeles do futuro uma cidade das mquinas, mas
desta feita requer mquinas legais, que tenham a sua cidadania aceite, legali-
zada, como os humanos. O que estranho que as mquinas so feitas para
parecer mais humanas que os humanos, e os humanos parecem mais frios e
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 233
tecnicistas que as prprias rplicas, (replicants) O universo de co cient-
ca que Blade Runner amplia todo ele retirado da obra de Philip K.DICK
Do Androids Dream of Electric Sheep?. E no deixa de ser curioso que o t-
tulo deste romance, que d origem ao lme, contenha em si a dvida acerca da
tcnica que todo lme explora. Anal, se os replicants eram articiais deve-
riam sonhar com o articial. A inquietao derradeira que, ao serem criados
imagem de um homem sem Deus, os replicants tm sonhos humanos, e no
sonham com carneiros elctricos, de forma alguma. O impressionante que
apesar de os replicants terem implantes de memria, e portanto estarem do-
tados de um imaginrio ciberntico, com emoes previstas para o controlo,
nada disso os limitava. Se por um lado os quatro anos de vida os angustiavam,
por outro lado o imaginrio onrico tambm os caracterizava
2
.
A poca que Blade Runner retrata uma poca em que os efeitos de de-
sumanizao da tcnica na humanidade tm sub-efeitos humanizadores nas
mquinas. No por acaso que o lema da Tyrell Corporation, a empresa que
sobressai na paisagem de Los Angeles, precisamente o de fazer humanos
mais humanos que os humanos. O que o lme mostra claramente o excesso
de populao, o excesso de cidade, o controlo social, um universo distpico
em que a tecnologia no conseguiu implementar um mundo melhor, o pro-
gresso no funcionou de alguma maneira.
Tambm interessante constatar que Deckard, o protagonist, tem um
nome que foneticamente se assemelha a Descartes. E se recordarmos da
designao que DESCARTES atribua aos seres vivos, a de automata mecha-
nica, compreendemos por que que o protagonista temtal nome. uma ironia
que algum assim chamado seja uma mquina, como se descobre no nal do
lme. Contudo, tambm h que sublinhar que Deckard algum que tem
papel importante na histria do ponto de vista poltico, porque a sua funo
policiar Los Angeles e enquanto polcia poltico exterminar os replicants
ilegais, o que doravante se designa pelo eufemismo de reforma.
2
Numa das sequncias da verso Directors Cut do lme o blade runner Deckard sonhar
com um unicrnio branco. As ilaes a retirar desta sequncia que na verso regular do lme
o inspector Gaff conhece o sonho de Deckard e por isso lhe deixa um origami em forma de
unicrnio; porque os sonhos de Deckard eram implantes de memria previsveis. Em suma,
Deckard um replicant, mas um replicant feito para policiar a polis. A cidade est de facto
repleta de mquinas.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
234 Herlander Elias
12.3 O Lugar-Limite
A fuga dos replicants das colnias espaciais um efeito colateral, como tantos
outros, de que a tcnica responsvel na co psmoderna de Blade Runner.
Por exemplo os replicants foram criados para servir o humano e querem ser
deuses, os humanos querem amar e pendem para o estdio maquinal, os seres
vivos foram exterminados e so ressuscitados por uma tcnica mecnica ou
gentica. O confronto, em Blade Runner
3
, que leva a que os replicants
exijam mais, da se aventurarem a auto-expulsarem-se da comunidade laboral
a m de ir falar com o criador.
A forma como SCOTT desvela o universo de Blade Runner peculiar,
uma vez que mostra os andrides Nexus-6 a serem caados num habitat que
j no o da physis, e muito menos o da humanidade, um habitat cibor-
gue, onde as incorporaes tcnicas so tais que difcil denir onde comea
o humano e termina a mquina. O replicant enquanto objecto cientco no
foge ao sistema da previso e do controlo, porque as memrias tornam-nos
previsveis e as emoes permitem que eles sejam facilmente controlados. O
imaginrio era a forma de suprimir o lado maquinal e a falta de nascena,
bem como a de infncia e de me
4
. Em Blade Runner o argumento claro
em criticar a densidade urbana comprimida de um mundo cada vez mais glo-
balizado, enredado e sobrepovoado; as zonas crepusculares introduzidas pela
saturao meditica e o colapso das narrativas mestras; as regies fronteiri-
as enevoadas entre identidades e espaos. A obra que K.DICK escreveu (Do
Androids Dream of Electric Sheep?) j exigia que se re-imaginasse o espao
em si mesmo. A Los Angeles do lme no fundo um lugar-mquina, um
territrio ciborgue simultaneamente real e virtual, orgnico e mquina, sano e
esquizide, uma arena de multiplicidades, de construes e desconstrues.
A polis que o lme nos d a ver um lugar-limite, uma zona-limtrofe
que revela todo o carcter predatrio da tcnica, mas que nunca no deixa de
3
Em todo o lme, como em todo o universo de co criado pelo escritor K.DICK, em
histrias como A Scanner Darkly O Homem Duplo, ou O Tempo dos Simulacros, h sempre
um confronto entre o real e o virtual.
4
No casual o facto de o lme comear com um dos interrogatrios mediante o mtodo
Voigt-Kampff, em que a um replicant se pergunta algo sobre a sua me. Os replicants no
eram gerados, eram activados, logo a nica me que tinham era a tcnica. Enquanto subpro-
duto da tcnica moderna, mais avanada, os replicants no poderiam ser corrigidos, apenas
reformados.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 235
ser tcnica. na cidade, na megalpole, que tudo ocorre, que a liquidao
do real e do referencial precede a do extermnio do Outro. Tudo termina em
extermnio, a predao da tcnica culmina com a tcnica a ser predadora da
prpria tcnica, de que serve exemplo a cena em que Deckard (uma mquina)
mata a replicant strip-teaser (outra mquina). Daqui se conclui que o ca-
rcter predatrio da tcnica no se consegue ocultar, o mesmo que a prpria
tcnica, o que altamente inquietante e estranho, dado que se replicam seres,
que se criam extenses do humano (prosthemos) para se auto-anularem. Este
habitat ciborgue perverso e bizarro, tornando-se um espao do necro, em que
em ltima instncia o humano se domestica. Os replicants representam essa
viagem ao interior da inquietude, a revelao do mundo furtivo da mquina
anal racional e emotiva.
Em ltima instncia os replicants so os seres ideais para povoarem a ci-
dade futurista, porque so concebidos para lidarem com situaes extremas,
para andarem por sobre o o da navalha. por isso que Deckard, o pro-
tagonista, desempenhado por Harrison Ford, logo no incio do lme auto-
apresentado como sendo ex-polcia, ex-blade runner. O que signica que
ele h muito estava designado para este tipo de misses, para enfrentar o
perigo iminente de uma polis tornada ela prpria um local-armadilha, donde
o sugestivo subttulo do lme em portugus. O que preocupante que a
polis seja um habitat ciborgue, um territrio pensado por humanos calculistas
para mquinas emotivas, que anal se revela palco de humanos indiferentes e
mquinas especiais. O carcter predatrio da tcnica incontornvel.
Um cenrio de nostalgia por um barroquismo tcnico desprovido de signi-
cado, sobre retro-futurismo, em ltima anlise o que tipica Blade Runner.
A nica coisa que tem signicado o modelo matemtico, a lgica da anlise,
da representao e da investigao. A natureza degrada pela tcnica torna-se
hostil e ao humano resta apenas catalogar a origem geomtrica da natur. O
que no quanticvel cienticamente irrelevante.
So muitas as cenas em que as personagens anseiam uma estabilidade
que no lhes concedida. Apesar de a matemtica e a tecnocincia serem
dominantes no lme, sendo os replicants fruto dessa procincia, a verdade
que no agem conscientemente como sendo fruto desse processo. Eles so
esse processo, e recusam-se a ser apenas mais um processo. Uma coisa
certa: o sistema cartesiano no mais suciente enquanto centro conceptual
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
236 Herlander Elias
ou modelo tctico para designar os espaos que nos rodeiam e afectam, como
o lme demonstra.
12.4 O Mundo-Mquina
Reectir acerca de Blade Runner reectir acerca do territrio da tecnoci-
ncia, porque todo o lme est impregnado de cincia e tcnica, vemos o
mundo apropriado por mquinas inteligentes. O mundo orgnico foi comple-
tamente desconstrudo pela tcnica, foi tornado matria-prima para manipu-
laes ulteriores; na verdade um mundo-mquina. Em Um Discurso Sobre
as Cincias, Boaventura de SOUSA SANTOS, acerca da tecnocincia, arma
que: este mundo-mquina de tal modo poderoso que se vai transformar j
na grande hiptese universal da poca moderna, o mecanicismo (SANTOS,
1987: p.16). E, na verdade, o mecanicismo que cria o cho para o expoente
de modernismo de que Blade Runner nos d o retrato, desde relgios, cidades,
automveis, ao motor de combusto, at a aeronaves; o mecanicismo preparou
o terreno para a electrnica, a robtica e a gentica.
Numinteressante ensaio chamado High Techn: Art And Technology From
The Machine Aesthetic To The Posthuman (1999), o autor, RUTSKY, caracte-
riza todo este universo propenso para a cincia e o high-tech como sendo algo
dotado de vida prpria, como se fosse possvel a tecnocincia ter o seu pr-
prio agenciamento. Relativamente aos replicants a questo mesmo essa, os
andrides da classe Nexus-6 tinham inteligncia e afeces humanas; os repli-
cants tinham vida prpria, tinham-se separado do criador. A perverso de tudo
isto que no mesmo molde que qualquer aparelho electrodomstico, os repli-
cants tinham vida temporria, o que os tornava to efmeros como qualquer
artigo de consumo. A vida deles neste sentido mais bizarra e monstruosa,
pois quase beira de se efectivarem mais humanos que os prprios humanos,
eis que regressam condio da mquina e perecem, sendo desligados, de-
sactivados, exterminados, reformados. Nesta senda, se um Jos GIL refere
que os humanos precisam de monstros para se sentirem humanos, eu diria
que, em Blade Runner, ns precisamos de mquinas para nos sentirmos mais
humanos.
A monstruosidade situa-se em dois plos, por um lado na criao (quem
os gerou f-lo j dentro desses parmetros), e por outro lado na libertao.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 237
que enquanto subproduto da mais alta tecnologia, os replicants so pura
tecnologia solta ento considerada iminentemente perigosa. O facto de existi-
rem blade runners a caar replicants quer dizer que a tecnologia no devia
ser solta, que a tecnocincia tem que domar as suas criaturas cibernticas,
colocando-as dentro de um sistema de liberdade condicional. O acidente a
excepo na tecnocincia, porque todo o territrio ciborgue lgico, previs-
vel e manipulado. inevitavelmente a reviso do sistema de vigiar e punir
que FOUCAULT explora na obra homnima, pois Blade Runner explora ao
mximo a temtica da microfsica do poder foucaultiana. A nica forma de
controlar os replicants era limitar-lhes o tempo de vida; a microfsica do poder
a agiu ao mais nmo, programando-os geneticamente para se desligarem no
trmino de quatro anos.
Ao longo do lme de Blade Runner o que vai sendo demonstrado que
houve uma mutao dentro da prpria tcnica, o que ocorreu com a evoluo
desmesurada foi que a prpria noo de tecnologia sofreu alteraes. O que
no tecnolgico no pode ser moderno; o tecnolgico a prpria mutao
das coisas ditas tcnicas ou que so alvo de interveno tcnica. A resposta
ao territrio da tecnocincia no des-tecnologizar ou des-tecnicizar, mas
sim mais tcnica, mais mudana, mais inovao. Digamos que nesta ptica
que a resposta a uma humanidade que est mal consigo prpria, em Blade
Runner, tem resposta idntica: a apresentao de mais tcnica; desta feita,
apresenta-se andrides com problemas existenciais replicados dos humanos.
No surgiu qualquer soluo mas uma cpia de um problema j antigo, mas
a tecnocincia de suporte de tudo isto mais extrema. O problema do esta-
tuto simulacral das cpias perante os originais, a instrumentalidade da tcnica,
no so sucientes para explicar tudo o que ocorre em Blade Runner, porque
na Los Angeles de 2019 o principal a destacar que o estatuto simulacral
um m em si mesmo. No interessa s que se produza algo, mas que seja
simplesmente a mais alta potncia do falso: o simulacro. Os replicants apa-
recem assim no mundo como ns, isentos da responsabilidade do mundo que
os rodeia, mas o que se lhes reserva um habitat ciborgue, que em vez de os
acolher, os colhe como um comboio a alta velocidade.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
238 Herlander Elias
12.5 Os Produtos da Tcnica e o Inquietante
Para a Tyrell Corporation os replicants so produtos da tcnica. luz da
viso que HEIDEGGER tem da tekn, a essncia da tecnologia remete no
para o carcter esttico, ideal, mas para um carcter dinmico, um processo,
um movimento. Algo on-going e ligado poiesis. Os replicants so, dentro
desta moldura terica, uma produo. O problema que eles querem atingir a
imortalidade, precedida pela vitalidade e pela reproduo.
Na viso de HEIDEGGER, o esforo moderno consiste em resolver o que
ainda no assentou, o unsettling, o que est in-seguro. Ora em Blade
Runner o perigo est iminente precisamente porque os subprodutos da tec-
nocincia esto acidentalmente soltos os replicants e esto ilegais. De
forma heideggeriana o que se passa que a tecnologia assume um destino em
direco a um m instrumental. S que a insegurana da tecnologia no de-
saparece e permanece no seu enquadramento. Por mais incrvel que parea,
seja no olhar de Tyrell, no olhar de Deckard, ou no olhar dos replicants, a in-
segurana permanece interiormente. Falta uma garantia, o perigo paira sobre
eles, o medo assola-os, a morte espreita de forma ameaadora como que um
desmantelamento terminal.
De facto h uma desmontagem, uma revelao, uma release de toda a di-
nmica conituosa e ambgua da tecnologia, o que solto projectado como
representao, posto em jogo. isso que persegue os replicants de Blade Run-
ner. As imagens soltam-se, so libertadas, e proliferam mais ecazes que os
procedimentos de conteno das prprias. A condio de un-settling perma-
nece na dinmica tecnolgica, porque com a modernidade h uma mudana
de curso, uma dtour, uma turning. A reviravolta, a mutao j teve lu-
gar, j ocorreu. E estamos todos sujeitos a ela; a tecnocincia representa essa
mudana, ainda que se torne refm da mutao que instaura com as inovaes.
Ao ser incapaz de lidar com os prprios subprodutos, a tcnica revela ter
dinmica prpria, um agenciamento seu, e nessa condio que a tcnica se
arrasta para modelos pr-modernos. Assim a tecnocincia passa a ter embu-
tido em si mesma monstruosidade e promessa, distopia e inquietao. Por este
motivo RUTSKY defende que: (. . . ) those instances that evoke the sense of
the uncanny the idea of the double, ghosts, the return of the dead, the evil
eye, the coming to life of machines or automata, and so on represent the
return of the repressed projections of a primary narcissism that is related to
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 239
a magical, animistic conception of the universe (1999: p.25). Por outras
palavras, o que adquire vida precisamente a tecnologia, agora capaz de nos
devolver o olhar, o seu carcter aurtico to estranho quanto impressionante.
A impresso de uma inquietante estranheza permanece no duplo do humano,
na vida prpria que a mquina ou a rplica adquirem, porque aquilo que est
oculto est em funcionamento e permite uma operacionalidade total. O in-
quietante o lado de l da ligao racional, o outro lado do espelho de um
sujeito-objecto que fundiu sujeito e objecto. H algo de suspeito na essncia
da tcnica, algo de imprevisvel no automatismo de seres de ontologia duvi-
dosa. Nesta senda o inquietante (unheimlich) emerge quando no se controla
algo que era estvel e familiar (heimlich). O terror primitivo se surge porque
existe uma perturbao nova, o que outrora era familiar torna-se estranho, o
"alien"revela-se pelo seu estado macabro, por estar reprimido. A aco hu-
mana confrontada com o seu reexo, o duplo adquire vida, fazendo com que
o que era promissor se reveja com receio. Como fomos capazes de criar re-
plicants pergunto eu? Quem so estes artistas de olhar de bronze que forjam
esta engrenagem assassina e impiedosa? (como referido por DELEUZE &
GUATTARI, s.d.: p.207). A resposta dada nas primeiras imagens de Blade
Runner: o olho que vemos de Deckard, o protagonista, e tem as pupila dila-
tada. O humano sempre foi replicant.
12.6 Seres Para a Morte
K.DICK, no romance que origina Blade Runner, que refere atravs de uma
das personagens que: (...) os animais morrem efectivamente; esse um dos
riscos de possu-los (K.DICK, s.d.: p.61). Ora toda a lgica do lme assenta
no mesmo pressuposto, o de que o ser vivo perigoso porque um ser para a
morte. Este tipo de argumentos, quando enquadrados na teoria de HEIDEG-
GER, faz todo o sentido se pensarmos no ser enquanto ser para a morte.
Blade Runner ilustra bem esta ideologia ao mostrar replicants com desejos de
vitalidade, com ambio de viver mais. De forma heideggeriana, em Blade
Runner no existe homem, tudo e todos tm ar de serem constructos, artefac-
tos, pinquios de carne e osso, guras de cera, ou ciborgues. Neste universo,
que K.DICK originalmente povoou com andrides, Ridley SCOTT substituiu
por replicants. E este estado da replicao que tudo dene no lme, a inqui-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
240 Herlander Elias
etao mora precisamente neste facto: o habitat ciborgue do lme mais parece
um parque temtico de mquinas, pois em Blade Runner no h homem, h
dasein (o inautntico), porque a inautenticidade reina.
A busca dos replicants por Deckard desde o incio do lme uma procura
do ser que se v dejectado no mundo. Os replicants de SCOTT so um pro-
jecto de seres com vida temporria, objectos da tecnocincia; seres situados
num mundo que no criaram. Do ponto de vista dos humanos, os replicants
so seres que perguntam pelo ser. So tambm confrontados com os limites
possibilidade do ser, os replicants esto indubitavelmente ao nvel do da-
sein. No entanto, enquanto seres superiores, a gerao de replicants Nexus-6
supera-se a si e ao grande criador
5
. Quando Roy Batty, o replicant vilo, salva
Deckard de cair, este demonstra a sua superioridade, depois de ter questionado
e assassinado Eldon Tyrell. Roy quem no nal do lme d outro sentido a
si mesmo, salvando a vida de Deckard, quando j no se podia salvar a si
mesmo.
Mas a verdadeira superioridade estava em Rachel, que pensando que tinha
quatro anos de vida apenas, v-se a escapar com Deckard, sendo que ambos
tinham mais tempo de vida predeterminado por Tyrell. Nesta ptica, Roy,
Deckard e Rachel demonstram a destruktion heideggeriana, pois do outro
sentido a si mesmos; tornam-se autnticos. Os replicants normais eram de
facto uma fuga derrota da criao natural em direco derrota da criao
pela tcnica. Porm, os trs replicants referidos escapam tirania dos objec-
tos
6
, da hipotecao tcnica. Se a concepo heideggeriana da tcnica
destrutiva, porque a tcnica no humana e muito menos controlvel. Blade
Runner sublinha bem que o habitat ciborgue hostil menos para a evoluo da
tcnica. O perigo da sua dinmica insegura que a tcnica replica a natureza.
E se a natureza catica a tcnica tambm se caotiza, isto graas a uma
fora motriz secreta, inquietante
7
.
5
Isto tpico do bermensch, o homem-superior de que falava NIETZSCHE.
6
A dada altura assiste-se a este argumento: (...)a tirania de um objecto, pensou ele. Ele
no sabe que eu existo. Como os andrides, ele no tinha qualquer habilidade para apreciar a
existncia de outrem (Cf. K.DICK, op.ult.cit., s.d.: p.37).
7
A histria comea com homens em queda, replicants que vem das colnias para a Terra
em busca de uma verdade, que so chamados pela gravidade. O impressionantemente inqui-
etante que os replicants pretendem deixar de ngir que esto vivos para serem vivos na
plenitude. O principal motivo da queda dos replicants car a conhecer a existncia, eles pre-
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 241
12.7 Tenso Espacial
O lme de Ridley SCOTT prima por partilhar connosco imagens de uma me-
galpole enevoada onde os cidados passammais tempo emespaos fechados.
As ruas so um verdadeiro submundo, notria toda uma tenso espacial no
resolvida. A criar sentido neste universo esto as corporaes que dominam
o espao publico de forma militar, sendo a Tyrell Corporation a que tem a
capacidade de humanizar a tecnologia. Porm revela-se capaz de criar artif-
cios, simulacros alienados do mundo real. Estes simulacros so antes de mais
simulaes, e no sentidos ltimos ou smbolos unicadores do universo tec-
nocientco. Sobejamente estranho que Tyrell, um homem com poder para
criar andrides de carne e osso, use culos com lentes espessas. Porque no
tem ele olhos sintticos perfeitos, de cultura, como os de Roy Batty? Porque
nenhum humano sucientemente humano. Essa que a questo.
Umoutro aspecto interessante sublinhado por Scott BUKATMAN, quando
diz que: o novo monumento no mais a substancial espacialidade do edif-
cio, mas a profunda superfcie do ecr. Esta uma transformao exposta em
Blade Runner atravs da proliferao de paredes que so ecrs, agora locais
de projeco em vez de habitao (1993, p.132)
8
. Ou seja, so as superfcies
de imagem que tm prioridade, o humano no tem prioridade na habitao
mas na circulao. A imagem apropria-se dos espaos, porque a prpria fun-
o dos espaos tornou-se outra: a da circulao, a da dinmica. Nada est
mais voltado para a conteno, o uxo tcnico imparvel e as imagens esto
soltas num mundo pscapitalista que no assegura quaisquer identidades. A
razo que houve obviamente uma interferncia irreversvel da tecnocincia
na natureza. E o grande escndalo que se possa construir seres humanos fora
das condies naturais que nos geraram. Ns transformmos toda a natureza
a tal ponto que o mundo est na cidade enquanto imagem. A tecnocincia traz
a natureza para dentro da cidade, mas controlada. A soluo para a extino
dos animais a produo de animais em laboratrio, animais de sntese.
preciso salvar a natureza, e no deixando-a entregue a si prpria, a tcnica
que representa a salvao. A soluo sempre mais tcnica.
tendem a todo o custo ultrapassar a barreira que os designa como mquinas reexas que no
esto realmente vivas, como se fossem formigas.
8
N.A.: A traduo do excerto minha.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
242 Herlander Elias
12.8 O Regime do Real?
Em todo o lme a nica coisa que supostamente prova que os replicants tm
um passado, o que prova que so humanizados, so as imagens, pois supor-
tam o regime do real. Para os andrides Nexus-6 o real era comprovado por
imagens, por implantes de memria que supostamente atestavam que assim
foi. Como McLUHANbemrefere: nowthe point of this myth is the fact that
men at once become fascinated by any extension of themselves in any material
other than themselves (McLUHAN, 1994: p.41). Ou seja, qualquer extenso
do humano o arrasta para o estado de narciso narcosis, para um estado de del-
rio pela prpria imagem, desde que seja a do humano, independentemente do
suporte dessa imagem. Seja a fotograa face ao humano, ou o replicant face
ao humano. Em ambos os casos h um delrio pelo reexo de humanidade.
Quanto aos replicants a questo que eles prprios eram imagens do humano,
e, a justicarem-se como simulacros, eles prprios recorriam a imagens, que
por sua vez recorriam a modelos do humano. O grande problema em torno de
todo este regime do real que so as corporaes que fazem a apropriao l-
tima, as imagens so memrias comprovativas, as imagens so um statement
corporativo que visa defender recordaes de uma suposta vida familiar que
j no existe nos moldes edipianos. No por acaso que em todo o lme este
regime do real pela imagem um regime de controlo. Controlar a imagem
controlar o corpo, controlar as memrias controlar os replicants. Replicants
dceis, era disso que se tratava. O m, o telos, o de provocar uma subjectiva-
o, uma tecnologia do Eu, o que sintomtico de que o controlo exterior se
faz interior. Pelas imagens a tcnica colmatava, suprimia, esse hiato da falta
de humanidade, de subjectividade.
Neste contexto da tcnica, diz HEIDEGGER que o mundo da tcnica
o mundo da errncia: os homens no tm nenhum ponto de referncia (s.d.:
p.52). E enquanto cone da co acerca da tecnocincia, Blade Runner exibe
perfeitamente esta temtica da falta de referncias. A fuga dos replicants o
efeito de uma crise existencial, uma querela em torno das referncias. As-
sim como as fotograas, os replicants so reprodues e a sua semelhana
connosco quanticvel, pelo que acusam uma humanidade que j houve,
mas que no h mais. As fotograas que todos os replicants tm, tal como
Deckard, comprovam que o seu possuidor vivo, real, tem um percurso,
que no fruto de uma tecnologia que os fez aparecer no mundo de forma
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 243
instantnea. O lme tambm pe insistentemente prova a noo da fotogra-
a como prova de um facto, verdade ou realidade. As imagens instituem no
lme um regime do real, um real que se deve construir e manter como que
uma necessidade.
Relevante tambm o facto de as imagens, que so construes subjecti-
vas acerca de montagens objectivas, criarem uma espcie de espao interior
externo, dado que exteriorizam algo que deveria estar dentro dos replicants.
Mas que no est
9
. Os replicants acusam todo um esforo moderno em resol-
ver o que ainda no assentou, o que est in-seguro, o simulacral. Anal, no
somos ns que mudamos a tcnica, a tcnica que nos muda, a inquietao
reside nessa reviravolta.
9
Alm disso, todo o lme questiona a legitimidade das imagens enquanto comprovativas
do real, questiona-se a imagem realista, as imagens vistas por olhos humanos, com prteses
(culos): as imagens de seres replicados (a coruja, os replicants), e at as imagens dos dis-
positivos tecno-pticos (videofone). Mas este questionar no acidental, porque o lme est
impregnado de imagens, algumas das quais nos fazem recordar a pintura medieval holandesa,
e os replicants so como que a gide desta representao da humanidade, a cpia das cpias,
a representao viva do humano; so o simulacro perfeito, isto porque h um sujeito que se
identica com uma imagem, mas a imagem tambm se identica com o sujeito. O humano
identica-se com imagens, simulacros, mas estes tambm se identicam com o humano, na
medida em que pretendem assumir uma autenticidade que no lhes foi concedida.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 13
The Advergames Report
1
On The Next Generation of Ludic Advertising
13.1 The Concept of Advergames
First of any consideration it is important to say that the Advergames concept
reveals a fusion of two words, which are advertising and games. Thus, in
this sense, advergames means a compression of both worlds the world of
advertising and the ludic world of gaming. Since games are no longer made
by a one-man start-up enterprise the videogame industry blossomed into so-
mething bigger and more lucrative. In doing so, the advergames became re-
ality due to the amount of money spent in the development of videogames,
the prots kept increasing higher and higher. More money is required to pay
better developers to create better games, and all this in order to fulll the re-
quirements of a demanding audience.
When one speaks of advergames one also must understand that what ma-
kes the new generation of entertainment colide with the advertising industry
is just the fact that the ads actually support and sponsor videogames. In other
words, the games are becoming camouaged on-demand ads due to the large
amounts of investment required to nance the videogame industry. What evol-
ves from this "ad + game"equation is that as soon as games become adverti-
1
Texto escrito em ingls inicialmente para apresentao e publicao ao abrigo da iniciativa
ICORIA07, o que no aconteceu por ter sido submetido j fora dos prazos estipulados para
recepo de papers sobre publicidade.
245
i
i
i
i
i
i
i
i
246 Herlander Elias
sing, so does advertising becomes playable as well. Welcome to the Adver-
tainment age!
13.2 Updating Ads in Real-Time
This Advergames Report is mostly a report on some of the actual next genera-
tion of ludic advertising, and I would like to show, along this brief paper, some
examples of what it is being done by the advertising/the electronic gaming in-
dustry right now. According to Jo Twist, all sorts of characters in videogames,
specially the ones of sports games, will eventually be increasingly ooded by
clothing brands logos. Although what it is really remarkable, it is the fact that
"with more gamers going online, the potential is there for ads to constantly
update in real-time when ad campaigns change in order to sell ideas"
2
. So
what could be more fast-forward than ads which can be changed by sponsors
in time to provoque the right effect on an audience? And the answer is that
what can be crazier than the real-time ads is the possibility to deliver different
ones to different players. Another hypothese is the one which implies a built
in-game tracking system so the gamers choices can be stored in the ad agency,
whose goal then will be to target specic ads right to a specic player. In this
way, the player and the game sponsors are playing the same game; they just do
it in different places, although in the same digital platform the videogame.
The possibilities in the ludic (including online) world are, in fact, endless.
According to Dean Takahashi, this new technology allows the industry to
update ads as they would update any game data. Takahashi says that "Elec-
tronic Arts , the largest independent video-game publisher, gave its blessing
to a new "dynamic"form of advertising embedded in video games as it an-
nounced that it would use two ad technologies in seven upcoming games"
3
.
And all this is possible because EA inserts dynamic ads into video game data
and these can be updated online like rmware. The effect of this technology,
and those alike, in games of SOE (Sony Online Entertainment), as well as
that of Microsoft Xbox Live, is interesting because it allows a tracking system
2
Jo Twist, Ads In Video Games Set To Rise, BBC News - Technology, October 20th, 2004
(available online).
3
Dean Takahashi, Electronic Arts To Put Dynamic Ads In Video Games: Ads Can Be Up-
dated By Internet, San Jose Mercury News, August 31st, 2006 (available online).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 247
powerfull enough to control the traget-market: gamers of the next generation
games, which are specically designed to play on networks.
Another strategy it is that which implies creating branding games instead
of in-game advertising. The rst type means that the advertiser controls the
game, but the second type leaves ads in second place; so the game comes
rst. All these strategies are at stake because the cost of game development
imply product placement, branding and multi-channel marketing. Of course
the interactive ads work ne and are welcome, because, in doing s,o games
become each time more like Hollywood productions, but one shouldnt forget
either that gamers get old along with games, game platforms and systems.
A fact that we cannot forget too is that gamers are faithfull to games, not
to platforms. So if one best-seller game migrates from one system to other
gamers follow it. That is just how it works. Advertising agencies also now
all about it. That is one reason why Microsoft bought Bungie Software and
published the Halo shooter exclusively for the Xbox
4
.
13.3 Game Placement
It is important to underline in this essay, in this Advergames Report, that ad-
vertising is getting mixed up with entertainment forms in such ways that it
becomes hard do distinguish games from ads, when once they were apart.
In the videogame world, the ads that once were exception are becoming the
playground of the game. An intelligent example is The Island (Michael BAY,
2005), a movie in which there is a moment when characters are playing a
sports simulation, which happens to be tagged by the Xbox trademark. But in
videogames, to be specic, all research points out a revolution of ads not just
to stare at, but, in other way, to get into the ad, because the trend is that well
go from game players to ultimately ad players. In other words, if advertising
pays the game development, through product placement, for example, why
not to change advertising in something so powerfull that we would need then
4
Concerning the target-market, we know that there was a time, twenty years ago, in which
players were among 10 and 20 years old. Nowadays they got older so the target-market of
videogames is between 20-40 years old (PlayStation2 & Xbox), even so Nintendo still focus is
products onto younger kids.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
248 Herlander Elias
something like game placement, once the ad has a major role than the game
itself. In fact, the ads will be games.
Some strategies work really well for the audience, allowing anyone to
identify easily a certain kind of imagery, yet in games and advertising the
question is which game and which ad to choose for, because not all great
games get well marketed, such as Tomb Raider (Simon WEST, 2001). The
movie wasnt even close to the game. The same we cant say about Doom
(Andrzej BARTKOWIAK, 2005), because it is a movie about a videogame.
Paying homage to the game developers of such a cult game, the movie director
created a 16 minutes sequence which exhibits a cinematic situation of the
game in high-def graphics. The consequence it is that if one sees the game
one recalls the movie, and vice-versa. So each product makes branding to the
next one.
13.4 In-Game Advertising and Branding Games
There arent much cases of product placement in videogames, but we can
identify in Super Frog (1993)
5
, a videogame in which there was product pla-
cement for the Lucozade sports drink. Besides this case, in the same year,
McDonalds Treasure Land Adventure
6
arrived for consoles. But lets not to
forget that at the end of the nineties, X-Files The Game
7
was advertising a
Nokia Cell Phone.
Yet, nothing compares, in terms of in-game advertising, to such colossus
called Gran Turismo 4
8
, the best "real driving simulator"of all time. In this
videogame blockbuster product placement strategy that worked in real life
works as well in the game. Following this logic, all outdoor, vehicle, logotype,
raceway, automaker, and tuner shops are in fact advertising spots
9
. So the
question is: "its the game so good that it gets all this advertising?"or "it has
5
Commodore AMIGA 500 - Team 17 Software LTD (1993).
6
Sega Genesis - Treasure/Sega of America Inc. (1993).
7
PlayStation - Fox Interactive/HyperBole Studios (1999).
8
PlayStation 2 SCEA/Polyphony Digital (2005).
9
The in-game advertising is so well worked out that besides being a best-seller we could
easily identify brands such as BBS, MOMO, SHELL, Nissan, Toyota, Honda, BMW, Merce-
des; and even these: SAAB, Casio, VolksWagen, Michelin, ELF, Philips, Calsonic, Dunlop,
Red Bull, Audi, Vodafone, Sony Walkman NET MD, Coca-Cola, Samsung, Kodak.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 249
so much well-known brands advertising the game that they boost the game
in effect?"Japan is a sucess in what concerns to in-game advertising, where
blockbuster games usually get nice investment in advertising. The best-seller
Shenmue
10
, published rst for the extinct Sega Dreamcast game console, was
great and full of product placement. The game itself became an advergame
for old games previously released decades before by the same company. So
when the player controled the main character to walk into an arcade game
saloon it was possible to play in arcades such as Out Run or Super Hang
On. Shenmue
11
, in its sequel, had plenty advertising of Hitachi, Sapporo Soft
Drinks, Coke and Fanta. Another game called Ridge Racer 7, made by Namco
Bandai, also advertises old games in the race cars such as DigDug, Xevious
and Pac-Man
12
.
American advertisers also sponsor videogames really well, and they also
do it with games which are already brands themselves, and amazing block-
busters in each genre. For example Electronic Arts promotes the latest FIFA
2007
13
in which football players wear Reebok shirts and all in-game outdo-
ors reveal Barclays Bank ads. The same process already occurs in the Virtua
Tennis game. The latest Virtua Tennis World Tour
14
features advertising of
FujiFilm, Evian and Tennis Monthly Magazine. Sports games are so much
eye-catching that in Need For Speed Underground 2
15
, for instance, the entire
city where the player drives freely is full of Best Buy logotype neons. But
sports games apart, enterprises such as Ubi Soft, which already explore the
brand Tom Clancy from books, have advertised the Axe deodorant in the ac-
claimed Tom Clancys Splinter Cell
16
. If it wasnt enough, in one Splinter Cell
sequel Pandora Tomorrow
17
the main character Sam Fisher uses a Sony
Ericsson P900 Smartphone.
Branding Games explore both the product placement logic and the concept
10
Shenmue - Sega Dreamcast Sega/AM2 (2000).
11
Shenmue 2 Sega Dreamcast Sega/AM2 (2001).
12
Ridge Racer 7 - PlayStation 3 Namco Bandai Games America, Inc. (2006).
13
FIFA 2007 - Xbox 360 - EA/EA Sports (2006).
14
Virtua Tennis World Tour - PlayStation Portable Sumo Digital/Sega of America, Inc.
(2005).
15
Need For Speed Underground 2 - PC - EA Canada/EA GAMES (2004).
16
TomClancys Splinter Cell - Xbox Ubi Soft Montreal/Ubi Soft Entertainment SA(2002).
17
Tom Clancys Splinter Cell Pandora Tomorrow - Xbox Ubi Soft Entertainment SA
(2004).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
250 Herlander Elias
of in-game advertising, but some are major brands themselves. For example:
X-Files The Game continues the branding process started in the TVseries but
it didnt had much sucess. Amore successful branding strategy was performed
by Acclaim/Sega in the videogame F355 Challenge
18
, exclusively branding
Ferrari automaker, in order to respond to the threatning niponic marketing of
Gran Turismo from Poliphony Digital, where besides Ferraris it featured Pi-
relli and Firestone outdoors. The advertising logic of the real morphs into the
virtual ad displays like solid gold over velvet blue. So far, the joint-venture
processes work nicely in videogame as well. Lets see: automaker VolskWa-
gen and american computer company Hewlett-Packard have joined efforts to
create HP Beetle Buggin
19
, a branding game in which the player controls a
new micro-VolksWagen Beetle around an ofce desk full of HP printers, ink
cartridges and digital cameras in search of pictures. This game is an obvious
proof of an easy, cheap and fun form of ludic advertising.
13.5 Advertising in and About Videogames
Can Be Very Creative
In order to reach their young target-markets, advertisers try to make ads with
an audiovisual language which consumers may nd appealing. That was the
purpose of Adidas, with Computer Soccer, a TV commercial in which every
time a cybernetic football player shoots the ball it disassembles himself in
tiny 3D pieces, and then he passes the ball on to another player and the same
thing happens, yet there is a close-up on all sports shoes. The main message,
alike tunning-trend lovers, was that any one could Assemble Your Foot, so that
is why all details, all pieces of the shoe mattered. Most of the advertising
inspired in videogames is positive, like an ad made for DHL
20
Express Deli-
veries in which a pictured harbour revealed colored block-shaped containers
incasing in others alike, as if it was in a Tetris game set. The strong slogan
was: We Move The World. But the king of advertising, besides Coke, it still
is Nike, in whose ad Nike Tournament it featured a sort of an underground
football game apparently inspired in the Speedball videogame created by the
18
F355 Challenge - Dreamcast Acclaim/Sega (2000).
19
This Flash Game is available in http://beetle-buggin.freeonlinegames. com.
20
Deutsche Post World Net (Mail Express Logistics Finance).
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 251
legendary The Bitmap Brothers in the nineties for the Commodore AMIGA
500.
One of the best examples of a very creative ludic advertising is an image
used for a campaign performed by the Portuguese Association Abrao
21
, which
is led by slogans of prevention ght against AIDS contraction. In this image,
divided in three equivalent parts, all very colourfull, it is shown in a tryptic the
pelvic parts of the male body, right below it is the female pelvic area, and at
the bottom of the picture stands a sort of pixelized virus image. Respectively,
the subtitules for each picture are: JoyStick, PlayStation and Game Over. The
target of this ad was teenagers and its purpose was to alert them about the
dangers in sexual intercourse without condom protection.
Acclaimed video director Chris CUNNINGHAM also directed a Sony En-
tertainment commercial called Mental Wealth, in which a girl appears actually
looking like a phototorrealistic big-eyed japanese anime character. The girl
starts talking with a very noticeable british accent, in monologue-style before
the camera, and really looks like an alien. Of course everyone notices this
commercial because it is really different. Even so, most of the commercials
for Sony PlayStation end up with a female voice whisppering PlayStation, de-
tail which actually works really good. Other ads like the Mountain TVC end
up with the slogan Fun Anyone?, after streets getting pilled up with people
jumping on top of everybody till it looks like a sckyscraper of people running
after a PS2 console. (Perhaps about the PlayStation2 launch?)
In the end, if advertising in and about videogames can be very creative,
it also can be controversial. Despite the positive side of advertising inspired
on videogames, it is also true that there were lots of ads not that fancy. For
the videogames Deathtrap Dungeon and Spawn: The Eternal, their respective
polemic commercials faced up lots of criticism in the US. And Sony Enter-
tainment (owner of the PlayStation logo and trademark; therefore responsible)
never bet on racially charged ads until the recent motto Black vs White used to
promote the new ceramic-white PlayStation Portable, under the slogan White
is Coming! This was a very xenophobic commercial, which featured a white-
skin top-model girl in punk fashion grabbing the throat of a black-skin top-
model girl in afro fashion. Of course the message was supposed to be: "the
white PSP will be stronger and prettier", although in a racist view this mar-
21
www.abraco.org.pt.
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
252 Herlander Elias
keting decision is very questionable. But controversial iconography sells just
ne and what would be advertising itself without controversy?
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo 14
Bibliograa
AAVV 1 (s.d.). Capitalismo e Esquizofrenia: Dossier Anti-dipo, Cadernos
Peninsulares, Nova srie, Ensaio 20
AAVV 2 (1999). El Paseante, la Revolucin DIGITAL y sus dilemas, 27-28.
Madrid: Ediciones Siruela
AAVV 3 (1997). INTER@CTIVIDADES Lisboa, FCSH-UNL. Lisboa: CML-
DC, CECL
AAVV 4 (1995). Los Limites del Museo. Barcelona: Fundacion Antni
Tapies
AAVV 5 (1997). Rethinking Architecture, Neil Leach (ed.). Londres/Nova
Iorque: Routledge
AAVV6 (1998). Virtual Futures Cyberotics, Technology and Post-Humanism,
Joan Broadhurst Dixon e Eric J. Cassidy. Londres: Routledge
AGAMBEN, Giorgio (2002). LOuvert: de lHomme et de lAnimal. Paris:
Payot et Rivages
AGAMBEN, Giorgio (1998). O Poder Soberano e a Vida Nua Hommo
Sacer (1995). Lisboa: Editorial Presena
ALEKSANDER, Igor e BURNETT, Piers (1985). Robot - Reinventar o Ho-
mem (1983). Lisboa: Editorial Presena
253
i
i
i
i
i
i
i
i
254 Herlander Elias
ARNHEIM, Rudolf (s.d.). A Arte do Cinema. Lisboa: Edies 70
ARTAUD, Antonin (1989). O Teatro e o seu Duplo. Lisboa: Fenda
BABO, Maria Augusta (2003). A auto-bio-graa como Mquina Antropomr-
ca da Escrita, in Revista de Comunicao e Linguagens n
o
32. Lisboa:
CECL/Relgio dgua
BABO, Maria Augusta (2000). A Reexividade na Cultura Contempornea,
in Revista de Comunicao e Linguagens n
o
8. Lisboa: CECL/Relgio
dgua
BABO, Maria Augusta (2001). Ars Scribendi: do grafo ao grafti, in Revista
de Comunicao e Linguagens n
o
30. Lisboa: CECL/Relgio dgua
BAKER, Robin (1993). Designing The Future The Computer Transforma-
tion of Reality. Hong Kong: Thames & Hudson
BALLARD, J.G. (1985), Crash. Nova Iorque: Vintage Books
BALLARD, J.G. (1978), The Concentration City in The Best Short Stories of
J. G. Ballard. Nova Iorque: Holt, Rinehart and Winston
BARTHES, Roland (1982). Empire of Signs, Trad. Richard Howard. Nova
Iorque: Hill and Wang
BAZIN, Andr (1971). What is Cinema?, Vol.2. Berkeley e Los Angeles:
University of California Press
BAUDRILLARD, Jean (1996). O Crime Perfeito. Lisboa: Relgio dgua
BAUDRILLARD, Jean (1994). Simulacros e Simulao. Lisboa: Relgio
dgua
BAUDRILLARD, Jean (1987). The Ecstasy of Communication. Nova Iorque:
Semiotext(e)
BAUDRILLARD, Jean (1992). A Iluso do Fim. Lisboa: Terramar
BAUDRILLARD, Jean (1979). A la Sombra de las Mayoras Silenciosas.
Barcelona: Editorial Kairs
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 255
BAUDRILLARD, Jean (1981). RequiemFor The Media, Trad. Charles Levin,
in For a Critic of the Political Economy of the Sign, Ed. Charles Levin.
St.Louis: Telos Press
BAUDRILLARD, Jean (1983). In the Shadow of the Silent Majorities, Fo-
reign Agents Series, Trad. Paul Foss, Paul Patton e John Johnston. Nova
Iorque : Semiotext (e)
BAUDRILLARD, Jean (1976). Lchange Symbolique et La Mort. Paris:
ditions Gallimard
BAUDRILLARD, Jean (1983). Simulations, Foreign Agents Series, Trad.
Paul Foss, Paul Patton e Philipp Beitchman. Nova Iorque: Semiotext (e)
BAUDRILLARD, Jean (2002). The Spirit of Terrorism and Other Essays,
Trad. Chris Turner. Londres/Nova Iorque: Verso
BAZIN, Hugues (1995). La Culture Hip-Hop, col. Habiter. Paris: Ed. Descle
de Brower
BENEDIKT, Michael (ed) (1991). Cyberspace: First Steps. Cambridge, Mas-
sachusetts: MIT Press
BENJAMIN, Walter (1992). Sobre Arte, Tcnica, Linguagem e Poltica. Lis-
boa: Relgio dgua
BERGER, John (1972). Ways of Seeing. Midlesex: Penguin Books
BEY, Hakim (1985). The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy,
Poetic Terrorism. Brooklyn, Nova Iorque: Autonomedia
BOLTER, Jay David & GRUISIN, Richard (2002). Remediation: Understan-
ding New Media (1999). Massachusetts, Cambridge: MIT Press
BRETON, Phillip (1997). Imagem do Homem: Do Golem s Criaturas
Virtuais. Lisboa: Instituto Piaget
BROCKMAN, John (1997). Digerati Encontros com a Elite Digital. Brasil:
Editora Campus
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
256 Herlander Elias
BUKATMAN, Scott (1993). Terminal Identity: The Virtual Subject In Post-
modern Science Fiction. Londres: Duke University Press
BURROUGHS, William S. (s.d.). A Revoluo Electrnica. Lisboa: Vega
BURROUGHS, William S. (1966). The Soft Machine. Nova Iorque: Groove
Press
BUSSY, Pascal (1999). KRAFTWERK Man, Machine and Music. Londres:
S.A.F.
C.CLARKE, ARTHUR (1982). 2001: Odisseia no Espao (1968), Traduo
de Maria Nvoa. Mem Martins: Publicaes Europa-Amrica
CANGUILHEM, George (s.d.). Mquina y Organismo in Incorporaciones.
Madrid: Ctedra
CAMERON, James (1995). Strange Days. Nova Iorque: Penguin Books
CASTELS, Manuel (1999). A Sociedade em Rede. So Paulo: Editora Paz e
Terra
CHIROLLET, Jean-Claude (1994). Esthtique et Technoscience Pour La
Culture Techno-Esthtique. Lige: Pierre Mardaga (ed.)
CLUTE, John (1987). Introduction Interzone: The Second Anthology, Ed.
John Clute. Nova Iorque: St.Martins Press
COELHO, Eduardo Prado (2000), A Desconstruo Como Movimento in Re-
vista de Comunicao e Linguagens n
o
28, p.101-125. Lisboa: CECL/Relgio
dgua
COTTON, Bob & OLIVER, Richard (1994). The Cyberspace Lexicon. Lon-
dres: Phaidon
COUCHOT, Edmond (1998). Tecnologias da Simulao Um Sujeito Apare-
lhado, in
Real/Virtual, RCL n
o
25/26. Lisboa: Cosmos
COYNE, Richard (1996). Designing Information Technology in The Postmo-
dern Age. Cambridge, Massachussets: MIT Press
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 257
DAVIS-FLOYD, Robbie e DUMIT Joseph (1998). Cyborg Babies From
Techno-Sex to Techno-Tots. Nova Iorque: Routledge
DEBORD, Guy (1991). A Sociedade do Espectculo, Trad. Francisco Alves
e Afonso Monteiro. Lisboa: Edies mobilis in mobile
DEBRAY, Rgis (1992). Chronique dun Cataclysme, in Vie et Mort de llmage:
Une Histoire de regard en Occident. Paris: Gallimard
DeCERTEAU, Michel (1984). The Practice of Everyday Life, Trad. Steven
Rendall. Berkeley, Califrnia: University of California Press
DELEUZE, Gilles (2004), A Imagem-Movimento (1983). Lisboa: Assrio &
Alvim
DELEUZE, Gilles (1989). Diffrence et Rpetition (1969). Paris: Presses
Universitaires de France
DELEUZE, Gilles (1974). Lgica do Sentido. So Paulo: Perspectiva (1969).
Paris Les ditions de Minuit
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Flix (1999). A Thousand Plateaus Ca-
pitalism and Schizophrenia, Trad. Brian Massumi. Londres: Athlone
Press
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Flix (s.d.). O Anti-dipo Capitalismo
e Esquizofrenia, Trad. Joana Moraes Varela e Manuel Maria Carrilho.
Lisboa: Assrio & Alvim
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Flix (2005). Kafka: Para uma Literatura
Menor (2002). Lisboa: Assrio & Alvim
DERRIDA, Jacques (2001). De La Grammatologie, Minuit, Paris, 1967;
Papier-Machine. Paris: ditions Galile
DERY, Mark (1995), Escape Velocity Cyberculture at the End of the Cen-
tury. Nova Iorque: Grove Press;
DERY, Mark (ed) (1994). Flame Wars The Discourse of Cyberculture. Duh-
ram: Duke University Press
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
258 Herlander Elias
DESCOMBES, Vincent (1979). Le Mme et lAutre. Paris: Les ditions de
Minuit
DEUTSCH, David (1997). Virtual Reality, in The Fabric of Reality. Pen-
guin Books (edio espanhola, pp.106-129).
ECHEVERRA, Javier, Telpolis, Ensayos, Destino, Barcelona, 1994.
EISENSTEIN, Sergei, Film Essays, Dennris Dobson, Londres, 1968 ; Film
Form, Harcourt, Brace, Nova Iorque, 1949; Film Sense, Faber and Faber,
Meridian Books Nova Iorque, 1957.
ELIAS, Herlander (2007). A Moda dos Transformers, in Cibercultura. Lisboa:
Revista MdiaXXI n
o
90
ELIAS, Herlander (2007). A Nova Era da Tipograa Dinmica, in Cibercul-
tura. Lisboa: Revista MdiaXXI n
o
91
ELIAS, Herlander (2006). A Publicidade do Futuro, in Cibercultura. Lisboa:
Revista MdiaXXI n
o
85
ELIAS, Herlander (2006). A Sociedade Optimizada pelos Media. Lisboa:
MdiaXXI
ELIAS, Herlander (2007). Black Box Vs White Pod A Histria do Walkman,
in Cibercultura. Lisboa: Revista MdiaXXI n
o
89
ELIAS, Herlander (ed) (1999). Ciberpunk Fico e Contemporaneidade.
Lisboa: Dist. Sodilivros
ELIAS, Herlander (2004). Net Work On Network, Leonardo Journal of Arts,
Creativity and Technology, June Issue # 2004. Massachusetts: MIT Press
ELIAS, Herlander (2002). Performing Arts Beyond Shock in a Media Network
Culture, Kapitals Journal. Lisboa: ACARTE-Fundao Calouste Gul-
benkian
FLUSSER, Vilm (1985). Filosoa da Caixa Preta. So Paulo Hucitec
FOUCAULT, Michel (s.d.). As Palavras e as Coisas (1966). Lisboa: Edies
70
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 259
FOUCAULT, Michel (1987). Vigiar e Punir: Histria da Violncia nas Pri-
ses, 14
a
edio. Editora Vozes: Petrpolis
FREUD, Sigmund (s.d.). Linquitante tranget in Essais de psychanalyse
Aplique. Paris: Folio.
GALHARDO, Andreia (2006). A Seduo no Anncio Publicitrio: Expres-
so Ldica e Espectacular da Mensagem, 2
a
edio. Porto: Edies
Universidade Fernando Pessoa
GEADA, Eduardo (s.d.). O Cinema Espectculo. Lisboa: Edies 70
GEADA, Eduardo (1985). O Poder do Cinema. Lisboa: Livros Horizonte
GIANETTI (ed), Claudia (s.d.). Ars Telemtica Telecomunicao, Arte e
Ciberespao. Lisboa: Relgio dgua
GIBSON, William (1999). All Tomorrows Parties. Gr-Bretanha: Viking
GIBSON, William (1987). Burning Chrome (1985). Nova Iorque: Ace Books
GIBSON, William (1998). Idoru. Lisboa: Gradiva
GIBSON, William (1988). Mona Lisa Overdrive. Nova Iorque: Bantam Bo-
oks
GIBSON, William (1995). Neuromancer (1984). Londres: Voyager/Harper
Collins
GIBSON, William (1988). Neuromante. Lisboa: Gradiva
GIBSON, William (2003). Pattern Recognition. Nova Iorque: G. P. Putnams
Sons
GIL, Jos (1994). Monstros. Lisboa: Quetzal, Lisboa
GRANJA, Vasco (1981). Dziga Vertov. Lisboa: Livros Horizonte
HABLES GRAY, Chris, et al. (s.d.). Cyborgology: Constructing the Kno-
wledge of Cybernetic Organisms, in The Cyborg Handbook. Londres:
Routledge
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
260 Herlander Elias
HALBERSTAM, Judith & LIVINGSTON, Ira (s.d.). Posthuman Bodies, in
Posthuman Bodies. Indiana: Indiana University Press
HANHARDT, John G. (2000). The Worlds of Name June Pak. Nova Iorque:
Guggenheim Museum
HARAWAY, Donna (1989). Simians, Cyborgs and Women. Nova Iorque:
Routledge
HEIDEGGER, Martin (s.d.). Essais et Conferences. Paris: Galimard
HEIDEGGER, Martin (s.d.). Questions I et II. Paris: Galimard
HEIDEGGER, Martin (s.d.). Lngua de Tradio e Lngua Tcnica, 2
o
edio.
Lisboa: Vega
HEIM, Michael (1998). Virtual Realism. Nova Iorque: Oxford University
Press
HIBELINGS, Hans (1998). Supermodernismo Arquitectura en la era de la
Globalizacin. Barcelona: Editorial Gustavo Gili SA
HUXLEY, Aldous (1946). Admirvel Mundo Novo. Lisboa: Livros do Brasil
ICHBIAH, Daniel (1998). Cyberculture. Paris: Anne Carrire
JACOBSON, Linda (ed) (1992). CyberArts Exploring Art & Technology.
So Francisco: Miller Freeman
K.DICK, Philip (s.d.). Blade Runner - Perigo Eminente (Sonham os An-
drides com Carneiros Elctricos?), 2aEdio. Mem-Martins: Europa-
Amrica
K.DICK, Philip (1968). Do Androids Dream of Electric Sheep?. Londres:
Grafton
K.DICK, Philip (1993). O Tempo dos Simulacros, Coleco Argonauta. Lis-
boa: Livros do Brasil
K.DICK, Philip (1977). Simulacra. Londres: Methuen
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 261
K.DICK, Philip (1983). UBIK. Daw Books: Nova Iorque
K.DICK, Philip (1997). We Can Build You. Londres: Voyager/Harper Collins
KAFKA, Franz (1996). A Metamorfose. Lisboa: Editorial Presena
KEENE, Suzanne (1998). Digital Collections Museums and the Information
Age. Oxford: Butterworth/Heineman
KELLY, Kevin (1998). New Rules For the New Economy. Nova Iorque: Vi-
king
KERCKHOVE, Derrick De (2001). The Architecture of Intelligence. Brkhau-
ser: Basileia, Sua
KITTLER, Friedrich (1999). Gramophone Film, Typewriter (1986). Stanford:
Stanford University Press
KLEIN, Naomi (2002), No Logo O Poder Das Marcas (1999-2000). Lisboa:
Relgio Dgua
KLOSSOWSKI, Pierre (1977). La Monnaie Vivante (1970). Paris: Rivages
KOONTZ, Dean (1997). Demon Seed. Londres: Headline Book Publishing
KROKER, Arthur (1987). Body Invaders: Panic Sex in America, Arthur Kro-
ker e Marilouise Kroker (ed.). Nova Iorque: St. Martins Press
KRUGER, Barbara (1997). Remote Control. Londres: Routlegde
JAMESON, Fredric (1991). Postmodernism or the Cultural Logic of Late
Capitalism, Durham: Duke University Press, N.C.
JOHNSON, Steven (1997). Interface Culture How New Technology Chan-
ges The Way We Create and Communicate. Nova Iorque: Basic Books
LASN, Kalle (2000). CULTURE JAMMING: How To Reverse Americas Sui-
cidal Consumer Binge And Why We Must (1999). Nova Iorque: Quill
(Harper/Collins)
LAUREL, Brenda (1993). Computers as Theatre. Reading, Massachusetts:
Addison-Wesley
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
262 Herlander Elias
LAUREL, Brenda (1990). The Art of Human-Computer Interaction Design.
Reading Massachusetts: Addison-Wesley
LEARY, Timothy (1994). Chaos & CyberCulture. Berkeley, Califrnia: Ro-
nin
LeCOURT, Dominique (2003). Humano, Ps-Humano. Lisboa: Edies 70
LISBERGER, Steven & DALEY, Brian (1982). Tron, Col. Bolso Noite Espe-
cial. Odivelas: Editora Europress
LOOTSMA, Bart e RIJKEN, Dick (1998). Media and Architecture. Amster-
do: VPRO and Berlage Institute
LYOTARD, Jean-Franois (1979). La Condition Post-Moderne. Paris: Les
ditions des Minuit, Paris
LYOTARD, Jean-Franois (1990). OInumano: Consideraes Sobre o Tempo.
Lisboa: Estampa
MACEDO, Ana Gabriela (org.) (2002). Gnero, Identidade e Desejo Ana-
logia Crtica do Feminismo Contemporneo. Lisboa: Edies Cotovia
MANOVICH, Lev (2001). The Language Of New Media. Cambridge: MIT
Press
MARCOS, Maria Luclia (2000). Ligao e Interrupo, RCL n
o
28. Lisboa:
Relgio dgua
MARCUSE, Herbert (1964). One-Dimensional Man. Boston: Beacon Press
MARNER, Terence St.John (s.d.). A Realizao Cinematogrca. Lisboa:
Edies 70
MATTHEWS, W.H. (1970). Mazes and Labyrinths: Their History and Deve-
lopment. Nova lorque: Dover Publications
McLUHAN, Marshall (1977). La Galaxie de Gutenbergue Vol.1. Paris: Gal-
limard
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 263
McLUHAN, Marshall (1977). La Galaxie de Gutenbergue Vol.2. Paris: Gal-
limard
McLUHAN, Marshall (2002). The Mechanical Bride Folklore Of Industrial
Man (1951). California: Gingko Press
McLUHAN, Marshall (1994). Understanding Media: The Extensions of Man
(1964). Massachusetts: MIT Press
McLUHAN, Marshall & FIORE, Quentin (1989). War And Peace In The
Global Village (1968). Londres: Touchstone Simon & Schuster
MINSKY, Marvin (1988). The Society Of Mind. Londres: Pan Books
MIRANDA, Jos A. Bragana de (1998). As Ligaes do Corpo in Metamor-
foses do Sentir. Porto: Balleteatro
MIRANDA, Jos A. Bragana de (s.d.). Da Nova Mimesis Tecnolgica in
GIANETTI (ed), Claudia (s.d.). Ars Telemtica Telecomunicao,
Arte e Ciberespao. Lisboa: Relgio dgua
MIRANDA, Jos A. Bragana de (1998). O Controlo do Virtual in Traos:
Ensaios de Crtica da Cultura. Lisboa: Vega
MIRANDA, Jos A. Bragana de (2002). Teoria da Cultura. Lisboa: Sculo
XXI
MIRANDA, Jos A. Bragana de & CRUZ, Maria Teresa (org.) (2002). Cr-
tica das Ligaes na Era da Tcnica. Lisboa: Tropismos
MOORCOCK, Michael (ed.) (1983). New Worlds: An Anthology. Londres:
Flamingo Books
NEGROPONTE, Nicholas (1996). Ser Digital. Lisboa: Caminho
NICHOLLS, Peter & CLUTE, John (1990). Encyclopedia of Science Fiction.
Londres: Serpents Tail
NIETZSCHE, Friederich (1978). A Origem da Tragdia, Lisboa: Guimares
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
264 Herlander Elias
OJEDA RIERA, scar e H. GUERRA, Lucas (1999). Maquetas Virtuales de
Arquiitectura. Espanha: Evergreen
ORWELL, George (1991). Mil Novecentos e Oitenta e Quatro. Lisboa: Ant-
gona
OTMAN, Gabriel (1998). Les Mots de la Cyberculture. Paris: Belin
PERNIOLA, Mario (2004). Contro la communicazione (2004), Contra a Co-
municao. Lisboa: Teorema
PLANT, Sadie (1992). Zeros and Ones. Londres: Fourth Estate
PLATO (s.d.). O Banquete, Lisboa: Edies 70
PENLEY, Constance e ROSS, Andrew (1991). Technoculture. Minnesota:
University of Minnesota Press
POPPER, Frank (1997). Art of the Electronic Age. 2a Edio. Londres:
Thames and Hudson
POSTER, Mark (2000), A Segunda Era dos Mdia (1995). Oeiras: Celta
Editora
POUDOVKIN, Vsevolod (1953). Film Technique and Film Acting. Londres:
Vision Press
PUGLISI, Luigi Prestinenza (1999). Hyper Architecture Spaces in the Elec-
tronic Age. Basileia, Sua: Birkhuser
RAMOS, Jorge Leito (1981). Sergei Eisenstein. Lisboa: Livros Horizonte
RHEINGOLD, Howard (1996). A Comunidade Virtual. Lisboa: Gradiva
RUTSKY, R.L. (1999). High Techn: Art And Technology From The Machine
Aesthetic To The Posthuman. Minnesota: University of Minnesota Press
SCHUITEN, Franois & PEETERS, Benot (1997). Memrias do Eterno Pre-
sente Variao sobre o lme Taxandria de Raoul Servais
SCOFFIELD, Sean (1999). David Cronenbergs eXistenZ a Graphic Novel.
Canad: Keyporter Books
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 265
SHELLEY, Mary (1998). Frankenstein ou o Moderno Prometeu, Traduo de
verton Ralph. So Paulo: Publifolha
SHIROW, Masamune (s.d.). Ghost In The Shell. Canad: Dark Horse Comics
SILVERBERG, Robert (s.d.). The Man In The Maze Labirinto (1969).
Mem-Martins: Publicaes Europa-Amrica
STERLING, Bruce (1988). Islands in the Net. Nova Iorque: Arbor House
STERLING, Bruce (1986). Mirrorshades Reexos do Futuro. Lisboa: Li-
vros do Brasil
STERLING, Bruce (1985). Schismatrix. Nova Iorque: Ace Science Fiction
STERLING, Bruce (2002). TomorrowNow Envisioning the Next Fifty Years.
Nova Iorque: Random House
STONE, Allucqure Rosanne (1995). The War of Desire and Technology
At The Close Of The Mechanical Age. Cambridge, Massachusetts: MIT
Press
TOFFLER, Alvin (1984). A Terceira Vaga (1980). Lisboa: Livros do Brasil
TOFFLER, Alvin (s.d.). O Choque do Futuro (1970). Lisboa: Livros de
Brasil
TUDOR, Andrew (s.d.). Teorias do Cinema. Lisboa: Edies 70
TURKLE, Sherry (1997). A Vida no Ecr. Lisboa: Relgio dgua
TURKLE, Sherry (1984). The Second Self. Nova Iorque: Simon & Schuster
VATTIMO, Gianni (1991). A Sociedade Transparente. Lisboa: Relgio dgua
VIRILIO, Paul (1991). The Aesthetics of Disappearance (1980). EUA: Semi-
otext(e)
VIRILIO, Paul (1993). A Inrcia Polar, col. Cincia Nova. Lisboa: Publica-
es D. Quixote
VIRILIO, Paul (1993). LArt du Moteur. Paris: Galile
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
266 Herlander Elias
VIRILIO, Paul (2000). War and Cinema: The Logistics of Perception, Trad.
Patrick Camiller. Londres/Nova Iorque: Verso
VIRILIO, Paul (1994). The Vision Machine. Blomington: Indiana University
Press
WIENER, Norbert (s.d.). Deus, Golem & Cia. So Paulo: Cultrix
WOLF, Michael J. (1999). The Entertainment Economy. EUA: Penguin Bo-
oks
WOOLEY, Benjamin (1992). Virtual Worlds. Oxford: Blackwell Publishers
ZIPPAY, Lory (2000). Artists Video An International Guide, Electronic
Arts Intermix. Nova Iorque/Londres/Paris: Cross River Press
Textos Online
Artigos
AAVV, Advergames: Advertising Via Video Games, Geek.com, 31 de Agosto
de 2001
[www.geek.com/news/geeknews/2001aug/gam20010831007638.h
tm]
ARMAND, Louis (s.d.). Intelligence and Representability, Ctheory: Theory,
Technology and Culture, Vol 28, No 3. (2006)
[www.ctheory.net]
DEAN TAKAHASHI, Electronic Arts To Put Dynamic Ads In Video Games:
Ads Can Be Updated By Internet, San Jose Mercury News, 31 de Agust,
2006
[www.highbeam.com/doc/1K1-137d180000043207.html]
FRANKENNISH, In-Game Advertising Dos and Donts, iMediaconnection.com,
3 Maro de 2006
[www.imediaconnection.com/content/8489.asp]
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 267
JO TWIST, Ads In Video Games Set To Rise, BBC News - Technology, 20 de
Outubro de 2004
[http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3727044.stm]
MIKE WEIGAND, Feature: The Most Controversial Video Game Ads of All
Time, GamePro.com, 7 de Junho de 2006
[www.gamepro.com]
NICK CURRIE (aka Momus), Its Madvertising!, Wired.com, 24 de Outubro
de 2006
[www.wired.com/news/columns/imomus/0,71975-0.html?tw=wn_ index_3]
QUANG HONG, Question of the Week Responses: In-Game Advertising?,
Gamasutra.com, 20 de Novembro de 2005
[www.gamasutra.com/features/20051130/hong_01.shtml]
RYAN SINGEL, Sony Draws Ire With PSP Grafti, Wired.com, 5 de Dezem-
bro de 2005
[www.wired.com/news/culture/0,1284,69741,00.html]
SEAN CARTON, In-Game Advertising: How to Win the Game - The Leading
Edge, Clickz.com, 9 de Janeiro de 2006
[www.clickz.com/showPage.html?page=3575831]
WILLIAM VITKA, In-Game Advertising - IGA Worldgroup Leads The Pack
And They Might Be Getting It Just Right, in GameCore, CBSNews.com,
16 de Julho de 2005
[www.cbsnews.com/stories/2005/07/15/tech/gamecore/main70946
7.shtml]
WILLIAM VITKA AND CHAD CHAMBERLAIN, New Advertising Fron-
tier: Games - IGN And Massive Inc. Are Viewing For Space To Sell In
Video Games, in GameCore, CBSNews.com, 7 de Julho de 2005
[www.cbsnews.com/stories/2005/06/04/tech/gamecore/main69968 9.shtml]
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
268 Herlander Elias
Ensaios
BABO, Maria Augusta (s.d.). Enciclopdia Hipertexto: A Escrita e Seus Dis-
positivos (2006)
[Cf. www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/mbabo-esc.htme]
BABO, Maria Augusta (s.d.). Ficcionalidade e Processos Comunicacionais
(2006)
[www.bocc.ubi.pt/pag/babo-augusta-literatura-ccionalidade.pdf]
BABO, Maria Augusta (s.d.). Hipertexto e Narratividade (2006).
[www.eco.ufrj.br/epos/artigos/art_mbabo.htm]
BARNET, Belinda (s.d.). Infomobility and Technics: some travel notes, in
Ctheory: Theory, Technology and Culture, Vol.28, N
o
3 (2006)
[www.ctheory.net]
CRUZ, Maria Teresa (s.d.). Da Nova Sensibilidade Articial (2006)
[www.bocc.ubi.pt/pag/cruz-teresa-sensibilidade-articial.pdf]
CUPITT, Cathy (s.d.). Eyeballing the Simulacra - Desire and Vision in Blade
Runner (2006)
[www.geocities.com/Area51/Hollow/2405/blade.html]
DELEUZE, Gilles (s.d.). Post-Scriptum Sur Les Socits de Contrle (2005)
[http://aejcpp.free.fr/articles/controle_deleuze.htm]
ELIAS, Herlander (2006). Brand New World O Novo Mundo da Anti-
Publicidade (2006)
[www.bocc.ubi.pt/pag/elias-herlander-brand-new-world.pdf]
FELIX, Amedeo (s.d.). Reality Or Simulacra Blade Runner - Exploring The
Works Of PHILIP K. DICK (2005)
[www.neyoungartists.ndirect.co.uk/BladeRunner.htm]
FLIEGER, Jerry Aline (s.d.). Is Oedipus Online? (2006)
[www.fundacion.telefonica.com/at/eieger.html]
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 269
KLEIN, Naomi (2002). No Logo (2006)
[www.nologo.org]
[www.sozialistische-klassiker.org/Klein/klein01.pdf]
McLUHAN, Marshall (Maro 1969-1994). The Playboy Interview, Playboy
Magazine, Playboy (2006)
[www.digitallantern.net/mcluhan/mcluhanplayboy.htm]
MIRANDA, Jos A. Bragana De (1997), O Controlo do Virtual (2007)
[http://ubista.ubi.pt/comum/miranda-controlo.html]
ORBN, Joln (s.d.). Language Games, Writing Games - Wittgenstein and
Derrida: A Comparative Study (2006)
[www.bu.edu/wcp/Papers/Lang/LangOrba.htm]
RASCAROLI, Laura (s.d.). Strange Visions: Kathryn Bigelows Metaction
(2006)
[www.ucc.ie/ucc/depts/italian/Ir.html]
STELARC (s.d.). Prosthetic Head: Intelligence, Awareness and Agency in
Ctheory, Theory, Technology and Culture, Vol.28, N
o
3 (2006)
[www.ctheory.net]
SUPPIA, Alfredo Luiz Paes de Oliveira (s.d.). Esper Machine: A Metalin-
guagem em Blade Runner, de Ridley Scott I (2006).
[www.studium.iar.unicamp.br/sete/2.html?=2.htm]
Web Sites
http://beetle-buggin.freeonlinegames.com
www.abraco.org.pt
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
270 Herlander Elias
Filmograa
1984 (Michael RADFORD, 1984)
2001: A Space Odissey (Stanley KUBRICK, 1968)
2046 (Wong KAR-WAI, 2004)
A Clockwork Orange (Stanley KUBRICK, 1971)
Akira (Katsuhiro OTOMO, 1988)
Alien (Ridley SCOTT, 1979)
Aliens (James CAMERON, 1986)
Alien 3 (David FINCHER, 1992)
Alphaville (Jean-Luc GODARD, 1965)
Animatrix, The (Mahiro MAEDA, Yoshiaki KAWAJIRI, Shinichiro WATA-
NABE, 2003) Assassins (Mathieu KASSOVITZ, 1997)
Avalon (Mamoru OSHI, 2005)
BattleShip Potemkin (Sergei EISENSTEIN, 1925)
Blade Runner (Ridley SCOTT, 1982)
Breathless (Jean-Luc GODARD, 1960)
Brood, The (David CRONENBERG, 1979)
Castaway (Robert ZEMECKIS, 2000)
Chungking Express (Wong KAR-WAI, 1994)
City of God/A Cidade de Deus (Ktia LUND, Fernando MEIRELLES, 2002)
Crash (David CRONENBERG, 1996)
Crimes Of The Future (David CRONENBERG, 1970)
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 271
Cypher (Vincenzo NATALI, 2002)
Cube (Vincenzo NATALI, 1997)
Cube2 HyperCube (Andrzej SEKULA, 2002)
Cube Zero (Ernie BARBARASH, 2004)
Dark City (Alex PROYAS, 1998)
Demon Seed (Donald CAMMELL, de 1977)
Der Macht Der Bilder Leni RIEFENSTAHL O Poder das Imagens (Ray,
MULLER, 1993)
Doom Sobrevivncia (Andrzej BARTKOWIAK, 2005)
Duel (Steven SPIELBERG, 1971)
eXistenZ (David CRONENBERG, 1999)
Fallen Angels Anjos Cados (Wong KAR-WAI, 1995)
Fifth Element, The (Luc BSSON, 1997)
Fight Club (David FINCHER, 1999)
Final Cut, The (Omar NAIM, 2004)
Final Fantasy: The Spirits Within (Hironobu SAKAGUCHI, Motonori SA-
KAKIBARA, 2001)
Game, The (David FINCHER, 1997)
Gattaca (Andrew NICCOL, 1997)
Ghost In The Shell (Masamune SHIROW, 1996)
Halloween (John CARPENTER, 1978)
In The Mood For Love (Wong KAR-WAI, 2000)
Interstella 5555 (DAFT PUNK & Leki MATSUMOTO, 2003)
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
272 Herlander Elias
Island, The (Michael BAY, 2005)
Johnny Mnemonic (Robert LONGO, 1995)
LHaine O dio (Mathieu KASSOVITZ, 1995)
Lawnmower Man, The (Bret LEONARD, 1992)
Man Who Fell To Earth, The (Nicolas ROEG, 1976)
Man With a Movie Camera, The (Dziga VERTOV, 1929)
Matrix, The (Larry and Andy WACHOWSKY, 1999)
Matrix Reloaded (Larry and Andy WACHOWSKY, 2003)
Matrix Revolutions (Larry and Andy WACHOWSKY, 2004)
Metropolis (Fritz LANG, 1926)
Minority Report (Steven SPIELBERG, 2003)
Natural Born Killers (Oliver STONE, 1994)
Net, The (Irwin WINKLER, 1994)
Net, The 2.0 (Charles WINKLER, 2006)
No Logo: Taking Aim At The Brand Bullies
No Maps For These Territories - William GIBSON (Mark NEALE, 2003)
North By Northwest (Alfred HITCHCOCK, 1959)
Nothing (Vincenzo NATALI, 2003)
Olympia (Leni RIEFENSTAHL, 1938)
Panic Room (David FINCHER, 2002)
Pay Check (John Woo, 2003)
Pulp Fiction (Quentir TARANTINO, 1994)
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
Um Discurso Sobre os Ciberespaos 273
Predator (John McTIERNAN, 1987)
Rear Window (Alfred HITCHCOCK, 1954)
Returner, The (Takashi YAMAZAKI, 2002)
Robocop (Paul VERHOEVEN, 1987)
Running Man, The (Paul MICHAEL GLASER, 1987)
Sex Lies and Videotape (Steven SODERBERGH, 1989)
Shining, The (Stanley KUBRICK, 1980)
Star Trek: First Contact (Jonathan FRAKES, 1996)
Strange Days (Kathryn BYGELOW, 1997)
Taxandria (Raoul SERVAIS, 1995)
Terminator, The (James CAMERON, 1984)
Terminator 2 Judgement Day (James CAMERON, 1991)
Tetsuo: The Iron Man (Shinya TSUKAMOTO, 1989)
Tetsuo II: Body Hammer (Shinya TSUKAMOTO, 1992)
THX: 1138 (George LUCAS, 1971)
Total Recall (Paul Verhoeven, 1990)
Trial, The Le Procss (Orsson WELLES, 1963)
Triumph of the Will (Leni RIEFENSTAHL, 1934)
Tron (Steven LISBERGER, 1982)
Until The End of The World (Wim WENDERS, 1990)
Vertigo A Mulher Que Viveu Duas Vezes (Alfred HITCHCOCK, 1958)
Videodrome (David CRONENBERG, 1982)
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
274 Herlander Elias
Village, The (M. Night SHYAMALAN, 2004)
X-Files FPS Episode (Escrito por William GIBSON e Tom MADDOX,
2000)
www.labcom.pt
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Você também pode gostar
- Engenharia de Software ModernaDocumento42 páginasEngenharia de Software ModernaGeeh Soares50% (4)
- Metodo de BateriaDocumento153 páginasMetodo de BateriaSilvia Cano98% (46)
- Planejamento Anual 1o Ano MDocumento3 páginasPlanejamento Anual 1o Ano Mbebelveiga100% (4)
- ARTE - EF - 1º Trimestre - RevisadoDocumento37 páginasARTE - EF - 1º Trimestre - RevisadoPatricia MorenaAinda não há avaliações
- Relatório MusicalizaçãoDocumento9 páginasRelatório MusicalizaçãoCarol Almeida100% (1)
- Mu Sica Africana Na Sala de Aula PDFDocumento79 páginasMu Sica Africana Na Sala de Aula PDFandre baldino100% (4)
- Criptografia Historia PDFDocumento76 páginasCriptografia Historia PDFjeancampos100% (1)
- Elias Herlander A Galaxia de AnimeDocumento371 páginasElias Herlander A Galaxia de AnimeRPAinda não há avaliações
- Vitali Prova Probabilidade PDFDocumento238 páginasVitali Prova Probabilidade PDFAlexAinda não há avaliações
- Manuais de Cinema III - Planificação e MontagemDocumento181 páginasManuais de Cinema III - Planificação e MontagemArthur AndradeAinda não há avaliações
- Zero To Monero 2 0 0 PTDocumento179 páginasZero To Monero 2 0 0 PTCaio MarchiAinda não há avaliações
- CentralDocumento125 páginasCentralKim Tíchia AlméidaAinda não há avaliações
- 2021 FernandoLimaMadeira TCCDocumento59 páginas2021 FernandoLimaMadeira TCCcarlosrapeixotoAinda não há avaliações
- Apostila de Programação-ANILTON-JOAQUIMDocumento155 páginasApostila de Programação-ANILTON-JOAQUIMFelipe MarquesAinda não há avaliações
- Harbour 2 EdDocumento829 páginasHarbour 2 EdAlexander SilvaAinda não há avaliações
- SENTENÃ A CÃ VEL - VERBO 2.1pdf PDFDocumento422 páginasSENTENÃ A CÃ VEL - VERBO 2.1pdf PDFodemarioAinda não há avaliações
- Notas de Aula Pesquisa Operacional DCC-UFMGDocumento150 páginasNotas de Aula Pesquisa Operacional DCC-UFMGDaniel Nascimento PaivaAinda não há avaliações
- Nodebots Javascript e Robotica No Mundo RealDocumento95 páginasNodebots Javascript e Robotica No Mundo RealClaercio SantosAinda não há avaliações
- Estatistica-Decodificada SumDocumento5 páginasEstatistica-Decodificada SumNicholas MachadoAinda não há avaliações
- LectureNotes Arbex CoutinhoDocumento146 páginasLectureNotes Arbex CoutinhoCaio CaldeiraAinda não há avaliações
- 9789727228577Documento28 páginas9789727228577ricardoesferreira_30Ainda não há avaliações
- CriptoDocumento428 páginasCriptoJOAO PEDRO SILVA MIRANDAAinda não há avaliações
- Util? PDFDocumento228 páginasUtil? PDFMiguel PontesAinda não há avaliações
- Apostila Aneis Cristina MarquesDocumento77 páginasApostila Aneis Cristina Marquesezequielbds100% (1)
- Manauais de Cinema, I-Roteiros - Laboratório de GuionismoDocumento148 páginasManauais de Cinema, I-Roteiros - Laboratório de GuionismoJoão Paulo MachadoAinda não há avaliações
- Apostila ADocumento85 páginasApostila AsbenaxAinda não há avaliações
- Construção de Um Software de Elementos Finitos Usando Programação Genérica/Generativa: Considerações Sobre C++, Performance e GeneralidadeDocumento185 páginasConstrução de Um Software de Elementos Finitos Usando Programação Genérica/Generativa: Considerações Sobre C++, Performance e GeneralidadeAntônio BonessAinda não há avaliações
- 01 SerieEDO 2022Documento457 páginas01 SerieEDO 2022Paulo EmilioAinda não há avaliações
- Aplicações de VC Na SiderurgiaDocumento191 páginasAplicações de VC Na SiderurgiaFilipe BahiaAinda não há avaliações
- From Virtual Machines To Containers and UnikernelsDocumento57 páginasFrom Virtual Machines To Containers and UnikernelsJesus DiazAinda não há avaliações
- (Cliqueapostilas - Com.br) Programacao Orientada A Objeto em C++ PDFDocumento627 páginas(Cliqueapostilas - Com.br) Programacao Orientada A Objeto em C++ PDFVictor SantosAinda não há avaliações
- Calculo IIIDocumento100 páginasCalculo IIIL. VenâncioAinda não há avaliações
- Apostila ScilabDocumento76 páginasApostila ScilabMarcos GarciaAinda não há avaliações
- Dez Lições para Aprender A Linguagem CDocumento222 páginasDez Lições para Aprender A Linguagem CLucyanoAinda não há avaliações
- 10 Lições para CDocumento222 páginas10 Lições para CFabiano Orlando0% (1)
- Lecturenotes PDFDocumento144 páginasLecturenotes PDFGuilherme PereiraAinda não há avaliações
- Livro GrafosDocumento187 páginasLivro GrafosThadeu Augusto Rufino do NascimentoAinda não há avaliações
- LivroDocumento121 páginasLivroJeane CarvalhoAinda não há avaliações
- Lgica e Programao para Grandes e PequenosDocumento163 páginasLgica e Programao para Grandes e Pequenoskauã victorAinda não há avaliações
- Top DifDocumento155 páginasTop DifMarcus Vinicius Sousa sousaAinda não há avaliações
- Programação Orientada A Objeto em C++ PDFDocumento627 páginasProgramação Orientada A Objeto em C++ PDFvinicius oliveiraAinda não há avaliações
- Livro Números - Uma Introdução À MatemáticaDocumento121 páginasLivro Números - Uma Introdução À MatemáticaAntonio JuniorAinda não há avaliações
- CodigoTranscendente MPBDocumento268 páginasCodigoTranscendente MPBOsvaldo BezerraAinda não há avaliações
- Cálculo de Funções de Várias Variáveis Um Livro Colaborativo UFRGSDocumento95 páginasCálculo de Funções de Várias Variáveis Um Livro Colaborativo UFRGSCASA VIANAAinda não há avaliações
- Louis Lavelle - O Mal e o SofrimentoDocumento133 páginasLouis Lavelle - O Mal e o SofrimentoLucas MeloAinda não há avaliações
- Processamento - Sísmico Texto BaseDocumento173 páginasProcessamento - Sísmico Texto BaseIuri ValleAinda não há avaliações
- Álgebra LinearDocumento120 páginasÁlgebra LinearChico CaprarioAinda não há avaliações
- Mirella Okumura RevisadaDocumento54 páginasMirella Okumura RevisadaMisael Albuquerque LiraAinda não há avaliações
- Apostila de Jogos PDFDocumento48 páginasApostila de Jogos PDFHenrique PeixotoAinda não há avaliações
- Engenharia De Sistemas RadiovisibilidadeNo EverandEngenharia De Sistemas RadiovisibilidadeAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Benzeno Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Benzeno Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Fluxo De Massa Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Fluxo De Massa Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Amônia Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Amônia Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Decibelímetro Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Decibelímetro Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Radiação Uv Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Radiação Uv Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Gaussímetro Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Gaussímetro Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Glp Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Glp Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Dinamômetro Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Dinamômetro Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Amperímetro Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Amperímetro Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Ph Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Ph Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- Plotando Um Gráfico De Função Delta De Dirac Programado No PythonNo EverandPlotando Um Gráfico De Função Delta De Dirac Programado No PythonAinda não há avaliações
- Desenvolvendo Um Medidor De Ozônio Modbus Tcp/ip No PicNo EverandDesenvolvendo Um Medidor De Ozônio Modbus Tcp/ip No PicAinda não há avaliações
- As Familias Dos Instrumentos e Atividade 7 AnoDocumento2 páginasAs Familias Dos Instrumentos e Atividade 7 AnoDayanne Patielle Santos LopesAinda não há avaliações
- Alejo Car Pen Tier Os Passos Perdidos (PT)Documento272 páginasAlejo Car Pen Tier Os Passos Perdidos (PT)Mário CorreiaAinda não há avaliações
- Ganga Zumbi - Sérgio SantosDocumento23 páginasGanga Zumbi - Sérgio SantosPedro de GrammontAinda não há avaliações
- Exercício 5 - PercussãoDocumento4 páginasExercício 5 - PercussãoBRUNO BARROS DE ALBUQUERQUEAinda não há avaliações
- BatucagemDocumento52 páginasBatucagemShirley Cristina Gonçalves Lopes100% (2)
- Serie Orff Tomo 4 Ivl UnirioDocumento62 páginasSerie Orff Tomo 4 Ivl UnirioMargaridaAinda não há avaliações
- Infantil AtividadesDocumento45 páginasInfantil AtividadesEduarda RamosAinda não há avaliações
- Monsenhor TabosaDocumento7 páginasMonsenhor TabosaMelodias do AmanhãAinda não há avaliações
- Pau, Corda, Cores e (Re) Invenções - Carimbó - SAP-198 - 2019Documento38 páginasPau, Corda, Cores e (Re) Invenções - Carimbó - SAP-198 - 2019Pierre de Aguiar AzevedoAinda não há avaliações
- Pet Vol. 2 - 1° Ano - Prática de Conjunto (Técnico) .Documento28 páginasPet Vol. 2 - 1° Ano - Prática de Conjunto (Técnico) .Guilherme CardosoAinda não há avaliações
- 2ºanoDocumento17 páginas2ºanoAndréa matiasAinda não há avaliações
- Marcos Suzano - Olho de PeixeDocumento10 páginasMarcos Suzano - Olho de PeixeEduardo Ramos de LimaAinda não há avaliações
- DIÁRIO DE CAMPO - MarçoDocumento2 páginasDIÁRIO DE CAMPO - MarçoSetor de ATASAinda não há avaliações
- Samba-Reggae, Um Ritmo Atlântico - A Invenção Do Gênero No Meio Musical de Salvador, BahiaDocumento18 páginasSamba-Reggae, Um Ritmo Atlântico - A Invenção Do Gênero No Meio Musical de Salvador, Bahiacesar_bruno100% (2)
- ? 1 - Conceitos SemiológicosDocumento48 páginas? 1 - Conceitos SemiológicosRick CostaAinda não há avaliações
- Títulos de Alguma CoisaDocumento59 páginasTítulos de Alguma CoisarvdsaxAinda não há avaliações
- Jubileu-Partitura Grade PDFDocumento24 páginasJubileu-Partitura Grade PDFluia carlos100% (1)
- EACMCGA - Flauta Transversal. Criterios. Programa.23.24Documento21 páginasEACMCGA - Flauta Transversal. Criterios. Programa.23.24verafluteAinda não há avaliações
- Atividade 12 - EF 9º Ano - Arte - Música - Percussão CorporalDocumento7 páginasAtividade 12 - EF 9º Ano - Arte - Música - Percussão Corporalalex capaAinda não há avaliações
- Plano de Bateria IDocumento5 páginasPlano de Bateria IAlex Oliveira100% (1)
- Oficina de PercussãoDocumento25 páginasOficina de PercussãoRick SoaresAinda não há avaliações
- Elmo Haizer Da Silva (2016) - Ensino Coletivo de Instrumentos de Percussao Com Som de Altura Indeterminada Perspectivas e DesafiosDocumento68 páginasElmo Haizer Da Silva (2016) - Ensino Coletivo de Instrumentos de Percussao Com Som de Altura Indeterminada Perspectivas e DesafiosPedro HenriqueAinda não há avaliações
- 1 Folhas Secas Partitura PDFDocumento27 páginas1 Folhas Secas Partitura PDFJoão Leonardo De Sousa LeonelAinda não há avaliações
- Style Works 2000 Universal - Manual PortuguêsDocumento20 páginasStyle Works 2000 Universal - Manual PortuguêsFranklin santos silvaAinda não há avaliações
- Ficha Trabalho 5Documento3 páginasFicha Trabalho 5lpranto7800Ainda não há avaliações