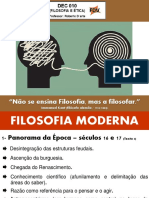Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia Cosmeticos Final 2
Guia Cosmeticos Final 2
Enviado por
AlineDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia Cosmeticos Final 2
Guia Cosmeticos Final 2
Enviado por
AlineDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia para
Avaliao de
Segurana
de Produtos
Cosmticos
Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria
Diretor-Presidente
Gonzalo Vecina Neto
Diretores
Cludio Maierovitch P. Henriques
Luis Carlos Wanderley Lima
Luiz Milton Veloso Costa
Ricardo Oliva
Gerncia-Geral de Cosmticos
Josineire Melo Costa Sallum Gerente-Geral
Silas Paulo R. Gouveia Gerente-Geral Substituto
reimpresso em maio de 2003
E-mail: cosmeticos@anvisa.gov.br
Copyright@ ANVISA, 2003
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
Guia para Avaliao de Segurana
de Produtos Cosmticos
Braslia
2003
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria - ANVISA
Equipe tcnica:
Grupo de Trabalho designado pela Gerncia-Geral de Cosmticos
Ana Lcia Pereira Gerncia-Geral de Cosmticos / ANVISA
Maria Honrio de Lima Gerncia-Geral de Cosmticos / ANVISA
Elisabeth M. Cunha Silva Gerncia-Geral Laboratrios de Sade Pblica / ANVISA
Emiro Khury Associao Brasileira de Cosmetologia
Jadir Nunes Associao Brasileira de Cosmetologia
Flavia Addor Laboratrio Privado
Samuel S. Guerra Filho Laboratrio Privado
Sonia Yokoto Ass.Bras.Ind. de Higiene, Perfum. e Cosmticos
Lgia Myamaru Laboratrio Oficial
Octvio A. F. Presgrave Laboratrio Oficial
Dermeval de Carvalho Cmara Tcnica de Cosmticos
Philippe Masson Comunidade Europia
Agradecimento especial Dra. Beatriz Cesar, pela contribuio apresentada
Divulgao:
Unidade de Divulgao
Design:
Gerncia de Comunicao Multimdia
Apresentao
Diante da sempre crescente necessidade de informaes relacionadas avaliao de
segurana dos produtos de higiene pessoal, cosmticos e perfumes com o objetivo
de garantir a segurana sanitria dos mesmos e, ainda, visando o monitoramento destes
produtos no mercado, a Gerncia-Geral de Cosmticos da ANVISA coordenou a
elaborao deste Guia.
Sem a pretenso de esgotar o tema, este trabalho busca preencher uma lacuna refe-
rente disponibilidade de material tcnico nesta rea, de mbito nacional, servindo como
instrumento de referncia para todos os agentes envolvidos. Como resultado espera-se
que a aplicao dessas informaes possa contribuir para uma melhor qualidade dos pro-
dutos e conseqentemente, melhor desempenho das aes de controle.
Foi um trabalho rduo e demorado, mas de extrema gratificao pelo empenho
e dedicao profissional que marcaram todas suas etapas. Por isto, meus sinceros agrade-
cimentos a todo o grupo que tanto se empenhou na realizao deste trabalho, mas
em especial ao Diretor Presidente Dr. Gonzalo Vecina Neto pela confiana na
Gerncia-Geral de Cosmticos, e ao Gerente-Geral Substituto Silas Paulo Resende Gouveia
pelo incentivo.
Josineire M.C.Sallum
Gerente-Geral de Cosmticos
1 - INTRODUO............................................................................................. 07
2 - CONSIDERAES GERAIS NA AVALIAO DE SEGURANA DE
PRODUTOS COSMTICOS ......................................................................... 09
2.1 - Noo de risco cosmtico........................................................................... 10
2.2 - Critrios a serem observados na avaliao de segurana ................................. 11
3 - AVALIAO DOS INGREDIENTES A SEREM UTILIZADOS EM
FORMULAES COSMTICAS.................................................................. 13
3.1 - Parmetros a serem observados na avaliao dos ingredientes ......................... 13
3.1.1 - Caracterizao .............................................................................. 13
3.1.2 - Aplicao cosmtica ...................................................................... 14
3.1.3 - Dados toxicolgicos ....................................................................... 14
3.1.4 - Informao disponvel sobre os ingredientes ..................................... 16
4 - AVALIAO DO RISCO POTENCIAL DE PRODUTOS COSMTICOS .... 17
4.1 - Parmetros a serem considerados na avaliao de produtos cosmticos ............ 17
4.2 - Sugesto para avaliao de segurana de produtos cosmticos ........................ 18
4.2.1 - Avaliao do potencial irritante ....................................................... 18
4.2.2 - Avaliao do potencial alergnico.................................................... 18
5 - METODOLOGIAS ........................................................................................ 19
5.1 - Ensaios pr-clnicos ................................................................................... 19
5.1.1 - Critrios a serem avaliados .............................................................. 21
5.1.2 - Ensaios in vitro ............................................................................. 22
5.1.3 - Ensaios em animais........................................................................ 24
5.2 - Ensaios clnicos ........................................................................................ 27
6 - AVALIAO DE SEGURANA BASEADO NA SEMELHANA DE
PRODUTOS................................................................................................... 29
7 - CRITRIOS TICOS NA AVALIAO DE SEGURANA DE PRODUTOS
COSMTICOS EM HUMANOS................................................................... 31
ANEXOS ............................................................................................................. 33
1 - Metodologia in vitro .................................................................................... 34
2 - Testes em animais ........................................................................................ 35
3 - Atributos ligados segurana ........................................................................ 36
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ........................................................................ 39
SUMRIO
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
7
1 - INTRODUO
De acordo com a definio conferida pela Legislao vigente, Cosmticos, Produtos
de Higiene e Perfumes so preparaes constitudas por substncias naturais ou sintti-
cas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas,
lbios, rgos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o
objetivo exclusivo ou principal de limp-los, perfum-los, alterar sua aparncia e/ou cor-
rigir odores corporais e/ou proteg-los ou mant-los em bom estado. Com o objetivo de
facilitar a leitura deste guia, a expresso Produtos Cosmticos, de Higiene e Perfumes
ser substituda pela expresso produtos cosmticos abrangendo assim, toda a classe
designada anteriormente.
A avaliao da segurana deve preceder a colocao do produto cosmtico no mer-
cado. A empresa responsvel pela segurana do produto cosmtico, conforme assegurado
pelo Termo de Responsabilidade apresentado, onde a mesma declara
possuir dados comprobatrios que atestam a eficcia e segurana de seus produtos
(Resoluo 79/00, Anexo XXI e suas atualizaes).
Uma vez que o produto cosmtico de livre acesso ao consumidor, o mesmo deve ser
seguro nas condies normais ou razoavelmente previsveis de uso
(a)
. A busca dessa segu-
rana deve incorporar permanentemente o avano do estado da arte da cincia cosmtica.
Com a finalidade de atender as necessidades de mercado e assegurar a sade dos
consumidores a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, atravs da Gerncia Geral de
Cosmticos, coordenou um grupo especial de trabalho constitudo por Pesquisadores,
Representantes do Setor Produtivo e Laboratrios Oficiais, para elaborao deste Guia
para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos de carter orientativo, com o
objetivo de sugerir critrios para avaliao de segurana dos produtos cosmticos e
fornecer os subsdios para este fim.
a) Condies de uso no indicadas na rotulagem porm, com certa probabilidade de ocorrncia (ex: xampu nos olhos).
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
9
2 - CONSIDERAES GERAIS NA AVALIAO DE
SEGURANA DE PRODUTOS COSMTICOS
de inteira responsabilidade do fabricante, do importador ou do responsvel pela
colocao do produto no mercado, garantir sua segurana para os consumidores nas con-
dies normais ou razoavelmente previsveis de uso.
Considerando que a ausncia de risco no existe segundo se depreende da literatura
consultada e, dadas as dificuldades para estabelecer conceitos relativos a uma condio
razoavelmente previsvel de uso, o responsvel por um produto cosmtico deve empregar
recursos tcnicos e cientficos suficientemente capazes de reduzir possveis danos aos usu-
rios, ou seja:
a) formulando o produto com ingredientes referenciados
(b)
que sejam os mais seguros
possveis;
b) deixando uma margem de segurana entre o nvel de risco e o nvel de uso do
produto;
c) informando o consumidor, da maneira mais clara possvel, a fim de evitar mau
uso do produto;
d) seguindo as Boas Prticas de Fabricao e Controle
(c)
.
Em razo da grande complexidade que envolve parmetros relacionados s avalia-
es de risco, algumas consideraes se tornam necessrias para um maior entendimento
do assunto.
1 - Dano e risco: o dano o prejuzo sade em funo da propriedade inerente de
uma substncia; o risco a probabilidade de ocorrncia do dano;
2 - Os ingredientes para uso em produtos cosmticos devem ser avaliados em termos
de risco e no de dano, conseqentemente a avaliao do risco deve relacionar o
dano com o nvel de exposio;
3 - A avaliao de segurana deve atender o conhecimento dos parmetros
toxicolgicos de interesse dos ingredientes com base em dados correntes, obser-
vadas as condies de uso do produto cosmtico e o perfil do consumidor alvo;
4 - A avaliao de segurana de um produto cosmtico, certamente, exige o pleno
conhecimento nas reas de farmacotcnica, toxicologia, farmacocintica, fases
clnica, regulatria, entre outras.
b) Ingredientes constantes em Compndios e Legislao.
c) Normas que estabelecem padronizao, procedimentos, mtodos de controle de qualidade e mtodos de fabricao.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
10
2.1 - Noo de risco cosmtico
Devido a sua diversidade, o risco do produto cosmtico deve ser avaliado por dife-
rentes abordagens:
Condies de uso:
Aplicao regular e prolongada, como por exemplo, os produtos para cuidados
pessoais (desodorantes, condicionadores, cremes de tratamento, etc);
Aplicao ocasional, geralmente os produtos com funo especfica (tintura
capilar, depilatrio, esfoliantes, etc);
Aplicao regular, durante um tempo limitado, de acordo com a freqncia de
uso, como no caso dos produtos enxaguveis.
rea de contato :
Aplicao em reas especficas e limitadas da pele, por exemplo perfumes, esmal-
tes, e outros;
Aplicao extensa sobre a pele, como os produtos para cuidado de rosto e corpo.
Aplicao sobre mucosas (lbios, cavidade bucal, orgos genitais externos), como
por exemplo, batom, dentifrcios, sabonetes ntimos, etc;
Aplicao na rea dos olhos (sombras, delineadores, cremes);
Aplicao no cabelo, com ou sem enxge (xampus, condicionadores, tinturas
capilares, etc).
Deve-se tambm contemplar aqui o caso dos produtos que, devido as condies de
uso ou a sua forma cosmtica, podem ser parcialmente inalados ou ingeridos, como por
exemplo aerossis e produtos para higiene bucal.
Tipos de reao que podem ser observadas:
Irritao: intolerncia local podendo corresponder a reaes de desconforto
menores, mas tambm a reaes mais ou menos agudas, variando sua intensidade,
desde ardor, coceira e pinicao podendo chegar at a corroso e destruio do
tecido. Todas estas reaes se restringem rea em contato direto com o produto;
Sensibilizao: corresponde a uma alergia, que uma reao de efeito imediato
(de contato ou, urticria) ou tardio (hipersensibilidade). Ela envolve mecanismos
imunolgicos e pode aparecer em outra rea, diferente da rea de aplicao. Por-
tanto, importante insistir que no campo da imunologia deve-se, no apenas,
verificar se um produto pode desencadear uma resposta alrgica em pessoas pr-
sensibilizadas, mas tambm, verificar se o prprio produto no capaz de induzir
uma reao alrgica ao consumidor;
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
11
Efeito sistmico: resultante da passagem de quaisquer ingredientes do produto
para a circulao geral, diretamente por via oral, inalatria, transcutnea ou
transmucosa, metabolizados ou no. V-se aqui a necessidade de avaliar o risco dos
ingredientes que constituem a frmula.
2.2 - Critrios a serem observados na avaliao de segurana
Conforme mencionado, a avaliao de segurana de um produto cosmtico pressu-
pe uma abordagem caso a caso, observando-se, preliminarmente, todas as informaes
disponveis que contribuam para o conhecimento do risco potencial, em condies nor-
mais ou razoavelmente previsveis de uso. Deve-se considerar tambm os seguintes
parmetros:
Condies de uso:
Categoria de produto e finalidade de uso;
Modo de aplicao;
Quantidade de produto por aplicao;
Freqncia de uso;
Tempo de contato;
rea e superfcie de aplicao;
Consumidor alvo;
Advertncias e restries de uso.
Composio do produto:
Frmula qualitativa;
Concentrao dos ingredientes;
Dados toxicolgicos sobre ingredientes desconhecidos, de uso restrito ou
regulamentados
(d)
;
Existncia de restries ou regulamentaes especficas para algum ingrediente;
Possveis interaes entre ingredientes;
Nvel de exposio (capacidade de absoro);
Margem de segurana para os ingredientes mais crticos.
Histrico e conhecimento do produto:
Dados disponveis sobre o prprio produto e/ou sobre produtos semelhantes;
Dados experimentais existentes sobre o prprio produto e/ou sobre produtos
semelhantes, em relao avaliao de risco;
d) Ingredientes que apresentam restries (limitaes de concentrao e/ou campo de aplicao) previstas na legislao vigente.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
12
Literaturas especializadas, rgos regulatrios, entidades do setor privado e enti-
dades afins, de reconhecido valor cientfico.
Deve-se atentar, ainda, aos dados que foram resultantes de pesquisas ou experimen-
taes especficas necessrias, para obter ou completar as informaes.
De maneira geral, deve-se considerar que:
Na grande maioria dos casos, o risco sistmico avaliado a partir dos dados relati-
vos s matrias primas. No se conhece efeitos toxicolgicos sistmicos em produtos
acabados que no sejam causados pelos prprios ingredientes. Portanto, impor-
tante prever este tipo de risco para os produtos que eventualmente possam ser
ingeridos ou inalados, ou aqueles destinados a uma populao em particular (cri-
anas, gestantes, etc.);
Ao contrrio, as reaes de irritao, decorrentes da penetrao cutnea ou de
mucosa dos ingredientes, esto relacionadas s concentraes de uso no produto
final e sua formulao cosmtica;
Entre estas duas situaes extremas, o risco de alergia pode decorrer tanto em
funo dos ingredientes quanto do produto final. Na realidade, a reao basica-
mente atribuda a algum ingrediente cuja reatividade pode ser desencadeada ou
potencializada pela frmula do produto acabado.
Assim, com base nas informaes obtidas, pode-se chegar a alguma das seguintes
concluses:
a) Os dados so suficientemente claros para assegurar o uso do produto cosmtico
avaliado por parte dos consumidores, respeitadas as condies normais ou razoa-
velmente previsveis de uso;
b) Os dados disponveis permitem a comercializao do produto em condies res-
tritas de uso, claramente expressas na rotulagem;
c) Os dados no so suficientes para atestar a segurana do produto e necessita-se
empreender novas pesquisas ou testes adicionais para avaliar a ausncia de risco
para os consumidores alvo;
d) Os dados so suficientes para desaconselhar a comercializao do produto.
Para qualquer uma das premissas acima referidas, o relatrio final deve ser apresenta-
do de forma clara, objetivo, devidamente documentado e conclusivo, devendo o mesmo
ser preparado por profissional habilitado, ficando, no entanto, passvel das sanes pre-
vistas, os responsveis tcnico e legal.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
13
3 - AVALIAO DOS INGREDIENTES A SEREM UTILIZADOS
EM FORMULAES COSMTICAS
Apesar de numerosos, os produtos cosmticos so formulados com um nmero razo-
avelmente restrito de ingredientes.
Como foi apresentado no item 2.2 deste Guia e, uma vez que os efeitos observados
resultantes do produto acabado so, em boa parte, dependentes dos seus componentes, o
conhecimento do perfil toxicolgico dos mesmos permite avaliar o perfil das pesquisas
em produtos acabados, desde que respeitada a sua forma galnica (cosmtica) e, especial-
mente, a associao de ingredientes.
Desta maneira, necessita-se dispor do melhor conhecimento possvel para cada in-
grediente utilizado, tanto no que diz respeito s suas caractersticas, bem como, a seus
dados toxicolgicos, levando-se em conta os vrios riscos potenciais ligados ao uso cosm-
tico. Esta medida , com certeza a melhor maneira de evitar problemas posteriores quanto
ao comportamento do produto final, seja durante seu desenvolvimento ou mesmo aps
sua colocao no mercado.
At o presente tem sido mais acessvel a busca de informaes tcnicas, de ordem
cientfica e normativa para a maioria dos ingredientes qumicos, enquanto que para as
substncias obtidas de extratos naturais, vrios fatores esto associados desde o seu plantio
at o seu preparo farmacognstico, fatores estes que podem conferir s substncias pre-
sentes um grau enorme de contrastes, cujos valores sem dvida alguma podem interferir
na avaliao toxicolgica do produto acabado.
3.1 - Parmetros a serem observados na avaliao dos ingredientes
Os ingredientes de produtos cosmticos podem ser substncias qumicas, extratos de ori-
gem botnica ou animal, ou associao de ingredientes, como por exemplo, as fragrncias.
Esta considerao leva a pensar que os parmetros a serem contemplados na
avaliao da segurana de uso de tais componentes, dependem de sua categoria.
3.1.1 - Caracterizao
desejvel a disponibilizao dos seguintes dados, para qualquer ingrediente:
Nome comercial;
Codificao INCI
(e)
, quando houver;
Nmero CAS
(f )
ou EINECS
(g)
;
e) International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
f ) Chemical Abstracts Service.
g) European Inventory of Existing Chemical Substances.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
14
Especificaes fsico-qumicas, microbiolgicas e de estabilidade;
Mtodo de identificao;
Restrio de uso;
Condies particulares de estocagem e manuseio.
3.1.2 - Aplicao cosmtica
Concentrao de uso indicada pelo fornecedor;
Restries regulamentares de uso;
Outros usos.
3.1.3 - Dados toxiclogicos
O produto cosmtico deve ser seguro para o usurio nas condies normais ou razo-
avelmente previsveis de seu uso. Isto significa que os ingredientes devem ser incorporados
na frmula do produto cosmtico num nvel de concentrao que apresente uma mar-
gem de segurana adequada.
A margem de segurana (MS) definida como a relao entre a dose experimental
mais elevada, que no produz qualquer efeito sistmico adverso depois de um mnimo de
28 dias de ingesto oral, em espcie(s) animal(is) seguindo as recomendaes internacio-
nais, (NOAEL), e a dose diria absorvida, a qual o consumidor pode ser exposto por via
cutnea (DS).
MS = NOAEL
DS
Para fins de avaliao da margem de segurana de produtos cosmticos esta relao
no deve ser menor que 100. No entanto, este valor estimado no deve ser utilizado
quando a toxicidade no est relacionada concentrao de uso do ingrediente, a exem-
plo de substncias potencialmente mutagnicas, carcinognicas ou que apresentem efeitos
na reproduo.
Por esta razo, alm do conhecimento do nvel de absoro cutnea e de toxicidade
subaguda, um certo nmero de informaes complementares necessrio para o
conhecimento do risco de uso dos ingredientes utilizados em preparaes cosmticas.
A lista de pesquisas que se segue, de carter indicativo, considera os trs tipos poss-
veis de riscos cosmticos potenciais e deve ser contemplada, caso a caso, em funo do
conhecimento j adquirido pelo formulador e pelo avaliador de segurana, e
tambm em funo da categoria do produto em considerao :
a) Dados bsicos teis para qualquer ingrediente:
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
15
Absoro cutnea:
Como indicado previamente, o conhecimento desta informao d uma boa idia
da previsibilidade e tambm permite o clculo da margem de segurana. Quando
no se pode ou no se deseja fazer a pesquisa, deve-se ento, considerar que 100% da
substncia absorvida.
Estudo do potencial de efeito sistmico:
Toxicidade aguda (por via oral, em uma espcie sensvel);
Teste de mutagenicidade.
Estudo do potencial de efeito alergnico:
Teste de alergenicidade.
Estudo do potencial de risco irritativo:
Irritao primria da pele;
Irritao primria da mucosa (ou ocular).
b) Dados complementares teis em situaes particulares:
Estudo do risco sistmico potencial :
Toxicidade subaguda: desejvel quando o ingrediente destinado ao uso dirio,
sem enxge; tambm necessrio para o clculo da margem de segurana;
Estudo do efeito na reproduo (fertilidade, teratogenicidade peri/ps-natal): so-
mente necessria quando o ingrediente pertence a uma famlia qumica com suspeita
de risco ou se utilizado em produtos indicados para gestantes;
Fotomutagenicidade: somente para ingredientes que absorvem os raios ultravioleta
entre 290 e 400 nm.
Estudo do risco irritativo potencial:
Irritao por efeito cumulativo (desejvel quando o ingrediente destinado a ser
utilizado em produtos de uso regular, sem enxge).
Avaliao de riscos particulares:
Pesquisas de carter particular podem ser necessrias, caso a caso, para complementar a
informao toxicolgica quando se suspeita, por exemplo, de qualquer risco devido ao
conhecimento de efeito adverso de um ingrediente cuja estrutura qumica seja semelhan-
te (teratogenicidade, carcinogenicidade, genotoxicidade, toxicidade reprodutiva).
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
16
Para que qualquer teste possa ser utilizado na avaliao de segurana de um produto
cosmtico, deve ser elaborado protocolo de estudo segundo recomendado pela legislao
vigente e reconhecidas as boas prticas de laboratrio.
Na falta de disponibilizao de mtodos substitutivos in vitro adequados e vlidos, e
por razes ticas evidentes, a maioria destes testes feitos com ingredientes s pode ser
razoavelmente avaliada, hoje, em animais. No entanto, da responsabilidade do pesquisa-
dor, bem como, dos avaliadores dos dados, a reduo mxima do nmero de animais de
laboratrio utilizados e tambm, a mxima reduo de seu sofrimento.
3.1.4 - Informao disponvel sobre os ingredientes
Os fornecedores de ingredientes constituem a maior fonte de informao, uma vez
que os ingredientes devem satisfazer a legislao nacional em termos de condies de
manuseio, de transporte e de rotulagem. Vrios compndios podem ser utilizados para
completar a informao. Entretanto, nem todas fornecem o mesmo nvel de conheci-
mento sobre o risco de uso. Algumas listas apresentam a indicao de uso do ingrediente
e, algumas vezes, informaes quanto s suas restries. o caso, por exemplo, do INCI,
do Inventrio publicado pela Comisso Europia e do IFRA
(h)
index (perfumes).
Outras listas trazem informao toxicolgica de ingredientes com relao ao uso cos-
mtico. o caso, por exemplo, do CIR
(i)
e das opinies dadas pelo Comit Cientfico de
Cosmetologia da Comisso Europia (SCCNFP)
(j)
, que fornecem avaliaes toxicolgicas
de ingredientes cosmticos feitas por painis de cientistas independentes.
Outras referncias do uma informao de carter mais geral, porm, teis para
obteno de dados sobre as caractersticas fsico-qumicas dos ingredientes, como por
exemplo, o Merck Index e o The Martindale Extra Pharmacopeia.
Em funo do pas, ou dos pases, onde se pretende comercializar um produto cos-
mtico deve-se tambm verificar na legislao se os ingredientes utilizados so aceitos ou
submetidos restries de uso. Alm de casos particulares, sempre necessrio conferir a
possibilidade e nvel de uso aceitvel para trs categorias de ingredientes: corantes,
conservantes e filtros solares.
Alm das fontes acima referidas, ainda esto disponveis bancos de dados que
tambm podem ser utilizados para se obter informaes teis quanto s caractersticas e
ao perfil toxicolgico dos ingredientes. Mesmo contando com meios para a busca de
dados necessrios para segurana de produtos cosmticos, deve-se observar o mximo
rigor cientfico na anlise dos dados fornecidos pelas fontes utilizadas, os quais devem ser
apropriados para o ingrediente e sua utilizao no produto acabado.
h) International Fragrance Association.
i) Cosmetic Ingredient Review.
j) Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Foodstuff intended for Consumers.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
17
4 - AVALIAO DO RISCO POTENCIAL DE PRODUTOS
COSMTICOS
Como j foi mencionada, a maioria das informaes necessrias na avaliao do risco
potencial de um produto cosmtico resulta do conhecimento dos ingredientes que com-
pem sua frmula. So eles que podem, diretamente, serem os responsveis por qualquer
efeito sistmico e por boa parte do risco alergnico. Contudo, a frmula do produto
acabado pode interferir, medida que facilita a absoro total ou parcial dos ingredientes
sendo responsvel, tambm, por possveis sinergismos, resultantes da associao de ingre-
dientes.
Portanto, o conhecimento disponvel dos ingredientes pode no ser suficiente para
prevenir um efeito indesejvel ao consumidor alvo. Alm dos componentes, deve-se ava-
liar outros parmetros envolvidos tais como: o uso do produto, rea de aplicao, se o
produto enxaguvel, se o uso prolongado e repetido, dirio ou no, entre outros.
Dessa forma, o risco potencial pode ser diferente, em cada caso.
O avaliador deve observar todos estes parmetros, garantindo, da melhor maneira
possvel, a segurana do consumidor em condies normais ou razoalvelmente previsveis
de uso de um produto cosmtico.
4.1 - Parmetros a serem considerados na avaliao de produtos cosmticos
Embora os produtos cosmticos sejam aplicados topicamente, um ou mais de seus
ingredientes pode permear a barreira cutnea, sendo parcial ou totalmente absorvidos.
Alguns produtos, devido sua apresentao e modo de uso, podem ser ingeridos ou
inalados, como por exemplo, os dentifrcios, enxaguatrios bucais e spray para cabelos.
Na avaliao de segurana deve ser considerado o modo de uso do produto, uma vez
que esta varivel pode determinar diretamente a quantidade que pode ser absorvida,
ingerida ou inalada.
Os primeiros parmetros a serem contemplados so os seguintes:
Categoria do produto;
Condies de uso;
Concentrao de cada ingrediente na formulao;
Quantidade de produto em cada aplicao;
Freqncia de uso;
Local de contato direto com o produto;
Superfcie total de pele ou de mucosa onde o produto aplicado;
Durao do contato;
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
18
Consumidor alvo;
Possveis desvios no emprego do produto (uso inadequado ou acidental).
Conhecendo-se a frmula do produto, pode-se calcular de maneira adequada, a concen-
trao de cada ingrediente que est em contato com a pele. Neste clculo, deve-se considerar
a quantidade total de cada ingrediente includo, ou constituinte de outro componente (ex:
conservantes). Com o conhecimento da absoro dos ingredientes mais crticos possvel en-
to prever, sem nenhum estudo adicional, o risco potencial de exposio do produto.
Uma vez que no h um risco previsvel decorrente do uso do produto, pode-se
avaliar a frmula per si para determinar a aceitabilidade dos ingredientes nas condies
de uso do produto acabado.
Por razes ticas, quando o risco previsvel no pode ser suficientemente conhecido
prefervel recorrer, segundo o nvel de conhecimento, a mtodos experimentais in vitro
ou in vivo.
De maneira geral, melhor privilegiar a avaliao dos riscos irritativos e alergnicos
em testes clnicos que apresentam uma melhor idia da resposta dos consumidores alvo.
4.2 - Sugesto para avaliao de segurana de produtos acabados
4.2.1 - Avaliao do potencial irritante
Produto com risco desconhecido:
triagem com mtodos in vitro ou, in vivo em animais, seguido de teste clnico.
Produto com ausncia presumida de risco:
Teste clnico.
4.2.2 - Avaliao do potencial alergnico
Nvel de absoro dos ingredientes desconhecido:
Teste in vivo, em animais.
Produto com ausncia presumida de risco:
Teste clnico.
Presume-se ento que as avaliaes sugeridas sejam aplicadas caso a caso, no que couber.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
19
5 - METODOLOGIAS
5.1 - Ensaios pr-clnicos
Devido evoluo tcnico-cientfica, na dcada de 80 iniciou-se o desenvolvimento
de modelos experimentais alternativos para a rea cosmtica, em substituio ao uso de
animais de laboratrio. Metodologias foram desenvolvidas, inicialmente, para responder
corretamente as necessidades de pesquisa em farmacologia, onde se sabe que o compor-
tamento animal pode ser diferente do humano. Os mtodos alternativos tambm foram
contemplados para a avaliao de efeitos toxicolgicos.
Alguns destes mtodos vm sendo utilizados desde tempos remotos, em particular na
rea da mutagenicidade onde numerosos testes foram desenvolvidos, validados e integra-
dos nas diretivas internacionais tais como a OCDE (Organizao para Cooperao e
Desenvolvimento Econmico). Tambm foram utilizados com sucesso para a demonstra-
o de mecanismo de ao especfico, sugerindo serem teis e preditivos no que se refere
a sistemas biolgicos simples, como por exemplo, nos estudos feitos em microorganismos,
clulas, tecidos e/ou rgos de animais ou humanos.
A dificuldade no emprego de tais mtodos alternativos, hoje, reside na avaliao da
reatividade de sistemas mais complexos o que , na prtica, o caso da avaliao de risco
toxicolgico. necessrio o acesso a uma bateria de testes que sejam complementares, de
maneira que o conjunto destes oferea um resultado com os mesmos nveis cientficos e de
informao, em relao aos obtidos, anteriormente, com os modelos em animais. Tais
modelos alternativos devem ser, portanto, validados, de acordo com os procedimentos
internacionais na rea de aplicao para que sejam reconhecidos pelo meio cientfico e
pelos rgos regulamentadores.
Vrios esforos tem sido efetuados para a diminuio do uso e do sofrimento de
animais. Em 1984, o Governo Britnico concedeu fundos para o desenvolvimento de
mtodos alternativos ao FRAME - Fund for Replacement of Animal Medical Experiments
que, desde 1983, edita uma revista internacional intitulada ATLA - Alternatives to
Laboratory Animals. Em 1994, foi inaugurado o ECVAM European Committee for
Validation of Alternative Methods - instituio da Comisso Europia encarregada de
promover e validar tcnicas e metodologias destinadas substituio dos ensaios em ani-
mais. Algumas instituies, como CTFA - Cosmetic, Toiletries and Frangrance Association,
IRAG - Interagency Regulatory Alternatives Group, FDA - Food and Drug Administration
e Alternatives to Animal Testing, John Hopkins University, Baltimore - USA, so refern-
cias para acelerar a padronizao e a harmonizao de metodologias
in vitro.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
20
Os 3 Rs
A idia de ensaios alternativos muito mais abrangente do que a substituio do uso
de animais, incluindo tambm a questo da reduo e refinamento na utilizao dos mes-
mos. Este princpio est baseado no conceito dos 3Rs (Three Rs), o qual foi definido por
William Russell e Rex Burch, em 1959, no livro Principles of Human Experimental
Technique. Os 3 Rs que representam o refinamento, reduo e substituio (Refine,
Reduction e Replacement) tm como estratgia, uma pesquisa racional minimizando o
uso de animais e o seu sofrimento, sem comprometer a qualidade do trabalho cientfico
que est sendo executado visualizando, futuramente, a total substituio de animais por
modelos experimentais alternativos.
Refinamento
O Termo refinamento significa a modificao de algum procedimento operacional
com animais, objetivando minimizar a diminuio da dor e o estresse. A experincia da
dor e do estresse tem, como resultado, mudanas psicolgicas que aumentam a variabili-
dade experimental dos resultados. O interesse dos cientistas assegurar que as condies
ambientais para os animais sejam as melhores possveis. Os testes considerados menos
invasivos podem ser utilizados para diminuir a angstia causada durante o estudo. Alm
disto, importante que toda a equipe envolvida seja bem treinada e competente no que se
refere a correta atitude em relao aos animais.
Reduo
A concepo de reduo como alternativa estratgica, resulta em menor nmero de
animais sendo utilizados para obter a mesma informao, ou maximizao da informao
obtida por animal. Existem vrias possibilidades para reduo do uso de animais. Alguns
laboratrios alertam todos os pesquisadores quando as pesquisas levam o
animal a morte. Assim, dado preferncia para pesquisas que utilizem os vrios rgos de
um mesmo animal, associadas aos dados apropriados e princpios estatsticos.
Em outros casos, pode-se executar um estudo piloto indicando se o procedimento ser
apropriado para um estudo maior. Para tanto possvel a utilizao de estudos prelimina-
res in vitro, os quais podem indicar novos caminhos, utilizando tcnicas no invasivas.
Substituio
Um sistema experimental que esteja vinculado totalidade da condio de vida ani-
mal, pode ser considerado como substituto alternativo. Pode-se citar a proposta de obteno
de clulas, tecidos ou organismos para subseqentes estudos in vitro ao invs da matana
de animais.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
21
Portanto, verifica-se que alguns mtodos alternativos, podem ser utilizados na total
substituio em estudos animais e outros, podem complementar dados, auxiliando na
reduo de utilizao de animais empregados em todo projeto. O maior mpeto de de-
senvolvimento para testes alternativos tem sido determinado pela indstria farmacutica.
Este investimento tem conduzido para o desenvolvimento adequado da triagem dos com-
ponentes para avaliao de potencial toxicolgico e eficcia. A utilizao da informtica,
as informaes sobre matrias-primas, tcnicas fsico-qumicas, cultura de clulas, teci-
dos e rgos, contribuem para um banco de informaes, evitando a duplicao
desnecessria de trabalho com animais.
5.1.1 - Critrios a serem avaliados
Os riscos a serem avaliados para ingredientes e produtos cosmticos so do tipo
irritativo, alergnico e sistmico, este ltimo, essencialmente por meio de sua absoro
oral ou permeao.
Vrios testes desenvolvidos foram aceitos e utilizados na avaliao do risco irritativo.
Entretanto, nem todos esto validados at o presente momento, uma vez que os resulta-
dos obtidos foram divergentes entre os laboratrios. Baseando-se num banco de dados
consistente qualquer pesquisador treinado pode, no entanto, interpretar os resultados
obtidos para a comparao entre produtos da mesma categoria. Esses modelos citados, a
seguir, s podem ser contemplados como modelos experimentais de triagem, ou seja, de
carter preliminar.
Avaliao do potencial de irritao ocular
Atravs de um conjunto de mtodos in vitro (HET-CAM, BCOP, Citotoxicidade
pela difuso em gel de agarose, Citotoxicidade pelo mtodo do Vermelho Neutro,
Citotoxicidade pelo mtodo do MTT, RBC), agrupam-se informaes que oferecem sub-
sdios para garantir a segurana do produto a nvel ocular. Como h mais de um mecanismo
de irritao ocular apenas um ensaio in vitro no suficiente para uma completa avalia-
o. O ideal obtermos dados relacionados vascularizao (Het-Cam), opacidade /
permeabilizao (BCOP) e citotoxicidade (MTT, RBC).
Avaliao do potencial de irritao cutnea
A utilizao do teste de corrosividade com modelo de pele reconstituda j conside-
rado uma metodologia validada. No entanto, este modelo mais utilizado em ensaios com
ingredientes mas, no atende s necessidades de avaliao de produtos acabados.
Avaliao do potencial fototxico
O teste de fototoxicidade, atravs da metodologia (3T3 NRU), definido como
uma resposta txica clara depois da primeira exposio da clula com agentes qumicos, e
posterior exposio irradiao. No que se refere avaliao do risco alergnico e
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
22
fotoalergnico ainda no existem testes in vitro, dispondo-se apenas de um teste, que
embora no seja considerado como metodologia in vitro, contribui na reduo do nme-
ro de animais de laboratrio.
Apresentadas as consideraes, citamos resumidamente os testes:
5.1.2 - Ensaios in vitro
HET-CAM (membrana corioalantide)
O objetivo do ensaio avaliar semi-quantitativamente o potencial irritante de um
produto (produtos solveis, emulses, gis e leos), sobre a Membrana Crio-Alantide
de ovo embrionado de galinha, no dcimo dia de incubao. O ensaio baseado na
observao dos efeitos irritantes (hiperemia, hemorragia e coagulao), aps 5 minutos
da aplicao do produto, puro ou diludo, sobre a membrana crio-alantide. Obtm-se
uma escala que considera os fenmenos observados.
BCOP (Permeabilidade e opacidade de crnea bovina)
O objetivo do ensaio avaliar quantitativamente o potencial irritante de um produto
ou de uma substncia qumica aps aplicao sobre a crnea isolada de bezerro. O ensaio
baseado na medida da opacidade e da permeabilidade da crnea de bezerro aps o
contato com o produto teste.
Medida da opacificao crnea - realizada com o auxlio de um opacitmetro, apare-
lho que determina a diferena de transmisso do fluxo luminoso entre a crnea a ser
avaliada, fixando um valor numrico de opacidade.
Medida da permeabilidade crnea - realizada conforme o tempo de contato, adici-
onando fluorescena e a densidade ptica medida em 490 nm. Obtm-se uma escala
que considera os fenmenos observados.
Citotoxicidade pelo mtodo MTT
A citotoxicidade avaliada com a ajuda de um corante vital, MTT ou 3-(4,5 dimethyl
thiazole-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide. Os parmetros de avaliao observados
so a porcentagem de morte celular e a IC
50
(concentrao do produto que inibe 50% do
crescimento celular). No aplicvel a produtos insolveis em gua.
Citotoxicidade pela difuso em gel de agarose
Indicado para emulses e gis com fase contnua aquosa. Aplicao dos mesmos
superfcie de um gel de agarose em contato com clulas de tecido conjuntivo de
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
23
camundongo da linhagem NCTC clone 929 (ATCC CCL1) onde, a citotoxicidade
avaliada com a ajuda de um corante vital, o MTT ou Vermelho Neutro, observan-
do-se o dimetro mdio do halo de lise celular revelado pela colorao. O halo reflete
a citotoxicidade de um produto testado e a sua capacidade em se difundir no gel de
agarose.
Citotoxicidade pela mtodo de vermelho neutro (NRU)
Utiliza-se uma cultura de clulas SIRC CCL 60 ou outras, adicionadas do corante
vital vermelho neutro ou MTT. A captao do corante pelas clulas viveis quantificada
por espectrofotometria, atravs de um leitor automtico de microplacas. Mtodo empre-
gado para todo tipo de formulao, exceto aquelas que possuam propriedades fixadoras,
como as formulaes alcolicas.
RBC - Red Blood Cell System
Este ensaio permite quantificar e avaliar os efeitos adversos dos tensoativos emprega-
dos em xampus, sabonetes lquidos e produtos de higiene sobre a membrana plasmtica
das hemcias e a conseqente liberao da hemoglobina (hemlise) e ainda, o ndice de
desnaturao da hemoglobina, avaliado atravs de sua forma oxidada, ambos quantificados
por espectrofotometria. A relao entre a hemlise e oxidao da hemoglobina fornece
um parmetro de caracterizao dos efeitos dessas substncias in vitro.
Teste de corrosividade
O teste de corrosividade consiste em aplicar o produto sobre uma unidade de
epiderme humana reconstruda. A viabilidade celular avaliada pela medida da ativida-
de mitocondrial, atravs do corante MTT que forma um precipitado azul (formazan)
sobre as clulas viveis, quantificado por espectrofotometria.
Teste de fototoxicidade
A base deste teste a comparao da citotoxicidade de um agente qumico testado
com ou sem exposio adicional a doses no txicas de luz UVA. A citotoxicidade ex-
pressa na determinao da dose dependente que reduz o crescimento celular utilizando-se
um corante vital, vermelho neutro.
A concentrao de um agente qumico testado reflete a inibio da viabilidade celu-
lar em 50%, calculada usando-se um modelo adequado de curva que expressa a resposta
da curva de concentrao.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
24
5.1.3 - Ensaios em animais
A experimentao animal tem servido, ao longo de muitos anos, como um meio de se
determinar a eficcia e a segurana de diversas substncias e produtos, em diversas reas.
A princpio, qualquer animal pode servir experimentao, entretanto, tem-se pro-
curado utilizar um modelo que apresente melhor resposta a um determinado
estmulo, seja por sua maior sensibilidade, facilidade de manejo e evidenciao do
efeito ou por sua similaridade anatmica, fisiolgica ou metablica com o Homem.
Na rea cosmtica, os animais podem ser utilizados para avaliar todos os riscos poten-
ciais envolvidos, seja irritao, alergia ou efeitos sistmicos a curto e longo prazo.
Os animais de laboratrio devero ser utilizados sempre que no existam mtodos al-
ternativos validados que os substituam ou, em casos especficos, aps screening com mtodos
in vitro e/ou matemticos vlidos, precedendo dessa forma, os estudos clnicos.
Cabe ressaltar que a utilizao de animais deve, obrigatoriamente, seguir os preceitos
do rigor cientfico e da tica que norteiam os desenhos experimentais com modelos biol-
gicos, bem como, as normas de bioterismo preconizadas internacionalmente.
Aspectos ticos na realizao de ensaios em animais
Atualmente, apesar de todos os esforos para a reduo e substituio de animais de
laboratrio na experimentao biolgica, ainda no nos possvel abandonar a utilizao
desses animais na avaliao da segurana de produtos, nos seus mais diversos aspectos.
Entretanto, desde que sejamos obrigados a utilizar animais nos ensaios, devemos zelar
para que os mesmos no sofram dores ou vivenciem angstias durante o perodo experi-
mental.
A caracterizao da dor ou desconforto nas diversas espcies animais nem sempre
acompanha a realidade humana, dessa forma o experimentador dever estar bem treina-
do e, conseqentemente, familiarizado com os diversos sinais indicativos de sofrimento
para a espcie com a qual est trabalhando.
Outro aspecto importante diz respeito s condies ambientais a que so submetidos
os animais, variando desde o parmetro macro (sala, temperatura, umidade, ausncia de
rudo, ciclo claro-escuro, etc) at o micro (dimenso das caixas/gaiolas, troca de cama,
nmero de animais, etc). Todas as regras bsicas de bioterismo e manipulao de animais
devem, obrigatoriamente, ser observadas.
Embora parea paradoxal, o uso de anestsicos nem sempre recomendado, pois
pode interferir com a resposta animal. Porm, parmetros para a finalizao humanitria
de experimentos, onde os animais demonstram sinais de angstia e desconforto, devem
ser observados. Dessa forma, evita-se o sofrimento desnecessrio e j torna
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
25
possvel uma avaliao do desfecho do teste, com base no conhecimento da evoluo do
quadro objeto de anlise.
De uma forma geral, recomenda-se que os animais de laboratrio utilizados em ex-
perimentao sejam manuseados dentro dos preceitos ticos preconizados pelos Guias
Internacionais, de forma a contribuir para o refinamento dos ensaios e a diminuio do
sofrimento a que possam ser submetidos durante a realizao de ensaios biolgicos.
Teste de Comedogenicidade
Segue a metodologia de Kligman e Fulton em 6 coelhos albinos Nova Zelndia de
2,0 a 3,0 Kg. As amostras so diludas na proporo de 1,0 a 10,0 g. Efetuam-se 15
aplicaes (trs semanas com cinco aplicaes cada) de 1,0 mL da soluo teste na parte
interna da orelha direita (esquerda controle). Leituras dirias e 24 horas aps a ltima
aplicao, de eritema, edema e presena ou ausncia de comedes.
Teste de irritao drmica primria e cumulativa
Consiste na aplicao nica do produto a ser testado no dorso de coelhos. aplicado
um patch oclusivo por 4 horas e, aps esse perodo o produto retirado. Procede-se a
graduao das leses (eritema e edema), 24 e 72 horas aps a aplicao, seguindo a escala
de Draize. No caso do ensaio para irritao cumulativa, as aplicaes so feitas por um
perodo de 10 dias consecutivos e as graduaes so feitas 24 e 72 horas aps a ltima
aplicao.
Irritao Ocular Primria
Consiste na aplicao nica do produto no saco conjuntival de coelhos, com obser-
vaes da evoluo das leses em 24, 48, 72 horas e 7 dias aps a instilao. So graduadas
as alteraes de conjuntiva (secreo, hiperemia e quimose), ris (irite) e crnea (densida-
de e rea de opacidade).
Sensibilizao Drmica
So realizadas aplicaes tpicas da menor dose no irritante por um perodo de 3
semanas (fase de induo). Aps um perodo de repouso, procede-se aplicao tpica da
maior dose no irritante (fase de desafio). As reaes so graduadas segundo escala especfi-
ca, com a finalidade de avaliar o potencial de sensibilizao. Para ensaios de sensibilizao
drmica maximizada, segue-se o mesmo procedimento, porm, com
aplicaes subcutneas de adjuvante completo de Freund, para exacerbar a resposta imune.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
26
Determinao da DL
50
oral
Visa verificar a toxicidade produzida por uma substncia quando administrada por
via oral, geralmente forada, por meio de entubao gstrica (gavage). De uma forma
geral, os ensaios se baseiam na contabilidade do percentual de animais que so levados a
bito em determinadas faixas de doses. Recomenda-se, tambm, observar a ocorrncia de
sinais e sintomas indicativos de toxicidade (ambulao, piloereo, etc).
Os ensaios de toxicidade aguda esto sendo revistos pelo Comit Tcnico da OECD,
no sentido de serem substitudos por avaliaes tambm fidedignas, mas que reduzam o
sacrifcio ou mesmo o nmero de animais empregados.
Irritao da mucosa oral
Aplicao do produto na bolsa bucal de hamsters, com lavagem subseqente,
durante um determinado perodo. So feitas observaes macroscpicas da mucosa da
bolsa e, ao final do ensaio, os animais so sacrificados para exame histopatolgico das
alteraes da mucosa.
Fotoalergenicidade
Os ensaios so feitos em cobaias albinas. Se iniciam com uma fase de induo onde o
produto aplicado de maneira repetida em duas reas do mesmo flanco dos animais,
expondo-se radiao UVA e UVB, em seguida. Aps um perodo de repouso, procede-
se nova aplicao, em outro flanco, em duas reas, sendo uma delas o controle, sem
exposio radiao. Aps 48 horas, so feitas as observaes, comparando-se com a rea
controle, para confirmar que se trata de uma reao fotoalergnica.
Fototoxicidade
Os ensaios so realizados em cobaias albinas. O produto aplicado na pele do ani-
mal, seguido por exposio radiao UVA e UVB, sendo uma rea, controle. Aps 48
horas, so feitas observaes macroscopicas e, quando necessrio, microscopicas, compa-
rando-se com o controle, sem exposio, para correlacionar uma resposta fototxica.
Irritao da mucosa genital
So utilizados coelhos albinos machos (irritao de mucosa peniana) ou fmeas
(irritao de mucosa vaginal). O produto aplicado sobre a mucosa com observaes
macroscpicas e microscpicas das alteraes teciduais. So feitas graduaes de forma a
determinar o potencial de irritao.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
27
5.2 - Ensaios Clnicos
Produtos cosmticos necessitam de ensaios clnicos em humanos, para que as empre-
sas possam oferecer aos consumidores, o mximo de segurana com o menor risco,
garantindo as melhores condies de uso do produto. A partir das informaes pr-clni-
cas coletadas, deve haver a comprovao de segurana de uso por humanos. Estas
informaes so importantes para determinao do modo e local de uso, advertncias de
rotulagem e orientaes para o servio de atendimento ao consumidor.
Os ensaios de compatibilidade tm por objetivo comprovar a inocuidade dos produ-
tos em pele humana. So realizados de modo geral com apsitos oclusivos ou semi-oclusivos
(patch tests) ou em modelos abertos (open tests). Representam o primeiro contato do
produto acabado com um ser humano, e por isso devem seguir premissas de ordem tica
(levantamento prvio de dados pr-clnicos segundo Resoluo 196/96 do MS) e de boas
prticas clnicas. H vrias metodologias e critrios de avaliao na literatura.
Ensaios de Compatibilidade:
Irritao Cutnea Primria e Acumulada
Os ensaios devem contemplar um nmero mnimo de voluntrios (50) com critrios
de incluso e excluso previamente padronizados. O produto aplicado de forma aberta,
semi-oclusiva ou oclusiva, de acordo com o produto a ser avaliado. A durao do contato
e periodicidade das leituras so padronizadas. A interpretao dos resultados deve ser
feita considerando o ICDRG (international Contact Dermatitis Research Group). A ava-
liao deve ser feita por dermatologista.
Fotoirritao
Os ensaios devem ter um mnimo de 25 voluntrias com critrios de excluso e in-
cluso previamente definidos. Deve haver uma irradiao no stio de aplicao localizado
no antebrao ou no dorso e a interpretao dos resultados tambm dever seguir as nor-
mas do ICDRG.
Soap Chamber Test
Este ensaio se destina avaliao de produtos enxaguveis com durao de contato e
periodicidade previamente padronizados, utilizando-se 15 voluntrios com pele sensvel.
A escala para interpretao das leituras a de Frosch & Kligman, 1979. A avaliao
tambm deve ser feita por dermatologista.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
28
Comedogenicidade
A avaliao de comedogenicidade deve ser realizada em voluntrios negros (fototipos
5 e 6) com aplicao no dorso, de forma padronizada, por um tempo de 28 dias, em no
mnimo 5 voluntrios, para ento se proceder com a bipsia com cola de cianoacrilato e a
leitura dos achados em microscopia ptica.
Sensibilizao Drmica
Estes ensaios tem as mesmas premissas de compatibilidade, e deve constar de 3 eta-
pas: Induo, Repouso e Desafio realizado com apsitos oclusivos ou semi-oclusivos, em
antebrao ou dorso, em no mnimo 50 voluntrios e deve ser realizado, por dermatologista,
segundo a escala do ICDRG.
Fotossensibilizao
A avaliao de fotossensibilizao deve tambm seguir as 3 etapas para induo de
sensibilizao, mas deve haver irradiao de luz ultravioleta (faixa A) para avaliar seu pa-
pel na induo de alergia. O nmero mnimo de voluntrios de 25, e os ensaios so
sempre oclusivos, podendo ser realizados em dorso ou antebrao. A escala de avaliao
segue o ICDRG, e deve ser elaborada por dermatologista.
Ensaios de Aceitabilidade:
Os protocolos de aceitabilidade devem obedecer s condies de uso determinadas
pelo fabricante, com critrios de incluso e excluso padronizados, onde a nica varivel
o uso do produto. O nmero de voluntrios deve ser de no mnimo 30, com avaliao
dermatolgica e conforme o caso, subjetiva.
Pode haver acompanhamento de outro profissional mdico de acordo com a catego-
ria de produto (pediatra, ginecologista, oftalmologista, etc.). A durao do ensaio e o
nmero de aplicaes poder variar de acordo com a categoria do produto.
Ensaios de Acnegenicidade e Comedogenicidade em uso
Esta avaliao deve ser realizada em indivduos de pele oleosa e/ou com tendncia a
acne, com critrios de excluso e incluso padronizados. O uso do produto deve ser pa-
dronizado de acordo com as orientaes do fabricante. A anlise inicial e final das condies
da pele deve constar da avaliao clnica, cujos critrios so delineados antecipadamente,
assim como a contagem das leses comednicas e acneicas.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
29
6 - AVALIAO DE SEGURANA BASEADO NA
SEMELHANA DE PRODUTOS
Para ser considerado como semelhante, o produto deve ser da mesma empresa que o
produto de referncia e correspondente mesma categoria de produto cosmtico. So
exemplos especficos de casos de semelhana que podem ser considerados:
Reduo ou eliminao de qualquer ingrediente da formulao;
Possuir uma base comum e corantes diferentes, desde que estes corantes sejam
aceitos legalmente, com exceo das tinturas capilares;
Mudana de proporo de ingredientes em uma formulao, desde que haja in-
formao toxicolgica (banco de dados da prpria empresa) para corroborar a
segurana do novo produto, excetuando-se fragrncias, conservantes e tensoativos.
Um exemplo desta situao a proporo de pigmentos em maquilagens.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
31
7 - CRITRIOS TICOS NA AVALIAO DE SEGURANA DE
PRODUTOS COSMTICOS EM HUMANOS
De acordo com as premissas da legislao brasileira sobre Biotica, todo e qualquer
produto, equipamento ou procedimento aplicvel em humanos, que esteja sob desenvol-
vimento dever seguir os preceitos ticos de forma igual. Assim sendo, produtos cosmticos
sob avaliao devem seguir, quando aplicvel, as recomendaes das Boas Prticas Clni-
cas (BPC) e, algumas destas medidas so bsicas, como por exemplo:
dados pr-clnicos consistentes que garantam a segurana nas avaliaes clnicas;
termo de consentimento pr-informado;
infra-estrutura de atendimento mdico para o caso de intercorrncia;
cuidados na construo de delineamentos de amostras sob metodologia cientfica
(grupos pequenos demais, delineamentos cujas respostas no sero realmente teis,
etc.).
A avaliao do produto cosmtico em humanos no ocorre no sentido de investigar
o potencial de risco, mas sim, de confirmar a segurana do produto acabado.
No Brasil, o Conselho Nacional de Sade, regulamentou as pesquisas envolvendo
seres humanos atravs da Resoluo 196/96 e, constituiu a Comisso Nacional de tica
em Pesquisa CONEP, responsvel, entre outros, pelo registro dos Comits de tica em
Pesquisa Institucionais. Todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem
obedecer s recomendaes dessa Resoluo.
Para uso de uma nova formulao em humanos, importante que o fabricante rena
as informaes de segurana pertinentes. A Resoluo 196/96 prev que a
pesquisa em qualquer rea do conhecimento, envolvendo seres humanos dever observar
as seguintes exigncias:
a) ser adequada aos princpios cientficos que a justifique e com possibilidades
concretas de responder a incertezas;
b) estar fundamentada na experimentao prvia realizada em laboratrios, animais
ou em outros fatos cientficos.
Isto significa que os fatos pr-clnicos levantados que garantem a segurana de uso
devem ser reunidos previamente s avaliaes. Ensaios cujas metodologias no tem valida-
o do ponto de vista cientfico e seus resultados no trazem nenhum tipo de informao
til, so inaceitveis.
Vale a pena frisar que os ensaios em humanos no substituem os ensaios em animais.
As avaliaes de produtos cosmticos devem tambm obedecer aos critrios ticos e
tcnicos das normas de BPC, quando aplicveis, pois tambm se tratam de produtos em
desenvolvimento, que no devem trazer malefcio ou prejuzo ao indivduo.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
32
Da mesma forma, deve-se considerar que apenas pessoas qualificadas podem
conduzir ensaios em humanos, sempre supervisionadas por mdico competente no
assunto. Gestantes ou mulheres em aleitamento, salvo em indicaes especficas, no de-
vem participar destas avaliaes. Crianas no devem ser envolvidas em ensaios de
compatibilidade. O relatrio do estudo deve prover todas as informaes para atender
aos objetivos, resultados e concluses.
A comunidade cientfica brasileira vem desenvolvendo estudos clnicos com maior
velocidade na ltima dcada; proliferaram estudos, comits de tica em pesquisa e profis-
sionais atuantes na rea.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
33
ANEXOS
1 - Metodologia in vitro
2 - Testes em animais
3 - Atributos ligados segurana
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
34
1 - Metodologia in vitro
o v i t a n r e t l a e t s e T o a i l a v a e d o p i T
a i f a r g o i l b i B
a d a t l u s n o c
m a C - t e H r a l u c O o a t i r r I 2 5
P O C B r a l u c O o a t i r r I 8 5
o s u f i d a l e p e d a d i c i x o t o t i C
e s o r a g a e d l e g m e
r a l u c O o a t i r r I 6 5 , 5 5 , 4 5 , 3 5
o d o t m o l e p e d a d i c i x o t o t i C
o r t u e N o h l e m r e V o d
r a l u c O o a t i r r I 7 5 , 6 5
o d o t m o l e p e d a d i c i x o t o t i C
T T M o d
r a l u c O o a t i r r I 7 5 , 6 5
e d a d i v i s o r r o C e d e t s e T a e n t u C o a t i r r I e d l a i c n e t o P 2
e d a d i c i x o t o t o F e d e t s e T o c i x t o t o F l a i c n e t o P 3
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
35
2 - Testes em animais
e t s e T a d a t l u s n o c a i f a r g o i l b i B
e d a d i c i n e g o d e m o C 1 6 , 0 6
a i r m i r P a c i m r D e d a d i l i b a t i r r I 7 , 5
r a l u c O e d a d i l i b a t i r r I 7 , 6
a v i t a l u m u C a c i m r D e d a d i l i b a t i r r I 5
a c i m r D o a z i l i b i s n e S 9 , 8
a d a z i m i x a M a c i m r D o a z i l i b i s n e S 9 , 8
a i r m i r P a c i m r D o a t i r r I o t o F 9 5
a v i t a l u m u C a c i m r D o a t i r r I o t o F 9 5
a d a z i m i x a M a c i m r D o a z i l i b i s n e s s o t o F 2 4 , 2 2
a d a z i m i x a M o n a c i m r D o a z i l i b i s n e s s o t o F 2 4 , 2 2
e d a d i c i x o t o t o F , 2 2
l a r O 0 5 - L D a d o a n i m r e t e D 1 1 , 0 1
l a r O a s o c u M a d e d a d i l i b a t i r r I 1 5 , 7
l a t i n e G a s o c u M a d e d a d i l i b a t i r r I 4 6 , 2 6
e d a d i c i n e g o n i c r a C 6 4 , 2 2
e d a d i c i n e g o t a r e T 6 4 , 2 2
A N L L e t s e T 4
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
36
3 - Atributos ligados segurana
e d o t u b i r t A
a n a r u g e s
/ o d a c i f i n g i S
s o i r t n e m o C
m e s o d a d n e m o c e r s o i a s n E
s o n a m u h
. f e R
a c i f r g o i l b i b
e t n e m a c i g o l o t a m r e D
o d a t s e t
s o n a m u h m e o d a i l a v A
o c i d m e d e l o r t n o c b o s
a r a p , a t s i g o l o t a m r e d
e d l a i c n e t o p r a c i f i r e v
s a e n t u c s e a e r
e d a d i l i b i t a p m o c e d s o i a s n E
a d o r e d n e p e d ( a e n t u c
u o / e ) o t u d o r p e d a i r o g e t a c
e d a d i l i b a t i e c a e d s o i a s n e
s e i d n o c m e , a e n t u c
s o d i z u d n o c , o s u e d s i a m r o n
a t s i g o l o t a m r e d o c i d m r o p
9 1
1 2
2 2
e t n e m a c i g o l o m l a t f O
o d a t s e t
s o n a m u h m e o d a i l a v A
, o s u e d s e i d n o c m e
o c i d m e d e l o r t n o c b o s
a r a p a t s i g o l o m l a t f o
e d l a i c n e t o p r a c i f i r e v
s a c i m l t f o s e a e r
m e , e d a d i l i b a t i e c a e d s o i a s n E
, s o d i g h s o u d v i d n i
s e a e r e s - o d n a s i l a n a
s a c i m l t f o
9 1
1 2
2 2
o d a t s e t e t n e m a c i n i l C s o n a m u h m e o d a i l a v A
, o s u e d s e i d n o c m e
o c i d m e d e l o r t n o c b o s
e a t s i g o l o t a m r e d
o r t u o e d e t n e m l a u t n e v e
r a c i f i r e v a r a p a t s i l a i c e p s e
. s e a e r e d l a i c n e t o p
m e e d a d i l i b a t i e c a e d o i a s n E
, s o d i g h s o u d v i d n i
s e d a d i r a l u c i t r a p e s - o d n a s i l a n a
a s o c u m : x E . o s u e d s o i t s s o d
, a t s i t n e d r o p , s e t n e d e l a r o
; l a r o e n e i g i h e d s o t u d o r p m e
m e , l a t i n e g e l e p e a s o c u m
, s o m i t n s o d a d i u c e d s o t u d o r p
. c t e , a t s i g o l o c e n i g r o p
9 1
1 2
2 2
1 4
2 4
o c i n g o d e m o c o N s o n a m u h m e o d a i l a v A
o r a v r e s b o a r a p
r a m r o f e d l a i c n e t o p
) s o v a r c ( s e d e m o c
o t a t n o c e d s o v i s u l c o s o i a s n E
s o u d v i d n i m e o d i t e p e r
o s u e d s o i a s n e u o / s o r g e n
m o c s o b m a , s a n a m e s 4 r o p
o t n e m a h n a p m o c a
m o c , o c i g l o t a m r e d
e d o r e m n o d o t n e m a r o t i n o m
u o , s i o p e d e s e t n a s e d e m o c
e l o r t n o c m u a r t n o c
8 4
o c i n g e n c A o N s o n a m u h m e o d a i l a v A
o r a v r e s b o a r a p
u o r a m r o f e d l a i c n e t o p
e n c a / s a h n i p s e r a r o i p
4 - 3 r o p o s u m e o i a s n E
m o c s o u d v i d n i m e , s a n a m e s
u o / e e n c a a o i s o p s i d e r p
a s o e l o e l e p
1 4
2 4
continua na prxima pgina
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
37
e d o t u b i r t A
a n a r u g e s
/ o d a c i f i n g i S
s o i r t n e m o C
m e s o d a d n e m o c e r s o i a s n E
s o n a m u h
. f e R
a c i f r g o i l b i b
e l e P a r a p o t u d o r P
l e v s n e s
s o u d v i d n i m e o d a i l a v A
m e t n e s e r p a e u q
s o c i t s r e t c a r a c s a m o t n i s
e l e p e d o r d a u q m u e d
l e v s n e s
e d a d i l i b i t a p m o c e d s o i a s n E
m e o s u e d s o i a s n e e a e n t u c
, l e v s n e s e l e p e d s o u d v i d n i
o a u t i e c n o c a m o c o d r o c a e d
5 2
0 3
2 4
3 4
o c i n g r e l a o p i H r o n e m m o c o t u d o r P
r a s u a c e d l a i c n e t o p
o ; s a c i g r l a s e a e r
o n o m r e t
A D F o l e p o d a d n e m o c e r
o t u d o r p o o d o t s i o p
o n , e s e t m e o c i t m s o c
l a i c n e t o p r e t e v e d
e t n a z i l i b i s n e s
e d a d i l i b i t a p m o c e d s o i a s n E
e o a z i l i b i s n e s e d , a e n t u c
m e s , o a z i l i b i s n e s s o t o f
. s e a e r e d a i c n r r o c o
4 1
5 1
1 3
3 3
4 3
5 3
l i t n a f n I o t u d o r P a r a p o d a i r p o r p a o t u d o r P
e s o l e b a c , e l e p a n o s u
, s i t n a f n i s a s o c u m
o a l s i g e l e m r o f n o c
a r i e l i s a r b
e d a d i l i b i t a p m o c e d s o i a s n E
m e e , s o t l u d a m e a e n t u c
a n , s o c i f c e p s e s o s a c
e d s o i a s n e , a i c n u q e s
o n a e n t u c e d a d i l i b a t i e c a
o a t n e m a l u g e r ( o v l a - o c i l b p
) a c i f c e p s e
6 1
3 1
continuao do anexo 3 - Atributos ligados segurana
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
39
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1) BRASIL. Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria Resoluo-RDC 79, de 31 de
agosto de 2000. Estabelece normas e procedimentos para registro de produtos de higie-
ne pessoal, cosmticos e perfumes e adota a definio de produto cosmtico. Dirio
Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil. Braslia, DF, 31 ago. 2000, n. 169-E,
Seo 1, p. 34.
2) ARCHER, G. E. B.; LIEBISCH, M. The ECVAM International Validation Study in
vitro for skin corrosivity. Toxicology in vitro. v.12., p.483-524. 1998.
3) SPIELMANN, H et al. A study on UV filter chemicals from Annex VIII of European
Union Directive 76/768/EEC, in vitro 3T3 NRU phototoxicity test. ATLA, v.26, p.679-
708, 1998.
4) BASKETTER, D. A.; SELBIE, E.; SCHOLES, E. W.; LEES, D.; KIMBER, I;
BOTHAM, P. A.. Results with OECD recommended positive control sensitisers in the
maximization. Buehler and local lymph node assays. Food and Chemical Toxicology.
v.31, p.63-67. 1993.
5) DRAIZE, J. H. Appraisal of the safety of chemicals. Foods, drugs and cosmetics.
p.46-49, OECD 404, 1965.
6) KAY, J. H.; CALANDRA, J. C. Interpretation of eye irritation tests. J. Soc. Cosmet.
Chem., v.13, p.281-289. 1962.
7) DRAIZE, J. H.; WOODARD, G.; CALVERY, H. Methods for the study of irritation
and t oxicity of substances applied topically to the skin and mucous membrane. J.
Pharmacol. Exp. Ther. v.82, p.377-390. 1944.
8) BUEHLER, E. V. Delayed contact hypersensitivity in the guinea pig. Arch Dermatol.
v.91, p.171-77, 1965.
9) MAGNUSSON B, KLIGMANN. A. M. The identification of contact allergens by
animal assay. J. Invest. Dermatol. v.52, p.268-, 1969.
10) OECD Organization for Economic Cooperation and Development. Guideline for
testing of chemicals. OECD 420 Acute oral Toxicity Fixed dose method. Adopted on
July 17, 1992.
11) OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. Guideline for
testing of chemicals. OECD 423 Acute oral toxicity Acute toxic class method. Adopted
on March 22, 1996.
12) OECD Organization for Economic Cooperation and Development Guideline for
testing of chemicals. OECD 425 Up-and-down procedure. Adopted on September
21, 1998.
13) OECD Organization for Economic Cooperation and Development Guideline for
testing of chemicals. OECD 428 percutaneous absorption with human pig skin.
Adopted on December, 2000.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
40
14) JACKSON, M. The Science of Cosmetics. Am. J. of Contact Dermatitis. v.4, n.2,
p.108-110, June, 1993.
15) SCHUELLER, R. ROMANOWSKI, P. Understanding mild cosmetics products.
Cosmetics & Toiletries. USA, v.114, n.12, p.55-60, Dec. 1999.
16) COLIPA. Scientific Committee on Cosmetology of the Commission of the European
Union. Notes of Guidance for Testing of Cosmetic Ingredients for their Safety Evaluation
- Annex 12: Guidelines on the use of Human volunteers in compatibility testing of
finished cosmetic products. p. 87-89. June. 1999.
17) COLIPA. The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food Products
Intended for Consumers. Notes of Guidance for testing of cosmetic ingredients for their
safety evaluation (third revision). June, 1999.
18) GERBERICK, G. F.; ROBINSON, M. K.; STOTTS, J. An approach to allergic
Contact Sensitization risk assessment of new chemicals and products ingredients. Contact
Dermatitis, v. 4, n.4, p.205-211, Dec., 1993:
19) BASKETTER, D. A.; REYNOLDS, F. S.; YORK, M. Predictive Testing in contact
Dermatitis: Irritant Dermatitis. Clin. Dermatol. v.15, n.4, p. 637-644, Jul-Aug. 1997.
20) KLIGMAN, A. M.; WOODING, W. M. A method for the measurement and
evaluation of irritants of human skin. J. Invest Dermatol. v.49, p.78-94, 1967.
21) MAILBACH, H. I., EPSTEIN, W. L. Predictive patch testing for sensitization and
irritation. Am. Perf. Cosm. v.80. p.55-56. 1965.
22) MAILBACH H I, MARZULLI F N. Dermatotoxicology. 5
th
. Ed. Taylor and Francis
Publishers, 1996.
23) WALKER, A. P.; BASKETER, D. A.; BAVEREL, M.; DIEMBECK, W.; MATTHIES,
W.; MOUGIN, D.; ROTHLISBERGER, R; COROAMA, M. Test Guidelines for the
assessment of skin tolerance of potentially irritant cosmetic ingredients in man. Food and
Chemical Toxicology. v.35, p.1099-1160, 1997.
24) European Commission Directorate DG XXIV Consumer Policy and Consumer
Health Protection (1999). Notes of guidance for testing of cosmetic ingredients for their
safety evaluation. 3
rd
rev. June 23th, 1999 by the Scientific Committee on Cosmetic
Products and Non-Foodstuff Products intenden for Consumers (SCCNFP)
25) DIEMBECK, W. et al. Test guidelines for the in vitro assessment of dermal absorption
and percutaneous penetration of cosmetic ingredients. Food and Chemical Toxicology.
v.37, p.191-205, 1999.
26) AGRUP, G. Sensitization induced by patch testing. Br. J. Dermatol. v.80, p.631,
1968.
27) BARAN, R.; MAIBACH, H. I. Cosmetic Dermatology. Baltimore. Williams &
Wilkins, 1994.
28) BRASIL. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Resoluo n
o
196, de
10 de outubro de 1996. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas en-
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
41
volvendo seres humanos. Dirio Oficial [da] Repblica Federativa do Brasil. Braslia,
DF, n. 201, 16 out. 1996, Seo 1, p. 21082.
29) DOOMS, H.; GOOSSENS, A. Cosmetics as Causes of Allergic Contact Dermatitis.
Cutis. v.52, p.316-320, 1993.
30) DRAIZE, J. H. Predictive patch testing for sensitization and irritation. Am. Perf.
v.80; p.55, 1965.
31) FISHER, A. A. Contact Dermatitis, 2
nd
ed., Philadelphia, Lea & Febiger, 1995.
32) KADBEY, K. H. & KLIGMAN, A. M. Photo maximization test for identifying photo
allergic contact sensitizers. Contact Dermatitis. v.6: p.161-169, 1980.
33) KLIGMAN, A. M. & WOODING, W. M. A method for the measurement and
evaluation of irritants of human skin. J. Invest. Derm. v.49, p.78-94, 1967.
34) PATHAK, M. A. Photobiology of Melanin Pigmentations. J. Am. Acad. Dermatol.
v.9: p.724-733, 1983.
35) SAMPAIO, S. A. P.; RIVITTI, E. A. Dermatologia Bsica, 2
a
edio, So Paulo,
Artes Mdicas, 2000.
36) STORK, H. Photo allergy and photosensitivity. Arch. Dermatol. v.91, p.469-482,
1965.
37) WILLIS, J.; KLIGMAN, A. M. Diagnosis of photosensitization reactions by the scotch
tape provocative patch test. J. Invest. Derm. v.51, p.116-119, 1968.
38) SHELANSKI, H. A; SHELANSKI, M. V. A new technique of human patch tests.
Proc. Sci. Sec. Toilet. Goods Assoc. v.19, p.46-49, 1979.
39) KAIDBUY, K. H; KLIGMAN, A. M. Identification of topical photosensitizing agents
in humans. J. Invest. Derm. , v.70, p.149, 1978.
40) HERMAN, P. G.; SAMS, W. M. Soap photo dermatitis. 1972.
41) SCOTT, C. W et al. Evaluation of the photo toxic potential of topically applied
agents using long wave ultraviolet light. J. Invest. Derm. v.55, p. 335, 1970.
42) WAGGONER, W. C. Clinical safety and efficacy testing of cosmetic. Marcel Dekker,
New York, 1979.
43) JACKSON, E. M; ROBILLARD, N. F. The controlled use test in a Cosmetic Product
safety substation program. J. Toxicol. Cut. & Ocular Toxicol. v.1. n.2, p. 117-132, 1982
44) MOSKONITZ, H. R. Cosmetic Product Testing: a modern psychophysical approach.
In: Marcel Dekker, New York, 1984.
45) ZATZ, J. L. Aumento da penetrao cutnea. Cosmetics & Toiletries, v.7:p.52-58,
1995.
46) AMDUR, M. O.; DOULL, J.; KLAASSEN, C, D. Casarett and Doulls Toxicology:
The Basic Science of Poisons, 4
th
Ed., Pergamon Press, 1991.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
42
47) FROSCH, P. J., KLIGMAN, A. M. The soap chamber test: a new method for assessing
the irritancy of soaps. J. Am. Acad. Dermatology, v.1, p.35-41, 1979.
48) ZATULOVE, A.; KONNERTH, N. A. Comedogenicity testing of cosmetics. Cutis,
v.39, n.6, p.521-, 1987.
49) OECD - ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND
DEVELOPMENT. Guidance document on the recognition, assessment, and use of clinical
signs as humane endpoints for experimental animals used in safety evaluation, ENV/JM/
MONO(2000)7
50) CANADIAN COUNCIL ON ANIMAL CARE. Normas sobre: La seleccin del
punto final apropiado en experimentos en que se utilizan animales para investigacin
cientfica, enseanza y pruebas de laboratorio. 1998.
51) CTFA - Cosmetics Toiletries and Fragrance Association - Safety Testing Guidelines.
Ed. Anita S. Curry, Stephen D. Gettings and G. N. McEwen. 1991.
52) SPIELMANN H.; LIEBSCH, M. M.; MOLDNHAVER, F.; HOLZHUTTER, H.
G.; BAGLEY, D. M.; LIPMAN, J. M.; PAPE, W. J. W.; MILTENBURGER, H.; DE
SILVA, O.; HOFER, H.; STEILING, W. CAM based assays. Food Chemical Toxicology,
v. 35, p. 39-66. 1997.
53) WALLIN, R. F.; HUME, R. D.; JACKSON, E. M. The agarose diffusion method
for ocular irritancy screening cosmetic products, part I. J. Toxicol. Cut & Ocular Toxicol,
v. 6, n.4, p. 239-250. 1987.
54) UNITED STATES PHARMACOPEIA, 25 ed. Rockville: United States-
Pharmacopeia Convention, p. 1893-1895, 2002.
55) COMBRIER, E. and CASTELL, D. The agarose overlay method as a screening
approach for ocular irritancy application to cosmetic products. ATLA, v. 20, p. 438-
444. 1992.
56) HARBELL, J. W.; KOONTZ, S. W.; LEWIS, S. R. W., LOVELL, D. and ACOS-
TA, D. Cell citotoxicity assay. Food and Chemical Toxicology, v. 35, p. 79-126. 1997.
57) BORENFREUND, E.; BABICH, H. and MARTN ALGUACIL, N. Comparisons
of two in vitro cytotoxicity assay the Neutral Red (NR) and Tetrazolium MTT tests.
Toxicology in vitro, v. 2, p. 1-6, 1998.
58) CHAMBERLAIN, M.; GAS, S.C.; GAUTHERON, P.; PRINSEN, M.K.
Organotypic models for the assessment/prediction of ocular irritation. Food Chem.
Toxicol., v. 35, p. 23-37, 1997.
59) GUILLOT, J. P.; GONNET, J. F.; LOQUERIE, J. F.; MARTIN, M. C.; COUVERT,
P; COTTE, J. A new method for the assessment of phototoxic and photoallergic potentials
by topical applications in the albino guinea pig. J. Toxicol. Cut & Ocular toxicol., v. 4, p.
117-134, 1985.
60) FULTON, J. E.; PAY, S. R.; FULTON, J. E. Comedogenicity of current therapeutic
products, cosmetics and ingredients in the rabbit ear. J. Am. Acad. Dermatol., v. 10, p.
96, 1984.
Guia de Orientao para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos
43
61) KLIGMAN, A. M.; KWONG, T. An improved rabbit ear model for assessing
comedogenic substances. Br. J. Dermatol., v. 100, p. 699-702, 1979.
62) MINSKY, M.; WILLIGAN, D. A. pH and the potential irritancy of douche
formulations to the vaginal mucosa of the albino rabbit and rat. Food Chem. Tox., v. 20,
p. 193, 1982.
63) MAIBACH, H. I. Animals models in dermatology. Churchill Linvinstone, New
York, 1975.
64) ECKESTEIN, P.; JACKSON, M. C. N.; MILLMAN, N.; SOBRERO, A. J.
Comparison of vaginal tolerance tests of spermicidal preparations in rabbits and monkeys.
J. Reprod. Fert., v. 20, p. 85-93, 1969.
Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria
apoio:
www.anvisa.gov.br
Você também pode gostar
- CAVALCANTI, Carlos André. O Imaginário Da InquisiçãoDocumento213 páginasCAVALCANTI, Carlos André. O Imaginário Da InquisiçãoAmanda Teixeira0% (1)
- Exemplo de Plano de AulaDocumento3 páginasExemplo de Plano de AulaEdney100% (2)
- Caro Sr. Roberto MarinhoDocumento2 páginasCaro Sr. Roberto MarinhoprofediAinda não há avaliações
- Apostila de Probabilidade e EstatísticaDocumento138 páginasApostila de Probabilidade e EstatísticaEricssonAlan100% (1)
- A Pedagogia Critico SocialDocumento11 páginasA Pedagogia Critico SocialJeff Vasques - EupassarinhoAinda não há avaliações
- PDFDocumento16 páginasPDFJonemar SarmentoAinda não há avaliações
- E-Book - Bioestatística e EpidemiologiaDocumento116 páginasE-Book - Bioestatística e EpidemiologiaMiracilde Fernandes da Silva Pereira PereiraAinda não há avaliações
- Planejamento Do Processo de Avaliação Psicológica Implicações para A Prática e para A Formação - 2020Documento13 páginasPlanejamento Do Processo de Avaliação Psicológica Implicações para A Prática e para A Formação - 2020Maria Eduarda BussoliniAinda não há avaliações
- Modelo LinearDocumento112 páginasModelo LinearCarolina FerreiraAinda não há avaliações
- Boletim e Revista CTDocumento125 páginasBoletim e Revista CTMario ColliAinda não há avaliações
- Term Odin A MicaDocumento158 páginasTerm Odin A MicaElybe HernandezAinda não há avaliações
- Elementos de Filosofia MedievalDocumento188 páginasElementos de Filosofia MedievalAGNALDO FERREIRA DE SOUSAAinda não há avaliações
- Prova - ErgonomiaDocumento5 páginasProva - ErgonomiaSilvanoAinda não há avaliações
- Agrupamento de Escolas Alcaides de FariaDocumento2 páginasAgrupamento de Escolas Alcaides de FariaLisete Joana Ribeiro AraujoAinda não há avaliações
- Estabelecimento ComercialDocumento14 páginasEstabelecimento ComercialBraiton antonioAinda não há avaliações
- 04 Etica e Qualidade No Servico PublicoDocumento107 páginas04 Etica e Qualidade No Servico PublicoJrAinda não há avaliações
- Sustentabilidade Com ETEDocumento262 páginasSustentabilidade Com ETETiago SantosAinda não há avaliações
- Matriz Processual Filosofia e SociologiaDocumento44 páginasMatriz Processual Filosofia e SociologiaRaphael ArantesAinda não há avaliações
- O Legado de Ulrick BeckDocumento12 páginasO Legado de Ulrick BeckFernanda MariaAinda não há avaliações
- DEC 010 - Slides Com Resumo Do Aulão 2 - Filosofias Moderna e ContemporâneaDocumento11 páginasDEC 010 - Slides Com Resumo Do Aulão 2 - Filosofias Moderna e ContemporâneaalanAinda não há avaliações
- Metodologia CientíficaDocumento45 páginasMetodologia Científicaanon_29010714550% (2)
- Tabela Com Resultado Das AAPDocumento11 páginasTabela Com Resultado Das AAPDea CortelazziAinda não há avaliações
- Morar IngoldDocumento4 páginasMorar IngoldARLÉTO ROCHAAinda não há avaliações
- Conhecendo Jesus e Suas Lições (Luiz Guilherme Marques) PDFDocumento50 páginasConhecendo Jesus e Suas Lições (Luiz Guilherme Marques) PDFLeandro MartelliAinda não há avaliações
- Educacao - Relacoes de Genero PDFDocumento278 páginasEducacao - Relacoes de Genero PDFandersoncoeAinda não há avaliações
- AristótelesDocumento2 páginasAristótelesEduarda NunesAinda não há avaliações
- ANGERAMIDocumento113 páginasANGERAMIConstrumaz Materiais DE ConstruçãoAinda não há avaliações
- Texto Sociologia - Cristina CostaDocumento11 páginasTexto Sociologia - Cristina CostaRama Chandra DasAinda não há avaliações
- Lista 2V.A. Física 3º AnoDocumento3 páginasLista 2V.A. Física 3º AnoWeydson RicardoAinda não há avaliações
- Descartes 11º DDocumento4 páginasDescartes 11º DJorge Caetano100% (1)