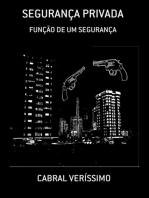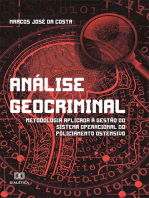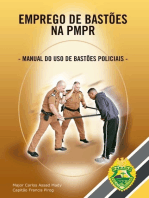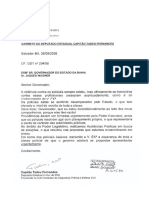Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lanternas Táticas
Lanternas Táticas
Enviado por
Fellipe MarinhoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Lanternas Táticas
Lanternas Táticas
Enviado por
Fellipe MarinhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
VILCLEI GEISSLER DE MOURA
EQUIPAMENTO DE ILUMINAAO TTICA UTILIZADO PELO COBRA/BOPE
Florianpolis
2009
VILCLEI GEISSLER DE MOURA
EQUIPAMENTO DE ILUMINAAO TTICA UTILIZADO PELO COBRA/BOPE
Monografia apresentada ao Curso de
Aperfeioamento de Oficiais da Polcia Militar
de Santa Catarina com especializao lato
sensu em Administrao de Segurana
Pblica, como requisito parcial para obteno
do ttulo de Especialista em Administrao de
Segurana Pblica pela Universidade do Sul
de Santa Catarina.
Orientadora: Profa. Maria Lucia Pacheco Ferreira Marques, Dra.
Florianpolis
2009
VILCLEI GEISSLER DE MOURA
EQUIPAMENTO DE ILUMINAAO TTICA UTILIZADO PELO COBRA/BOPE
Esta monografia foi julgada adequada
obteno do ttulo de Especializao em
Segurana Pblica e aprovada em sua
forma final pelo Curso de Especializao
em Administrao de Segurana Pblica,
da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Florianpolis, 27 de julho de 2009.
_________________________________________________________
Profa. e orientadora Maria Lucia Pacheco Ferreira Marques, Dr.
Universidade do Sul de Santa Catarina
_________________________________________________________
Tenente Coronel PM Valdemir Cabral, Esp.
Polcia Militar de Santa Catarina
_________________________________________________________
Major PM Ruy Arajo Jnior, Esp.
Polcia Militar de Santa Catarina
Dedico este trabalho a minha esposa, Eliane Brocardo
Geissler de Moura, que muito me ajudou para que eu
conseguisse atingir esse objetivo. Teu amor tem sido
nosso osis e nossa fortaleza, e atravs dele revigoro a
minha energia a cada dia.
Aos meus filhos Thais, Bruno e Maria Fernanda, agradeo
a compreenso pelos momentos de ausncia fsica, mas
mesmo diante das dificuldades em vocs tambm
encontrava foras para seguir o caminho que era preciso.
Amo vocs.
AGRADECIMENTOS
A Polcia Militar de Santa Catarina que oportunizou a realizao do Curso de
Aperfeioamento de Oficiais I 2009, nos proporcionando o enriquecimento cultural e
profissional indispensveis a nossa atividade.
Ao Maj PM Daniel do Esprito Santo Jnior, colega de turma durante o Curso de
Aperfeioamento de Oficiais I 2009, muito obrigado pelo apoio e pelos ensinamentos
repassados.
Ao Maj PMSC Marcelo Cardoso, Oficial de notvel conhecimento na rea de
Operaes Especiais, que acreditou e confiou no tema escolhido e a quem sempre pude
recorrer, para dirimir minhas dvidas.
Ao Cap PMSC Julival Queiroz Santana, eminente Oficial de nossa Corporao,
meus sinceros agradecimentos pela ajuda sem igual, na busca por informaes atinentes ao
tema.
Ao meu grande amigo Cap PM Marcos Barreto Valena, que nunca duvidou do
meu xito.
A minha orientadora, Profa. Dr. Maria Lucia Pacheco Ferreira Marques a qual
esteve ao meu lado durante todo o desenvolvimento deste trabalho, mostrando sempre os
melhores caminhos a serem seguidos e suas palavras de incentivo davam-me foras para
continuar na rdua caminhada.
A meus pais, que mesmo distante, atravs de preces pediam a Deus que me
iluminasse, derramando bnos de paz, de harmonia e de f, para que a vitria chegasse.
Why Should I use Illumination Tools?
Studies of Law Enforcement shootings clearly indicate that a high percentage of all
these shooting take place during nighttime hours. In fact, more than two out of there
fatal officer shootings occur during the hours of darkness or in locations where the
light is diminished.
Outside, you may have only the light of the stars or moon, or a street lamp a block
away. When the light dims the problems can begin.
These problems generally include:
Navigation Threat location
Threat Identification Threat Engagement. (KEN J. GOOD)
RESUMO
Buscamos com o presente trabalho, mostrar a importncia do Grupo COBRA/BOPE/PMSC
no contexto da Segurana Pblica no Estado de Santa Catarina e o grande valor tcnico e
ttico que envolve os equipamentos de iluminao ttica individual atravs de lanternas, na
resoluo de ocorrncias de alto risco para as quais so designados os integrantes do Grupo
COBRA/BOPE. O emprego de lanternas em situaes que abranjam a baixa ou ausncia de
luminosidade to imperioso que outros fatores, como a fisiologia da viso, luminosidade,
ciclo OODA entre outros so envolvidos em sua utilizao que, as retiram do anonimato para
a vanguarda ttica operacional. A sua aparente singeleza esconde um poderoso equipamento
que ajudar no fortalecimento de qualquer time ttico, quando corretamente empregado.
Palavras chaves: COBRA/BOPE. Baixa luminosidade. Equipamentos.
ABSTRACT
We seek with the present work, show the importance of the Group COBRA/BOPE/PMSC in
the context of the Public Safety in Santa Catarina's State and the great technical and tactical
value that involves the equipments of individual tactical illumination through lanterns, in the
occurrences resolution of high risk for the which one are designated the members of the
Group COBRA/BOPE. The use of flash lights in low-light conditions is so imperious that
other factors, like vision physiology, brightness, cycle OODA among others are involved in
its utilization withdrawing them from the anonymity for the operational tactical vanguard. Its
apparent simplicity hides a powerful equipment that will help in the invigoration of any
tactical team, when correctly employed.
Key words: COBRA/BOPE. Low-light. Equipments.
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 1 Soldados da Guarda Pretoriana................................................................................38
Figura 2 Soldados das Legies Romanas...............................................................................39
Figura 3 Soldado Ranger........................................................................................................41
Figura 4 Soldados da FEB NA 2 Guerra Mundial................................................................43
Figura 5 Avio P-47D Thunderbolt.......................................................................................44
Figura 6 1 B F Esp................................................................................................................45
Figura 7 Sd do 1 B F Esp em treinamento............................................................................45
Figura 8 Smbolo do BOPE...................................................................................................47
Figura 9 Cel RR PMRJ Amendola.........................................................................................47
Figura 10 Braso do BOPE/PMSC........................................................................................48
Figura 11 Guarnies do BOPE/PMSC.................................................................................48
Figura 12 Grupo COBRA em treinamento............................................................................49
Figura 13 Pilha de Volta........................................................................................................52
Figura 14 Pilha atual comum.................................................................................................52
Tabela 01 Vantagens das baterias de lithium.........................................................................53
Figura 15 Modelos de pilhas..................................................................................................54
Figura 16 Pilha Recarregvel Mod. B65................................................................................54
Figura 17 Projeto de patente n 223.898................................................................................55
Tabela 02 Evoluo cronolgica da lmpada........................................................................56
Figura 18 Lanterna tubular modelo 1899...............................................................................58
Figura 19 Lanterna Surefire...................................................................................................59
Figura 20 Princpio dois.........................................................................................................64
Figura 21 Princpio trs..........................................................................................................65
Figura 22 Princpio cinco.......................................................................................................66
Figura 23 Princpio cinco.......................................................................................................66
Figura 24 Princpio seis..........................................................................................................67
Figura 25 Princpio oito.........................................................................................................68
Figura 26 Espectro eletromagntico......................................................................................70
Figura 27 - Espectro eletromagntico.......................................................................................70
Tabela 03 Comprimento de onda aproximado das cores.......................................................71
Figura 28 Iluminamento.........................................................................................................72
10
Figura 29 Fluxo luminoso......................................................................................................72
Figura 30 Intensidade luminosa.............................................................................................73
Figura 31 Luminncia............................................................................................................74
Tabela 04 Grandezas de iluminao......................................................................................74
Figura 32 Anatomia interna do olho......................................................................................79
Figura 33 Como o olho v......................................................................................................81
Figura 34 Dilatao e constrio da pupila............................................................................83
Figura 35 Reao dos olhos diante da luz..............................................................................83
Figura 36 Tcnica FBI...........................................................................................................89
Figura 37 Tcnica FBI...........................................................................................................90
Figura 38 Tcnica FBI Modificada com arma porttil......................................................... 90
Figura 39 Tcnica FBI Modificada........................................................................................91
Figura 40 Tcnica Harries.....................................................................................................92
Figura 41 Tcnica Harries.....................................................................................................92
Figura 42 Posio de tiro Weaver..........................................................................................93
Figura 43 Tcnica Chapman..................................................................................................95
Figura 44 Tcnica Chapman..................................................................................................95
Figura 45 Posio de tiro Weaver Modificada.......................................................................95
Figura 46 Posio de tiro Issceles........................................................................................97
Figura 47 Posio de tiro Issceles........................................................................................97
Figura 48 Tcnica Ayoob.......................................................................................................97
Figura 49 Tcnica Ayoob.......................................................................................................97
Figura 50 Tcnica Rogers......................................................................................................99
Figura 51 Tcnica Neck Index..............................................................................................100
Figura 52 Tcnica Neck Index..............................................................................................100
Figura 53 Tcnica Keller......................................................................................................102
Figura 54 Tcnica Keller......................................................................................................102
Figura 55 Tcnica Marine Corps.........................................................................................103
Figura 56 Tcnica Hargreaves.............................................................................................104
Figura 57 Tcnica Hargreaves.............................................................................................104
Figura 58 Tcnica Lite-Touch..............................................................................................104
Figura 59 Tcnica FBI Modificada para arma porttil........................................................105
Figura 60 Tcnica Cross-Suport Variao n 1...................................................................106
Figura 61 Tcnica Cross-Suport Variao n 2...................................................................106
11
Figura 62 Tcnica Cross-Suport Variao n 3....................................................................107
Figura 63 Tcnica Flashlight on the primary weapon technique........................................108
Figura 64 - Tcnica Flashlight on the primary weapon technique.........................................108
Figura 65 Tcnica Mount Light com arma de porte.............................................................108
Figura 66 - Tcnica Mount Light com arma porttil...............................................................108
Figura 67 Modelo de trilho..................................................................................................109
Figura 68 Modelo de trilho..................................................................................................109
Figura 69 Lanternas em armas portteis..............................................................................109
Figura 70 Carabina MT 40 com lanterna.............................................................................110
Figura 71 Representao do Ciclo OODA...........................................................................113
Figura 72 Representao do Ciclo OODA...........................................................................114
Grfico 1 Nmero de lanternas para o COBRA..................................................................123
Grfico 2 Marca de lanterna.................................................................................................124
Grfico 3 Tipo de bateria.....................................................................................................124
Grfico 4 Vida til da bateria...............................................................................................125
Grfico 5 Disponibilidade imediata de bateria....................................................................125
Grfico 6 Manuteno..........................................................................................................126
Grfico 7 Preocupao com o equipamento........................................................................126
Grfico 8 Local para a lanterna da reserva...........................................................................127
Grfico 9 Local para a lanterna durante o servio...............................................................127
Grfico 10 Lanterna acoplada a arma..................................................................................128
Grfico 11 Dispositivo para acoplar lanterna......................................................................128
Grfico 12 Lanterna do BOPE x Necessidades...................................................................129
Grfico 13 Conhecimento das tcnicas................................................................................129
Grfico 14 Lanternas individuais para o servio.................................................................130
Grfico 15 Treinamentos.....................................................................................................130
Grfico 16 Frequncia de treinamentos...............................................................................131
Grfico 17 Lanterna (Polcia Militar x Particular)...............................................................131
Grfico 18 Lanterna da PM x Segurana.............................................................................132
Grfico 19 Conhecimento tcnico/Treinamento x Grau de importncia.............................132
Grfico 20 Novos conhecimentos tcnicos x Necessidade..................................................133
Grfico 21 Lanterna x Fator decisivo..................................................................................133
Figura 73 Lanterna Maglite..................................................................................................142
Figura 74 Acessrios da Lanterna Maglite..........................................................................142
12
Tabela 05 Legenda da Figura 74..........................................................................................143
Figura 75 Lanterna Maglite..................................................................................................143
Tabela 06 Legenda da Figura 75..........................................................................................143
Figura 76 Armrio para equipamentos.................................................................................143
Figura 77 Armrio para equipamentos.................................................................................143
Tabela 06 Peas da Lanterna x Custos.................................................................................144
Tabela 07 Lanternas x Custos..............................................................................................145
Tabela 08 Dados estatsticos de 2009..................................................................................149
Grfico 22 Dados estatsticos de 2009.................................................................................149
Figura 78 Lanterna Incapacitator........................................................................................155
Tabela 09 Camuflagem de uniformes..................................................................................164
Figura 79 Mag-Charger Rechargeable...............................................................................167
Figura 80 5-Cell D...............................................................................................................167
Figura 81 Z2 Combat Light..................................................................................................167
Figura 82 G2Z Nitrolon Combat Flashlight........................................................................167
Figura 83 G2 NItrolon..........................................................................................................167
Figura 84 X-400 Weapon Light...........................................................................................167
Figura 85 X-400 Weapon Light...........................................................................................167
Figura 86 Millenium Universal Weapon Light M971XM07................................................168
Figura 87 Millenium Universal Weapon Light M971XM07................................................168
Figura 88 TLR-1 Weapon Light...........................................................................................168
Figura 89 TLR-2 Weapon Light...........................................................................................168
Figura 90 Task Light 2L......................................................................................................168
Figura 91 TL-3 Tactical.......................................................................................................168
Figura 92 Night Fighter.......................................................................................................168
Figura 93 8060....................................................................................................................168
Figura 94 M6 LED 2390.....................................................................................................168
13
LISTA DE ABREVIATURAS
a.C. antes de Cristo
A/C antes de Cristo
Bda - Brigada
Cap Capito
cap. Captulo
Cd Candela
CD Compact Disc
Cel Coronel
Cmdo-G Comando-Geral
Cmt - Comandante
cx. caixa
d.C. depois de Cristo
Dir. Diretriz
Dr. Doutora
Esp. Especialista ou especial
Fig. Figura
Ibb Instituto de Biocincias de Botucatu
Info. Informao
IV Infravermelho
Km/s Kilmetro por segundo
Lx ou lx lux
Lm ou lm lmen
M4A1 Fuzil de assalto
M68 Aimpoint
Maj Major
Mod. Modelo
n - nmero
nm nanmetro
NDA Nenhuma das anteriores
Op - Operao
14
Perm. Permanente
PM Polcia Militar ou policial militar
PEQ-2 Target AN/PEQ-2 Ponteiro / iluminador / Aiming Light (TPIAL)
RR Reserva Remunerada
SI Sistema Internacional
Ten-cel Tenente Coronel
TV Televiso
UV Ultravioleta
V Volts
15
LISTA DE SIGLAS
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas
AHIMTB Academia de Histria Militar Terrestre do Brasil
BOE Batalho de Operaes Especiais
BOPE Batalho de Operaes Especiais
BFEsp Batalho de Foras Especiais
CATE Curso de Aes Tticas Especiais
CCI Centro de Comunicao e Informtica
CEANTE Centro de Estudos e Aplicaes para as Novas Tecnologias Educacionais
CEFET Centro Federal de Educao Tecnolgica
CIAMAPA - Centro de Instruo Almirante Milclades Portela Alves
CIGS Centro de Instruo de Guerra na Selva
CIOE Companhia Independente de Operaes Especiais
CMB Centro de Material Blico
COBRA Comando de Busca, Resgate e Assalto
COE Companhia de Operaes Especiais
COESP Curso de Operaes Especiais
CQB Close Quater Batle
DALF Diretoria de Apoio Logstico e Finanas
Delta Army 1st Special Forces Operational Detachment
EUA Estados Unidos da Amrica
FBI Federal Buerau of Investigation
FE Foras Especiais
FEB Fora Expedicionria Brasileira
GAvCa Grupo de Aviao de Caa
GEO Grupo Especial de Operaciones
GIGN Groupe dIntervention de la Gendarmerie Nationale
GOE Grupo de Operaes Especiais
GRUMEC - Grupamento de Mergulhadores de Combate
GSG9 GSG9 der Bundespolizei
LAPD Los Angeles Police Department
16
MICH - Modular Integrated Communications Helmet
MIG - Mikoyan-gurevich
NBR Norma Brasileira Regulamentadora
NuCOE Ncleo da Companhia de Operaes Especiais
ONU Organizao das Naes Unidas
OODA Orientao, Observao, Deciso e Ao
OSRAM OS de smio e RAM de Wolfram, o termo em Alemo para tungstnio
OVN culos de Viso Noturna
PRA-SAR Esquadro Aero terrestre de Salvamento
PMMG Polcia Militar de Minas Gerais
PMRJ Polcia Militar do Rio de Janeiro
PMRN Polcia Militar do Rio Grande do Norte
PMSC Polcia Militar de Santa Catarina
PMSP Polcia Militar de So Paulo
POP Procedimentos Operacionais Padro
ROTA Ronda Ostensiva Tobias Aguiar
Seal Sea, Air and Land
SAS Special Air Service
SP So Paulo
SPQR Senatus Populesque Ramanus
SWAT Special Weapons And Tactics
TEES Tactical Explosive Entry School
TV Televiso
UFPA Universidade Federal do Par
UFPR Universidade Federal do Paran
UNESP Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho
UNICAMP Universidade de Campinas
USA United States of America
17
LISTA DE SMBOLOS
[...] usado para supresso, quando no se menciona o pargrafo todo.
( ) usado para incluso de expresses: grifo nosso, traduzido pelo autor, informao verbal.
n - nmero
% - porcentagem
- grau
C graus Celsius
F graus Fahrenheit
[sic] para indicar que houve erro de grafia
- fluxo luminoso
A a rea real da superfcie
d - distncia ao quadrado
cos - o cosseno do ngulo formado entre a direo da luz e a normal das superfcies.
- ngulo slido uma medida do espao tridimensional
m - metro ao quadrado
@ - arroba
> - maior
18
SUMRIO
1 INTRODUO....................................................................................................................21
1.1 FORMULAO DO PROBLEMA................................................................................22
1.1.1 Justificativa....................................................................................................................24
1.2 OBJETIVOS.......................................................................................................................24
1.2.1 Objetivos especficos......................................................................................................24
1.3 METODOLOGIA...............................................................................................................25
1.4 BREVE DESCRIO DOS CAPTULOS........................................................................25
2 O EMPREGO DA LUZ COMO FORA......................................................................28
2.1 A LUZ PRIMEIRA EXPERINCIA ATRAVS DO FOGO.........................................29
2.2 A LUZ NO CAMPO DE BATALHA..............................................................................33
2.3 NOTAS INTRODUTRIAS SOBRE OS GRUPOS DE OPERAES ESPECIAIS.....36
2.3.1 Operaes Especiais e Foras Especiais conceituao..........................................36
2.3.2 Foras Especiais Origem............................................................................................36
2.3.3 SWAT Origem.............................................................................................................42
2.3.4 Foras Especiais no Brasil Origem.........................................................................42
2.3.5 Batalhes de Operaes Especiais nas Polcias Militares (BOPE) Origem........45
2.3.6 BOPE da Polcia Militar de Santa Catarina Origem..............................................47
3 LUMINOSIDADE................................................................................................................50
3.1 A INVENO DA PILHA................................................................................................50
3.2 A INVENO DA LMPADA........................................................................................54
3.3 A INVENO DA LANTERNA......................................................................................57
3.3.1 Razes para uso da lanterna por policiais...................................................................60
3.3.2 Caractersticas de uma boa lanterna para uso policial..............................................61
3.3.3 Princpios........................................................................................................................63
3.3.3.1 Princpio um: ler a luz...............................................................................................63
3.3.3.2 Princpio dois: opere no nvel mais baixo de luz..........................................................64
3.3.3.3 Princpio trs: veja da direo oposta...........................................................................65
3.3.3.4 Princpio quatro: luz e movimento................................................................................65
3.3.3.5 Princpio cinco: d poder com luz................................................................................66
3.3.3.6 Princpio seis: alinhe trs coisas....................................................................................67
3.3.3.7 Princpio sete: leve mais de uma lanterna.....................................................................68
19
3.4 LUZ.....................................................................................................................................69
3.4.1 Luz conceito.................................................................................................................69
3.4.2 Iluminamento...................................................................................................................71
3.4.3 Fluxo luminoso................................................................................................................72
3.4.4 Intensidade luminosa........................................................................................................73
3.4.5 Luminncia.......................................................................................................................73
3.5 COR DO UNIFORME........................................................................................................75
3.6 FISIOLOGIA DA VISO..................................................................................................77
3.6.1 A viso.............................................................................................................................78
3.6.1.1 A anatomia do olho humano.........................................................................................79
3.6.1.2 O processo da viso.......................................................................................................80
3.6.2 A ao da luz no olho humano em baixa luminosidade...................................................81
4 PRINCIPAIS TCNICAS COM LANTERNA E TOMADA DE DECISO................85
4.1 AMBIENTE EXTERNO....................................................................................................85
4.2 AMBIENTES CONFINADOS...........................................................................................85
4.3 TCNICAS.........................................................................................................................87
4.3.1 Federal Buerau of Investigation (FBI)..........................................................................88
4.3.2 Harries.............................................................................................................................92
4.3.3 Chapman.........................................................................................................................94
4.3.4 Ayoob...............................................................................................................................97
4.3.5 Rogers..............................................................................................................................98
4.3.6 Neck ndex ou puckett.....................................................................................................99
4.3.7 Keller..............................................................................................................................101
4.3.8 Marine corps..................................................................................................................102
4.3.9 Hargreaves.....................................................................................................................103
4.3.10 Tcnica lite-touch........................................................................................................104
4.3.11 Tcnica FBI modificada para arma porttil............................................................105
4.3.12 Tcnica cross-support.................................................................................................106
4.3.12.1 Tcnica cross-suport variao n 1...........................................................................106
4.3.12.2 Tcnica cross-suport variao n 2...........................................................................107
4.3.12.3 Tcnica cross-suport variao n 3...........................................................................107
4.3.13 Tcnica flashlight on the primary weapon technique...108
4.3.14 Tcnica mount light....................................................................................................109
4.4 CICLO OODA..................................................................................................................111
20
5 ANLISE DOUTRINRIA E PESQUISA.....................................................................115
5.1 DIRETRIZES DA PMSC.................................................................................................116
5.1.1 Diretriz permanente n 10...........................................................................................117
5.1.2 Diretriz permanente n 11...........................................................................................119
5.1.3 Diretriz permanente n 12...........................................................................................120
5.2 PESQUISA REALIZADA COM O EFETIVO DO COBRA/BOPE...............................122
5.3 ENTREVISTAS................................................................................................................134
5.4 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAO TTICA DO BOPE.........................................142
5.5 OUTRAS MARCAS/MODELOS DE LANTERNAS.....................................................144
6 CONCLUSO.....................................................................................................................147
APNDICE A - Questionrio para coleta de dados aplicados ao COBRA/BOPE.........158
APNDICE B - Entrevista realizada com o Sub Cmt BOPE/PMSC e o Cmt da
COE/BOPE/PMSC................................................................................................................161
APNDICE C - Quadro ilustrativo sobre fardamento camuflado..................................164
APNDICE D Lanternas citadas na tabela n 06...........................................................167
REFERNCIAS....................................................................................................................169
21
1 INTRODUO
O BOPE surge em face de uma necessidade operacional indiscutvel, pois
ocorrncias de vulto que exigem de um grupo de policiais militares, aprimoramento tcnicoprofissional, como a localizao e desarmamento de artefatos explosivos; resgate de refns em
residncias, nibus, aeronaves; abordagem de edificaes com mltiplas entradas e diferentes
nmeros de pavimentos; cumprimento de mandados de priso de alto risco; incurses em
favelas; tomada de pontos sensveis e apoio a outras fraes de tropa, fez com que a criao
do COBRA se tornasse essencial para dar cumprimento a essas misses.
Entendemos ser vital buscarmos conhecer o que h de melhor nos equipamentos
que podero auxiliar esse Grupo na soluo das ocorrncias a que forem submetidos. Nesta
linha, as ocorrncias atendidas por esse Grupo noite, revestem-se de uma particularidade
especial e perigosa, pois esses policiais contam com mais um fator desfavorvel a um
desfecho satisfatrio na soluo do problema: a baixa ou a ausncia de luminosidade.
Se nos reportarmos ao conceito formulado pelo Coronel da Fora Area
Americana, John Boyd que criou o Ciclo OODA (Orientao, Observao, Deciso, Ao),
provvel que em qualquer ocorrncia policial, o agente do Estado utilizar consciente ou
inconscientemente esse conceito, iremos perceber que se esse Grupo no contar com um
equipamento eficiente, que possa proporcionar segurana as suas aes, fatalmente o
resultado ficar comprometido, pois na fase inicial ou intermediria do processo ele se sentir
inseguro para a tomada de deciso, consequentemente, se optar por prosseguir, a ao final
poder ter um resultado operacional insatisfatrio.
Acreditamos que o emprego correto do armamento noite pelo Grupo
COBRA/BOPE, somente apresentar uma eficincia aceitvel em seus resultados se estiver
auxiliado por um equipamento de iluminao porttil acoplado ou no a arma que proporcione
uma intensidade luminosa capaz de causar ofuscamento total sobre o agressor. O emprego de
uma lanterna desenvolvida e projetada para aes policiais em ambientes onde tenhamos
baixa ou ausncia de luminosidade, empregada de maneira tcnica e ttica, torna-se um
importante instrumento no letal inibidor de uma ao agressora. Em contrapartida, a falta ou
emprego inadequado desse equipamento, poder comprometer as duas primeiras fases do
ciclo OODA, ou seja, a orientao e observao.
Neste contexto, temos que proporcionar sempre, os melhores equipamentos, para
o efetivo melhor selecionado e treinado da PMSC: o Grupo COBRA/BOPE.
22
1.1 FORMULAO DO PROBLEMA
Em razo das ocorrncias atendidas pela Polcia Militar noite, pelo grau de
dificuldade proporcionado pela diminuio da acuidade visual, h a necessidade de que os
policiais militares estejam portando, alm de seus equipamentos de proteo individual,
equipamento de iluminao individual capaz de proporcionar identificao do local e o trajeto
a ser percorrido. Este equipamento de iluminao ainda pode servir como equipamento
neutralizador do agente, como instrumento auxiliar do armamento que estar portando o
policial militar, durante as modalidades de abordagem.
Por tratar-se de ocorrncias em horrios onde h baixa ou ausncia de
luminosidade, o equipamento de iluminao porttil individual a ser empregado pelo Grupo
COBRA/BOPE dever atender as necessidades operacionais, de maneira eficiente, sem que
haja qualquer tipo de questionamento quanto capacidade tcnica dos equipamentos
disponveis, durante o seu emprego ttico.
O desenvolvimento tecnolgico atinge todas as reas profissionais em nossa
sociedade, as quais buscam o aprimoramento de suas aes, atravs de pesquisas e troca de
informaes apresentadas em Congressos ou Seminrios, onde o objetivo o de suplantar,
muitas vezes, um obstculo at ento inexistente.
Assim caminham as Foras Policiais no mundo e em nosso Pas no poderia ser
diferente. Estamos igualmente inseridos numa sociedade emergente, na qual a velocidade das
informaes mostra em todos os campos do conhecimento o que h de melhor e qual a
maneira mais adequada na sua execuo. A Polcia Militar, muitas vezes, tambm se faz
presente no engendramento tecnolgico para a busca de novos equipamentos que a auxilie na
soluo dos mais diversos conflitos e tipos de agressores sociais. Por tratar-se de profissionais
altamente qualificados, s vezes so protagonizadores de novos equipamentos, em razo das
dificuldades vivenciadas na atividade operacional. No entanto, a grande contribuio,
evidentemente, oriunda da indstria blica e tecnolgica, que cria e produz equipamentos
diversos, os quais tero seu aval final nas aes reais envolvendo policiais e agressores
sociais.
Neste patamar, no Estado de Santa Catarina, designado ao Grupo
COBRA/BOPE, a misso de solucionar os piores conflitos, as ocorrncias mais delicadas que
possamos supor. O lema, estampado na fachada do quartel do BOPE, no pergunte se somos
capazes, d-nos a misso, retrata o nvel de comprometimento desses policiais, mas tambm,
23
nos conduz a responsabilidade de dar-lhes o melhor treinamento e equipamento, para que
possam cumprir com xito a sua misso.
A sociedade, todavia, exige do Governo e da Polcia Militar, que o Grupo
COBRA/BOPE execute as suas aes, quando acionado para o cumprimento de uma misso,
de maneira mpar no que tange a perfeio de sua atuao. Esse policial especial sabe do que
capaz; basta para tanto, darmos a ele dois ingredientes fundamentais: treinamento e
equipamento.
Assim sendo, podemos perceber que o grande desafio, sem qualquer dvida,
reside na ausncia de uma anlise profunda sobre os equipamentos de iluminao (lanterna)
porttil e individuais existentes e disposio do Grupo COBRA/BOPE, para que possamos
comprovar sua eficincia ou a necessidade de substituio por outros equipamentos, para que
esse importante Grupo de Operaes Especiais, que o efetivo mais elitizado da Polcia
Militar de Santa Catarina, quando se trata de ocorrncias envolvendo operaes de alto risco,
possa atender de maneira segura, utilizando-se das tcnicas existentes, aquela que faz parte do
rol de uma das mais delicadas e difceis ocorrncias policiais, envolvendo o ambiente onde se
encontra instalado o teatro de operaes: as que envolvem a baixa ou ausncia de
luminosidade.
Neste sentido, a anlise do sistema de iluminao com lanternas e do
conhecimento tcnico existentes no Grupo COBRA/BOPE e a propositura de alterao em um
ou outro aspecto ou at mesmo em ambos, se necessrio, torna-se imperioso, pois o seu
emprego est diretamente relacionado segurana individual e por consequncia do(s)
Time(s) Ttico(s) que estar(o) atuando em uma ocorrncia. Portanto, a escolha correta do
equipamento de iluminao porttil individual, aliado a tcnica e ttica, constitui-se, como
fundamental para o xito desse Grupo em ocorrncias que apresentam esse nvel de
dificuldade.
Considerando que a Polcia Militar atua vinte e quatro horas por dia, nos mais
diversos terrenos e ambientes, estar o COBRA, diante da importncia capital que representa,
equipado adequadamente para fazer frente as sua misses nas mais diversas situaes que
envolvem a baixa ou ausncia de luminosidade? Os equipamentos emissores de luminosidade
atravs de lanternas proporcionam segurana operacional aos componentes do COBRA, para
que prestem um atendimento operacional que seja capaz de produzir um excelente resultado
ou estaremos por falta muitas vezes de conhecimento tcnico, considerando irrelevante tais
equipamentos?
24
1.1.1 Justificativa
O equipamento de iluminao individual porttil atravs de lanternas, entendemos
ser um instrumento fundamental no atendimento de ocorrncias pelo Grupo COBRA/BOPE,
quando empregados em aes que estejam em baixa ou na ausncia de luminosidade.
O policial militar que compem uma tropa especializada como a do Grupo
COBRA/BOPE, busca atingir a plenitude do binmio envolvendo: treinamento e
equipamento. Quando ambos esto presentes e sucederam uma rigorosa seleo dos homens
que integraro esse Grupo de Elite, teremos um Grupo de Operaes Especiais de alto nvel.
O projeto de pesquisa tem sua relevncia, antes de tudo, pela perfeita integrao
de sua temtica quando contraposto ao direcionamento Institucional que, diuturnamente,
busca a sua excelncia no atendimento finalista a que esto submetidos os policiais militares
integrantes do COBRA/BOPE.
Resta claro, pelo acima exposto, que imprescindvel, atendermos com primazia a
sociedade catarinense que deseja uma Polcia Militar bem selecionada, treinada e equipada.
Quando se trata do Grupo COBRA/BOPE, tal exigncia deve caminhar na busca
pelo que h de melhor em se tratando de seleo, treinamento e equipamentos.
As aes policiais so definidas muitas vezes, em segundos, nos detalhes, e a
sociedade passou a exigir de forma mais atuante que, os rgos responsveis pela segurana
pblica, executem de maneira eficaz o trabalho a que se propem e nessa tica, vislumbra-se
um Grupo de Elite como o COBRA/BOPE treinado e equipado com o que h de melhor no
mercado nacional e/ou internacional.
1.2 OBJETIVOS
Analisar as necessidades efetivas do Grupo COBRA do BOPE, no que tange a
utilizao de equipamentos de iluminao ttica.
1.2.1 Objetivos especficos
Identificar os equipamentos de iluminao atravs de lanternas, hoje existente no
Grupo COBRA/BOPE, a quantidade, o acondicionamento na reserva de armas.
25
Comparar os equipamentos de iluminao com lanternas, utilizado pelo Grupo
COBRA/BOPE, com outros existentes no mercado nacional, no que tange a custos versus
benefcios;
Verificar se h uma doutrina, atravs de diretrizes ou normas da Polcia Militar
de Santa Catarina, abordando o assunto;
Identificar a percepo dos integrantes do COBRA/BOPE, sobre a temtica.
1.3 METODOLOGIA
Para a consecuo do presente trabalho, elegemos como mtodo de abordagem
dedutivo. Iremos durante a abordagem do tema proposto, apresentar dados que julgamos
importantes no mbito geral, apresentando breves histricos e conceituaes que nos ajudaro
no desenvolvimento do tema.
Como a presente pesquisa apresenta as caractersticas de uma pesquisa aplicada,
podendo gerar novos conhecimentos e um modelo de aplicao eminentemente prtico, pois
ir propor outras alternativas; alm de exploratria, pois j explicita problema e hipteses,
adotamos a tcnica de pesquisa bibliogrfica e pesquisa qualitativa e quantitativa, utilizando
neste ltimo caso, levantamento de dados atravs de questionrio com os integrantes do
Grupo COBRA/BOPE.
Em relao s tcnicas de pesquisa, utilizaremos as seguintes pesquisas:
- pesquisa bibliogrfica, verificando o tema proposto em contraponto com a
bibliografia existente;
- pesquisa documental direta, uma vez que iremos analisar o que reportado nas
diretrizes do Comando-Geral sobre o assunto e;
- levantamento, onde ser aplicado um questionrio aos integrantes do Grupo
COBRA/BOPE.
1.4 BREVE DESCRIO DOS CAPTULOS
No captulo dois buscamos fazer um breve estudo sobre a origem das Foras
Especiais no mundo, no Brasil e nas Polcias Militares, tentando dar uma noo de como e
porque surgiram Grupos destinados a executar determinadas misses para as quais, seriam
necessrios homens melhor selecionados, treinados e equipados.
26
Considerando que o estudo por ns proposto diz respeito, em suma, ao emprego
da luz como fora em operaes policiais, novamente recorremos a Histria e, nela
encontramos as primeiras manifestaes sobre os efeitos da luz na viso do homem. O
conhecimento tcnico e cientfico que nos separa daquela poca pr-histrica inversamente
proporcional a evoluo tecnolgica, atingida nas ltimas dcadas do sculo XX e nessa
primeira dcada do sculo XXI.
No captulo trs fazemos inicialmente, um resgate histrico sobre a origem dos
componentes, propriamente ditos, do equipamento tema de nosso estudo: a lanterna.
A bateria, a lmpada e a lanterna passaram por inmeras transformaes desde as
suas atuais concepes. Todas as trs possuem inmeras formas, tamanhos, potncias e
objetivos. Tornar-se-ia impossvel descrev-las em sua totalidade, face s numerosas
alteraes que lhes foram impostas atravs do conhecimento tecnolgico, onde para cada uma
necessitaramos estudo similar ao atual, sem dvida, de forma individualizada.
Procuramos nessa fase do trabalho, trazer a tona, a importncia do uso da lanterna
para a atividade policial militar; as caractersticas que devem possuir e os princpios que
regem o seu uso em ocorrncias envolvendo a baixa ou a ausncia de luminosidade.
Conceitos breves sobre luminosidade, a importncia da cor do uniforme a ser
utilizado e a influncia da luz sobre a viso, encerram esse captulo, onde acreditamos ser a
viga mestra orientadora onde a ausncia da luz se faz presente no teatro de operaes.
No captulo quatro, apresentamos as principais e/ou mais conhecidas tcnicas de
uso da lanterna como o armamento. Evidentemente, as aqui apresentadas, no esgotam o
assunto, uma vez que outras de igual finalidade e empregabilidade ttico-operacional existem.
O que buscamos nessas ditas mais conhecidas trazer ao conhecimento, suas principais
vantagens e desvantagens tticas, para que o policial militar quando em determinada
ocorrncia estiver envolvido, possa empregar a que melhor se adequar aquela situao,
sabendo seus prs e contras. No entanto, todos ns, em qualquer situao de vida, sempre
estamos decidindo e em ocorrncias policiais isso no diferente. Nossas decises nesses
cenrios tornam-se ainda mais dramticas, quando estamos em ambientes onde a baixa ou a
ausncia de luminosidade impera. Nesse quadro, entendemos que h uma ferramenta, que
poder nos ser de grande utilidade, para a tomada de decises: o ciclo OODA.
27
No captulo cinco, fizemos uma busca atravs das diretrizes operacionais da
Polcia Militar de Santa Catarina, e ainda em vigor, visando encontrar mencionada nelas,
aquelas que de alguma maneira se referiam a situaes envolvendo atendimento por parte da
Polcia Militar durante a noite e o que recomendavam nesse sentido. Naquelas em que tais
situaes so referenciadas, buscamos fazer uma anlise tcnica, todavia, no temos a
pretenso de esgotar a anlise ora apresentada, uma vez que se trata de assunto extremamente
amplo e delicado, pois culminar com aes prticas dos policiais militares na atividade fim,
onde suas vidas dependero dos ensinamentos norteadores disponibilizados e divulgados pela
nossa Corporao.
Encerramos esse captulo, apresentando uma pesquisa quantitativa com o efetivo
do COBRA/BOPE e uma pesquisa qualitativa com dois Oficiais da PMSC, os quais nos do
suas importantes opinies, onde buscamos validar o tema a que nos propomos.
Na concluso buscamos mais uma vez ressaltar a importncia do assunto,
apresentando dados estatsticos que corroboram e do sustentao ao tema, bem como
apresentamos algumas tcnicas de uso da lanterna com armas portteis. Apresentamos uma
nova lanterna para uso policial que se encontra em fase de testes e a importncia de que a
Polcia Militar de Santa Catarina faa uma reviso nas Diretrizes que norteiam as aes dos
policiais militares; finalizando com orientaes pontuais da Surefire Institute e Strategos
International, sobre ocorrncias em ambientes de baixa luminosidade.
28
2 O EMPREGO DA LUZ COMO FORA
No conciso estudo deste captulo, ns apresentaremos dados e fatos histricos
relativo s primeiras experincias do homem com a luz e o incio das tropas especiais no
mundo dentro da atual concepo das Foras Armadas, iniciadas em meados do sculo XVII e
no Brasil, chegando criao do Batalho de Operaes Especiais da Polcia Militar do
Estado de Santa Catarina.
De acordo com o stio da Polcia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) (2009)
a evoluo dessas tropas so em boa parte, os resultados de conflitos militares, ocorridos no
mundo, principalmente no ps 2 Guerra Mundial.
Conforme podemos constatar na revista Veja (2008) recentemente em nossa
Histria no incio dos anos 90, tivemos uma demonstrao assustadora do que o homem era
capaz de produzir em se tratando de armamento. O ataque das tropas americanas a Bagd
assombrou o mundo. Inmeros foram os equipamentos militares testados nesse conflito. A
indstria blica deu uma demonstrao assustadora e ao mesmo tempo impressionante do
ponto de vista tecnolgico do que era capaz.
Na guerra do Golfo em 1991, pela primeira vez na Histria, graas a velocidade
proporcionada pelos meios de comunicao, vimos a capacidade das foras lideradas pelos
norte-americanos, nas imagens surpreendentes dos ataques as foras iraquianas ocorridos
noite. Cirurgicamente os alvos eram atingidos, diziam os americanos, fazendo uma meno a
sua capacidade de ver no escuro. Imaginemos a fora ante um oponente, que representa tal
capacidade.
O domnio atravs de uma fora, seja qual for, representa poder e sabendo
domin-la pode-se subjugar um oponente com relativa facilidade. Vejamos de forma breve
como tudo isso comeou.
Deixemos nos levar pela Histria e busquemos no incio da vida do homem sobre
a Terra, a origem dos nossos ancestrais, trabalhando e lutando em grupos em busca de sua
sobrevivncia, os seus encantamentos pelas primeiras descobertas e a propulso na vida do
homem que foram capazes de nos proporcionar.
Em toda a sua trajetria pela Terra, o homem fez parte de fatos fantsticos, que
seriam capazes de assombrar a mente de seus antecessores e que hoje fazem parte de nossa
Histria. Poderamos escolher qualquer um, todavia em razo do assunto a que nos propomos,
29
iremos nos ater a dois importantes fatos histricos: a descoberta da luz, atravs do fogo e o
emprego da luz pela primeira vez nos campos de batalha.
2.1 A LUZ PRIMEIRA EXPERINCIA ATRAVS DO FOGO
Desde o surgimento do homem em nosso planeta, ainda na obscuridade de sua
evoluo, percebeu que o dia era dividido em dois perodos: um com luz e outro sem luz.
Segundo Vicentino (2007), no perodo paleoltico1 ou da idade da pedra lascada,
perodo histrico esse que foi o mais longo de nossa Histria, o homem se utilizava de
instrumentos rudimentares, compostos de ossos, madeiras e outros para realizar a sua caa e a
pesca. No entanto, a medida que ocorria a escassez, eram obrigados a deslocarem-se para
outras regies em busca de novas fontes de alimentos. O homem era na poca um nmade,
pois a sua permanncia em um determinado local estava restrito a existncia ou no de
alimento.
Aqui podemos ter uma idia do quanto foi longo o perodo de escurido do
homem, que vagava muito em busca de alimento. A ausncia da luz fazia com que o homem
se mantivesse no lugar onde estava noite e como durante o dia, caminhava muito em busca
de alimento, noite passou a ser o momento em que o cansao e o sono o dominavam.
Quando existia a presena do sol, a sua viso conseguia avistar outros homens,
mesmo que no estivessem to perto; visualizava os animais, as plantas, as rvores, os rios,
etc. Quando aquela bola de fogo o Sol - l do alto sumia, tudo se tornava escuro, sem
brilho, sem cor e uma estranha sensao de medo e insegurana o dominava.
Muitos dias e muitas noites se passaram antes que o homem pr-histrico
realizasse o experimento que mudaria a sua Histria. Ele descobre o fogo. A vida nmade que
era empreendida pelo homem primitivo, foi assim descrita por Blainey (2009, p. 9) at a
descoberta do fogo:
Moviam-se em pequenos grupos: eram exploradores e colonizadores. Em cada
regio desconhecida, tinham de adaptar-se a novos alimentos e precaver-se contra
animais selvagens, cobras e insetos venenosos. Os que abriam caminho conseguiam
uma certa vantagem [...]
1
Perodo pr-histrico compreendido de 30000 a.C. a 10000 a.C..
30
possvel que um grupo de talvez 6 ou 12 pessoas avanasse uma pequena distncia
e decidisse se estabelecer naquele lugar. Outros vinham, passavam por cima delas ou
impeliam-nas para outro lugar. O avano pela sia pode ter levado de 10 mil a 200
mil anos. [...]
noite, em terreno desconhecido, era preciso selecionar um abrigo ou um lugar
com um mnimo de segurana. Sem a ajuda de ces de guarda, cabia a eles manter
vigilncia sobre animais selvagens que vinham caar durante a noite. [...]
No se sabe ao certo se conseguiram aquecer-se ao fogo nas noites frias. provvel
que quando um raio caa nas proximidades, ateando fogo vegetao, eles
apanhassem um galho em chamas e o transportassem para outro lugar. Quando o
galho estava quase todo queimado e o fogo por se extinguir, juntavam-lhe outro
galho. O fogo era to valioso que, uma vez obtido, era tratado com desvelo; ainda
assim, o fogo podia extinguir-se por descuido, apagar-se sob uma chuva forte ou por
falta de madeira seca ou gravetos. Enquanto conseguiam manter o fogo, devem t-lo
levado em suas viagens como um objeto precioso, como faziam os primeiros
nmades australianos.
Esse objeto precioso que citado por Blainey (2009), quando se refere a imagem
do homem primitivo pelo fogo, que foi dramatizado de forma mpar no filme A Guerra do
Fogo2, onde temos uma idia do que representou para aquele homem primitivo do perodo
paleoltico, a descoberta e posterior domnio sobre o fogo. No incio dessa importante
descoberta, cuidou do fogo, como se cuida de um filho, pois acreditava que se sumisse
(fosse apagado), jamais voltaria. Mant-lo abrasado era preciso a qualquer preo. Um dia,
num descuido ele se foi. A descoberta de como inici-lo novamente e mant-lo acesso foi um
grande feito e a partir desse momento tudo comearia a mudar.
As noites escuras j no so as mesmas. O homem descobre algo que capaz de
dar-lhe uma agradvel sensao durante a noite, principalmente naquelas mais frias; que faz
com que seja capaz de enxergar uma distncia um pouco maior durante a noite; que a
presena daquela luz o fogo -, mantm afastado animais perigosos que at ento se
aproximavam dele durante a noite para atac-lo.
A descoberta do fogo assim apresentada por Vicentino (2007, p.12): um dos
maiores avanos nesse perodo foi a descoberta e o controle do fogo, permitindo o
aquecimento durante o frio, a defesa ao ataque de animais e a preparao de alimentos.
Nome original: La Guerre du feu. Um filme do diretor Jean-Jacques Annaud, produzido em 1981. Roteiro: J.H.
Rosny Sr e Grard Brach.
31
Aqui, temos a primeira experincia envolvendo a luz, atravs do fogo, como
defesa em relao ao ataque de animais.
Segundo Vicentino (2007, p. 13), a partir de uma maior utilizao do fogo, e de
novas descobertas tecnolgicas, como o arco e a flecha, o homem passou a fixar-se mais em
algumas reas, graas tambm a ocupao de determinados locais onde a oferta de alimentos,
acompanhadas de um ciclo de desenvolvimento de certas espcies de plantas favoreceram a
sua maior permanncia nesses locais.
Ainda em seus esclarecimentos acerca dessa importante descoberta do homem
primitivo, Blainey (2009, p.10) assim se refere:
O emprego habilidoso do fogo, resultado de muitas idias e experincias durante
milhares de anos, uma das conquistas da raa humana. A genialidade da maneira
com que era empregado pode ser vista na forma de vida que sobreviveu at o sculo
20, em algumas regies remotas da Austrlia. Nas plancies desanuviadas do
interior, os aborgines acendiam pequenas fogueiras para enviar sinais de fumaa,
uma forma inteligente de telgrafo. Usavam o fogo tambm para cozinhar, para se
aquecer e para forar os animais a sair das tocas (enchendo-as de fumaa). O fogo
era a nica iluminao noite, exceto quando uma lua cheia lhes dava luz para suas
cerimnias de dana. Era usado para endurecer os pedaos de pau usados para cavar,
para modelar madeira com a qual eram feitas as lanas e para cremar os mortos. Era
usado, ainda, pra gravar marcas cerimoniais na pele humana e para afastar as cobras
do capim perto dos acampamentos. Era um eficaz repelente de insetos [...]
Eram to numerosos os usos do fogo, que at recentemente, foi a ferramenta de
maior utilidade da raa humana.
Atravs do filme A Guerra do Fogo (1981), podemos ter uma noo sobre as
primeiras experincias vivenciadas pelo homem primitivo envolvendo a ausncia de luz.
Quando a noite chegava, quando o breu o envolvia, se uma tocha dele se aproximava,
instintivamente suas mos eram levadas junto ao rosto, pois aquela luz lhe cegava
momentaneamente. A reao natural produzida pelo seu organismo, evidentemente, no era
diferente da atual, uma vez que ocorria de imediato o fechamento da ris, originando assim a
sua incapacidade temporria de visualizao.
O diretor Jean-Jacques Annaud do filme A Guerra do Fogo (1981) demonstra
atravs de uma belssima obra cinematogrfica, a disputa que ocorria pelo fogo no perodo do
homem daquele perodo histrico. No stio Imagens.Google (2009), a sinopse do filme assim
o descreve:
32
O filme Guerra do Fogo conta a histria dos homens do perodo paleoltico em
seus primeiros intentos tecno-evolutivos. Naoh, Amoukar e Gaw so homens que
fazem parte de uma tribo de Homo sapiens neanderthalensis. Certo dia, seu grupo
foi atacado por um outro grupo evolutivo rival, os Homo erectus, que forjou a
emboscada com o objetivo de roubar o fogo da tribo dos homens de neanderthal.
Com o massacre de sua tribo, os trs fogem primeiramente para tentar buscar
proteo, depois tomam como objetivo a recuperao do tesouro roubado.
Abordando uma concepo scio-histrica do homem na qual os primeiros
homens construram suas relaes sociais o filme tem como principal tema essa
disputa pelo fogo entre as primeiras comunidades tribais, embora no se limite a
apresentar enfaticamente o assunto. O fascnio pelas chamas era diretamente
ligado necessidade de sobrevivncia de cada grupo, pois alm de mant-los
aquecidos durante os perodos mais frios, serviam de defesa contra os outros
animais e at preparo de alimentos. Atacando-se e defendendo-se com o uso de
paus e pedras para evitar a perda do fogo, os homens mantinham-no dentro de
uma espcie de gaiola, tentando sempre mant-lo aceso. (grifo nosso)
As primeiras formas de uma socializao tribal mais pensante desse homem
primitivo ocorreram nesse perodo, onde em torno do fogo, passaram a se reunir; a
aproximao fsica aguou de forma paulatina e progressiva o afloramento de sentimentos que
hoje esto presentes de forma consciente em nossas vidas: a ajuda, o companheirismo, a
unio.
A partir da descoberta do fogo, passou a andar cada vez mais em grupo e a busca
pela caa teve um melhor resultado. O trabalho em grupo se estendeu para a manuteno do
espao conquistado e na disputa com outras tribos rivais.
A cada dia que se passava o homem primitivo aprendia a dominar cada vez mais
sua descoberta e a partir dela, nunca mais sua vida seria a mesma. Um novo perodo em sua
trajetria histrica se iniciava. A luz proporcionada pelo fogo se tornou a luz para uma nova
vida.
O fogo passou a fazer parte da vida do homem, na caa, onde era utilizado para
assar a carne; na caverna onde se abrigava durante a noite, era o fogo que o aquecia; nas
disputas com outras tribos descobriu que aquelas pequenas labaredas de fogo conduzidas em
pequenas e arcaicas tochas serviam para afastar seus inimigos, pois machucavam e causavam
muita dor se entrasse em contato direto com o corpo. Essa dor que por certo experimentou, o
fez tambm passar a temer sua descoberta. Com o passar do tempo, j sabia que em algumas
situaes o fogo lhe trazia coisas boas e em outras poderia lhe causar algo de ruim.
Que outra transformao ocorreu nesse perodo histrico da humanidade que
contribuiu ainda mais para dar ao fogo uma importncia sem igual? A glaciao. Com a
33
ltima glaciao, entre 100000 a.C. e 10000 a.C. aproximadamente, ocorreram profundas
alteraes climticas e ambientais que estimularam a intensa migrao de animais e seres
humanos [...] levando os homens primitivos a ocupar, ainda que de maneira esparsa, as
diversas regies do globo [...] (VICENTINO, 2007, p. 13)
Neste sentido Vicentino (2007, p. 13) quando trata dessas transformaes, assim
destaca:
As transformaes ambientais ocorridas nesse perodo favorecem tambm a
sedentarizao de diversos grupos, fixando-os a uma determinada rea. A
abundncia de vegetais em algumas regies, especialmente aveia, trigo e cevada,
estimulou o incio do processo de desenvolvimento agrcola. Possivelmente, foram
as ocupaes duradouras em algumas reas, com ampla oferta de alimentos,
prolongadas por um perodo suficiente para acompanhar todo o ciclo de
desenvolvimento de certas plantas, que fez com que aldeias pr-histricas
conhecessem os processos naturas e passassem a reproduzi-los.
Assim podemos notar que a vida do homem passou naturalmente a ficar restrita a
uma determinada rea geogrfica, pois ali comeou a encontrar o seu sustento. Essas
transformaes aliadas a descoberta da luz, atravs do fogo, mudaram a Histria do homem
das cavernas, mudaram a Histria do Mundo.
2.4 A LUZ NO CAMPO DE BATALHA
Inmeros foram os conflitos e personagens ao longo de nossos sculos da Histria
Mundial. As sucesses de confrontos marcaram, no somente a Histria, mas as Naes
vencedoras e vencidas. Entendemos, entretanto, que alguns ganharam notoriedade pela
proporo que tomaram e pelas informaes que eram divulgadas ao mundo. Dentre esses,
gostaramos de destacar a 1 e 2 Guerras Mundiais e a invaso de Bagd pelos Estados
Unidos da Amrica no incio dos anos 90.
Durante nossa pesquisa bibliogrfica, buscamos localizar qual conflito militar
teria sido o primeiro a utilizar alguma fonte de luz em combate como elemento de fora
onde no logramos xito, todavia, descobrimos um especial que marcou a Histria: a Guerra
dos Balcs.
Segundo Gilbert [2005] na primeira guerra dos Balcs, durante a noite, em
fevereiro de 1913, tropas blgaras, utilizaram um holofote durante disparos efetuados contra
as tropas turcas.
34
Posteriormente a esse perodo, a Guerra do Golfo em 1991 assombrou o mundo,
pela tecnologia empregada onde tnhamos a oportunidade de ver em tempo real, algumas
aes dos aliados, liderados pelos Estados Unidos.
A revista Veja (1991), cujo ttulo da reportagem foi Tempestade de fogo,
relatou:
A noite sem lua em Bagd virou dia. Um dia assustador, aquele que o mundo inteiro
esperou durante cinco meses e meio, primeiro descrente de que chegaria, depois
torcendo para que no viesse e por fim quase que se curvando diante da fatalidade da
marcha da Histria. Sobre o bero da civilizao, a Mesopotmia frtil dos livros de
escola, a Babilnia dos delrios de poder de monarcas do passado, de grandes
batalhas e vcios inconfessveis, a primeira guerra quente do mundo ps-Guerra Fria
comeou pouco antes das 3 horas da madrugada de quinta-feira no Golfo Prsico.
Uma guerra ps-moderna, como nunca se viu antes fora das telas do cinema e dos
monitores de videogame. Uma guerra com nome de filme - Tempestade no Deserto , assistida ao vivo pela televiso [...]
No incio da "me de todas as batalhas", segundo a retrica grandiloqente [...]
Obedecendo ao declarado e sensato objetivo de causar o menor nmero de baixas
entre a populao civil, o ataque areo americano instaurou no vocabulrio blico
uma expresso tambm emprestada da medicina: preciso cirrgica, sinnimo da
exatido milimtrica exibida pelas estrelas da guerra tecnolgica. O primeiro lote de
resultados da videoguerra foi to espetacular que o principal inimigo dos americanos
parecia ser uma das mais deliciosas sensaes da mente humana: a euforia.
Temos aqui a descrio de uma demonstrao tecnolgica de ltima gerao na
poca a qual foi empregada nesse conflito internacional envolvendo a retomada do Kwait,
aps a invaso do Iraque.
Passou mais de uma dcada e novamente o mundo se v diante de mais um
conflito envolvendo o Iraque. Uma fora militar internacional usa da fora para invadir o
Iraque e retirar do poder Sadan Hussein. Mais uma vez, o mundo acompanha pela mdia
televisiva algumas das aes dos aliados3 e toda a sua demonstrao blica.
De acordo com a revista Veja (2003), na seo Internacional, essa trata do poder
blico Americano, onde encontramos o seguinte relato:
[...] A estrutura militar enviada pelos Estados Unidos para cercar o Iraque
impressionante. Tome-se o caso da e-bomb, que ao explodir no destri prdios. Em
vez disso, ela emite pulsos de energia eletromagntica que queimam equipamentos
3
Aliados a denominao dada s foras militares, lideradas pelos Estados Unidos da Amrica, que contaram
com o apoio da Inglaterra e outros pases.
35
de comunicao e computadores. At o sistema de ignio dos veculos militares
inimigos deixa de funcionar. Teleguiados por satlites, os msseis americanos so
capazes de se desviar de barreiras e alterar a rota durante o percurso, o que lhes
garante uma preciso quase milimtrica.
[...]
A mais recente demonstrao do poderio americano para a guerra foi apresentada ao
mundo na semana passada. Trata-se da arma no nuclear mais potente j inventada.
Chamada de Moab, apelidada de mother of all bombs ("me de todas as bombas"),
[...] Quando chega ao alvo, explode e devasta o que est a 1 quilmetro de raio do
epicentro. [...] o soldado americano est paramentado com a mais eficiente carcaa
protetora da histria. O colete resiste a projteis disparados por fuzis, o soldado
carrega um aparelho GPS, capaz de "enxergar" noite com perfeio graas a
um sistema infravermelho e utiliza culos blindados. [...]Hoje, o poder de fogo de
um americano no front equivale ao de 650 combatentes da I Guerra Mundial. E a
cincia ainda promete muitos avanos para os prximos anos. At 2010, o soldado
americano estar usando um capacete com cmera de vdeo e um visor que funciona
como tela de computador, na qual se podem ler mapas e dados on-line. A
"armadura" ser 100 vezes mais resistente. Para que isso se torne realidade, sero
necessrios investimentos cada vez maiores. [...] (grifo nosso)
Podemos perceber que o investimento no campo blico militar muito grande por
parte dos Estados Unidos, conforme se pode constatar nas reportagens acima, contudo, muitos
dos equipamentos que so desenvolvidos para a guerra, por vezes aps o seu emprego nos
campos de batalhas, so disponibilizados as polcias daquele Pas. Embora, os culos de viso
noturna no disponham de um sistema de emisso de luz para o ambiente, o sem emprego na
guerra em larga escala, demonstra a preocupao nos combates noite.
Segundo o documentrio A Fora Militar do Sculo 21 Fora de Ataque
(2008) esse apresenta todo o poder blico de que dispem os Estados Unidos, onde so
destacados os Tanques M1A2 Abram e Bradley; os helicpteros Apache, Blackhawk e Kiowa;
os msseis Stinger e TOW, os veculos de locomoo por terra chamados de Humvee; alm
dos diversos equipamentos e armamentos utilizados pelos soldados americanos, bem como
seu treinamento. Aqui temos uma idia do quanto o homem evolui a cada dia no campo
militar, descobrindo e inovando seu arsenal blico. Neste documentrio, a presena de
lanternas acopladas s armas portteis dos militares se faz presente.
Este autor teve a oportunidade de comprovar tal fato, durante o Curso Super
SWAT realizado em abril de 2007 nos Estados Unidos da Amrica, ao visitarmos o
Departamento de Polcia da cidade de Austin, no Texas. L nos foram mostrados alguns dos
equipamentos que aquele Departamento de Polcia havia recebido como doao do Exrcito
norte-americano aps o conflito no Golfo Prsico.
36
2.3 NOTAS INTRODUTRIAS SOBRE OS GRUPOS DE OPERAES ESPECIAIS
Para que possamos compreender a existncia dos grupos de operaes especiais
nas polcias militares e em especial na Polcia Militar de Santa Catarina, precisamos buscar as
origens desses junto as Foras Especiais. Para tanto, precisamos ter noo conceitual acerca
do tema.
2.3.1 Operaes Especiais e Foras Especiais conceituao
No stio da Revista Militar (2009), encontramos a seguinte conceituao para
Operaes Especiais:
Operaes Especiais so as aes militares, de natureza no convencional,
desenvolvidas em qualquer tipo de ambiente operacional e executadas por foras
militares para o efeito organizadas, em cumprimento de misses de mbito
estratgico, operacional ou eventualmente tctico, com elevado grau de
independncia e em condies de grande risco, de forma independente, em apoio ou
como complemento de outras operaes militares. As foras militares organizadas,
preparadas e treinadas para realizar este tipo de operaes designam-se por Foras
de Operaes Especiais.
Conforme Magnoli (2008), o emprego de grupos especiais em atuao por trs das
linhas inimigas, passou a ser explorado pela primeira vez, durante a Segunda Guerra Mundial,
e durante a Primeira Guerra do Golfo foi utilizado com grande sucesso.
Essas tropas
especiais so empregadas em diversas situaes, inclusive podem ter a misso de auxiliar para
que agentes de informaes sejam infiltrados no campo inimigo em busca de subsdios que
sero repassados aos comandantes militares.
2.3.2 Foras Especiais Origem
Segundo o stio da PMRN (2009) tropas tidas como especiais em funo de seus
integrantes, do treinamento e armamento que possuam, so identificadas em vrias pocas da
nossa Histria, principalmente a partir da 2 Guerra Mundial.
Historicamente, podemos citar como a primeira Operao Especial Militar da
Histria o A Guerra de Tria, que aps muita especulao sobre a sua real existncia, hoje se
sabe em razo de descobertas arqueolgicas que tal conflito militar ocorreu. Nesse sentido no
stio da PMRN (2009), encontramos um artigo cujo ttulo Tropa de Elite, que assim afirma:
Ao pesquisar as origens mais longnquas das Tropas de Elite, chega-se na
operao Cavalo de Tria ocorrida em 1200 A/C, quando um grupo de
combatentes gregos escondidos dentro de um cavalo de madeira entrou no territrio
37
inimigo na cidade Tria e, de forma furtiva, conseguiram franquear o acesso do
restante da tropa, momento esse descrito na obra A Ilada de Homero quando
Ulisses disse a seus homens: Prncipes, lembrai-vos de que a audcia vence a
fora. tempo de subir para o nosso engenhoso e prfido esconderijo. J dentro da
cidade de Tria, com a ajuda hbil de Epeu, Ulisses abriu sem rudos os flancos do
animal e, pondo a cabea para frente, observou por todos os lados se os troianos
vigiavam. No vendo nada e ouvindo apenas o silncio, tirou uma escada e desceu a
terra. Os outros chefes, deslizando ao longo de um cabo, seguiram-no sem tardar.
Quando o cavalo havia, devolvido todos noite sombria, uns apressaram-se a
comear o massacre e os outros, caindo sobre as sentinelas, que em lugar de vigiar,
dormiam ao p das muralhas descobertas, degolaram-nas e abriram as portas da
ilustre cidade do infeliz Priamo, da a expresso: presente de Grego. (grifo nosso)
Ainda no mesmo artigo, o seu autor, Cap PMSP Luca, estabelece que embora
tenhamos um espao temporal que nos separa daquela Guerra, podemos perceber o quanto
nfimo quando nos mostra que as principais caractersticas daqueles guerreiros de outrora,
esto presentes nos militares e policiais militares que compem os Grupos de Operaes
Especiais da atualidade, quando assim continua seu pensamento: Percebe-se dessa narrativa
alguns elementos muito tpicos das Tropas de Comandos presentes at hoje. A ao audaz,
engenhosa, furtiva, letal e com objetivo definido caracteriza esse tipo de combatente.
A este propsito, o stio Suapesquisa (2009) expe o conflito: A Guerra de Tria
foi um conflito blico entre aqueus (um dos povos gregos que habitavam a Grcia Antiga) e
os troianos, que habitavam uma regio da atual Turquia. Esta guerra, que durou
aproximadamente 10 anos, aconteceu entre 1300 e 1200 a.C..
Ainda sobre esse combate pico, o stio Brasilescola (2009) nos traz a seguinte
informao:
Os conflitos com os troianos se alongaram durante muito tempo. Alm disso, a
cidade de Tria, sendo uma regio cercada por muralhas intransponveis, resistia
inclume s tentativas de invaso dos gregos. Visando dar um fim ao combate, o
astuto Odisseu ordenou a construo de um enorme cavalo feito de madeira. Em seu
interior,
centenas
de
soldados
ficariam
espreita.
As tropas martimas gregas foram todas dispensadas, enquanto o cavalo
recheado com os mais bravos guerreiros gregos seria posto nas portas da
cidade de Tria. Os troianos ao receberem o presente de grego e perceberem a
partida dos navios, pensaram que a guerra tivesse sido ganha. Pensando que o cavalo
fosse um presente dos deuses, os troianos receberam a construo de madeira para
dentro da cidade e realizaram uma grande festividade. (grifo nosso)
No alto da noite, quando todos os troianos estavam bbados e sonolentos, o grego
Sinon (nico guerreiro deixado para fora do cavalo de madeira) tratou de libertar os
guerreiros escondidos. Aproveitando da situao, os guerreiros gregos finalmente
conseguiram conquistar a cidade de Tria.
Ainda na antiguidade, outras tropas que podemos citar como voltadas a Operaes
Especiais so a Guarda Pretoriana e as Legies Romanas.
38
No stio Clubedosgenerais (apud stio Tropaselite, 2009) a Guarda Pretoriana
assim apresentada:
A Guarda Pretoriana era um corpo militar de elite formado para proteger os
imperadores romanos e sua famlia. [...] Vestiam-se de forma diferenciada, e as
guardas reais do presente sculo so as suas herdeiras no que tange a questo de
proteo da famlia real. [...] (grifo nosso)
A histria da Guarda Pretoriana comea nos ltimos anos do sculo I a.C. e nos
primeiros do sculo I d.C. com Augusto, [...]. O termo Guarda Pretoriana quer dizer
"A Guarda do Pretrio", o praetorium, era a parte central do acampamento de uma
legio romana e onde ficavam alojados os oficiais superiores dessa legio. [...]
Pelo ano 13 a.C. Octavio, agora Augusto, imperador de Roma, regulamentou a
Guarda Pretoriana como uma unidade especial militar, cuja funo era a
proteo da Famlia Imperial. (grifo nosso)
[...]
Considera-se Tibrio como um segundo fundador da Guarda Pretoriana, e por ter
sido Tibrio o criador da Praetoria Castrates, a Guarda Pretoriana passou usar o
escorpio, que era o signo de Tibrio, como distintivo da unidade militar, nos
seus escudos e no seu estandarte, o vexillum. (grifo nosso)
[...]
Os melhores cavaleiros eram enviados para uma centria especial e eles
formaram a unidade de elite do Guarda Pretoriana, chamada de speculatores
augusti, que formavam a guarda mais prxima do imperador. Eles eram o seu
escudo pessoal, sempre a sua volta, os seus homens de extrema confiana [...]. Os
pretorianos geralmente chegavam a Guarda atravs de seus servios nas legies.
Eles tinham que ser muito bem recomendados, passar em alguns exames,
conhecimentos e testes fsicos exaustivos e servir como candidato ou probatus por
um certo tempo [...] (grifo nosso)
Fig. n 01 Soldados da Guarda Pretoriana
Fonte: stio de Tropaselite
Outra fora militar histrica e talvez uma das maiores de todos os tempos,
tambm encanta a estudiosos e apaixonados por Foras Militares Especiais: as Legies
Romanas. Acreditamos que a citao a seguir mais que uma narrativa histrica da origem e
39
formao desta importante Fora Militar que outrora teve seu poderio incontestvel, qui
seja o bero de sentimentos, doutrinas e tticas ainda hoje consideradas vlidas.
O Imprio romano foi a maior potncia de sua poca. [...] Portanto, Roma era uma
potncia mundial, a primeira potncia europia em escala mundial.
[...]
O poder de Roma era materializado na legio romana, corpo militar que superou
tudo o que at ento se conhecia em termos militares na Antigidade. No sem
razo que da palavra legio (legio), fora blica, extraiu-se a palavra legge (lei).
A lei, para os juristas romanos, respaldava-se em ltima instncia na fora.
[...]
Os romanos aproveitaram o mximo das capacidades das suas legies, como a
disciplina, a resistncia, a tecnologia superior, e principalmente a faculdade de
atuar como um corpo nico, que transformava cada legio num mini-exrcito
altamente eficiente, para realizar as suas grandes conquistas. (grifo nosso)
[...]
Cada legio romana completa tinha um efetivo de 5.000 a 6.000 soldados [...].
Disciplinados e bem treinados [...] (grifo nosso)
A organizao e a disciplina das legies era impar em sua poca. Os legionrios
eram capazes de, arrumados em linhas (veliti, manipoli di astati, principi, e di
triarii), onde recrutas e veteranos se intercalavam, enfrentar contingentes de foras
muito superiores as suas, graas coeso e s tticas de luta em conjunto em que se
exercitavam [...]
Os recrutas e soldados novos recebiam adestramento constante de manh e tarde;
nem a idade nem o conhecimento serviam de desculpa para eximir os veteranos da
repetio diria daquilo que j haviam aprendido completamente.
[...]
Os soldados eram diligentemente instrudos a marchar, correr, saltar, nadar, carregar
grandes pesos; manejar qualquer espcie de arma que fosse usada para ataque ou
defesa, quer no combate distncia, quer na luta corpo a corpo; fazer variadas
evolues; [...]
O maior elemento de triunfo no exrcito romano da Repblica estava na disciplina.
[...]
A lealdade das tropas romanas aos seus estandartes, em que estava a guia e as
letras SPQR (Senatus Populesque Romanus - Senado e Povo de Roma), era
inspirada pela influncia conjunta da religio e da honra. A guia que rebrilhava
frente da legio tornava-se objeto da sua mais profunda devoo; era
considerado to mpio quo ignominioso o abandono dessa insgnia sagrada numa
hora de perigo. (grifo nosso)
[...] (TROPASELITE, 2009).
Fig. n 02 Soldados das Legies Romanas
Fonte: stio de Tropaselite
40
Como podemos verificar, a presena militar sempre fez parte de nossas vidas,
desde a antiguidade, pois nos triunfos, nas conquistas, na ordem das cidades, na soberania dos
Imperadores, l estavam presentes as Foras Militares, como abnegados guerreiros detentores
de sentimentos muito fortes, os quais podiam ser observados em sua simbologia, em seus
fardamentos e em sua disciplina, caractersticas que, os identificavam como integrantes da
mais forte representao do poder de um Imperador naquela poca.
Outras heranas daquela poca so a disciplina de campo; o reconhecimento e a
inteligncia; o servio militar; a preocupao com as raes e provises; equipamento e
alimento individual e o corte do cabelo. (TROPASELITE, 2009).
Dentro de uma concepo militar atual, os Rangers do Exrcito dos Estados
Unidos da Amrica so um marco como Fora Militar de Operaes Especiais, dentro da
conceituao j mencionada.
No stio Tropaselite (2009) assim descrita a trajetria inicial dos Rangers:
A histria dos Rangers americanos pode ter comeado no-oficialmente com a
criao do Rangers de Rogers na poca pr-revoluo americana durante a guerra
contra os franceses e os ndios. Seguindo estes temos os Ranges de Francis Marion
da Revoluo americana e os Rangers de John S. Mosby da Guerra Civil americana
[...]
A origem dos Rangers esta localizada antes da criao da nao americana. O
termo "Rangers" evoluiu desde o dcimo terceiro sculo na Inglaterra, quando foi
usado para descrever algum que vivia na fronteira. Pelo sculo, o termo serviu
como ttulo para organizaes militares, como os "Rangers da Fronteira" que
defenderam a fronteira entre a Inglaterra e Esccia [...] (grifo nosso)
Os Rangers de hoje do Exrcito dos EUA podem localizar a sua origem
histrica por volta do ano de 1670. Nesta poca o Capito Benjamim Church
organizou uma companhia de tropas e a designou de Rangers.[...] Durante as
Guerras francesas e ndias de 1754 a 1763, nove companhias de Rangers foram
organizadas sob as ordens do Major Robert Rogers para lutar ao lado dos britnicos.
Rogers era um chefe brilhante e persuasivo e publicou em 1756 uma lista de 28
normas operacionais que visavam dar ao combatente uma orientao sobre tticas
[...] (grifo nosso)
As regras de Rogers' so to pertinentes que ainda hoje so adotadas pelos Rangers.
[...]
Em 1777, estes soldados foram colocados sob as ordens de Dan Morgan e foram
identificados como "Corpo Rangers". Tambm durante a revoluo americana, foi
criada uma fora de 150 homens especialmente escolhidos para misses de
reconhecimento e batizada de Rangers de Connecticut.
[...]
Em janeiro de 1812, foram criadas seis companhias de Rangers para proteger os
colonos da fronteira Oeste. O prprio General Andrew Jackson, criou uma
companhia de Rangers em 1818. Em 1832, um batalho Ranger foi formado para
lutar contra os ndios. Tambm durante os anos de 1830, os Texas Rangers foram
criados e empregados ao longo da fronteira do Texas [...]
A segunda parte da histria dos Rangers americanos tem seu incio com a formao
dos Rangers de Darby, durante a Segunda Guerra Mundial.
41
Segundo Tropaselite (2009), os Rangers foram fundamentais para a tomada da
Normandia em 06 de junho de 1944, como que ficou conhecido como o Dia D. Ao longo de
sua Histria, os Rangers sempre estiveram presentes nos principais conflitos militares em que
os Estados Unidos da Amrica participaram e suas aes o tornaram uma das Tropas de
Operaes mais respeitadas no mundo.
Fig. n 03 Soldado Ranger
Fonte: stio de Tropaselite
Na Fig. n 03, o stio Tropaselite (2009) assim a ela se refere:
Este Range do 1 Batalho em operao no Iraque, usa o novo uniforme camuflado
com trs cores. Seu capacete o MICH com o Wilcox NOD montado. Suas botas
so Danner Acadia. Ele usa um colete CIRAS Land com a cor marron coyote. Ele
tem uma escopeta Remington 870 pendurada e seu rifle um 5.56x45mm M4A1
com lanador de granada M203 de 40mm, onde est montado um PEQ-2, com um
M68
Aimpoint e uma lanterna Surefire. Esta arma foi pintada a mo em um padro de
camuflagem. (grifo nosso)
Segundo o stio Tropaselite (2009) h outras tropas de elite norte-americanas de
grande importncia para as Foras Armadas daquele Pas, podemos citar o Delta, o SEAL e
outros. Outras tropas militares de elite se formaram no mundo a partir das idias de
concepo, seleo, treinamento, armamento e misso dos Rangers, dentre as quais
destacamos o Special Air Service (SAS) da Inglaterra, criado em 1941.
42
2.3.3 SWAT Origem
Para que possamos compreender um pouco mais os grupos de operaes especiais
existentes no Brasil, em especial em Santa Catarina, se faz necessrio que tenhamos uma
noo de como surgiu a SWAT norte-americana.
Narloch, Ratier e Versignassi (2007, p. 62) escrevem: Criada no fim dos anos 60
em Los Angeles para enfrentar grupos paramilitares, como os Panteras Negras [...].
No stio do LAPD (2009), encontramos a seguinte meno sobre a SWAT daquele
Departamento de Polcia:
Desde 1967, a Polcia de Los Angeles de Armas e Tticas Especiais Team (SWAT)
tem fornecido uma pronta resposta a situaes que estavam alm das capacidades do
Departamento normalmente equipadas e pessoal treinado. Desde o seu incio,
LAPD SWAT os membros da equipa tm afectado a segurana da salvao de
numerosos refns, detidos pontuao de suspeitos violentos e ganhou centenas de
comendas e citaes, incluindo vrias Medalhas de Valor, o Departamento do maior
prmio de herosmo na linha de dever. Hoje, o LAPD SWAT conhecido
mundialmente como uma das primeiras unidades policiais ttico na
contemporaneidade da aplicao da lei. (grifo nosso)
Embora, tropas especiais ou grupos j existissem antes da criao da SWAT, o
seriado apresentado na televiso, desencadeou uma febre pelas imagens expostas e um
grande poder de exaltao profissional a quem participava de um grupo de elite. (O GLOBO,
2009).
No tardou, para que outras metrpoles, em razo de fatos reais, sentissem a
necessidade da criao de grupos policiais especializados em ocorrncias que fugiam
normalidade. A interao entre as diversas polcias militares, fez com que houvesse a
difuso de sua importncia, desse ponto, partir para a criao de uma Unidade Operacional,
em um Estado, foi um trabalho que exigiu convencimento e investimento, mas que a realidade
tratou de consolidar.
2.3.4 Foras Especiais no Brasil Origem
O incio das Foras Especiais nas Foras Armadas em nosso Pas teve seu
princpio com os Fuzileiros Navais, quando da vinda para o Brasil da Famlia Real
Portuguesa, que chegou ao Brasil em 07 de maro de 1808. A formao dessa tropa ocorre no
Centro de Instruo Almirante Milclades Portela Alves (CIAMPA), local que considerado
bero do soldado fuzileiro, cuja origem remontam aos idos de 1934. (TROPASELITE, 2009).
No entanto, quando falamos em Foras Especiais no Exrcito Brasileiro, a
43
Histria nos conduz a histrica Fora Expedicionria Brasileira (FEB) e sua participao num
dos piores conflitos de nossa Histria: a 2 Guerra Mundial. Inmeras foram as batalhas
durante o perodo de sua participao no conflito. (TROPASELITE, 2009).
Fig. n 04 Soldados da FEB na 2 Guerra Mundial
Fonte: stio de Tropaselite
Deixar de ressaltar a FEB, acreditamos, seria solapar a Histria Militar de nosso
Pas, e sua grandiosa participao talvez possa aqui ser representada pela manifestao a
seguir:
Chegara o dia da vitria para os Exrcitos Aliados no teatro de guerra da Itlia (2 de
maio de 1945). Na justa avaliao da imensa alegria com que inundava as coraes
brasileiros to transcendente quo auspicioso acontecimento, o general Mascarenhas
de Moraes baixou, a 3 de maio, a Ordem do Dia, da qual se reproduz o trecho
seguinte: "Aps oito meses de luta, em que, como todos os Exrcitos, sofremos
pesados reveses e obtivemos brilhantes vitrias, o balano de uns e outros ainda
favorvel s nossas armas. Desde o dia 16 de setembro de 1944, a FEB percorreu,
conquistando ao inimigo, s vezes palmo a palmo, cerca de quatrocentos
quilmetros de Lucca a Alessandria, pelos vales dos rios Sherchio, Reno e Panaro e
pela plancie do P; libertou quase meia centena de vilas e cidades; sofreu mais de
duas mil baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos; fez o considervel nmero de
mais de vinte mil prisioneiros, vencendo pelas armas e impondo a rendio
incondicional a duas Divises inimigas. um registro deveras honroso e de vulto
para uma Diviso de Infantaria. Um dia se reconhecer que o seu esforo foi
superior s suas possibilidades materiais, porm plenamente consentneo com a
noo de dever e amor responsabilidade, revelados pelos nossos homens em todos
os degraus e escales da hierarquia, e em todas as crises e circunstncias da
Campanha, que neste instante acabamos de encerrar. Regressamos com feridas ainda
sangrando dos ltimos encontros, mas, nunca, pela nossa atuao, o prestgio e nome
do Brasil periclitaram ou foram comprometidos". (TROPASELITE, 2009).
De acordo com o stio Tropaselite (2009) em razo da participao do Brasil na 2
Guerra Mundial, foi criado em 18 de dezembro de 1943 o 1 Grupo de Aviao de Caa (1
GAvCa). Era criada a nossa Tropa Especial dos ares.
44
Fig. n 05 Avio P-47D Thunderbolt
Fonte: stio Tropaselite
Como podemos observar, o Brasil tem uma rica Histria militar, que nos revela
participaes de uma magnitude sem igual. Somente conhecendo essa Histria que
poderemos compreender nosso presente.
Apesar das Foras Especiais estarem presentes tambm na Marinha e na
Aeronutica, no Exrcito que encontraremos o embrio para que no futuro fossem criados os
Batalhes de Operaes Especiais nas polcias militares.
No stio Tropaselite (2009) a origem das Foras Especiais assim referenciada:
As origens das foras especiais brasileiras remontam ao ano de 1953, quando
oficiais e sargentos pra-quedistas integraram uma unidade de salvamento. Esse
grupo, inspirado na doutrina das Special Forces e dos Rangers do exrcito
norte-americano, deu incio formao dos especialistas do Exrcito Brasileiro
em Operaes Especiais. O primeiro curso foi realizado em 1957. As Foras
Especiais do Exrcito Brasileiro tiveram atuao destacada na eliminao de focos
de guerrilha no Brasil nas dcadas de 60 e 70, desenvolvendo, inclusive, doutrina
prpria de contraguerrilha aplicada e aprovada no combate a guerrilheiros no meio
rural. (grifo nosso)
Segundo Tropaselite (2009), em 1 de novembro de 1983 criado o 1 BFEsp
(Batalho das Foras Especiais) e em face a um novo cenrio regional sul-americano, com o
crescimento da narcoguerrilha, em janeiro de 2004 ativada a Bda Op Esp (Brigada de
Operaes Especiais). Essa criao visou tambm, colocar o Brasil em condies de uma
participao mais decisiva em acontecimentos mundiais e para tanto, ter uma tropa destinada
a operaes especiais para atuar em quaisquer circunstncias, como em misses de Paz da
ONU, foi crucial.
45
Fig. n 06 1 B F Esp
Fonte: stio Tropaselite
Fig. n 07 Sd do 1 B F Esp em treinamento
Fonte: stio Tropaselite
Alm da Brigada de Operaes Especiais, temos as Brigadas de Selva, que forma
seus militares no Centro de Instruo de Guerra na Selva (CIGS), na cidade de Manaus/AM.
Esses militares cumprem misses nas reas mais inspitas da Amaznia e de seus cursos,
participam integrantes das Foras Armadas, Polcias Militares, Corpos de Bombeiros e
Militares de outras Naes.
Dentre outras Tropas de Operaes Especiais que compem as Foras Armadas
brasileiras, podemos ainda citar a Brigada de Infantaria Pra-quedista; a Brigada de Infantaria
Leve; o Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC); o Esquadro Aero terrestre
de Salvamento (PARA-SAR); o 72 Batalho de Infantaria Caatinga; 11 Batalho de
Infantaria de Montanha. (TROPASELITE, 2009).
2.3.5 Batalhes de Operaes Especiais nas Polcias Militares (BOPE) Origem
Essa busca pela origem, nos conduz as Tropas Comando da 2 Guerra Mundial e
no stio da PMRN (2009), encontramos um artigo que assim cita:
Esse modelo de Tropa de Comandos deu to certo que acabou por inspirar vrios
grupos tticos nas polcias do mundo todo; o maior vetor nesse sentido foram as
SWATs na dcada de 60 nos Estados Unidos e seguindo um modelo semelhante
foram criados o GSG9 na Alemanha, GIGN na Frana, GEO na Espanha, as Fuerzas
Especiales na Argentina e no Brasil os vrios grupos especiais das Polcias Federal e
Estadual, sendo o BOPE do Rio de Janeiro o mais antigo [...]
Em se tratando das origens, Narloch, Ratier e Versignassi (2007, p. 62) escrevem:
A onda chegaria ao Brasil nos anos 70. Foi quando a Polcia Militar de So
Paulo criou sua tropa mais temida, a Rota. Tambm uma tropa de reserva,
como aquela de Xangai: o papel dela no fazer patrulhas, mas entrar em ao
enquanto o crime estiver acontecendo e resolver a questo. Enquanto a Rota j
46
estava na rua por aqui, uma polcia de elite dos EUA comeava a ganhar fama
mundial. Ele mesma: a Swat (sigla em ingls para Armas e Tticas Especiais).
(grifo nosso)
Sem dvida alguma a ROTA a Unidade Operacional mais antiga do que
qualquer outro Batalho de Operaes Especiais (BOPE), mas entendemos que quando
falamos de BOPE nas Polcias Militares em nosso Pas o marco zero seria O BOPE da
Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro. No stio da Polcia Militar do Rio Grande do
Norte, encontramos a seguinte informao:
As Tropas de Elite, no meio policial, foram efetivamente influenciadas na sua
criao pelas Tropas de Comandos da 2 Guerra Mundial que eram
constitudas por grupos de militares que, apenas com seu equipamento individual,
faziam incurses relmpago em territrio inimigo com a finalidade de matar e
destruir; portanto, matar o inimigo e destruir seus suprimentos e instalaes
constituam em geral os objetivos principais de uma Tropa de Comandos.
Esse modelo de Tropa de Comandos deu to certo que acabou por inspirar vrios
grupos tticos nas polcias do mundo todo; o maior vetor nesse sentido foram as
SWATs na dcada de 60 nos Estados Unidos e seguindo um modelo semelhante
foram criados o GSG9 na Alemanha, GIGN na Frana, GEO na Espanha, as Fuerzas
Especiales na Argentina e no Brasil os vrios grupos especiais das Polcias Federal e
Estadual, sendo o BOPE do Rio de Janeiro o mais antigo [...] (POLCIA
MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009). (grifo nosso)
De acordo com o site oficial do BOPE/PMRJ (2009), a origem dessa Unidade
comea a surgir em 19 de janeiro de 1978, com a criao do Ncleo da Companhia de
Operaes Especiais (NuCOE), atravs de um projeto elaborado e apresentado poca, pelo
ento Capito PM Paulo Cesar Amendola de Souza ao Comandante-Geral da PMERJ,
Coronel do EB Mrio Jos Sotero de Menezes. Essa semente teve incio naquele ano.
Em 1984, recebeu a denominao de Ncleo da Companhia Independente de
Operaes Especiais (NuCIOE). Em 1988 ganhou autonomia administrativa, recebendo o
nome de Companhia Independente de Operaes Especiais (CIOE). Em 1991 foi
transformado em Batalho, mantendo-se ainda aquartelado no Regimento Marechal Caetano
de Farias, sede do Batalho de Polcia de Choque, entre outras unidades policiais, ganhando
sua sede prpria no bairro das Laranjeiras, somente no ano de 2000.
Segundo O Globo (2007), foi tambm o Coronel Paulo Csar Amendola quem
idealizou o smbolo do grupo: um crnio com um punhal encravado de cima para baixo, que
significa a vitria sobre a morte e, duas pistolas cruzadas. Na dcada de 1980, foi
transformado na COE (Companhia de Operaes Especiais). O Coronel Amendola teria se
47
reportado ao seriado norte-americano Special Weapons And Tactics (SWAT) -, divulgado no
Brasil, no final dos anos setenta, para criar na poca o que hoje conhecemos como BOPE,
recebendo essa designao em 1991.
Fig. n 08 Smbolo do BOPE
Fonte:http://www1.folha.uol.com.br
Fig. n 09 Cel RR PMRJ Amendola
Fonte: http://oglobo.globo.com
2.3.6 BOPE da Polcia Militar de Santa Catarina Origem
Todos os Estados da Federao, por certo j passaram por situaes envolvendo
ocorrncias policiais que lhes exigiu o emprego de uma tropa mais especializada. Em Santa
Catarina isso no foi diferente. As chamadas operaes especiais fazem parte da Histria do
Estado h mais de 30 (trinta) anos.
No stio oficial do BOPE/PMSC (2009), encontramos uma pequena sinopse
histrica do Batalho, que assim menciona:
[...] Operaes Especiais em Santa Catarina, que foram iniciadas com a criao do
extinto Pelopes da PMSC.
Desde 1978, a atividade de operaes especiais na PMSC sofreu grandes
modificaes, sempre no sentido de acompanhar da melhor maneira a dinmica
scio-jurdica nacional. Naquela poca, a unidade surgiu com um propsito de estar
simplesmente voltada s aes de contra-guerrilha revolucionria.
Hoje, o batalho procura cada vez mais estar voltada para uma realidade
extremamente diferenciada: est diuturnamente pronto para garantir a proteo e
defesa do cidado, a garantir a vida, a integridade fsica e o cumprimento da lei.
Inicialmente, a unidade recebeu a denominao de Pelopes. Posteriormente, se
transformou em Companhia de Polcia de Choque, onde exista o Grupo de
Operaes Especiais (GOE).
48
Em um outro momento, passou a ser o Batalho de Operaes Especiais (BOE), at
receber a atual denominao de Batalho de Operaes Policiais Especiais
(Bope). Durante todos estes anos, o Bope participou e tem participado de momentos
decisivos e marcantes da histria da corporao. Sempre foi referncia estratgica do
Comando Geral.
Fig. n 10 Braso do BOPE/PMSC
Fonte: stio oficial do BOPE/PMSC
Fig. n 11 Guarnies do BOPE/PMSC
Fonte: stio oficial do BOPE/PMSC
Essa tropa passou a se distinguir dos demais integrantes da Polcia Militar, pelo
rigoroso treinamento do homem, pelo aparato blico e pelo uniforme, denominado camuflado
urbano, hoje, substitudo pelo preto.
A Polcia Militar de Santa Catarina editou no ano de 2001 a Diretriz Permanente
n 034/Cmdo-G com o fito de definir e delinear as aes das Operaes Especiais,
Patrulhamento Ttico e Aes de Choque, em nosso Estado.
Segundo a Diretriz Permanente n 034/Cmdo-G/PMSC (2001) o BOPE dentre as
misses que lhe so afetas em todo o territrio catarinense, destacam-se as operaes de
altssimo risco, dentre as quais destacamos: operaes em favelas; resgate de refns; tomadas
de pontos sensveis; controle e dissuaso, quando necessrio, em apoio tropa de choque no
manifesto de movimentos sociais; cumprimentos de mandados de priso; localizao e
desarmamento de artefatos explosivos; etc.
Para fazer parte desse seleto Batalho, o candidato dever ser aprovado em um
dos cursos de operaes especiais que so disponibilizados na Unidade, que possuem durao
e conhecimento disponibilizado varivel, conforme o curso.
So os seguintes cursos a que um policial militar que queira fazer parte do BOPE,
poder freqentar:
Curso de Tticas Policiais;
CATE - Curso de Aes Tticas Especiais;
COESP - Curso de Operaes Especiais.
49
Em sua estrutura organizacional, o BOPE apresenta duas Companhias, a de
Choque e a de Operaes Especiais. Fazendo parte da Companhia de Operaes Especiais,
temos um grupo ainda mais treinado, voltado para as misses mais delicadas do BOPE, o
COBRA Comando de Busca, Resgate e Assalto. O COBRA, seguindo exemplo de outras
foras especiais, tem um pequeno efetivo, que atravs dos treinamentos busca maximizar
positivamente seus resultados.
Fig. n 12 Grupo COBRA em treinamento
Fonte: stio do BOPE/PMSC
Para fazer parte desse Grupo de Elite, o policial militar dever necessariamente ter
realizado aquele que considerado o mais rigoroso e exaustivo Curso na Polcia Militar: O
COESP.
O rigor e as exigncias a que so submetidos os candidatos a se tornarem um
policial de Operaes Especiais faz com que a cada edio do Curso, nem todos consigam
concluir o mesmo. Os policiais militares que pretendem participar do Curso sabem que deles
ser exigido o mximo, pois quando em situaes reais, estas pelas caractersticas especiais
que as revestem, lhes exigiro terem tido o melhor treinamento operacional. (NARLOCH,
RATIER e VERSIGNASSI, 2007, p. 62-68).
50
3. LUMINOSIDADE
Os grandes gnios nos mais diversos campos da cincia, da filosofia, da
antropologia, da msica, das artes, entre outras, nos deixaram ou nos deixam um legado de
informaes, de invenes e descobertas que so capazes de mudar a nossa vida para sempre.
Infelizmente, nem sempre, os gnios ganham o reconhecimento de que so merecedores em
vida, no entanto, a notoriedade de seus nomes, ficar marcada de forma indelvel na Histria,
atravs do brilho mgico oriundo de suas obras.
Para que possamos compreender esse importante equipamento denominado de
lanterna, necessitamos buscar na Histria, as descobertas que lhe antecederam, at chegarmos
concepo da lanterna propriamente dita.
3.1 A INVENO DA PILHA
De acordo com o stio da Ampres Automation (2008) a pilha como conhecemos
hoje, partiu de princpios eltricos que, na idade antiga, no ano 06 a.C., j eram referenciados
pelo matemtico, fsico e filsofo, Tales de Mileto. No entanto, foi somente no sculo XVIII,
que o fsico italiano Alessandro Volta (1745-1827), notvel professor da Universidade de
Pvia, inventou algo que iria revolucionar a Histria de seu tempo: a pilha.
Esse notvel professor da Universidade de Pvia, na qual ensinou fsica
experimental e foi seu reitor em 1785, nasceu na cidade de Camnago, que atualmente
chamada de Camnago Volta, uma homenagem a seu filho mais ilustre.
Na ampla matria que tem como ttulo Uma Importante Inveno, divulgada no
stio da Hottopos (2008), temos uma noo dos primeiros passos que antecederam a descoberta da
pilha. Em determinado trecho, assim assevera seus autores:
Na segunda metade do sculo XVIII, difundiu-se a idia da existncia de uma
eletricidade animal ", a partir de uma srie de observaes simples feitas por
muitos naturalistas...Em uma srie de experimentos iniciados no ano de 1780, Luigi
Galvani (1737-1798) descobriu que os msculos e nervos na perna de um sapo
sofriam uma contrao ou espasmo causados pela corrente eltrica liberada por um
gerador eletrosttico. A contrao muscular tambm aparecia quando o msculo era
colocado em contato com dois metais diferentes, sem que houvesse aplicao de
eletricidade externa. Galvani chegou concluso que certos tecidos orgnicos
geravam eletricidade por si prprios. Para ele estava claro que os msculos do sapo
eram capazes de gerar eletricidade animal, que ele julgou ser similar eletricidade
gerada por mquinas ou por raios.
51
Segundo ainda o stio da Hottopos (2008), Volta mesmo repetindo as experincias
do fisiologista italiano Luigi Galvani (1737-1798) e obtendo os mesmos resultados, todavia,
discordou da teoria dada por Galvani, por entender que havia uma explicao mais simples e
que o tecido animal era apenas um instrumento de conectividade que envolvia os metais.
Para demonstrar sua teoria, Volta realizou o seguinte experimento:
[...] teve a idia de amplificar o efeito eltrico colocando vrios pares de metais
diferentes em contato sucessivo (associao em srie, no jargo dos especialistas),
atravs de um terceiro condutor um papel ou tecido embebido em salmoura. Para
isso, construiu um aparelho que repetia, sistemtica e alternadamente, discos de
prata, zinco e papel ou tecido umedecido com gua e sal. Cerca de 30 desses
conjuntos de trs discos foram mantidos empilhados, apoiados em suporte de hastes
verticais de madeira. Quando aproximava as extremidades de dois fios de cobre, um
previamente ligado base e outro ao topo da pilha, saltava uma fasca eltrica. A
descarga do artefato tambm causava a contrao muscular da perna da r. Por isso,
Volta chamou seu aparelho de rgo eltrico artificial. Ele acabava de inventar a
pilha.
Volta, atravs de seu conhecimento e movido por grande obstinao, construiu a
primeira bateria, em 1799, que consistia de dois pedaos de metal distintos,
formados por zinco e prata, os quais eram separados por discos de papelo
umedecidos por uma salmoura e ligados em srie, atravs dos quais conseguiu obter
choques e fascas eltricas. (AMPRES AUTOMATION, 2008).
Para que possamos ter a dimenso do que representou a inveno da pilha de
Volta, basta que nos reportemos ao Primeiro Congresso Nacional de Eletrecistas, realizado
em Como, no ano de 1899, quando em seu discurso inaugural, o cientista Augusto Righi,
assim se manifestou:
No houve participao do acaso; ela foi o resultado de uma longa srie de pesquisas
e experincias engenhosas inspiradas em sucessivas dedues lgicas. A descoberta
no ser exclusivamente objeto de estudo, oferece um meio de pesquisa
potentssimo, fecundo, universal; devido a ela a cincia poder oferecer ao homem
uma energia multiforme, destinada a produzir uma mutao na civilizao humana
to profunda, que poder ser comparada somente ao uso do fogo em tempos
remotos. (HOTTOPOS, 2008).
A soluo definitiva da inveno de Volta e sua repercusso assim referenciada
na obra de Balchin (2009, p. 141):
Sua soluo decisiva surgiu em 1800, com a pilha voltaica, uma pilha de discos
alternados de prata e zinco, intercalados com camadas de papelo encharcadas de
gua com sal. Ao ligar um fio de cobre nos lados desse aparelho e fechar o circuito,
Volta descobriu que ele produzia uma corrente eltrica regular. Ele havia criado a
primeira bateria.
[...]
52
Napoleo, que na poca controlava o territrio onde Volta vivia, convidou o
cientista para demonstrar sua inveno em Paris, em 1801. Ele ficou impressionado
que nomeou Volta um conde e, mais tarde, senador, de Lombardia, e deu-lhe como
prmio a medalha da Legio de Honra.
A figura n 13 nos mostra a imagem original da pilha construda por Volta e que
encantou Napoleo. A figura n 14 nos mostra a imagem de uma pilha atual, comumente
encontrada no comrcio.
Comparando as duas figuras, temos uma idia do quanto evoluiu a forma de
armazenarmos energia, contando com baterias cada vez menores e mais potentes.
Fig. n 13 Pilha de Volta
Fonte: stio da Wikipdia
Fig. n 14 Pilha atual comum
Fonte: stio Mundo das Marcas
Na obra de Philbin (2006, p. 153-154), encontramos outros dados importantes
sobre a inveno da pilha:
[...] a pilha voltaica continuou sendo a nica forma prtica de eletricidade do incio
do sculo XIX. [...]
O passo seguinte foi o desenvolvimento, em 1859, de uma bateria de chumbo e
cido por Gaston Plante.
[...] No final do sculo XIX, o dnamo e a lmpada eltrica haviam sido
inventados. [...] houve a necessidade de sistemas de armazenamento de energia
eltrica.
[...] Existem dois grandes grupos de baterias: as primrias e as secundrias. As
baterias primrias (chamadas vulgarmente de pilhas), como as que utilizamos em
uma lanterna, so utilizadas at que percam a carga, sendo descartadas em seguida,
j que as reaes qumicas que fornecem energia so irreversveis, e depois do
trmino da reao no h possibilidade de serem reutilizadas.
[...] Apesar de a simples definio do que so e para que servem as baterias [...] a
variedade e o benefcio delas no podem ser subestimados.
53
A maneira como as pilhas so produzidas atualmente, Philbin (2006, p. 325)
assim descreve:
A pilha sofreu um aprimoramento em 1888, quando Carl Gassner, um cientista
alemo, conseguiu encapsular as substncias num recipiente de zinco selado. Isso a
tornou uma pilha seca, porque o contedo estava lacrado e o exterior da pilha
permanecia seco. At hoje as pilhas so produzidas dessa maneira.
Par que possamos compreender a evoluo das baterias ao estgio atual, a
Surefire (2009), apresenta os dados a seguir, que analisam alguns aspectos das vantagens das
baterias de Lithium em relao s alcalinas:
Item
Vantagem
temperatura ambiente, lithium podem ser armazenados 10 anos e continua a
Prazo de validade
fornecer cerca de 70% do seu poder. Pilhas alcalinas tm uma expectativa de vida
significativamente.
Pilhas de lithium funcionam em uma ampla gama de temperaturas (-60 a 80 C ou 76 F a 176 F), embora o poder seja reduzido nos extremos. Em contraste, as
Temperatura de
tolerncia
pilhas alcalinas funcionam mal abaixo de zero e em altas temperaturas.
temperatura tolerncia baterias de ltio tambm beneficia seu prazo de validade.
Guardar as pilhas alcalinas em altas temperaturas pode mat-las dentro de alguns
meses, mas lithium armazenados durante anos, a temperaturas semelhantes ainda
pode funcionar eficazmente.
Para um determinado tamanho (volume), lithium produzem mais energia do que as
Densidade de
pilhas alcalinas. Por exemplo, dado mesma dimenso e pilhas o mesmo poder de
potncia
carga, seriam necessrios cerca de 2,5 pilhas alcalinas para corresponder potncia
de uma bateria lithium.
Para um determinado tamanho (volume) lithium pesa cerca de metade tanto como as
Peso
pilhas alcalinas.
Por exemplo, uma pilha alcalina do tamanho de uma bateria
SureFire SF123 iria pesar cerca de o dobro.
Tenso
Terminal tenso de ltio de 3 volts em comparao a 1,5 para as pilhas alcalinas.
Uma pilha de lithium mantm bastante constante tenso para at 95% da sua vida,
dependendo da taxa de quitao. No moderado a elevado quitao de taxas, bateria
Tenso manuteno
alcalina tenso cai rapidamente devido resistncia bateria interna, que Resduos
poder. A grande reao rea lithium fornecida por uma bateria da ferida placa de
construo prev muito baixa resistncia interna, ideal para alta corrente cargas.
Tabela n 01 Vantagens das baterias de Lithium
Fonte: stio da Surefire
54
Fig. n 15 Modelos de pilhas
Fonte: stio da Surefire
Fig. n 16 Pilha Recarregvel Mod. B65
Fonte: Stio da Surefire
Como podemos perceber, essa importante inveno revolucionou a maneira de
armazenar energia, atingindo nveis de desenvolvimento at nossos dias atuais.
3.2 A INVENO DA LMPADA
Faz 151 anos que nasceu em 11 de fevereiro de 1847, na cidade de Milan, Ohio,
nos Estados Unidos da Amrica, um dos maiores inventores do sculo XIX e XX: Thomas
Alva Edison.
Entendemos que somente iremos atribuir o real valor a esse gnio se retirarmos de
nossas vidas, quaisquer uma de suas invenes. Ser que conseguiremos imaginar nossas
vidas, sem a lmpada eltrica, sem a transmisso de eletricidade, sem discos, sem cinema e
sem telefone. Em cada uma dessas invenes, Thomas Edison, figura como um dos inventores
ou contribuiu para o seu aperfeioamento. (BALCHIN, 2009, p. 197-198).
Embora no fosse um cientista, mas sim um autodidata, com uma invejvel
marca de mais de mil invenes patenteadas, tinha enorme capacidade de aproveitar
conhecimentos existentes para a produo de efeitos prticos e de grande valor comercial.
Mas, podia acontecer tambm, como disse Ricardo Bonalume Neto, em seu artigo do Jornal
Folha de So Paulo, em 12 de janeiro de 1997, divulgado no site do Centro Federal de
Educao Tecnolgica de So Paulo (CEFET-SP, 2008).
O CEFET/SP (2008), ainda faz uma referncia a Thomas Edison, quando traa
um paralelo entre seus inventos e a tecnologia, ao escrever: Geralmente a tecnologia, ou
cincia aplicada, surge da utilizao dos conhecimentos cientficos para fins prticos. Com
55
Edison aconteceu o contrrio. A partir de seus experimentos de objetivo prtico, surgia novo
conhecimento.
Com perseverana, pacincia e obstinao, caractersticas marcantes desse
importante personagem de nossa Histria, ele fez diversos experimentos, testando modelos
de filamentos diferentes; voltagens e materiais para as sua lmpadas. Somente em 21 de
outubro de 1879, suas tentativas chegaram ao fim. O sonho de ver uma lmpada brilhar
ocorrera, uma lmpada brilhou por 40 (quarenta) horas consecutivas.
De acordo com Balchin (2009, p. 197) depois de mais de 6 mil tentativas de
encontrar o filamento correto, at que ele encontrou a soluo em uma fibra de bambu
carbonizada.
A figura seguir o projeto da patente apresentada por Thomas Edison em 1880.
Fig. n 17 Projeto de patente n 223.898
Fonte: livro As 100 maiores invenes da Histria
Conforme Philbin (2006, p. 18-19), Thomas Edison durante a concepo da
inveno da lmpada, tinha como principal obstculo encontrar um filamento que suportasse o
calor advindo da corrente eltrica. Edison j sabia que caracterstica tinha que ter esse
superfilamento, razo pela qual, o levou a testar diversos materiais no decorrer dos inmeros
56
testes que fez. Materiais como a platina, o carbono. Edison no tinha mais dvida de que o
carbono era o material que melhor se propunha a sua tarefa, em razo de sua elevada
temperatura de fuso que de aproximadamente 3.500 C.
A tabela a seguir, demonstra como foi que ocorreu a evoluo da lmpada at
nossos dias.
Ano
Tipo
40 mil anos
atrs
400 d.C.
1853
1870
Conchas e pedras esculpidas foram usadas como lmpadas; queimavam leo vegetal ou
animal.
Lmpada de metal a leo 1853.
Lampio a querosene e vela de parafina.
Camisa incandescente para lampio.
Thomas Alva Edson usou filamento de algodo carbonizado e conseguiu uma lmpada que
durou 40 horas.
Lmpada de arco fechada com bulbo.
Lmpada de mercrio.
Filamento de tungstnio, usado at hoje.
Non que usa gs carbnico.
Lmpada sem bico, o vcuo passa a ser feito pela base.
Holofotes para aeroportos. Bulbo fosco. Faris de carro e lmpadas para projeo. Coloridas
decorativas.
Luz de bronzeamento artificial. O sdio comeou a ser usado como meio luminoso,
produzindo uma luz amarelada, tpica da iluminao de rua. 10 mil watts para aeroportos e
estdios de fotografia. Miniaturas para uso cirrgico. Flash para fotografia com bulbo de
vidro. Lmpada de mercrio de alta presso para grandes ambientes. Incandescente tubular.
Fluorescente : o bulbo revestido de um material que aumenta a quantidade de luz emitida.
Refletor
para
teatro.
Primeiro
farol
de
carro
com
refletor.
1879
1893
1091
1907
1910
1919
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
Dcada de 90
Luz mista: mercrio de baixa presso e filamento incandescente. Luz negra que s deixa
passar radiao ultravioleta, que faz brilhar objetos claros. Fluorescente circular com
revestimento
de
slica.
Melhorias no tubo de descarga tornaram a lmpada de sdio a mais eficiente na converso de
energia em luminosidade. 75 mil watts para faris de sinalizao martimos. Infravermelha
para uso mdico
Lmpada de arco para projeo de cinema. Fluorescente em U. Flash em cubo. Infravermelha
com
bulbo
de
quartzo.
Trifsforo: Um novo material deixou as fluorescentes mais econmicas. Lmpada de vapores
metlicos de grande potncia adequada a estdios. Refletor dicrico; retm o calor da lmpada
e por isso prprio para vitrines.
Lmpada de vapor metlico pequena para uso residencial. Miniaturas alimentadas por circuito
eletrnico, para carro. Lmpada de sdio com refletor. Lmpada de induo magntica que
dura
60
mil
horas.
Uma nova lmpada de sdio emitia luz branca em vez de amarelada. Lmpada que misturava
vrios e sdio. Alm de econmica, produzia excelente definio de cores. Fluorescentes de
roscas adaptveis s instalaes domsticas habituais.
Tabela n 02 Evoluo cronolgica da lmpada
Fonte: stio da Shvoong
57
Nas informaes descritas por Philbin (2006, p. 18-19), assim referenciada a
experincia derradeira:
Para produzir o filamento, Edison raspou a fuligem de lmpada a gs e misturou o
carbono com alcatro, de modo que pudesse obter algo com o formato de um
filamento. [...]
Mas Edison havia ficado convencido de que, tendo a fuligem alcatranizada
funcionado to bem, talvez houvesse outros materiais que, quando transformados em
carbono, poderiam funcionar melhor. Tendo isso em mente, ele testou um pedao
comum de fibra de algodo que havia se transformado em carvo aps ser cozido em
um cadinho de cermica.
O filamento era delicado e alguns se partiram no momento em que eram instalados
na lmpada de teste, mas finalmente a equipe conseguiu a tnue amostra de material
num globo de vidro, o oxignio foi retirado e a corrente eltrica foi ligada. Era tarde
da noite de 21 de outubro de 1879.
[...]
Atualmente, o tungstnio (o filamento) e o nitrognio (no lugar do vcuo) compem
a lmpada eltrica.
Friedel (1986 apud PHILBIN, 2006, p. 20) afirma que ela alterou o mundo onde
as pessoas trabalhavam, brincavam, viviam e morriam...foi o tipo de inveno que remodelou
o face da Terra e o modo pelo qual as pessoas encaravam as possibilidades no mundo.
A luz que esse gnio foi capaz de produzir jamais se apagaria e a Histria iria se
encarregar de coloc-lo no topo mais alto da fama, junto a outros mestres das grandes
descobertas e invenes.
3.3 A INVENO DA LANTERNA
Esse equipamento que foi criado para atender situaes em que necessitvamos
levar a luz onde se fazia necessria; e atualmente, a empregamos em situaes em que a
falta ou ausncia de luz se faz presente e precisamos nos guiar por um determinado terreno ou
espao, j no mais o mesmo.
A aparente simplicidade do equipamento ganhou modificaes promovidas pela
indstria auxiliando os mais diferentes segmentos profissionais de nossa sociedade. Ela
esconde em seu pequeno corpo, inmeros potenciais e, quem dela sabe se utilizar, reconhece o
quo gigante esse instrumento.
Conseguiramos, por exemplo, imaginar um cirurgio, um explorador de minas, os
automveis, os avies, as embarcaes navais e at mesmo os policiais sem o uso desse
58
equipamento? O que no passado ainda no existia, o presente solidifica a sua importncia
singular.
As lanternas evoluram ao longo dos anos de sua Histria, na relao diretamente
proporcional a evoluo das pilhas e das lmpadas. (PHILBIN, 2006, p. 325).
Muitas vezes passa desapercebido por ns a velocidade com que as novas
tecnologias se apresentam em nossas vidas, mas isso nem sempre foi assim. Aps a inveno
da pilha, o homem precisou de mais oitenta anos, at chegar inveno da lmpada e mais
dezenove anos foram necessrios para que a primeira lanterna de mo fosse criada.
A inveno da lanterna atribuda a David Misell, quando Philbin (2006, p. 325),
assim trata o assunto:
A primeira lanterna eltrica tubular foi inventada por David Misell, que tambm
inventou uma das primeiras lanternas para bicicleta. Em 1895, um a bateria com
mais de 15 centmetros de comprimento e pesando mais de 1,3 quilo era necessria
para produzir luz suficiente. (grifo nosso)
Fig. n 18 Lanterna tubular modelo 1899
Fonte: Wordcraft
Desse modo, Misell comeou a receber informaes de que suas
lanternas eltricas funcionavam. Por volta de 1897, ele j havia patenteado diversos modelos
de lanternas. Quando uma de suas patentes foi obtida, no dia 26 de abril de 1898, ela foi
concedida pra a companhia de Conrad Hubert, amigo e colaborador de Missel. A companhia
fundada por Hubert, batizada de Companhia Americana de Inovaes e Produo em
Eletricidade, posteriormente viria a se chamar Everedy. (PHILBIN, 2006, p. 326).
A lanterna, com sua aparente singeleza teve uma participao importante, por
exemplo, na primeira reao nuclear, assim descrita:
59
Um fato interessante que a lanterna eltrica tambm teve seu papel do
desenvolvimento da bomba atmica. A primeira reao nuclear, [...], foi realizada
embaixo das arquibancadas de uma quadra de squash em Stagg Field, na
Universidade de Chicago. O primeiro reator nuclear era imenso: 9,14 metros de
largura, 9,75 de comprimento e 6,40 de altura, pesando 1.400 toneladas e abastecido
com 52 toneladas de urnio. Mas, apesar de todo esse esforo, a energia produzida
foi suficiente apenas para fazer uma pequena lanterna eltrica funcionar. (PHILBIN,
2006, p. 326).
A utilizao de lanternas ganha destaque na obra de Philbin (2006, p. 326),
quando assim assevera:
Em algumas profisses, a lanterna eltrica de dimenses um pouco maiores
considerada um equipamento indispensvel. A polcia, por exemplo, recebe
treinamento quanto sua utilizao, e no apenas quando necessitam
investigar algo durante a noite, mas tambm como uma arma de defesa e
ataque. (grifo nosso)
As lanternas passaram por inmeras mudanas desde a criao do primeiro
modelo, no que se refere ao material utilizado em seu corpo, passando pela lmpada e
chegando as pilhas. No mercado atual, h uma variedade imensa de marcas, modelos,
potncia, resistncia e tamanho. Essa enorme oferta possibilita ao consumidor, buscar aquela
que melhor ir atender as suas necessidades, que vo desde a utilizao domstica at a
profissional, como o caso dos policiais.
Fig. n 19 Lanterna Surefire
Fonte: stio da Surefire
Uma viso operacional sobre a lanterna enquanto equipamento de uso policial
ser abordado em outro captulo nesta monografia.
60
3.3.1 Razes para uso da lanterna por policiais
Entendemos que no momento em que tomamos conscincia das caractersticas e
princpios que devem estar presentes em uma boa lanterna para emprego ttico policial
militar, iremos compreender os motivos pelos quais a sua presena diria dentre os
equipamentos que precisamos portar se faz necessrio.
Ela talvez no seja o equipamento mais importante que o policial militar estar
portando, mas noite se tornar imprescindvel pelas seguintes razes:
Achar o caminho no escuro;
Identificar o alvo;
Cegar momentaneamente o alvo;
Usar como instrumento de autodefesa;
Iluminar o alvo para executar o tiro. (POLCIA MILITAR DE SANTA
CATARINA, 1998, p. 35)
Para justificar nossa preocupao com a sobrevivncia policial em especial
durante a noite, podemos ainda elencar os seguintes aspectos sobre confrontos armados, os
quais foram relacionados por Flores e Gomes (2006, p. 84) e que tambm esto presentes em
quase sua totalidade no stio da Polcia Militar de Gois (2008):
85% dos eventos ocorrem em distncias inferiores a 6 metros;
70% em locais escuros ou de baixa luz, sem condies de enxergar ala e
massa de mira;
Quase 100% duram apenas trs segundos e em mdia so disparados trs
tiros, contando-se disparos do agressor e do policial;
Em quase 100% dos casos os disparos iniciais determinaram o resultado final;
Em quase 100% dos casos, os policiais carregavam muito mais munio do que
precisaram, mas no tiveram o tempo que gostariam de ter para agir;
Quase 100% dos casos os agressores disparam primeiro que os policiais e em
40% conseguiram atingir o policial;
Dos agentes atingidos 60% sequer sacaram suas armas, 27% responderam fogo
e 13% atingiram o agressor;
Um agressor com arma em punho precisa de milsimos de segundo para
disparar;
Um policial bem treinado precisa de 1 segundo para sacar e disparar um tiro
controlado;
Apenas 1% dos confrontos ocorrem de forma totalmente inesperada e
imprevista por parte do agente policial;
40% dos agentes atingidos e mortos no haviam realizado qualquer treinamento
ou prtica de tiro at 3 anos antes do evento e 70% dos agentes atingidos que
responderam fogo no conseguiram incapacitar o agressor;
Um disparo cuidadosamente controlado pode ser realizado em cerca de 3
segundos;
Um disparo controlado pode ser feito em 1 segundo. (grifo nosso)
61
No trato das tcnicas especiais para um eventual confronto a noite, Flores e
Gomes (2006, p. 87) assinalam:
A maioria dos confrontos envolvendo agentes policiais e agressores armados, ocorre
durante a noite, em ambiente urbano.
Com a noite, as condies de luminosidade prejudicam a identificao do alvo
agressor, a antecipao de sinais de perigo ou de risco, e a visualizao do aparelho
de pontaria da arma.
Com isto, aumentam as chances do policial cometer um erro de julgamento ou de
avaliao da ameaa.
Torna-se indispensvel a utilizao de equipamentos de iluminao para apoiar
as abordagens, tais como lanterna e miras especiais.
A primeira regra : se voc policial e trabalha durante a noite, sem uma
lanterna, ento voc corre grande risco de vida!!. (grifo nosso)
Conforme podemos observar em Gil (2004), durante os treinamentos realizados
pelos policiais militares brasileiros, que foram treinados por policiais da SWAT , dentre os
equipamentos que portavam, estava a lanterna.
Encontramos tambm em Lima (2007, p. 46) a seguinte meno: O equipamento
disponvel ao policial deve ser o melhor possvel e o mais importante que ele saiba us-lo.
Esses equipamentos incluem uniformes, coletes balsticos, calados, seleo da arma,
munio, carregadores de velocidade, lanternas, etc. (grifo nosso)
3.3.2 Caractersticas de uma boa lanterna para uso policial
As lanternas devem apresentar algumas caractersticas que entendemos serem
fundamentais para o seu emprego operacional. A ausncia de alguma das caractersticas que
sero apontas, entendemos que poder prejudicar o seu emprego, podendo comprometer o
trabalho policial militar que ser desenvolvido.
Em seu stio a Surefire Institute (2008), apresenta as seguintes caractersticas que
uma luz ttica deve ter:
A primeira uma de potncia alta, livre de distoro, anis e sombras escuras. A
segunda e talvez a mais importante um interruptor momentneo localizado na base
da lanterna. Terceiro uma bateria de poder confivel que fornecida por uma
bacteria de lithium ou baterias recarregveis de qualidade. 4
Traduo livre feita por este autor.
62
Segundo a Skill Security (2003) as caractersticas que devem estar presentes em
uma lanterna, conforme se segue so:
Potncia
A potncia mnima para que uma lanterna possa ser empregada taticamente em
aes policiais devem ter uma potncia mnima de 65 lmens. Essa potncia poder
proporcionar uma ao bastante eficiente sobre o agente agressor, podendo ceg-lo
momentaneamente.
Peso
A variedade de marcas/modelos no mercado nacional e internacional nos
oferecem inmeras opes. Entendemos que quando se trata de lanternas no acopladas ao
armamento, as que nos proporcionam uma capacidade de maior agilidade, so aquelas que
apresentam menores dimenses e consequentemente peso.
Apresentar um valor para esse item, em que as diferenas de peso entre os
principais modelos existentes limitam-se a gramas, acreditamos ser irrelevante.
Durabilidade
Este um item bastante significativo para quem compra e tambm muito
considerado para quem fabrica. No mercado encontraremos inmeras marcas/modelos,
contudo, para emprego ttico policial, h uma reduo deste universo. A durabilidade de uma
lanterna ttica, face ao seu emprego quase dirio, tem que apresentar uma composio em sua
estrutura, que lhe garanta uma vida til bem mais longa do que as lanternas de 1 gerao, por
exemplo.
Acionamento
Existem basicamente duas maneiras de acionarmos uma lanterna. O primeiro e
mais comum, apresenta o mecanismo de acionamento atravs de boto ou tecla no corpo da
lanterna, no tero proximal da lmpada.
O segundo apresenta o mecanismo de acionamento atravs de boto na parte final
do corpo da lanterna, em sua base, ou seja, no lado oposto onde se encontra a lmpada.
Tronco de iluminao
Refere-se ao cone de iluminao produzido pela lanterna, a partir de sua lmpada.
Esse cone dever apresentar a menor disperso de luz possvel, a fim de que a mxima
emisso de luz seja projetada na direo desejada.
63
3.3.3 Princpios
Durante o emprego de uma lanterna em uso operacional, precisamos conhecer
alguns preceitos sobre o uso de lanternas em ambientes com baixa ou ausncia de
luminosidade. Esses ambientes podem ser abertos (ao ar livre) ou confinados.
Esses conhecimentos ajudaro os policiais militares a usarem as potencialidades
oriundas da luz produzida pelas lanternas a seu favor, como meio de segurana e de arma noletal em desfavor do agressor.
Segundo a Surefire Institute5 (2009) se voc perguntar aqueles mesmos atiradores
se eles podem citar um princpio de iluminao, articular isto claramente e corretamente como
esses so aplicados, voc poderia achar alguns rostos em branco olhando de volta para voc.
A razo simples - a maioria das pessoas no foram treinadas nos princpios
bsicos de iluminao para um ambiente ttico. Eles entendem os princpios de um tiroteio
eles gostam de conceitos que tratam de visada, controle, seguimento - mas eles no foram
expostos para a mesma base de compreenso para iluminao.
Segundo a Surefire Institute (2009) um princpio pode ser definido como uma
verdade fundamental, lei, doutrina ou fora motivacional, em que todas as tcnicas so
baseadas. Uma tcnica um mtodo, procedimento ou maneira de usar habilidades bsicas
para alcanar a meta de um princpio.
Segundo a Surefire Institute (2009) h sete princpios que envolvem os confrontos
em baixa luminosidade e que emergiram aps anos de treinamentos e combates no mundo real
e que hoje so consideradas verdades bsicas, que a seguir por esse Instituto so
caracterizados.
3.3.3.1 Princpio um: ler a luz
A principal direo em uma negociao bem sucedida em terreno desconhecido de
forma que voc possa explorar todas as estratgias e tticas disponveis so para ler as
condies de iluminao no ambiente que voc est situado.
Todas as condies de iluminao podem ser colocadas nas categorias bsicas
seguintes. Existem graduaes e variaes infinitas, mas estes so os pontos de referncia:
Os princpios que sero apresentados a seguir so uma traduo livre deste autor.
64
Meio-dia com sol alto e brilhante: rea bem iluminada, nvel alto de detalhe,
percepo de profundidade excelente, identificao do objetivo excelente.
Amanhecer e crepsculo: luz suficiente para distinguir formas, textura e cor de
objetos com reas de sombra notvel, identificao de objetivo prejudicado.
Lua cheia baixa: luz ambiente mnima, fontes artificiais fracas como a luz de
uma rua distante, emisso leve de outro quarto, formas somente, distanciam julgamento e
identificao do objetivo ficar severamente prejudicada.
Nenhuma luz ambiente: raramente encontramos, mas tipicamente existem em
estruturas subterrneas, como em armazns fechados hermeticamente e outros ambientes
artificiais; a identificao do objetivo no existe sem iluminao.
3.3.3.2 Princpio dois: opere no nvel mais baixo de luz
Como gua busca seu prprio nvel, mova e opere do nvel mais baixo de luz
sempre que pratica. Depois que voc "leu a luz" e fez uma avaliao das vrias condies,
geralmente voc devia colocar voc mesmo ou seu time no nvel mais baixo de luz.
Assuma isto "todos os pontos escuros tm armas de fogo."
Por outro lado, uma vez que voc ocupa o espao mais escuro, as ameaas
potenciais agora tm que vir e aceitar ou devolver isso a voc. Isto significa uma de duas
coisas - ou eles vagam inconscientemente de que uma luz poder ilumin-los por trs em seu
espao ou eles relutantemente usam pouco um tipo de ferramenta de iluminao para avaliar o
espao. De qualquer modo, isto d a voc os indicadores que voc precisa tomar sua prxima
ao.
Fig. n 20 Princpio dois
Fonte: Strategos International
65
3.3.3.3 Princpio trs: veja da direo oposta
Um de seus adversrios mais perigosos sua outra parte, uma vigia do inimigo.
Mas o mais importante, este inimigo visualiza o mundo medida que voc faz.
Seu treinamento pode ser semelhante ou muito melhor. Seu compromisso alto. Ele sabe que
voc est procurando por uma posio excelente para um disparo final, assim como ele est
interpretando o terreno daquela perspectiva. Ele est esperando por um engano seu aparecer,
assim ele poder explorar a oportunidade.
Voc precisa saber o que voc parece do ponto de vista da ameaa. Voc precisa
saber quando voc pode ser visto claramente, silhuetado, parcialmente obscureceu, ou
completamente invisvel. Voc precisa saber quando se movimentar depressa ou mesmo no
se mover. Esta "viso" determinar seleo de rota, contagem de tempo e mtodos de
comunicao. A habilidade de ver voc mesmo como um oponente potencial permite a tomar
decises inteligentes e confiantes que lideraro para aes decisivas culminando na
neutralizao da ameaa.
Fig. n 21 Princpio trs
Fonte: Strategos International
3.3.3.4 Princpio quatro: luz e movimento
Falando de modo geral, os dois princpios de "Luz e Movimento" e "Dem poder
Com Luz" so dois lados da mesma moeda. Voc definitivamente quer pr esta moeda em seu
66
bolso! Quanta luz eu devia usar? Quanto tempo eu devia mant-la em uma dada situao?
Estas perguntas e as deles mesmos encapsulam a arte e cincia de aplicao adequada da luz.
Todo operador precisa aplicar os primeiros trs princpios - leia a luz, opere do
nvel mais baixo de luz, veja da perspectiva oposta - ento intuitivamente decida o que deve
ser feito em termos de emisso ativa da ferramenta de iluminao.
Quem observa de fora nunca sabe realmente onde ou quando o prximo flash
aparecer. O nmero verdadeiro de "vagas-lume" desconhecido. Isto tende a manter as
ameaas desorientadas e torna isto difcil para eles terem uma preciso para avaliar a situao
concretamente e desenvolve facilidades para implementar uma soluo de disparo. Luz, ento
movimento. Se mexa. Se voc utilizar sua ferramenta de iluminao, porque est preparado
para caminhar para outro local.
3.3.3.5 Princpio cinco: d poder com luz
Por "d poder com luz," eu me refiro a criar uma leve parede que vise cegar o seu
oponente. Isto significa mudar a perspectiva da ameaa de visualizar o mundo claramente e
sem interrupo a ver nada alm de uma luz branca brilhante sem compreenso clara de
desenvolvimento de fora.
Fig. n 22 Princpio cinco
Fonte: Strategos International
Fig. n 23 Princpio cinco
Fonte: Strategos International
Quando voc tiver um nmero grande de combatentes em espaos limitados, um
time ttico ser mais efetivo se eles "derem poder com luz" pontuando utilizando o efeito
estrobo de luz e movimento.
67
Quando voc vir um ponto escuro, elimine o ponto escuro, pesquise fora
quaisquer ameaas potenciais e oferea cobertura "dando poder com luz." Quando voc no
isolou suas ameaas, voc devia provavelmente mudar de direo "luz e movimento" usando
o outro lado da moeda. Uma vez que voc bloqueou o local da ameaa e outras reas de
ameaa potencial so identificadas e responderam, ento voc devia se mover para o princpio
"d poder com luz". um balanceamento que s voc pode orquestrar.
3.3.3.6 Princpio seis: alinhe trs coisas
Alinhe trs coisas - olhos, arma, e luz - quando procurar por ameaas. Realizar o
alinhamento entre a arma com sua viso, assegura que o "lugar quente" onde sua ferramenta
de iluminao deve estar.
Uma estimativa no oficial revelou que os participantes durante o auge do
treinamento, aquele alinhamento do olho do atirador, luz e arma de fogo s aconteceu
aproximadamente 10 por cento do tempo, um nmero muito mais baixo que voc inicialmente
poderia esperar. A vitria vai para a pessoa que o domina minimizando suas prprias falhas e
explora as falhas deixadas pelo seu oponente. No importando a tcnica de lanterna que voc
escolher usar, se empenhe para manter o alinhamento de seus olhos, arma (ala e massa de
mira) e sua luz a toda hora.
Os movimentos pequenos so mais eficientes.
Um policial eficiente, mantm alinhados em posio pronto-baixa seus olhos,
arma e luz a maior parte do tempo, a menos que especificamente esteja dirigindo a luz ou
arma em direes alternadas para um propsito especfico.
Fig. n 24 Princpio seis
Fonte: Strategos International
68
3.3.3.7 Princpio sete: leve mais de uma lanterna
Em confrontos em baixa luminosidade, se ocorrer um mau funcionamento da sua
ferramenta de iluminao, se danificado, soltar ou perder, sua vida pode estar terminada.
Lanternas, no importando o fabricante, podem falhar. Os bolbos podem queimar, baterias
podem ter descarregado. As lanternas podem ser atingidas com projteis. Elas podem ser
soltas no meio de uma busca e ficar irreparvel ou danificada. Sua sobrevivncia e segurana
pessoais certamente valem mais do que o maior preo de uma SureFire extra.
Conforme a Strategos International (2009)6, alm dos sete princpios
anteriormente mencionados, essa acrescenta um oitavo, que o da desorientao da ameaa
por oscilao da luz e/ou strobo da luz.
Fig. n 25 Princpio oito
Fonte: Strategos International
Uma das mais estressantes e desorientadoras coisas que voc pode fazer para um
ser humano sujeit-lo a um relampejar de luzes. Experimente criar um show de luzes
pulsantes, movendo em ngulos constantemente variveis quando estiver abordando em reas
de perigo. Este tipo de aplicao torna extremamente difcil para o oponente fazer uma leitura
da sua distncia exata, altura e abordagem quando executada de forma rpida.
Freqentemente ocorre que os olhos imediatamente fecham; h virada de cabeas;
mos surgem; e equilbrio rompido. Ns afetuosamente chamamos isto um "Momento de
Kodak".
Traduo livre deste autor.
69
A Rodopsina (prpura visual) a substncia responsvel pela sensibilidade luz.
Quando aos seus olhos/crebro so afetados por um efeito da luz strobing, a capacidade da
gerao de imagem estar seriamente degradada. Voc ter um tempo extremamente difcil
para formular um retrato preciso de realidade.
A luz de strobing alterar a orientao e percepo de profundidade de espao. A
luz de strobing pode fazer com que ocorra, momentaneamente, perda de viso perifrica e crie
perda auditiva.
Durante as buscas, os policiais que desdobrarem esse efeito provocado pela luz de
strobing, usando essa ferramenta corretamente, em um ngulo intermitente, de durao
constante, daro a eles vantagens numerosas no possveis previamente. Este tipo de
movimento enganoso parte da estratgia maior de "Luz e Movimento" quando tentando
localizar ameaas. "Luz e Movimento" podem ser comparados a picar em uma partida de
boxe. Voc no estar usando em demasia, at que voc tenha sucesso na localizao de seu
oponente. Uma vez que isto foi realizado, voc pode fazer a transio para a prxima fase de
sua que "D poder com Luz".
3.4 LUZ
Entendemos que em qualquer rea profissional, a aplicao prtica antecedida
por uma aprendizagem terica, a qual nos d fundamentos conceituais para que possamos
aplicar a teoria e na atividade policial isso tambm uma verdade. Os conceitos a seguir so
fundamentais, pois tratam da nomenclatura que envolve luz, cor e demais conceitos a esses
relacionados, que nos ajudaro a entender seus efeitos sobre a viso, que vez ou outra esto
presentes em algum momento de nossas vidas, quando nos deparamos com o assunto.
3.4.1 Luz conceito
Nas informaes disponveis pela Vertengenharia (2009), encontramos a seguinte
conceituao para luz: Uma fonte de radiao emite ondas eletromagnticas. Elas possuem
diferentes comprimentos, e o olho humano sensvel a somente alguns. Luz , portanto, a
radiao eletromagntica capaz de produzir uma sensao visual.
Para que possamos melhor compreender o conceito acima, necessitamos saber o
que so ondas eletromagnticas. O stio do Brasilescola (2009), assim a define:
70
As ondas eletromagnticas so ondas formadas pela combinao dos campos
magntico e eltrico que se propagam no espao perpendicularmente um em relao
ao outro e na direo de propagao da energia. [...] So ondas eletromagnticas: as
ondas de rdio, as microondas, a radiao infravermelha, os raios X e raios gama e a
luz visvel ao olho humano. (grifo nosso)
Portanto, temos ondas eletromagnticas que so visveis aos nossos olhos e outras
que em razo de seu comprimento, no conseguimos visualizar. Nas figuras a seguir, temos
representaes que ilustram essa situao e que demonstram a importncia para o policial que
atuar em ambientes com baixa ou ausncia de luminosidade.
Fig. n 26 - Espectro eletromagntico
Fonte: stio da UFPR
Fig. n 27 - Espectro eletromagntico
Fonte: stio da UFPR
71
Cor
Comprimento de
onda (nm)7
Cor
Comprimento de
onda (nm)
Ultravioleta
<400
Amarelo
570-590
Violeta
400-450
Alaranjado
590-620
Azul
450-500
Vermelho
620-760
Verde
500-570
Infravermelho
>760
Tabela n 03 Comprimento de onda aproximado das cores
Fonte: stio da UFPA
No stio da Educar (2009) temos o seguinte conceito para luz: A luz uma
modalidade de energia radiante que se propaga atravs de ondas eletromagnticas.
Segundo o stio da Indumatec (2009), a luz nada mais do que o espectro que
percebido pelo o olho humano e que vai de 380 nm at 780 nm, ou seja, entre as cores violeta
e vermelho.
A Indumatec (2009), afirma ainda o seguinte:
O olho mais sensvel no comprimento de onda de 555 nm correspondente a
amarelo e a menor verde para vermelho e violeta. Esta situao est a ocorrer luz
do dia ou com boa iluminao e chamado de "viso fotptica" (actuando tanto
sensores na retina: os cones, principalmente sensvel cor e as hastes so sensveis
luz). Ao entardecer e noite (viso escotopica) chamado de Purkinje8 efeito, que o
deslocamento da curva V a l o menor comprimentos de onda, deixando a
sensibilidade mxima no comprimento de onda de 507 nm. Isto significa que,
embora no exista uma viso de cores, (os cones no trabalham), o olho
relativamente sensvel energia no extremo azul espectro e quase cego para
vermelho, ou seja, durante o Purkinje efeito, dois feixes de igual intensidade, um
azul e um vermelho, o azul ficar muito mais brilhante do que o vermelho.
extremamente importante ter em conta esses efeitos quando se trabalha com
baixa iluminncia. (grifo nosso)
3.4.2 Iluminamento
A OSRAM do Brasil (2009), assim define iluminamento:
Segundo a Convertworld (2009), nanmetro (nm) a milionsima parte do milmetro.
Segundo o stio da Abril (2009), esse nome atribudo ao fisiologista experimental checo Jan Evangelista
Purkinje (1787-1869), que descreveu tal efeito como sendo a sensibilidade s cores, que se modificam quando
passamos do escuro para o claro e vice-versa.
8
72
Expressa em lux (lx), indica o fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre
uma superfcie situada a uma certa distncia desta fonte. a relao entre
intensidade luminosa e o quadrado da distncia (l/d2). Na prtica, a quantidade de
luz dentro de um ambiente, que pode ser medida com o auxlio de um luxmetro.
Para obter conforto visual, considerando a atividade que se realiza, so necessrios
certos nveis de iluminncia mdios. Os mesmos so recomendados por normas
tcnicas (ABNT - NBR 5413).
Fig. n 28 - Iluminamento
Fonte: Wikipdia
No mbito policial a quantidade de luz que teremos dentro de um ambiente,
proveniente de um ou mais equipamentos de iluminao ttica a qual poder ter sua
intensidade de luz medida atravs de um luxmetro (aparelho que mede o nvel de iluminao
em um ambiente).
3.4.3 Fluxo luminoso
assim conceituado pela Universidade Federal do Paran (UFPR) (2009): a
radiao total da fonte luminosa, entre os limites de comprimento de onda mencionados (380
e 780m) [sic]. O fluxo luminoso a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em
lmens, na tenso nominal de funcionamento.
Fig. n 29 Fluxo luminoso
Fonte: stio da UFPR
73
A OSRAM do Brasil (2009), em seu endereo eletrnico na internet, conceitua
fluxo luminoso como sendo a quantidade de luz emitida por uma fonte de luz medida em
lmens, na tenso nominal de funcionamento.
Encontramos ainda, a seguinte definio para fluxo luminoso, que corrobora com
as anteriores citadas:
Energia radiante luminosa instantnea, emitida entre as freqncias de 380 a 780 nm
(nanmetros) por uma fonte primria. A unidade internacional de medida (SI) que se
utiliza o Lmen (lm), que mede, ento, a quantidade de energia luminosa emitida
num instante por um corpo luminoso na gama de freqncias que vai dos 380nm
(violeta) aos 780nm (vermelho). (LUMEARQUITETURA, 2009).
3.4.4 Intensidade luminosa
assim conceituado pela UFPR (2009): o fluxo luminoso irradiado na direo
de um determinado ponto.
A OSRAM do Brasil (2009), assim define intensidade luminosa: a intensidade
do fluxo luminoso de uma fonte de luz projetada em uma determinada direo. Uma candela
a intensidade luminosa de uma fonte pontual que emite o fluxo luminoso de um lmen em um
ngulo slido de um esferoradiano.
Fig. n 30 Intensidade luminosa
Fonte: Wikipdia
3.4.5 Luminncia
A OSRAM do Brasil (2009) diz que:
[...] das grandezas mencionadas, at ento, nenhuma visvel, isto , os raios de
luz no so vistos, a menos que sejam refletidos em uma superfcie e a transmitam a
74
sensao de claridade aos olhos. Essa sensao de claridade chamada de
Luminncia. a Intensidade Luminosa que emana de uma superfcie, pela sua
superfcie aparente.
Fig. n 31 Luminncia
Fonte: Wikipdia
definida no stio da Unicamp (2009) como sendo:
um dos conceitos mais abstratos que a luminotcnica apresenta. atravs da
luminncia que o homem enxerga. No passado denominava-se debrilhana,
querendo significar que a luminncia est ligada aos brilhos. A diferena que a
luminncia uma excitao visual, enquanto que o brilho a resposta visual; a
luminncia quantitativa e o brilho sensitivo.
Para resumir as grandezas apresentadas no subitem que trata de luminosidade,
apresentamos uma tabela nos proporciona uma sntese do assunto.
Grandeza
Nome
Smbolo
Definio
Frmula
Fluxo Luminoso
Lmen
Lm
a emisso luminosa de uma fonte.
Iluminamento ou
Iluminncia
Lux
Lx
A quantidade de luz recebida por uma
superfcie.
Intensidade
Luminosa
Candela
Cd
A luz que se propaga em uma dada
direo.
Candela por
Luz recebida pelo olho de uma
metro
Cd / m
superfcie (refletida).
quadrado
onde: d - a distncia entre a fonte e a superfcie.
- o ngulo formado entre a direo da luz e a normal das superfcies.
- ngulo slido uma medida do espao tridimensional.
A - rea real da superfcie.
Luminncia
Tabela n 04 Grandezas de iluminao
Fonte: stio Saudetrabalho
E = A A ou
E = (I d) cos
I =
L= I superficie A'
75
3.5 COR DO UNIFORME
Voc j se perguntou por que os Grupos conhecidos como de Operaes Especiais
usam uniformes camuflados9? De onde surgiu esse tipo de fardamento e qual o padro
considerado ideal? Existe um padro ideal para o Exrcito e para as Polcias? Esses
questionamentos, quando neles paramos para pensar e refletir, nos levam a inmeros padres
de fardamento quando a eles nos referimos no aspecto cor. Exrcitos do mundo inteiro tm
um padro de cor em seus uniformes, que ao longo de suas existncias sofreram
transformaes sempre com o objetivo de melhor desempenho do teatro de operaes.
Para as Polcias Militares e em especfico para os Grupos de Operaes Especiais
que importncia tem a cor do fardamento que usam? Qual o padro ideal? Deve ser
camuflado ou de uma nica cor?
No stio da Ceante (2008) encontramos informaes que nos ajudaro a responder
tais questes. A primeira definio que nos apresentam justamente a do que venha a ser
camuflagem, que assim definida: Identidade visual que faz tornar conhecido quem faz uso.
Forma cientfica e tecnolgica que permite encobrir, ocultar ou disfarar algo da viso normal
criando uma vantagem em outro sob falsas aparncias.
Com base nas informaes constantes no stio da Ceante (2008), criamos o quadro
a seguir, contendo alguns dos padres que foram adotados, principalmente do sculo XX at
nossos dias, por alguns pases. Nesse quadro, evidentemente no esto todos os uniformes
adotados pelos pases nele mencionados, mas nos d uma noo da preocupao com a
camuflagem para uso no teatro de operaes.10
Segundo o stio da Ceante (2008) podemos dividir a Histria da camuflagem para
uso militar ou policial, antes e depois do sculo XX. As tropas militares anteriores ao sculo
XX usavam cores bastante fortes e at brilhantes que tinham objetivos bem especficos para a
poca, como por exemplo, melhor identificao da prpria tropa no campo de batalha,
intimidao do inimigo entre outros. No decorrer dos anos surgiram outras tonalidades de
cores que vieram a substituir as tradicionais brilhantes vermelha, azul e verde. Eis que surgem
as cores verde e cqui, que viriam a ser adotadas pela maioria dos Exrcitos da poca. No
apndice C, temos um quadro que nos d uma noo sobre a importncia que os exrcitos,
No apndice C, apresentamos um quadro ilustrativo de camuflagem, utilizado por algumas Foras Armadas no
mundo, no perodo de 1857 a 2006.
10
Lugar onde se desenrola operaes, guerra.
76
principalmente ao longo dos ltimos anos, tm dado a escolha de um determinado padro das
cores de seus fardamentos, pois sabem o quanto esse item importante.
No stio da Ceante (2008) essa nos traz ainda importantes esclarecimentos sobre a
camuflagem, conforme se seguem:
Destacou ainda que se evitou o preto devido ao contraste que este apresenta para os
intensificadores de imagem, e por no ser uma cor comum na natureza. (grifo
nosso)
[...]
Contra esta tecnologia a camuflagem deve se basear em cores que refletem a luz
residual (luar e estrelas principalmente) na mesma intensidade que o fundo. Vale
dizer que o reflexo das cores variam de acordo com o material e cor. Luvas,
bandoleira, cintos, cotoveleiras e joelheiras, capacete, mochila e arma podem ser
facilmente notados se no tiverem preparo adequado. [...] As cores escuras so
ruins para conter os OVN11, pois no refletem a luz e do contraste escuro. As
camuflagens escuras no rosto e armas escuras aparecem facilmente. At a sombra
pode denunciar a presena. A camuflagem noturna deve ser a mesma da
camuflagem diurna, [...]. Uma tropa avanando a noite com rosto com camuflagem
escura pode ser detectada como pontos escuros se movendo na mata. O campo de
batalha atual j est sentindo a presena da ameaa dos culos de viso noturna.
Soldados americanos no Afeganisto enfrentaram insurgentes equipados com
modelos de OVN semelhantes. (grifo nosso)
At mesmo nas favelas do Rio de Janeiro j foi apreendido culos de viso noturna
na mo de traficantes e bandidos. Um risco a mais para a Polcia Carioca e Brasileira
se preocupar. Por causa disto, estar camuflado apenas no basta quem faz o uso
precisa levar em considerao algumas questes relevantes como, pro exemplo:
1) Fundos. Fundos so importantes, e o combatente deve se misturar com eles o
mximo possvel. As rvores, arbustos, grama, terra, lama e estruturas artificiais que
formam o fundo variam em cor e textura. Isto torna possvel para o soldado se
misturar com eles. Deve-se selecionar rvores ou arbustos ou outros fundos para se
misturar com a camuflagem e absorver a sua figura. O soldado deve sempre
considerar que o inimigo pode conseguir observ-lo.
2) Sombras. Um soldado facilmente visto ao ar livre em um dia claro, mas nas
sombras difcil de ser visto. As sombras existem na maioria das condies, dia e
noite e em vrios ambientes. Sempre que possvel a movimentao deve ser feita nas
sombras.
3) Silhuetas. Uma silhueta baixa mais difcil de ser vista pelo inimigo. Ento, o
soldado deve se manter abaixado, agachado ou deitado a maior parte do tempo.
4) Reflexos brilhantes. Refletir a luz quase que suicdio. Uma superfcie brilhante
chama a ateno imediatamente e pode ser vista a grandes distncias. Por isso todas
as superfcies brilhantes devem ser camufladas de forma criteriosa. Deve-se ter
muito cuidado com culos e lentes de binculos.
5) Linhas do horizonte. Podem ser facilmente vistas figuras na linha do horizonte de
uma grande distncia, mesmo a noite, porque um esboo escuro se salienta contra o
cu mais claro. Uma patrulha deve usar a cobertura do terreno e s cruzar reas
abertas apenas nos pontos mais estreitos.
6) Alterar de esboos familiares. Equipamentos militares e o corpo humano so
esboos familiares ao olho humano. O soldado propositadamente alterar essas
silhuetas ou disfar-las usando, por exemplo, capas de camuflagem (ghillie suit).
Deve-se tambm sempre que possvel alterar os seus esboos da cabea s solas das
botas.
7) Disciplina de rudos. De nada adianta a mais perfeita camuflagem se os soldados
no guardam silncio. Um simples rudo ou barulho da voz humana pode ser
detectado pelo inimigo. O soldado deve manter o silncio o mximo possvel,
11
culos de viso noturna.
77
comunicando por sinais ou toques, e s falando quando extremamente necessrio em
tom baixssimo e com a absoluta certeza de que o inimigo no poder escutar nada.
[...]
E lembre-se que camuflagem no so s apenas rostos pintados ou roupas com
estampa diferenciada. Camuflagem uma ttica e tcnica que fazem parte de um
sistema avanado que quando bem utilizado cria conceitos, regras e padres que
priorizam a misso resguardando a vida de policiais e militares, salvaguardando a
vida de cidados e suspeitos e promovendo a vida, a segurana e a liberdade da
sociedade.
A camuflagem adquiriu uma enorme importncia no s no meio das Foras
Armadas, mas tambm no uso policial. O Batalho percussor das Operaes Especiais nas
Polcias Militares do Brasil, o BOPE, pensou em rever a cor adotada em seu uniforme,
conforme fez pblica a reportagem divulgada pela Folhaonline, em 10 de novembro de 2007.
A matria da Folhaonline (2009), assim se referiu ao assunto:
A farda negra, que rendeu fama ao Bope, "faz silhueta" em aes noturnas em
favela, o que pode significar a morte para o soldado. Deve dar lugar cor
acinzentada, com "camuflado digital", semelhante da Fora Nacional de
Segurana. (grifo nosso)
O comandante do Bope, tenente-coronel Pinheiro Neto, confirmou Folha que h
um estudo para escolher o melhor uniforme para a tropa.
Em aes do complexo do Alemo, o Bope chegou a usar o uniforme da Fora
Nacional e o Caveiro, mas como estratgia para confundir os criminosos.
O cabo PM Cyro, da rea de instruo do Bope, explicou que noite, aps os olhos
se acostumarem escurido, possvel identificar o vulto de preto. " mais
difcil perceber algum com farda de camuflado digitalizado", comparou. (grifo
nosso)
S o Grupo de Resgate de Refns continua com a cor escura. "O preto aumenta a
dimenso do policial e aparenta maior nmero, o que fator psicolgico negativo
para o oponente", disse Pinheiro Neto.
Assim, podemos verificar que h mais um fator decisivo nas aes policiais
desenvolvidas a noite e que merecem toda a ateno para que sejam buscados os melhores
meios para os policiais que estaro diretamente envolvidos em aes de alto e altssimo risco,
como o caso especfico do efetivo do COBRA/BOPE.
3.6 FISIOLOGIA DA VISO
Para que possamos compreender a ao da luz sobre a nossa viso, precisamos
entender pequenos detalhes, todavia, importantssimos, que envolvem a tica e luminosidade.
78
Nas ocorrncias policiais esses fatores esto presentes e o seu conhecimento
bsico, nos ajudaro sobremaneira na conduo das aes policiais.
Como iremos perceber no transcorrer do presente estudo, esse conhecimento de
maneira superficial de como funciona a nossa viso uma das importantes contribuies da
cincia no campo da medicina. A oftalmologia nos proporcionou avanos magnficos nas
ltimas dcadas, firmando-se como um dos ramos mais importantes da cincia mdica
contempornea.
3.6.1 A viso
Segundo Parker (2008, p. 20), entre todos os sentidos que o ser humano possui
por intermdio da viso e da audio que o homem obtm o maior nmero de informaes e
as processa em seu encfalo. Aproximadamente das informaes que so processadas pelo
nosso encfalo. Em nossos olhos esto contidos 70% de todos os receptores sensoriais que
possumos. Nossos olhos trabalham em conjunto, numa perfeita harmonia com os rgos da
audio. So esses dois importantes rgos do sentido, que nos deixam em alerta diante de um
perigo eminente.
A quantidade de informaes que so obtidas atravs da viso foi assim
quantificada por Ramos (2006, p. 3): A viso responsvel por cerca de 75% de nossa
percepo. Resumindo deforma extremamente sinttica o ato de ver o resultado de trs
aes distintas: operaes ticas, qumicas e nervosas. (grifo nosso)
Em razo dessa importncia, conhecendo um pouco mais acerca desse sentido, em
qualquer campo profissional, ele poder nos proporcionar inmeras vantagens, pois
poderemos explorar positivamente os seus benefcios.
Acreditamos ser revestida de importncia fundamental em nossa vida, mesmo que
a conheamos de maneira superficial, poderemos contar com os seus benefcios, uma vez que
pouqussimos no universo de milhes de pessoas so especialistas no assunto como os
oftalmologistas. Entretanto, poderemos descobrir que esse diminuto conhecimento da
oftalmologia que iremos expor de maneira bastante singela, poder auxiliar em muito o
trabalho das polcias em suas atividades.
79
3.6.1.1 A anatomia do olho humano
Agora que sabemos que atravs dos olhos obtemos esse grande nmero de
informaes externas que sero posteriormente processadas pelo nosso crebro, precisamos
conhecer quais so as partes que compem esse importante rgo do sentido.
Nas informaes obtidas sobre a anatomia do olho humano, apresentamos as
anlises feitas por Nishida (2007, p. 86), que assim as descreve:
Quando observamos externamente o olho, vemos as seguintes estruturas:
Pupila: abertura que permite a entrada de luz para o interior do globo ocular em
direo a retina.
ris: cuja pigmentao caracteriza a cor dos nossos olhos, possui dois tipos de
msculos lisos de ao antagnica.
Crnea: superfcie curva e transparente de tecido conjuntivo que funciona como
uma lente de grande capacidade de refrao e filtra os raios UV. Ela sempre lavada
pela secreo lacrimal (controlada pelo nervo VII) que espalhada pelas plpebras
que se sobem e descem.
Plpebra: a elevao causada pelo msculo elevador da plpebra ativado pelo III
par.
Esclera: tecido conjuntivo rgido e esbranquiado que continua a crnea. O
conjunto esclera e crnea que do a forma esfrica do olho.
Msculos extrnsecos do olho associada a esclera esto seis pares de msculos
esquelticos que garantem o movimento do globo ocular.
Nervo ptico: fibras nervosas que transportam as informaes visuais para a base do
crebro, prximo a glndula pituitria.
Para que tenhamos uma melhor visualizao a que se refere Nishida (2007, p. 86),
a autora apresenta a imagem a seguir, que elucida a nomenclatura anteriormente mencionada.
Fig. n 32 Anatomia interna do olho
Fonte: Ibb unesp
80
3.6.1.2 O processo da viso
No CD-ROM do curso avanado de tcnicas de abordagem em baixa
luminosidade, ministrado pela empresa Skill Security (2003) encontramos a seguinte descrio
do processo:
A viso consiste na percepo das imagens dos objetos. O rgo que capta as
imagens o olho, as quais so enviadas at o centro cortical da viso por intermdio
das vias pticas. um rgo par, situado na cavidade orbital, constitudo por trs
membranas: esclera, membrana mais externa do olho, composta de tecido conjuntivo
fibroso; coride a membrana mdia do olho, formada de uma fina membrana
vascular; retina membrana nervosa, tornando-se assim muito delicada, sobre a qual
so recebidas as imagens dos objetos exteriores. Sua superfcie externa est em
contato com a coride e a interna com o corpo vtreo, cpsula onde contm um
lquido denominado humor aquoso.
De acordo com a Skill Security (2003), a luz fundamental para a viso. Os olhos
captam os raios de luz que podem ser emitidos por fontes luminosas - como o sol, a lmpada,
a tela da TV ou do computador - ou serem refletidos pelos mais diversos objetos - cadeiras,
mesas, livros etc.
Para Parker (2008. p. 20) a luz penetra no olho atravs da pupila, um pequeno
orifcio escuro no seu centro. A quantidade de luz que entra controlada pela ris, o anel
colorido em volta da pupila.
Nesse caminho em busca de entendermos um pouco mais sobre importante campo
da cincia, precisamos agora compreender como se processa as imagens que so captadas pela
viso e enviadas ao nosso crebro.
Neste sentido Nishida (2007, p. 85-6), apresenta uma noo mais profunda desse
processo, quando assim o descreve:
O olho dos vertebrados semelhante a uma cmara fotogrfica, porm bem mais
complexo. O olho possui um mecanismo de busca e de focalizao automtica do
objeto de interesse, um sistema de lentes que refratam a luz (uma fixa e outra
regulvel), pupila de dimetro regulvel, filme de revelao rpida das imagens e
um sistema de proteo e de manuteno da transparecia do aparelho ocular. As
clulas sensveis luz esto na retina e atravs de um processo fotoqumico, os
fotorreceptores transformam (transduzem) ftons em mudanas do potencial de
membrana (potencial receptor). Antes dos sinais visuais se tornarem conscientes
no crebro, estes so pr-processadas na retina por uma camada de clulas
nervosas. As informaes aferentes chegam ao encfalo atravs do nervo ptico (II
81
par de nervos cranianos) e j foram previamente triadas sobre determinadas
caractersticas da cena visual. (grifo nosso)
O olho alm de possibilitar a anlise do ambiente distncia, permite
discriminar os objetos quanto a suas formas, se esto perto ou longe, se esto
em movimento e dependendo da espcie, se so coloridos. Alm da construo
visual sobre o ambiente onde se encontram, as imagens so utilizadas como
elementos de comunicao. (grifo nosso)
A luz se propaga a 300.000 Km/s. Isso significa que a fotorrecepo uma
sensibilidade que pode informar o sistema nervoso central em tempo quase real
sobre o que acontece no ambiente externo, possuindo excelente resoluo espacial e
temporal. No vcuo a luz realmente se propaga em linha reta, mas ao atingir a
atmosfera terrestre interage com tomos e molculas sofrendo vrios desvios como
reflexo, absoro e refrao.
A refrao da luz uma propriedade essencial para a formao da imagem. O olho
, por excelncia, um rgo dedicado para deteco e anlise das fontes de luz
visvel. Alm da luz visvel ser utilizada para a percepo visual, tambm
utilizada para organizar os ritmos biolgicos, particularmente aqueles associados a
durao do fotoperodo como o ciclo claro-escuro (como o ciclo sono-viglia). (grifo
nosso)
Para compreendermos melhor o processo da formao das imagens captadas por
nossos olhos, segundo Nishida (2007), essa ocorre a partir das informaes que so colhidas a
partir dos reflexos ou raios luminosos que so emitidos pelos objetos que so
instantaneamente focalizados na retina formando uma imagem ntida.
Fig. n 33 Como o olho v
Fonte: livro O corpo humano
3.6.2 A ao da luz no olho humano em baixa luminosidade
A viso humana em condies onde haja baixa ou ausncia de luminosidade
apresenta caractersticas de funcionamento que merecem nossa ateno quando as
transportamos para o campo policial, no atendimento as ocorrncias.
82
Em condies com pouca luz, como ser que funciona o sentido da viso na
identificao dos objetos e das cores que eles refletem? Segundo a Skill Security (2003), a
viso humana em baixa luminosidade, assim apresentada:
No olho, os raios luminosos atravessam primeiro uma estrutura curva, dura e
transparente: a crnea, que funciona como uma lente e inicia a focalizao das
imagens. Os raios de luz passam, ento, por um lquido incolor chamado humor
aquoso, que separa a crnea da ris. A ris o crculo colorido do olho e pode ser
castanha, azul ou verde. Sua pigmentao impede que a luz a atravesse. Mas, no
centro da ris, h um orifcio, a pupila. por ele que os raios luminosos passam.
A ris regula o tamanho da pupila para evitar a entrada excessiva de luz no
interior do olho. Quando h pouca luz, a pupila est mais aberta. Com muita
luz, acontece o contrrio. (grifo nosso)
Outra informao importante expressa pela Skill Security (2003) quanto
tonalidade das cores que a viso humana consegue distinguir noite, quando assim assevera:
As clulas denominadas cones que so as responsveis pela viso colorida so
menos sensveis que os bastonetes que distinguem apenas intensidade de brilho,
correspondendo a uma viso em preto e branco. Dessa forma, tudo o que estiver
ao nosso redor ir adquirir uma tonalidade em cinza. (grifo nosso)
Na informao acima apresentada, poderemos encontrar a fundamentao tcnica
para o emprego de uniformes camuflados em preto, cinza e branco, utilizados pelas unidades
e grupos especiais das polcias militares.
As informaes acima so corroboradas por Fox (2007, p. 268-9), quando afirma:
Os fotorreceptores bastonetes e cones [...] so ativados quando a luz produz uma
alterao qumica de molculas de pigmento contidas nas lamelas membranosas do
segmento externo das clulas receptoras. Os bastonetes contm um pigmento de cor
prpura denominado rodopsina. O pigmento parece prpura (uma combinao de
vermelho e azul) porque ele transmite luz nas regies vermelha e azul do espectro,
enquanto absorve energia luminosa na regio verde. [...] Em resposta luz
absorvida, a rodopsina se dissocia em dois componentes: o pigmento retinaldedo
(tambm denominado retineno ou tetinal), que deriva da vitamina A, e a protena
denominada opsina. Essa reao denomina-se reao de branqueamento. [...] Essa
reao de dissociao em resposta luz inicia alteraes na permeabilidade inica
da membrana celular dos bastonetes e, por ltimo, acarreta a produo de impulsos
nervosos nas clulas ganglionares. Como conseqncia desses efeitos, os
bastonetes provem a viso em preto e branco sob condies de baixa
luminosidade. (grifo nosso)
83
Em aes policiais onde tenhamos ambientes com baixa ou ausncia de
luminosidade, o emprego de uma boa lanterna poder se consagrar em um importante
equipamento no atendimento de ocorrncias.
O emprego desse equipamento, quando utilizado por quem conhece quais so os
efeitos causados pela incidncia de luz sobre os olhos, aliados a alguma das tcnicas para a
sua utilizao com o armamento que estar portando, propiciar ao policial militar vantagem
significativa sobre a pessoa que estar abordando.
A figura a seguir nos mostra os efeitos causados pela luz ao incidir sobre os olhos
humanos, em diferentes nveis de intensidade. Nele podemos observar que quando h uma
intensidade alta, ocorre uma diminuio da pupila, dificultando a capacidade do ser humano
de enxergar.
Fig. n 34 Dilatao e constrio da pupila
Fonte: livro Fisiologia humana
Fig. n 35 Reao dos olhos diante da luz
Fonte: livro O corpo humano
84
Segundo a Skill Security (2003) no se sabe ao certo a origem da seguinte frase
popular: " noite, todos os gatos so pardos", todavia, ela pode ter uma explicao fsica.
Ocorre que a noite, quando a luminosidade pouca, o olho humano mais sensvel regio
azul do espectro da luz, menos sensvel ao amarelo e menos ainda ao vermelho.
85
4 - PRINCIPAIS TCNICAS COM LANTERNA E TOMADA DE DECISO
O uso simultneo da lanterna e armamento ainda tratado como um assunto
bastante recente no Brasil, embora no exterior, o seu emprego tenha ganhado a sua
importncia h algum tempo. Duas histrias recentemente retratadas no cinema nos do uma
noo do emprego ou no de lanternas pela polcia. No filme SWAT Comando Especial,
produzido pela indstria cinematogrfica Columbia Pictures Instustries Inc., temos a noo
exata da importncia do uso da lanterna pela equipe de elite apresentada nesse filme. Durante
todas as aes, sejam essas desenvolvidas em ambientes externos ou confinados, a lanterna se
faz presente, tornando-se parte do corpo do armamento. Noutro ponto, o filme Tropa de
Elite, produzido no Brasil, em momento algum apresenta policiais usando lanternas e muitas
das aes retratadas, se desenvolvem durante a noite. Esses dois filmes, embora fictcios,
retratam realidades e/ou doutrinas diferentes? Ao longo de nosso estudo, tentaremos encontrar
essa resposta.
4.1 AMBIENTE EXTERNO
Todas as tcnicas que sero apresentadas so vlidas tambm para ambientes
externos, todavia, pelo fato de estar mais exposto, o acionamento da lanterna ser mais
restrito. A experincia profissional nos tem mostrado, nesta situao, que acionamentos curtos
e intervalados ficaro restritos a algumas situaes especficas, como por exemplo:
identificao do terreno, durante um deslocamento;
visualizao de uma bssola;
leitura rpida de alguma informao que chegou por escrito ao teatro de operao;
visualizao de um mapa cartogrfico;
preparo de dispositivo mecnico ou eletrnico; etc.
Nessa situao especfica, a baixa luminosidade, ganha tambm outro aliado
importante, a cor do uniforme que estar sendo utilizado pelos policiais militares.
4.2 AMBIENTES CONFINADOS
O combate em ambientes confinados uma das situaes mais complexas que
envolvem as aes dos grupos especiais, sejam estes pertencentes a qualquer fora policial e
de qualquer pas.
86
Tropas Especiais treinam constantemente esse tipo de combate, pois se reveste de
peculiaridades e detalhes importantssimos e somente o treinamento constante, desenvolver a
tcnica necessria para que atinjam o xito nesse tipo de ao policial.
Conforme frisamos anteriormente, todas as tcnicas que aqui sero apresentadas,
bem como outras que pelas suas caractersticas proporcionam aos policiais uma atuao mais
segura em ambientes com baixa ou ausncia de luminosidade so vlidas.
Como estamos tratando de ambientes confinados, precisamos aqui verificar a
situao para tomarmos a deciso sobre o tipo de ao que ser adotada. Diversas podem ser
as razes pelas quais um grupo de operaes especiais pode ser acionado para o atendimento
de uma ocorrncia envolvendo uma edificao. Portanto, chegando ao local, uma anlise
preliminar dever ser feita, onde provavelmente levaro em considerao alguns itens, como
por exemplo:
h vtimas? Quantas?;
nmero de agressores;
a casa de alvenaria ou madeira;
a casa tem um pavimento ou mais de um;
nmero de cmodos;
a casa est com energia eltrica? Etc.;
Aps estas e outras informaes preliminares, precisaremos buscar outras mais
especficas, como por exemplo:
a localizao da(s) vtima(s);
o(s) agressor(es) possui(em) antecedentes criminais;
o(s) agressor(es) tem algum tipo de relacionamento com a(s) vtima(s)?;
temos o perfil psicolgico do(s) agressor(es)?;
foi realizado algum contato com o(s) agressor(es)?;
o(s) agressor(es) pediu(ram) algo em troca?
Outras informaes julgadas importantes, etc.
Aliada a todas essas informaes, dependendo da situao, podero adotar uma
entrada ttica coberta (silenciosa) ou dinmica. Cada uma dessas tcnicas de entrada em um
ambiente se reveste de caractersticas peculiares. Contudo, como nosso objetivo neste
87
subttulo tratarmos do uso da lanterna nestas situaes, no iremos nos ater as caractersticas
destas tcnicas de entrada de modo pormenorizado.
Na realizao de qualquer uma das entradas, o policial militar poder adotar a
tcnica que melhor se adapta ou a que melhor se adqua a situao.
Nas entradas cobertas ou silenciosas, normalmente, as lanternas no so acionadas
at a chegada do cmodo em que est(o) o(s) agressor(es) ou a(s) vtima(s), ou ambos, a no
ser que precisem de orientao no deslocamento que d acesso ao(s) ambiente(s).
Nas entradas dinmicas, que so caracterizadas pela surpresa, ao vigorosa e
velocidade, a lanterna estar acionada desde o incio da ao at a neutralizao do(s)
agressor(es) e salvamento da(s) vtima(s). Estas caractersticas tambm esto presentes nas
entradas cobertas ou silenciosas, entretanto, acontecem somente quando os policiais chegam
ao cmodo onde est(o) o(s) agressor(es).
Podemos concluir em relao ao tipo de entrada que, nas entradas cobertas ou
silenciosas, o acionamento da lanterna, via de regra, ser realizado somente quando se chega
ao cmodo onde est(o) o(s) agressor(es) e/ou a(s) vtima(s). Na entrada dinmica, o
acionamento da lanterna ocorrer desde o incio da ao at o seu final e isso se dar em
funo de que a surpresa j foi quebrada, face ao emprego de alguma ttica que vise causar
a distrao ou confuso mental do(s) agressor(es) e tambm a tenso que envolve os policiais
que atuaro, por mais bem treinados que sejam, poder comprometer detalhes, como o
simples acionar de uma lanterna. algo a menos a desviar a ateno do foco principal.
4.3 TCNICAS
Antes de iniciarmos a tratar das principais tcnicas existentes, precisamos
entender o que venha a ser tcnica e ttica policial militar.
De acordo com a Polcia Militar do Estado de So Paulo (1985, p. 21) a
conceituao de tcnica e ttica policial militar so:
Tcnica policial militar o conjunto de mtodos e procedimentos usados para a
execuo eficiente das atividades policiais-militares nas aes e operaes que
visem manuteno da Ordem Pblica.
Ttica policial militar a arte de empregar a tropa em operaes policiais-militares
que visam a garantir ou restabelecer a Ordem Pblica. (grifo nosso)
88
Ainda na preparao ttica que deve ter o policial militar, Lima (2007, p. 46)
assim a destaca, dentre os componentes aos quais denominou ciclo de sobrevivncia12:
Preparao ttica so as ferramentas mental e fsica para realizar ou atingir uma
meta. As tticas envolvem o modo como negociamos, pois cada tarefa ou contato
inigualvel e requer flexibilidade no uso e seleo de tticas especficas. Os policiais
que estabelecem os primeiros contatos em qualquer situao deveriam ter um grande
ou maior conhecimento ttico que qualquer outro policial. Todas as tticas tm um
tempo e um lugar, e todo policial no deveria deixar de lado treinamentos tticos
porque nunca enfrentou ocorrncias nessa circunstncia. Treinar as diversas
situaes que poder enfrentar pode ser a melhor ttica possvel, pois o policial deve
ser especialista em ler as circunstncias em todas as situaes operacionais em,
que se v envolvido.
Segundo informaes recebidas em cursos dos quais este acadmico participou
voltados a atividade operacional, em sua maioria, eminentemente prticos, existem mais de
vinte tcnicas diferentes de emprego da lanterna com o armamento, no entanto, iremos aqui
abordar aquelas mais conhecidas e divulgadas.
As tcnicas que aqui sero expostas, julgamos como sendo aquelas, que podero
nos dar uma viso do potencial macro que apresentam e a importncia capital que engloba o
assunto.
4.3.1 Federal Buerau of Investigation (FBI)
uma das tcnicas mais antigas ensinadas nas academias de polcia quando
falamos sobre confrontos policiais noite.
A Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 274) em seu manual de instruo
mdulo X, apresenta a seguinte assertiva:
Essa tcnica de tiro foi desenvolvida e, ensinada pelo F.B.I., porm no a mais
recomendada.
Este mtodo consistia em manter a mo que segura a lanterna longe do corpo,
devendo o brao ficar esticado lateralmente e a outra mo que empunha a arma
frente.
Este mtodo no to seguro, pois a luz da lanterna pode iluminar o policial ao lado,
alm de ser uma posio cansativa.
12
Segundo Lima (2007) o ciclo de sobrevivncia composto pela preparao mental, preparao fsica, tticas,
equipamentos e habilidade em tiros.
89
Fig. n 36 Tcnica FBI
Fonte: livro de Ken J. Good
A Polcia Militar de Minas Gerais (2002, p. 64) em seu manual de prtica policial,
refere-se a essa tcnica como sendo mais apropriada para lanternas de grande comprimento.
Em caso de utilizao da arma de fogo, a posio no muito firme e a qualidade de tiro deve
ser observada, devido a empunhadura ser simples.
Embora, atualmente, ela no seja mais ensinada na Academia do FBI, e por
muitos considerada ultrapassada, para alguns cenrios tticos, como por exemplo, nas aes
que antecedem o adentramento a um ambiente por um time ttico, na tentativa de localizar o
agente, tem sua valia.
Segundo Franco (2002), esta poder ser adotada por policiais quando h uma
abertura, como por exemplo, uma porta, onde um ficar em p de frente para a parede ou
lateralmente a esta, empunhando uma lanterna com seu facho de luz direcionado para o
interior do ambiente a ser verificado.
O outro policial ir posicionar-se deitado com
empunhadura simples, enquanto segura com a outra mo o tornozelo de seu companheiro. A
medida que o policial que segura o tornozelo de seu companheiro, faz movimentos para cima
ou para baixo, para direita ou esquerda, aquele que empunha a lanterna acompanha esse
movimento com a lanterna.
Em relao a esta tcnica ainda temos a seguinte abordagem:
Muitas vezes mal falada tcnica FBI, provavelmente a tcnica mais antiga
ensinada nas academias de polcia. Com a lanterna empunhada como espada ou
picador de gelo (conforme o tipo de acionamento), a lanterna usada com o brao
estendido e afastado, originalmente criada para manter a luz afastada do corpo do
atirador, em teoria, denunciar seu posicionamento exato, fazendo com que qualquer
ameaa seja atirada em direo da luz e no do atirador. Muitos pregam que a
tcnica est ultrapassada, entretanto em certos cenrios tticos a tcnica tem a sua
valia. (TEES BRAZIL, 2004, CD-ROM).
90
Fig. n 37 Tcnica FBI
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 38 Tcnica FBI Modificada com arma porttil13
Fonte: Surefire Institute
A Tees Brazil (2004) apresenta as vantagens e desvantagens da Tcnica FBI,
como sendo as seguintes:
Vantagens
Funciona bem com lanternas pequenas ou grandes de acionamento no corpo ou
base;
Elimina deslocamento da faixa de luz em relao a arma durante o disparo;
Minimiza possibilidade de gerar confuso motora entre as mos (aciona gatilho em
vez do boto de acionamento da lanterna e vice-versa);
Possibilita busca sem uso da arma, bastante til para buscas em reas grandes;
De fcil transio para Tcnica de Indexao e Tcnica Keller para lanternas de
acionamento na base;
Facilmente adaptado para uso com armas longas semi-automticas;
Iluminao perifrica auxilia a enxergar a ala e massa de mira;
Se aplica bem ao conceito de iluminar e deslocar seguido para tticas de CQB em
baixa luminosidade.
Desvantagens
Limita o atirador a usar somente a mo forte para atirar;
Difcil de manter a luz alinhado [sic] com a ameaa;
Cansativo se usado por muito tempo, especialmente para lanternas de grande
porte;
Alinhamento rpido com lanterna e arma sob ameaa exige treino.
A Surefire Institute (2009) alm das vantagens anteriormente citadas e que esto
presentes em seu stio, que essa tcnica proporciona que seja criada uma mscara que
minimiza a exposio do corpo do usurio e como conseqncia cause uma impreciso do
13
aquela transportada por um s homem.
91
local onde se encontra e, como desvantagem acrescenta a impossibilidade de seu emprego
estando seu usurio com uma mo ou brao ferido.
Conforme Lawrence (2005)14, essa variao da Tcnica FBI usada quando no
queremos que saibam exatamente onde estamos, enquanto procuramos nosso objetivo.
Podemos perceber pela Fig. n 35, que o brao e o antebrao da mo que segura a
lanterna, formam um ngulo de 45.
Fig. n 39 Tcnica FBI Modificada
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
Consoante Nrpublications (2009) essa variao da tcnica FBI impede o policial
de "marcar" a sua posio, pois atravs da utilizao de acionamentos intermitentes e
alternando aleatoriamente a altura de apresentao da lanterna, estar afastando essa do seu
centro de massa; alm de proporcionar facilidade para a Tcnica Neck ndex, que ser
apresentada posteriormente neste captulo. Essa tcnica se adapta bem com lanterna grandes e
pequenas e em ocorrncias que envolvam tiros, sua utilizao ambidestra a torna verstil. As
desvantagens dessa tcnica incluem a dificuldade para manter a o facho de luz sobre a ameaa
e a fadiga no uso prolongado. Alm disso, a aplicao desta tcnica quando o policial estiver
com uma mo ou brao ferido se tornaria bastante difcil, at porque exige muito do policial
durante uma abordagem e a sua prtica tem que ser perfeita.
A Nrpublications (2009) ao se referir a tcnica FBI Modificada compara a
lanterna a uma "espada" ou "furador de gelo", que ser empunhada com o brao estendido
longe do corpo e da mo que segura a arma. Para evitar a auto-iluminao de quem estiver
empunhando a lanterna, essa dever ser mantida ligeiramente frente do corpo.
14
Traduo livre, realizada por este autor.
92
Como podemos perceber a tcnica FBI e/ou FBI Modificada pode no ser hoje a
mais utilizada, mas tem a sua eficincia no campo policial em situaes que requerem o seu
emprego ttico operacional diante de circunstncias especficas como as afirmadas pelos
autores que a ela se referenciaram at ento.
4.3.2 Harries
A tcnica Harries uma das mais populares e uma das preferidas dos policiais
quando em atendimento a situaes que envolvem confronto em baixa luminosidade.
A Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 274), apresenta a seguinte
afirmao:
Esta tcnica foi desenvolvida pro Mike Harries, norte-americano, instrutor de tiro.
Foi desenvolvida em cima da posio de tiro Weaver, criada pro Jack Weaver.
O mtodo consiste em manter o corpo de lado em direo ao alvo, com os braos
pouco, dobrados, porm com uma alterao nas mos, ambas se encontram em
forma de X, dando um apoio maior, sendo que a mo que segura a lanterna passa por
baixo do brao que est a arma.
Fig. n 40 Tcnica Harries
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 41 - Tcnica Harries
Fonte: Surefire Institute
Para que possamos entender a referncia constante no manual da Polcia Militar
de Santa Catarina ao mencionar a posio de tiro Weaver, necessitamos caracteriz-la. A
Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 270), assim a descreve:
O mtodo consiste em deixar o p esquerdo frente do direito, aproximadamente 20
a 30 cm, o corpo ficar naturalmente na posio lateral em relao ao alvo, sendo
que o ombro esquerdo ficar frente do direito. A mo esquerda far uma leve
presso para trs e a direita resistir, onde o corpo ficar reto e os braos meio
dobrados.
93
Fig. n 42 Posio de tiro Weaver
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
A Polcia Militar de Minas Gerais (2002, p. 63), assim refere-se a Tcnica
Harries:
Consiste em posicionar o brao que segura a arma estendido, enquanto o se apiam,
uma na outra, procurando dar estabilidade ao conjunto. Esta posio no muito
firme, principalmente quando disparamos a arma, devemos refaze-la [sic] a
cada tiro. mais apropriada para lanternas de grande comprimento, e pode ocorrer
ainda da lanterna no ficar devidamente alinhada com o cano da arma. (grifo nosso)
No obstante o entendimento da Polcia Militar de Minas Gerais, destacamos que
a Tcnica Harries se notabilizou justamente por apresentar uma boa estabilidade durante o
tiro, considerando-se a execuo deste com empunhadura simples.
Em relao a esta tcnica ainda temos a seguinte abordagem:
[...] mais conhecida como costas da mo contra costas da mo, leva o nome de um
dos pioneiros do tiro prtico Michael Harries. Talvez seja uma das empunhaduras
mais populares criado [sic], no incio da dcada de 70 e adotado, e difundido, pelo
Cel. Jeff Cooper da GUINSITE. Foi originalmente desenvolvido para aplicao com
lanternas tticas de corpo grande (tipo Maglite), mas tambm se aplica muito bem as
lanternas de combate modernas de acionamento na base (tipo surefire) e adapta-se
com naturalidade postura tipo Weaver.
Para empregar a Tcnica Harries, a lanterna deve ser segurada como um picador de
gelo, refletor ou lente do lado oposto do seu dedo [sic].
Para lanternas de acionamento no corpo, o dedo indicador deve ser usado para
ativar/desativar. No caso de lanternas de acionamento na base, use o dedo [sic]. O
atirador deve alinhar os pulsos das mos, pressionando firmemente as costas
das mos uma contra a outra, desta forma criando a tenso isometrico [sic]
estabilizadora. (grifo nosso)
Para as lanternas de grande porte o corpo da lanterna pode ser apoiado no antebrao
do atirador.
Vantagens
94
Funciona bem com lanternas grandes ou pequenas;
Automaticamente alinha o foco da lanterna com o cano da arma;
Permite uma empunhadura firme e uma plataforma de tiro estvel para o tiro;
Cansa menos para o uso prolongado de lanternas de grande porte, permitindo que
o corpo da lanterna seja apoiado no antebrao;
No caso de lanternas de combate (potencia) auxilia a enxergar a massa de mira;
Excelentes ergonmicos para uso com a Postura Weaver;
Aplica-se muito bem para tiro barricado mo forte;
Desvantagem
A faixa de luz tem tendncia de desalinhar durante o disparo, exigindo maior
tempo de recuperao para realinhamento com o cano;
O cano pode varrer a mo no caso de apresentao s pressas;
Para atiradores destros, pode gerar reflexo em paredes ou cantos, prejudicando a
viso noturna do operacional e silhuetando o resto da equipe;
Luz fica localizada no centro da massa do atirador;
Pssimos ergonmicos para qualquer outra postura de tiro a no ser Weaver;
No se aplica muito bem para o tiro barricado lado fraco. (TEES BRAZIL, 2004,
CD-ROM).
Na anlise inicial acerca da Tcnica Harries procedida pela Tees Brazil, que
acima foi exposta, poderemos perceber que esta totalmente contrria a afirmao feita pela
Polcia Militar de Minas Gerais em seu Manual de Prtica Policial.
Segundo a Nrpublications (2009), alm das afirmaes j mencionadas pela Tees
Brazil, a Tcnica Harries no causa uma fadiga durante o seu uso prolongado, mesmo quando
empregamos lanternas grandes. Considera, no entanto, que h uma pobreza em sua ergonomia
quando necessitar utilizar outra posio de tiro que no a Weaver.
Lawrence (2005) se refere a Tcnica Harries como a tcnica de pulsos cruzados.
A lanterna ser segura pela mo que no estar empunhando a arma. A mo que est
segurando a lanterna cruzar por debaixo da mo que est empunhando a arma prximo ao
pulso e com um dedo ou polegar da mo que segura a lanterna, ir controlar o interruptor
ligando/desligando.
4.3.3 Chapman
A Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 274) assim apresenta a tcnica:
Esta tcnica foi desenvolvida por Ray Chapman, ex-policial e ex-campeo mundial
de tiro prtico. Chapman, adaptou a posio Weaver Modificada.
O mtodo consiste em empunhar a lanterna segurando-a com apenas os dedos
polegar e indicador, os trs restantes seguem firmemente, segurando a mo que
empunha a arma, dando um, maior apoio e estabilidade.
95
Fig. n 43 Tcnica Chapman
Fonte: Nrapublications
Fig. n 44 - Tcnica Chapman
Fonte: Nrapublications
Para que possamos entender a referncia constante no manual da Polcia Militar
de Santa Catarina ao mencionar a posio de tiro Weaver Modificada, necessitamos
caracteriz-la. A Polcia Militar de Santa Catarina (1998, p. 29), assim a descreve: o mtodo
consiste em levar reto o brao direito que empunha a arma e manter esticado, sendo que o
brao ficar dobrado, o corpo permanece na lateral.
Fig. n 45 Posio de tiro Weaver Modificada
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
Conforme Nrpublications (2009), a Tcnica Chapman funciona bem tanto com
lanternas pequenas quanto grandes. O mtodo facilmente assumido quando so empregadas
posies de tiro issceles ou issceles modificado. uma tcnica de difcil emprego para
pessoas que tenham mos pequenas ou quando se usa uma lanterna pesada. Esta ltima
particularmente preocupante quando temos uma abordagem em que a utilizemos por longos
perodos.
Segundo Suarez (1996), na Tcnica Chapman, a lanterna segura pela mo fraca,
especificamente pelo dedo polegar e indicador em um tipo de sinal de ok. Os outros trs dedos
96
se envolvem em torno da pistola de maneira normal. O interruptor tambm acionado pelo
indicador ou polegar da mo que suporta a lanterna. No to rgida quanto a tcnica Harries,
mas consideravelmente mais fcil de ser usada por aqueles que tem algum tipo de problema
no ombro. Adicionalmente, h um desvio menor da posio normal de tiro do que na Harries.
A Tees Brazil (2004, CD-ROM), assim referencia a Tcnica Chapman:
Tambm conhecido como a Tcnica Paralelo [...] uma tcnica que se adapta bem a
postura de tiro issceles e suas variantes. A lanterna segura com o polegar e
indicador da mo fraca, e os demais dedos da mo que seguram a lanterna auxiliam
na empunhadura da arma. A tcnica [sic] desenvolvido [sic] para o uso com
lanternas de corpo grande e acionamento no corpo.
Vantagem
Funciona bem com lanternas grandes e pequenas;
Faixa [sic] de luz alinhado automaticamente com o cano da arma;
De fcil assimilao e adapta-se bem a posturas issceles e variantes;
Desvantagem
Limitado [sic] a uso de lanternas com acionamento no corpo;
Difcil de executar se o atirador tiver mos pequenas ou lanterna muito grande;
Lanterna desalinhado [sic] com a arma durante o disparo;
Tentativas de alinhar luz com ameaa pode desalinhar em relao ao cano e virseversa [sic];
Foco de luz fica localizado no centro de massa do atirador.
Como podemos perceber ao ser descrita a maneira como deve ser executada a
Tcnica Chapman, mesmo no sendo to rgida quando Suarez a ela se refere, essa possibilita
que o policial tenha uma semi-empunhadura dupla, o que contribuir para uma melhor
estabilidade durante o tiro.
Para que possamos entender a referncia constante no manual da Polcia Militar
de Santa Catarina ao mencionar a posio de tiro Issceles, necessitamos caracteriz-la. A
Polcia Militar de Santa Catarina (1998, p. 31), assim a descreve:
Esta tcnica consiste em deixar o corpo meio curvado e de frente para o alvo, sendo
que as pernas ficam um pouco flexionadas com os ps na mesma linha horizontal, e
os braos esticados a frente formando um tringulo, tendo como base os ombros,
ficando a mo fraca apoiada mo forte.
As figuras n 42 e 43, a seguir, nos do uma idia precisa de como a posio de
tiro issceles.
97
Fig. n 46 Posio de tiro Issceles
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
Fig. n 47 Posio de tiro Issceles
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
4.3.4 Ayoob
Essa tcnica foi desenvolvida pelo policial Massad Ayoob, policial e escritor
norte-americano, foi baseada na posio de tiro issceles. (POLCIA MILITAR DE
SANTA CATARINA, 1989, p. 38).
A Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 275), assim descreve a tcnica:
O mtodo consiste em levar juntas a mo que segura a lanterna e a que empunha a
arma frente, os braos ficam esticados em direo ao alvo e os polegares ficam
juntos, lado a lado.
Ayoob, somente recomenda tal tcnica, para distncias pequenas, entre 05 e 07
metros, podendo efetuar um disparo preciso, cegando o alvo com a luz da lanterna.
Para distncias maiores, Ayoob recomenda a posio de tiro Chapman.
Fig. n 48 Tcnica Ayoob
Fonte: Nrapublications
Fig. n 49 - Tcnica Ayoob
Fonte: Nrapublications
98
Segundo a Nrpublications (2009) assim como a Tcnica Chapman, as mos juntas
na Tcnica Ayoob restrita a lanternas que tenham interruptores montados em sua lateral, e
cansativa para um uso prolongado com modelos mais pesados. Os benefcios so que ela
requer menos formao para dominar do que a maioria das demais tcnicas durante as
abordagens. A tenso isomtrica proporcionada estabiliza a arma e melhora a preciso.
Empregando a Tcnica Ayoob, o atirador segura a lanterna como se fosse uma espada, onde os
dedos envolvem a lanterna e as duas mos ao se aproximarem criam uma fora semelhante a
posio issceles, terminando com o toque entre os dois polegares. A ltima ao cria uma
tenso isomtrica firme para a arma de fogo.
A Tees Brazil (2004, CD-ROM), faz aluso a uma variao da Tcnica Ayoob
assim descrevendo:
Uma variante desta tcnica segurar a lanterna como se fosse uma espada [sic]
entretanto [sic] usando somente o dedo [sic] e dedo indicador para segurar a
lanterna e os outros trs dedos se enrolam em volta da empunhadura da arma, desta
forma oferecendo uma semi-empunhadura.
Vantagem
Funciona bem com lanternas grandes ou pequenas;
Faixa de luz e [sic] alinhada automaticamente com o cano da arma;
Adapta-se bem com a [sic] posturas issceles e variantes;
A empunhadura mais parecido [sic] com empunhadura dupla natural do atirador.
Desvantagem
Limitado a uso de lanternas com acionamento no corpo;
Difcil de executar se o atirador tiver mos pequenas ou lanterna muito grande;
Lanterna desalinhada com arma durante disparo;
Tentativas de alinhar luz com a ameaa pode desalinhar em relao ao cano e
virse-versa [sic];
Foco de luz fica localizado no centro de massa do atirador.
4.3.5 Rogers
A Tees Brazil (2004, CD-ROM), assim assevera acerca desta tcnica:
Bill Rogers, antigo agente FBI foi um dos primeiros a perceber a genialidade das
lanternas tticas/combate e depois a desenvolver uma empunhadura para as
primeiras lanternas da Surefire [...].
[...] a mais adequada para as lanternas com acionamento na base [...] a nica
tcnica que permite uma empunhadura que podemos chamar de dupla.
A arma empunhada com a mo forte. A lanterna segurada como se fosse um
charuto entre o dedo indicador e dedo mdio. Os dois [sic] sobrando so envoltos na
mo forte da empunhadura da arma. A lanterna acionada pressionando a base
contra a palma da mo fraca.
99
Vantagem
Permite uma empunhadura dupla;
Indicada para posturas de tiro tipo issceles e variantes.
Desvantagem
Aplica-se somente a lanternas de pequeno porte com acionamento na base;
Exige destreza na aplicao.
Fig. n 50 Tcnica Rogers
Fonte: livro de Ken J. Good
De acordo com a Nrpublications (2009) a tcnica Rogers, foi posteriormente
refinada pela Surefire para uso com porta lanterna de combate. Este mtodo est limitado a
lanternas pequenas, equipadas com boto de acionamento na base.
Entendemos que um mtodo que requer grande treinamento por parte do
policial, at que adquira a destreza necessria a sua utilizao.
4.3.6 Neck ndex ou puckett
Estes so os dois nomes que esta tcnica apresenta.
A Tees Brazil (2004, CD ROM) faz a seguinte anlise da mencionada tcnica:
[...] ensinando desde os incios dos anos 90 pelos instrutores Ken Good e David
Maynard [...] ganhou o nome de Tcnica Puckett em 1994 quando Brian Puckett
escreveu uma matria sobre os [sic] virtudes da tcnica. Especificamente
desenvolvido [sic] para ser aplicado [sic] com uma lanterna de combate tipo surefire,
com acionamento na base, para aproveitar ao mximo a potncia das lampadas [sic]
de xenon com a potencia [sic] das baterias de lithium.
100
A lanterna segurado [sic] na mo fraca e posicionado [sic] na altura da cabea logo
abaixo da orelha, para lanternas de porte grande como a Maglite o corpo da lanterna
pode ser apoiado no ombro do atiradores [sic].
Vantagens
Ilumina bem ala e massa de mira;
Transio natural entre a Tcnica FBI e Keller;
Funciona bem com ambos [sic] lanternas pequenas e grandes;
Adaptvel a lanternas de acionamento no corpo e na base;
Minimiza cansao do atirador ao usar lanterna de grande porte, pois o corpo
sorve [sic] absorve a maior parte do peso;
Minimiza possibilidade de confuso motora;
Permite varrer com a lanterna sem varrer com a arma;
Lanterna pode ser usada como arma de impacto, pois se encontra engatilhada
acima do ombro aplicando conceito de golpear com lanterna enquanto retraia a
arma para fins de reteno;
Excelente para disparos em deslocamento lateral;
Permite usar com brao ferido pois simula posio de flipper tpico de membro
ferido;
Fcil assimilao pois igual a posio de entrevista adotado por policiais
durante abordagem;
Excelente por reter arma e usar lanterna como arma de impacto (opes de
fora).
Desvantagens
Atirador atira com apenas uma mo;
Atirador pode causar iluminao em excesso na ala de massa;
Lanterna posicionado [sic] prximo a cabea do atirador.
As vantagens e desvantagens apresentadas pela Tees Brazil (2004) so as mesmas
divulgadas no stio da Nrpublications (2009) que acrescenta que queles que testaram
diferentes tcnicas em ambiente de Close Quater Batle (CQB), concordaram que a habilidade
de fazer cobertura e atirar bilateralmente compensa a suposta desvantagem da menor
estabilidade da Tcnica Neck Index em relao a outra que utilize a unio das mos.
Fig. n 52 Tcnica Neck Index
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 51 Tcnica Neck Index
Fonte: Surefire Institute
101
4.3.7 Keller
No stio da Surefire Institute (2009) a tcnica Keller apresentada como tendo
sido desenvolvida pelo policial Van Keller, pertencente Polcia do Estado de Gergia, sendo
descrita como uma mera variao da Tcnica Harries, porm bastante distinta.
Para executar a Tcnica de Keller, a lanterna segura como se fosse uma espada,
com o dedo polegar no interruptor de ligar/desligar. Os braos do atirador estaro estendidos,
sendo que o brao que empunha a arma estar por baixo do brao cuja mo estar
empunhando a lanterna. Os pulsos estaro juntos e a parte de trs da mo que empunha a arma
aperta firmemente contra a parte de trs da mo que empunha a lanterna para criar uma tenso
estabilizadora. Por exigir uma complexidade motora, a Tcnica de Keller deve ser praticada
para criar memria muscular a fim de evitar ter o estrondo de deslizamento do ferrolho da
pistola no pulso ou antebrao durante o tiro, especialmente quando os braos no forem
completamente estendidos.
Conforme a Surefire Institute15(2009) a Tcnica Keller, apresenta ainda, as
seguintes vantagens e desvantagens:
Vantagens
Alinhe muito bem a o foco da lanterna com o cano da arma;
Auxilia a enxergarmos a massa de mira da arma, dando suporte antes da
execuo do tiro.
Desvantagens
Limitada s para um tipo de lanterna;
Deslocamento do alinhamento do cano com a lanterna durante o disparo;
Cansao quando empregada por um longo tempo, especialmente com lanternas
grandes;
proximidade das mos aumenta a chance de uma contrao involuntria da mo
que empunha a arma quando estiver usando lanterna com interruptor lateral,
podendo causar confuso;
Difcil de usar com uma mo ou brao ferido;
Alinhamento preciso, rpido do cano da arma e da lanterna com o objetivo exige
prtica intensa;
tentativa de alinhar a lanterna na direo do objetivo pode alterar o alinhamento
da arma em relao ao objetivo e vice-versa;
15
Traduo livre deste autor.
102
Luz localizada no centro de massa do atirador.
A Tees Brazil (2004, CD ROM), ainda acrescenta como vantagem, que contrrio
a Tcnica Harries, a Tcnica Keller ergonomicamente favorvel a posturas tipo issceles e
variantes.
Fig. n 53 Tcnica Keller
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 54 Tcnica Keller
Fonte: livro de Ken J. Good
4.3.8 Marine corps
De acordo com o stio da Surefire Institute (2009)16 esta tcnica tem o seu
desenvolvimento atribudo aos guardas da embaixada do Corpo de Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos.
A tcnica consiste pela aproximao das mos, onde uma pega a lanterna como se
estivesse apertando uma espada e com o dedo polegar que o policial ir acionar o interruptor
ligando/desligando. A beira da lente de lanterna apertada adiante contra as pontas dos dedos
da mo que seguram a arma, criando tenso de um estabilizar.
Vantagens
Surpreendentemente confortvel e estvel, at com lanternas grandes;
Mantm o corpo da lanterna bem alinhado com o cano da arma de fogo;
Em face da empunhadura, principalmente quando portamos lanternas grandes, auxilia
na iluminao ma massa de mira antes de executar o tiro;
Desvantagens
Limitado s para lanternas com lentes bastante grandes;
Desloca o cano da arma durante o disparo;
16
Traduo livre realizada por este autor.
103
A proximidade das mos aumenta a chance de uma contrao involuntria da mo que
segura a arma de fogo quando o interruptor lateral for apertado, podendo ocorrer
confuso e vice-versa;
tentativa de alinhar a lanterna na direo do objetivo pode alterar o alinhamento da
arma em relao ao objetivo e vice-versa;
A luz localizada no centro de massa do atirador.
Fig. n 55 Tcnica Marine Corps
Fonte: Surefire Institute
4.3.9 Hargreaves
No stio da Surefire Institute (2009) e na Tees Brazil (2004), encontramos as
mesmas referncias sobre a Tcnica Hargreaves.
Segundo a Tees Brazil (2004, CD ROM) a tcnica assim descrita:
[...] recebeu o nome de Mike Hargreaves, operacional do Exrcito Britncio, [...] e
instrutor de tiro renomado, simples e fcil assimilao.
O emprego da tcnica limitado a lanternas com acionamento na base, entretanto,
excelente para os casos quando arma e lanternas esto coldreados. A arma sacada
normalmente, enquanto a lanterna enquanto que a lanterna que acondicionada com
bulbo para baixo, sacada empunhando-a na palma da mo. Ambas as mos so
apresentadas em linha reta, posicionando a lanterna abaixo da arma e ativando-a
com os dedos da mo forte.
Vantagens
Simples, eficaz e de fcil assimilao e memorizao em relao a outras tcnicas
mais complexas;
Automaticamente alinha lanterna com a arma.
Desvantagens
Tcnica limitada a lanternas com acionamento na base;
No oferece uma plataforma estvel para o tiro;
104
Cautela deve ser tomada durante disparos mltiplos para que a mo fraca no entre
na frente do cano;
Fig. n 56 Tcnica Hargreaves
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 57 Tcnica Hargreaves
Fonte: livro de Ken J. Good
4.3.10 Tcnica lite-touch
Segundo o stio da Nrapublications (2009) esta uma variao da tcnica
Hargreaves Lite-Touch, pois estabelece uma estreita aproximao de uma empunhadura
normal, uma vez que a mo que segura a lanterna, tambm ir auxiliar na empunhadura do
armamento.
Fig. n 58 Tcnica Lite-Touch
Fonte: Surefire Institute e Nrapublications
Vantagens
Oferece maior preciso e estabilidade durante o tiro, com um mnimo
deslocamento do feixe de luz da lanterna;
105
Sua transio tanto a tcnica FBI, FBI modificado e Cross-Support rpida e
fcil;
menos cansativa em relao a outras tcnicas para arma longa.
Desvantagens
Funciona somente quando temos o boto de ligar/desligar da lanterna,
transmitido a um dispositivo de presso localizado no cabo do armamento;
difcil de usar com uma ferida fsica, e luz est localizado centro de massa.
4.3.11 Tcnica FBI modificada para arma porttil
A tcnica FBI modificada para armas portteis idntica a utilizada com arma de
porte.
Fig. n 59 Tcnica FBI Modificada para arma porttil
Fonte: Surefire Institute e Nrapublications
Segundo a Nrapublications (2009) as vantagens e desvantagens desta tcnica so
as mesmas apresentadas para o seu uso com arma de porte.
4.3.12 Tcnica cross-support
A tcnica Cross-Support, de acordo com a Nrapublications (2009) poder ser
empregada de trs maneiras diferentes e os seus prs e contras tambm apresentam variaes
conforme o seu emprego. Em geral, a abordagem funciona bem com as pequenas e as grandes
lanternas, proporcionando maior preciso e estabilidade durante o tiro, alm de ser fcil a sua
transio para as tcnicas FBI, FBI modificado e Lite-Touch.
106
Vejamos quais so as vantagens e desvantagens das variaes apresentadas da
tcnica Cross-Support, segundo a Nrapublications (2009) quando a elas assim se refere.
4.3.12.1 Tcnica cross-suport variao n 1
Nesta tcnica temos:
Vantagens
A lanterna fica fora do centro de massa;
Pode descansar a arma sobre o antebrao que empunha a lanterna;
Podemos bloquear a arma, com o auxlio da mo que empunha a lanterna.
Desvantagens
A abordagem ir sucumbir, durante o tiro, deslocando o feixe de luz, em razo
do recuo.
Fig. n 60 Tcnica Cross-Support Variao n 1
Fonte: Surefire Institute e Nrapublications
4.3.12.2 Tcnica cross-suport variao n 2
Nesta tcnica, o carregador da arma, ficar pressionado no vinco formado pelo
bceps e a parte superior do antebrao, com o cotovelo sendo apontado para frente.
Fig. n 61 Tcnica Cross-Support Variao n 2
Fonte: Surefire Institute e Nrapublications
107
Vantagens
Podemos bloquear a arma, com o auxlio da mo que empunha a lanterna.
Desvantagens
Em razo de sua pobreza no que diz respeito a ergonomia, possvel o seu uso
somente com a posio de tiro Weaver;
A abordagem ir sucumbir, durante o tiro, deslocando o feixe de luz, em razo
do recuo.
Ideal para uso somente com lanternas que possuem acionamento em sua base.
4.3.12.3 Tcnica cross-suport variao n 3
Nesta tcnica, a posio da mo que segura a lanterna em relao a que empunha
a arma semelhante a tcnica Harries.
Fig. n 62 Tcnica Cross-Support Variao n 3
Fonte: Surefire Institute e Nrapublications
Como grande desvantagem dessa variao em relao as demais, o fato do feixe
de luz estar localizado no centro de massa.
4.3.13 Tcnica flashlight on the primary weapon technique
A tcnica que a seguir apresentaremos nas figuras n 71 e 72, acreditamos que seja
uma das menos conhecidas, porm, merece nosso conhecimento, pois poder um dia nos ser
til na atividade operacional.
Na Flashlight on the primary weapon technique, segundo Lawrence (2005), esta
usada quando a arma primria ou principal (rifle ou shotgun) tem uma lanterna montada nela.
108
Fig. n 63 - Flashlight on the primary
weapon technique
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
Fig. n 64 - Flashlight on the primary
weapon technique
Fonte: livro Tactical Pistol Shooting
Se tivermos um mau funcionamento da arma, ainda assim sua lanterna poder ser
usada. Simplesmente segure a arma com a mo fraca. Aponte a lanterna da arma primria ou
principal na direo do objetivo e com a arma secundria (pistola) efetue o disparo usando a
tcnica de disparo de empunhadura simples.
4.3.14 Tcnica mount light
Considerando a dificuldade do uso das tcnicas com lanterna no emprego em
conjunto com armas portteis, entendemos que a melhor alternativa tanto para esse tipo de
armamento, quanto para armas de porte, so quando temos acoplada a prpria estrutura da
arma a lanterna, o que ir oferecer ao policial militar, melhor desempenho durante uma
abordagem e se necessrio, melhor resultado de tiro, uma vez que estar se utilizando de
empunhadura dupla.
No descobrimos na bibliografia consultada a origem da tcnica que atualmente
conhecida como Mount light, mas acreditamos que seja a mais recente, possivelmente
desenvolvida pela indstria blica, a partir de informaes e solicitao de militares e/ou
policiais.
Fig. n 65 Tcnica Mount Light com arma de porte
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 66 Tcnica Mount Light com arma porttil
Fonte: Surefire Institute
109
Nessa tcnica conforme podemos perceber nas figuras n 65 e 66, a lanterna est
completamente acoplada ao armamento. Existem armas que possuem trilhos especiais para a
fixao da lanterna e outras, principalmente armas longas, utilizam mecanismos tipo anis
onde a lanterna introduzida e fixada.
Considerando que, a maioria das armas necessitam que nelas sejam instalados
dispositivos que so chamamos de trilhos, para que outras ferramentas sejam acopladas,
apresentamos a seguir, dois modelos, sendo que existem uma variedade grande, que so
adaptveis em diversos calibres.
Fig. n 67 Modelo de trilho
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 68 Modelo de trilho
Fonte: Surefire Institute
Na fig. n 69 so apresentadas duas armas portteis, contendo trilhos instalados, os
quais lhes permitem o acoplamento de lanternas e outros equipamentos.
Fig. n 69 Lanternas em armas portteis
Fonte: revista Team One Network
110
Na matria que faz aluso a arma apresentada na fig. n 70, a qual a PMSC j
dispem h algum tempo, temos uma enftica anlise das novas tendncias, quando assim
narra o seu autor: a nova carabina da Taurus j nasce com importantes atualizaes
tecnolgicas como o trilho para aposio de lanterna ttica e a possibilidade de emprego de
luneta de projeo hologrfica. (TENDLER, 2003, p. 36).
Fig. n 70 Carabina MT 40 com lanterna
Fonte: Revista Magnum
Em outra matria divulga pela Revista Magnum, ao se referir a carabina Magal
.30, encontramos o seguinte comentrio sobre dispositivo para acoplamento de lanterna:
Alm de possuir miras de trtio pra combates em situao de baixa luminosidade,
item comum nos fuzis Galil, a Magal pode ser equipada com vrios modelos de
lanternas tticas, no alojamento isto destinado, alm de poder ser equipada com
apontadores laser e miras pticas ou reflex. Tais itens, longe de serem meros
cosmticos, so importantes na atividade policial, onde preciso significa muito.
(COUTO, 2002, p. 32)
Cabe ainda salientarmos que a empresa Taurus j disponibiliza a bastante tempo,
de armas de porte no calibre .40, com trilho customizado na prpria arma, o que lhe permite
acoplamento de lanterna ou lanterna/laser.
Como j citamos, existem outras tcnicas, todavia, procuramos aqui, citar aquelas
que mais comumente so empregadas por policiais militares na atividade operacional, muitas
vezes em funo de suas maiores difuses na atividade policial.
Quando apresentamos as tcnicas no captulo quatro, frisamos que aquelas no
encerravam o roll das existentes. As tcnicas com armas portteis so as menor conhecidas e,
portanto, as menos divulgadas, tornando-se muitas vezes o grande questionamento existente
111
por parte dos operacionais quando enfrentam situaes onde ao portarem armamento longo,
no sabem de que maneira utilizar a lanterna em ocorrncias policiais de baixa luminosidade.
4.4 CICLO OODA
Em qualquer atuao policial, seja ela realizada individualmente, em dupla ou por
um time ttico, principalmente aquelas em que no dispomos de informaes e/ou estas so
incompletas sobre o fato, antes de agir(em), o(s) policial(is) precisar(o) rapidamente
identificar a potencialidade do perigo, visualizando o ambiente, para poder processar os dados
que conseguiu(ro), os quais lhe(s) possibilitar(o) a tomada de uma deciso.
Assim, o conhecimento de alguns fatores, que julgamos importantes, como por
exemplo, o Ciclo da Observao, Orientao, Deciso e Ao (OODA), poder contribuir
sobremaneira para a eficcia de uma ao policial.
Talvez, dentre tantas profisses, aquela em que a anlise de situao e tomada de
deciso seja to melindrosa sobre o maior bem que o homem possui que a vida, seja a de um
policial. Seu julgamento e sua deciso, na maioria dos casos deve ser o resultado de um
treinamento tcnico-profissional que culminar, em fraes de segundo, num resultado, que
esperamos seja sempre altamente positivo.
A Skill Security (2003) faz uma referncia importante que nos remete as tomadas
de decises a que so submetidos os policiais durante as ocorrncias em que participam, onde
segundo a Surefire Institute, 80% (oitenta por cento) dos engajamentos entre policiais e
marginais em ocorrncias com troca de tiros acontecem numa distncia de at 10 metros, e
deste percentual, 93% (noventa e trs por cento) acontecem numa distncia de 03 a 05
metros.
Esta informao embora seja baseada em um estudo realizado de ocorrncias
atendidas nos Estados Unidos da Amrica, nos do um parmetro que acreditamos no seja
muito divergente de outros pases, com nveis de atendimento onde a incidncia seja
semelhante. Serve como um alerta ao policial a atentar para uma correta observao do
ambiente em que esta adentrando ou para as distncias existentes entre ele e o objetivo de sua
abordagem (pessoa, edificao, terreno, veculo, etc.).
A Skill Security (2003) ainda faz aluso a outro procedimento que est inserido
em nossa opinio na observao quando como sugesto para uma correta visualizao de um
112
ambiente, o policial alm de atentar para as particularidades do uso da viso perifrica poder
adotar o seguinte protocolo de visualizao: Observar Perto Mdio Longe; Observar Baixo
Mdio Alto.
Observar sempre o que se encontra mais prximo a ele, pois o perigo eminente
diretamente proporcional a essa distncia. A partir desse ponto que ir observar para os
locais que se encontram a distncias mais afastadas de onde se encontra. Para tanto, poder
adotar de forma prtica e rpida as etapas abaixo:
Observar Perto Mdio Longe;
Paralelamente ao protocolo acima descrito, e seguindo a mesma linha de
raciocnio em relao ao perigo eminente, o policial militar buscar observar o que se
encontra em um plano mais baixo, partindo para o mais alto. Para tanto, poder adotar de
forma prtica e rpida as etapas abaixo:
Observar Baixo Mdio Alto.
O protocolo de visualizao que apresentado pela Skill Security, poder ser
utilizado em abordagens a pessoas, edificaes, terrenos, veculos, etc. Acreditamos que seu
emprego proporciona segurana e rapidez na concluso eficaz da primeira etapa do ciclo
OODA e por conseqncia na tomada de deciso ao seu final.
Esse protocolo de visualizao como j frisamos anteriormente, entendemos fazer
parte da etapa inicial do ciclo OODA, justamente o da observao.
Na obra de Bernabeu (2008, p. 238-239), esse assim evidencia o Ciclo OODA:
[...] foi proposto em meados da dcada de 70, por John Boyd, um jovem capito da
Fora Area dos Estados Unidos. Atualmente, o modelo largamente empregado no
meio militar, mais especificamente na atividade de Comando e Controle.
O conceito surgiu quando John Boyd foi designado par estudar o combate areo
entre aeronaves americanas e coreanas, durante a Guerra da Coria. Nesse conflito,
os aviadores americanos se saram vitoriosos. Para cada avio abatido, o inimigo
perdia 10. Por qu?
A primeira hiptese levantada por John Boyd foi a de que os americanos
simplesmente tinham melhores aeronaves, mas estudos revelaram que o F-86
americano possua muitas qualidades inferiores s do inimigo, que utilizava MIG 15,
uma aeronave de fabricao russa. O MIG podia subir e acelerar com maior
velocidade e curvar mais rapidamente do que o F-86, no entanto, tinha duas
vantagens sobre o MIG-15: primeiro, o piloto podia ver melhor; segundo, tinha
controles hidrulicos mais potentes e geis do que o MIG. Isso significa que,
embora o MIG pudesse realizar vrias manobras curvar, subir e acelerar com
desempenho melhor que o F-86, este podia passar de uma manobra a outra muito
mais rapidamente do que o MIG, em funo de seus controles de vo. (grifo nosso)
[...]
113
Como os pilotos de F-86 podiam perceber mais rapidamente como a posio
relativa entre as aeronaves havia se alterado e mudar para outra manobra, a cada
nova ao os F-86 ganhavam uma ligeira vantagem, at que deixavam o MIG
vulnervel e exposto a um tiro de destruio. (grifo nosso)
[...]
John Boyd, ento, direcionou seus estudos para o combate terrestre, e constatou
que se um lado observasse, se orientasse, decidisse e agisse mais rapidamente
que o inimigo, tambm conseguia obter vantagem, como ocorria na guerra area.
Se o lado A apresentasse ao lado B um rpido e inesperado desafio ou srie de
desafios, aos quais B no conseguisse se ajustar ou acompanhar em um perodo de
tempo apropriado, a resposta mais lenta de B provocava sua derrota, geralmente a
um custo baixo para o vitorioso. Isso acontecia mesmo quando o lado perdedor era
materialmente mais forte do que o ganhador, [...] (grifo nosso)
Como podemos perceber as anlises realizadas por John Boyd passam a nos
conduzir a importncia de nos anteciparmos em relao ao oponente, seja em que rea for,
para que venhamos obter um resultado favorvel e no campo policial isso no diferente.
Vejamos a seguir como John Boyd analisou esse ciclo, utilizando-se de outros
fatos histricos, alm do anteriormente mencionado, para verificar sua eficcia. Neste sentido,
Coram (2002 apud BERNABEU, 2008, p. 239) faz a seguinte assertiva:
O que os vencedores desses casos tm em comum? A resposta de John Boyd que
eles consistentemente percorriam o ciclo OODA mais rapidamente do que seus
oponentes, ganhando, assim, uma vantagem ttica. Enquanto os adversrios se
preocupavam e reagiam a uma ao, a parte que detinha a iniciativa j estava
pensando em realizar ou executando uma atividade diferente. A cada ciclo, as aes
do lado mais vagaroso eram menos apropriadas situao e cada vez mais
distantes de uma resposta adequada ao em curso. Isso aconteceu em muitas
das mais decisivas batalhas histricas, como na vitria de Anbal sobre os romanos,
em Cannae; a vitria dos alemes sobre os franceses, em 1940; ou dos japoneses
sobre os ingleses na Malaya, em 1941. Em todos os casos, quem decidiu mais
rapidamente consagrou-se vencedor. (grifo nosso)
OBSERVAO
ORIENTAO
DECISO
Orientao &
controle implcito
Orientao &
controle implcito
Informaes
de Externas
Tradies
Culturais
Info.
Circunstncias
procedente
OBSERVAO
Interao com o
meio
AO
teis
Anlises Info.
Sistemticas
Fatores
Genticos
teis
Novas
Informaes
DECISO
(hipottica)
Info.
teis
Experincias
Anteriores
Feedback
Feedback
Fig. n 71 Representao do Ciclo OODA
Fonte: Skill Security
AO
(teste)
Interao dos
resultados
com o meio
114
A Skill Security (2003, CD ROM), faz a seguinte meno ao Ciclo OODA:
O Diretor do Instituto Surefire/USA, Ken J. Good, em artigo publicado pelo
Departamento de Polcia de Los Angeles, refere-se ao ciclo OODA como fator
preponderante de sucesso e de sobrevivncia ao policial que se v envolvido em
combate, onde cada segundo fundamental para uma tomada de deciso e para a sua
segurana. Neste artigo apresenta o ciclo OODA como um relgio onde cada quarto
de hora ou de segundo corresponde a uma ao distinta, sendo assim apresentado :
OBSERVAO
AO
ORIENTAO
DECISO
Fig. n 72 Representao do Ciclo OODA
Fonte: Skill Security
Julgamos que ao conseguirmos compreender a influncia que o ciclo OODA,
pode exercer nas aes policiais militares em que nossos profissionais da rea da segurana
pblica se achar envolvidos, suas noes acerca do que acontece ao seu redor, propiciar
vantagens significativas a uma tomada de deciso. Essa tomada de deciso, em nossa opinio,
estar presente em todos os processos do atendimento de uma ocorrncia, em seus mais
diversos momentos e a situao em que o policial militar necessitar empregar equipamento
para uso em baixa luminosidade, um desses importantes momentos.
Entendemos, portanto, que todas as medidas durante a atividade policial militar,
oriundas de procedimentos que foram tecnicamente estudos e analisados, visando a segurana
do policial militar em relao a ameaas eminentes, devem ser adotadas.
115
5 - ANLISE DOUTRINRIA E PESQUISA
Para que possamos fazer uma breve anlise acerca de uma doutrina no campo
operacional da Polcia Militar de Santa Catarina, tendo como cerne da questo o emprego de
equipamento emissor de luz (lanterna) na atividade policial militar, precisamos, antes de
navegarmos nesse tema, definirmos o que venha a ser doutrina.
Se recorrermos ao dicionrio da lngua portuguesa - Aurlio -, l encontraremos a
seguinte conceituao: Conjunto de princpios que servem de base a um sistema filosfico,
cientfico, etc.
A Polcia Militar de Santa Catarina (2002, p. 169) define doutrina como sendo o
conjunto de valores, processo e tcnicas, baseados na rea do conhecimento e da
realidade, tendo por finalidade explicar a conjuntura e modific-la no sentido da aproximao
do bem comum. (grifo nosso)
Doutrina de Polcia Militar para Valla (1999, p. 93) assim definida:
o conjunto de valores, de princpios gerais, de caractersticas, de conceitos
bsicos, de concepes tticas, de leis, normas e diretrizes, de tcnicas e
processos, que tem por finalidade estabelecer as bases para a organizao,
preparo e o emprego uniforme de todos os seus integrantes, na preservao da
ordem pblica e no mbito do respectivo Estado-Membro. [...] (grifo nosso)
No stio da Ahimtb (2009) encontramos tambm a seguinte definio para
doutrina militar: Conjunto de conceitos, princpios, normas, mtodos, processos e valores,
que tem por finalidade estabelecer as bases para a organizao, o preparo e o emprego das
Foras Armadas.
Se utilizarmos a conceituao de doutrina militar do Exrcito brasileiro,
substituindo o final da conceituao por Polcia Militar, acreditamos que tal conceito poderia
abranger perfeitamente qualquer Polcia Militar de nosso Pas. Mas ento onde se encontram
nossas doutrinas na Polcia Militar de Santa Catarina? Se questionarmos qualquer policial
militar sobre o tema, e pedirmos para que nos diga onde encontramos nossa doutrina,
julgamos que talvez, respondam que se encontram indubitavelmente em nossos
Regulamentos, Diretrizes, Cdigos e Normas, instrumentos que pautam nossas aes
enquanto policiais militares. Em nosso entendimento tambm l se encontram. Agora que j
temos uma noo sobre doutrina e onde a mesma pode ser encontrada, vamos trazer o tema
que propomos para o campo doutrinrio, verificando se o mesmo est contemplado no que diz
116
respeito a conceito, mtodos, emprego, equipamento, treinamento e capacitao para o
atendimento da sociedade, quanto a formao tcnica de nosso pblico alvo: o policial militar.
Considerando que nosso tema voltado a atividade operacional finalista da
Polcia Militar de Santa Catarina, as fontes de consulta no poderiam ser outras, a no ser a
bibliogrfica (livros, diretrizes, manuais) e a dos homens que dela fazem parte, traduzida em
uma pesquisa quantitativa e qualitativa, compondo desta forma a metodologia que elegemos
para a consecuo do presente trabalho.
Ao buscarmos em nossas Diretrizes, Normas e Orientaes, podemos verificar
que, as citaes presentes, traduzem a falta de conhecimento acerca do tema a que nos
propomos para a poca em que tais documentos norteadores foram redigidos, face a
abordagem que ao mesmo foi dispensada.
Entendemos que, esse conjunto de princpios, regras, normas e ensinamentos que
damos o nome de doutrina, deve ser a nossa bssola para que adotemos sempre as mesmas
medidas, uma vez que estaremos amparados em preceitos que foram criteriosamente
estudados. Sem esse direcionamento basilar, cada qual, adotar o que acha mais conveniente,
mais adequado a uma determinada ao, baseado naquilo que entende como sendo o mais
apropriado. Felizmente a PMSC, atravs da Nota de Instruo n 02/Cmdo-G/2009,
desencadeou um projeto denominado de Procedimentos Operacionais Padro (POP), que
entendemos ser de fundamental importncia, os quais esperamos que tragam novos
conhecimentos agregadores aos j existentes e que tambm faam uma reviso nas Diretrizes
de ao operacional, atualizando-as a realidade atual.
5.1 DIRETRIZES DA PMSC
Nesta fase de nosso trabalho, buscamos aquelas diretrizes que de alguma maneira
fazem meno ao emprego de equipamento emissor de luz (lanterna) na atividade policial
militar, estabelecendo um contraponto com as tcnicas e tticas atuais mais empregadas em
nossa atividade.
Precisamos antes de passarmos a uma anlise sobre as diretrizes que a seguir
elegemos para nosso estudo, considerarmos a data de suas respectivas edies, poca em que
o assunto baixa luminosidade era praticamente desconhecido do ponto de vista doutrinrio e
nas formaes dos profissionais de segurana pblica no era se quer citado. Precisamos sim,
117
nos preocuparmos com a atualizao das mesmas, sob pena de pagarmos com o mais alto dos
preos: a vida.
5.1.1 Diretriz permanente n 10
A Diretriz foi editada em 1989, que trata de policiamento ostensivo geral,
podemos perceber em diversos momentos aes que podero ser desenvolvida por policiais
militares, tornar-se-o prejudicadas se no estiverem acompanhadas de um bom equipamento
de iluminao ttica. Alguns trechos a seguir, assim descrevem:
c. Policiamento Ostensivo Montado
7) Na execuo do policiamento noturno, a patrulha portar equipamentos
refletivos. (grifo nosso)
[...]
d. Aspectos Gerais
1) A principal preocupao do PM na execuo do Policiamento Ostensivo Geral,
deve ser "O QUE VER" e "ONDE E COMO ATUAR", [...] (grifo nosso)
[...]
3) Situaes que merecem verificao:
i) Grupo de pessoas em local ermo ou mal iluminado ou de m freqncia (pode
ser viciados, traficantes ou delinqentes); [...] (grifo nosso)
n) Janelas ou portas abertas em residncias ou estabelecimentos comerciais,
especialmente no perodo noturno (pode haver delinqente no seu interior);
(grifo nosso)
[...]
4) Em qualquer situao suspeita, em princpio, o PM s deve atuar se estiver com
superioridade numrica ou de poder de fogo. No preenchendo essas duas
condies, dever solicitar reforo.[...]
[...]
6) Relaes com a comunidade:
[...]
c) Auxiliar pessoas em dificuldades em locais ermos, mal iluminados ou em
horrios imprprios (Ex: veculo, com famlia dentro, com pneu furado ou
problemas mecnicos); (grifo nosso)
[...]
10) Procedimentos especiais em caso de tiroteio:
f) Em caso de rendio ou indivduo ferido, procurar ter total viso dele, antes
de desarm-lo e socorr-lo (cuidado com simulao de ferimentos por parte do
delinqente). (grifo nosso) (POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, 2008)
Podemos perceber que em momento algum, houve uma preocupao na
elaborao desta Dir. Perm. e ainda em vigor, de que os policiais militares estivessem
portando uma lanterna que lhes permitissem atuar nas diversas situaes acima elencadas.
Um policial militar conseguir atuar de forma eficiente noite ou em algum
ambiente onde haja ausncia de luminosidade sem que esteja portando uma lanterna que lhe
d condies de segurana para a sua atuao?
118
Em algumas das situaes acima descritas, o legislador ou preocupou-se em que o
policial militar seja sempre visualizado (com equipamento refletivo) ou com a viso que o
policial militar deve ter para o desempenho de sua ao na ocorrncia, mas no expressa de
forma tcita, de que meios ir dispor para atingir tal objetivo. Cremos que deveria anteceder
as diversas situaes que so expostas nessa Diretriz, quais os equipamentos necessrios para
que o policial militar cumpra com eficcia a sua misso, estabelecendo at o mnimo em
lumens que uma lanterna deve ter para ser usada tcnica e taticamente.
Dentre as operaes citadas na Dir. Perm. n 10, gostaramos de fazer uma
pequena observao: as operaes de trnsito, quando realizadas noite, necessitam de mais
um modelo de lanterna ttica, que so aquelas providas em sua extremidade de dispositivo
refletivo, que permita aos condutores de veculos, visualizarem com antecedncia, os sinais de
trnsito, emitidos por gestos do policial militar, para que possam cumprir tais ordens. Essas
lanternas, no necessitam ter a potncia igual aquelas que sero empregadas em abordagens,
pois a sua principal funo a de sinalizao e no ofuscamento da viso do condutor do
veculo. Para o emprego no trnsito, como equipamento sinalizador, entendemos que as
lanternas atualmente existentes na Corporao cumprem bem o papel.
Extramos ainda, um ponto que julgamos importante, pois retrata o vazio existente
do conhecimento que tnhamos h quase vinte anos atrs em relao ao atual. Vejamos o que
descreve o legislador, no item a seguir:
2) Normas de procedimento durante o cerco, que deve ser, preferencialmente,
comandado por Oficial:
[...]
n) A lanterna deve ser usada afastada do corpo, somente o necessrio, e com
facho de luz intermitente; (grifo nosso)
Temos aqui, o nico momento em que a diretriz se refere ao uso da lanterna ttica
e tcnica, onde, embora no seja citado o nome da tcnica acima, o legislador est fazendo
meno tcnica FBI, contudo, esta uma das menos utilizadas atualmente, ainda que,
tenhamos situaes em que ela ter excelente empregabilidade ttica, como nos exemplos
aventados por Franco (2002, p. 61). Quanto emisso de luz, no se pode definir que ser
intermitente, pois o momento, a situao e as ordens emanadas do policial que estar no
comando da operao que definiram. Mais uma vez, nota-se claramente que no h uma
adequao apropriada da Diretriz, as tcnicas e tticas atualmente desenvolvidas e a realidade
de uma ao operacional.
119
5.1.2 Diretriz permanente n 11
Essa Diretriz foi editada em 1989 trata das operaes policiais militares e faz
meno a diversas situaes as quais podem nos levar a criao de inmeros cenrios
imaginrios de alguns teatros de operaes, contudo, o foco principal da mesma a
caracterizao de cada um dos tipos de operaes, que definem o que venha a ser Comando de
Trnsito, Varredura, Pente Fino, Cerco e Bloqueio Relmpago. Colhemos alguns trechos que
nos revelam a preocupaes do legislador, contudo, entendemos que deveriam ser mais
aprofundadas ou mencionar onde se encontram os itens de segurana a ser seguidos e de que
forma devem ser realizados, bem como, as tcnicas e tticas a serem adotadas. Vejamos os
trechos levantados:
[...]
f) Os PM no devero esquecer de por em prtica tcnicas como: progredir no
terreno, aproveitando os abrigos e cobertas, sempre protegidos, levando em
conta: ONDE VOU? QUANDO VOU? e POR QUE VOU?; (grifo nosso)
[...]
i) Procedido o cerco, determina-se aos delinqentes que acendam as luzes (se for
noite) e saiam com as mos sobre a cabea, aps o que, sero algemados, se for o
caso, e revistados; a edificao ser cuidadosamente revistada (inclusive
observando-se frestas de paredes, portas e janelas) com vistas a existncia de outros
delinqentes em seu interior. Para essa revista, o PM deve abrir rapidamente a porta,
tomando uma posio junto a parede interna que lhe de viso ampla do ambiente e o
torne um alvo difcil. Em se tratando de edificao trrea, o PM devera tomar
cuidados especiais com o teto, mormente se este for de madeira, sobre o qual
os delinqentes podero ocultar-se; (grifo nosso)
j) Se a ordem no for acatada, os PM faro uso do armamento qumico, tais como
bombas fumgenas e de gs lacrimogneo, o que forosamente obrigara os marginais
a deixarem o interior da edificao.
- preciso muita ateno quando da sada dos indivduos, pois podero tentar abrir
caminho a bala, dai a importncia do emprego, por parte dos PM, dos cuidados
individuais, relativos a progresso no terreno, aproveitamento de cobertas e abrigos
e proteo individual.
l) Em seguida, o local ser totalmente vasculhado, quando, ento, os PM faro as
buscas, visando a encontrar objetos furtados ou roubados, armas e txicos;
n) A lanterna deve ser usada afastada do corpo, somente o necessrio, e com
facho de luz intermitente. (grifo nosso).
Mais uma vez est presente aqui, a Tcnica FBI que mesmo no sendo
expressamente citada, est caracterizada pela descrio que mencionada do movimento que
o policial deve adotar com a lanterna em relao ao seu corpo. Mas que tipo de lanterna
devemos usar; que caractersticas e que potncia mnima em lumens dever ter essa lanterna,
para que possa ser empregada de forma tcnica e ttica? Essas so perguntas que no podem
ficar sem respostas em uma ao policial.
120
Na letra i h uma hiptese levantada pelo legislador, quando vislumbra a
possibilidade da operao estar sendo executada a noite, e divaga por inmeras outras
possibilidades no mesmo teatro de operaes apresentando na letra n o mtodo de emprego
da lanterna que vai de encontro a tudo aquilo que atualmente apresentado como o mais
adequado para situaes anlogas. Em intervenes da Polcia, onde esta j esteja no interior
do ambiente a que se props adentrar, a tcnica FBI no mais utilizada, mas sim qualquer
outra que possibilite a proximidade entre a lanterna e o armamento, preferencialmente que os
policiais tenham arma e lanterna integradas.
Quanto emisso da luz, ratificamos a observao feita na anlise da diretriz
anterior.
5.1.3 Diretriz permanente n 12
Essa Diretriz que foi editada em 1989, em seu item 5 (cinco), que trata da atuao
da guarnio de rdio-patrulha com dois policiais militares, assim assevera:
(m) noite, acrescentar os seguintes cuidados: (grifo nosso)
- Os faris da viatura devem ser utilizados para cegar os ocupantes do auto e
aumentar a visibilidade do PM; (grifo nosso)
- Que os ocupantes do veculo suspeito acendam as luzes internas;
- A lanterna de pilhas ou "spotlight" deve ser mantida ao lado e no a frente do
corpo do PM, e o seu foco deve ser dirigido aos olhos do suspeito, para ofusclo; (grifo nosso)
(...)
c. PERSEGUIO
1) A P
(...)
g) Caso o fugitivo se esconda sob vegetao densa, ou qualquer local cuja
visibilidade seja limitada, o PM nunca dever isoladamente, fazer uso de
lanterna na tentativa de localiz-lo sozinho. Providenciar rapidamente para que a
regio seja cercada, onde ento se far um "Pente Fino"; (grifo nosso)
Apesar de carecer, em nossa opinio, da apresentao de dados mais tcnicos, j
traz outros dados que estabelecem uma ligao ao efeito da luz sobre os olhos, indicando
mesmo que muito superficialmente a maneira de atuao dos policiais diante de uma
determinada situao. Acreditamos que nas diretrizes devem estar contidos os procedimentos
a serem adotados diante de uma determinada ao, descrevendo-os literalmente ou indicar que
devem ser seguidos diante de tal fato os procedimentos constantes no livro x ou no manual
y.
Essa diretriz nos chamou a ateno em trs aspectos:
121
1 - foi editada no mesmo ano das diretrizes permanentes de n 10 e 11, portanto,
os conhecimentos tcnicos acerca do uso da luz como uma forma auxiliar em ocorrncias
noite era conhecido seno da forma como hoje conhecemos, mas se tinha poca alguma
noo sobre o tema;
2 - faz meno em que direo a luz deve ser direcionada; outros meios de
emisso de luz (no caso, faris da viatura) que podero ser empregados e qual o objetivo a
atingir;
3 - faz registro no somente a lanternas de mo, que o objeto de estudo deste
trabalho, mas tambm, cita o spotlight, que se trata de um modelo de holofote de mo, que
tem sua utilidade operacional quando empregado nas buscas por pessoas, animais e objetos
em reas mais abertas, onde no tenhamos a participao de agressor(es) que possa(m)
colocar em risco a vida do policial militar. Holofotes no se prestam a empregos tcnicos e
tticos durante abordagens a pessoas, quando essas so identificadas como agressor(es)
sociais e necessitam ser neutralizadas de forma no-letal ou letal, pois no preenchem na
totalidade os requisitos apontados nos itens 3.3.2 e 3.3.3 deste trabalho.
As Diretrizes, como bem sabemos, so linhas reguladoras de procedimentos e
entendemos que quando passam a detalhar de que maneira o policial militar vai agir em
determinadas situaes, citando, por exemplo, os cuidados que dever adotar, tambm deve
contemplar em seu corpo, os meios que lhe auxiliaro na execuo de seu mister. Entendo que
pecamos quando comeamos a detalhar e o fazemos pela metade.
Passaram-se alguns anos aps a criao do BOE e hoje BOPE, para que a Polcia
Militar de Santa Catarina edita-se diretrizes atinentes a atividades na rea, de operaes
especiais, dentro de uma realidade que h muito tempo j se fazia necessria nas aes
envolvendo tropas dotadas de treinamentos mais especializadas. Surgem ento, as Diretrizes
Permanentes n 34/01 e 35/01, as quais tratam de operaes especiais, patrulhamento ttico e
aes de choque; porte e emprego de armas de fogo e munies na PMSC, respectivamente.
Essas Diretrizes, em nosso julgamento so um marco para as operaes especiais
em nosso Estado, pois apresentam de maneira bastante forte, conceitos, definies de
atribuies, doutrinas de emprego ttico, classificao dos armamentos e estabelecimento de
nveis de emprego, alm de preocupar-se com o treinamento e aprimoramento do policial
militar. Essas duas Diretrizes concitam outras Diretorias e Assessorias, como por exemplo, a
DALF e Corregedoria-Geral na participao desse novo processo evolutivo de treinamento e
122
capacitao do efetivo. A atividade finalista nelas exaltadas, no mais uma clula isolada no
processo, mas sim parte de um complexo mecanismo onde cada parte tem importncia
singular.
Na entrevista realizada com o Maj PM Marcelo Cardoso, Sub Cmt do
BOPE/PMSC, que adiante descreveremos na ntegra, perguntamos se existe alguma doutrina
especfica dessa Unidade Operacional para o uso de lanternas em aes com baixa ou
ausncia de luminosidade ou se seguem alguma diretriz especfica ou permanente da PMSC.
Assim nos respondeu aquele Oficial: Dependendo do tipo de ao que ser desenvolvida ser
determinada a disciplina de luzes.
Para qualquer policial que desconhea aes tticas em baixa luminosidade, a
resposta dada ter aparncia vazia. Todavia, com poucas palavras muito foi dito por esse
Oficial. J foi citado aqui, que equipes semelhantes ao COBRA, adotam diversos tipos de
entradas, sendo estas definidas de acordo com a situao. Para cada tipo de entrada,
poderemos adotar uma ou outra disciplina de luzes e essa apresenta algumas possibilidades
que sero executadas de acordo com a particularidade e objetivos da ao policial. Essa
doutrina a que se referiu o Sub Comandante do BOPE transmitida aquele seleto grupo de
policiais militares em instrues e cursos prticos, onde por vezes, tais informaes so
obtidas pelos instrutores de igual maneira.
Julgamos ser de fundamental importncia, a pesquisa, o ensaio, o estudo de casos,
a anlise cientfica, os seminrios, os congressos, pois somente atravs de algum desses
meios, conseguiremos atingir uma doutrina sobre o tema que nos possibilite caminhar de
forma mais segura quando necessitarmos desse apoio tcnico. Enquanto isso no ocorrer,
continuaremos, em alguns temas especficos, cada qual dono de sua verdade.
5.2 PESQUISA REALIZADA COM O EFETIVO DO COBRA/BOPE/PMSC
Segundo Santana (2009) o efetivo atual do BOPE de 111 (cento e onze) policiais
militares, sendo que deste total, 18 (dezoito) so pertencentes ao Grupo COBRA.
Realizamos uma pesquisa quantitativa com o esse Grupo, onde foi aplicado um
questionrio aos 18 (oito) policiais militares. Atingimos 100% do Grupo, na pesquisa
formulada por este autor.
123
O modelo de questionrio que este autor desenvolveu e aplicou, encontra-se no
apndice A.
A seguir apresentamos quantitativamente e graficamente as respostas obtidas
junto ao efetivo do COBRA/BOPE/PMSC, fazendo ao final de cada pergunta, uma pequena
anlise de cada questo.
1 Quantas lanternas esto disponveis ao COBRA/BOPE?
Grfico n 01 Nmero de lanternas para o COBRA
Fonte: desenvolvido por este autor
Embora tenhamos uma divergncia nos dados apresentados pela pesquisa, por
parte dos entrevistados, podemos observar pelo grfico, que 89% dos entrevistados afirmam
que no mximo 05 (cinco) lanternas esto disponveis ao Grupo COBRA/BOPE. Entendemos
ser um nmero suficiente se considerarmos estas sendo disponibilizadas para a guarnio de
servio, todavia, se considerarmos o Grupo que composto de 18 (dezoito) integrantes e
devendo ser esse equipamento individualizado, o nmero insuficiente.
2 Qual(is) a(s) marca(s) das lanternas disponibilizadas pela Polcia Militar utilizadas pelo
COBRA/BOPE? (poder ser marcada mais de uma alternativa)
124
Grfico n 02 Marca de lanterna
Fonte: desenvolvido por este autor
Aqui se constata um predomnio muito grande da marca Maglite em nossa
Instituio, em que pese termos o conhecimento h algum tempo, de que os seus modelos no
serem os melhores para uso ttico operacional. Entendemos que assim como em qualquer
outro equipamento ou material para uso na Polcia Militar, esse tambm deve ser adquirido
obedecendo caractersticas tcnicas mnimas.
3 Que tipo de bateria utiliza as lanternas do COBRA/BOPE?
Grfico n 03 Tipo de bateria
Fonte: desenvolvido por este autor
A bateria recarregvel a utilizada pelo modelo da Maglite que o BOPE possui.
Os entrevistados demonstraram esse conhecimento.
125
4 Qual a mdia de durao da bateria, com a lanterna ligada ininterruptamente?
Grfico n 04 Vida til da bateria
Fonte: desenvolvido por este autor
O tempo mximo em que podemos operar com a lanterna Maglite com bateria
recarregvel ininterruptamente de 120 min., conforme as especificaes tcnicas do
fabricante.
5 Quando necessitam de baterias que no sejam as recarregveis, a disponibilizao
imediata?
Grfico n 05 Disponibilidade imediata de bateria
Fonte: desenvolvido por este autor
Resta-nos uma dvida quanto ao que quiseram responder os entrevistados nesta
questo, face ao fato de que o BOPE tem a sua disposio somente lanternas com baterias
recarregveis.
126
6 H uma manuteno pela reserva de armas do BOPE nas lanternas disponibilizadas pela
Polcia Militar?
Grfico n 06 Manuteno
Fonte: desenvolvido por este autor
Mais da metade dos entrevistados (61,11%) no sabe se realizada algum tipo de
manuteno nas lanternas existentes no BOPE. Acreditamos que esse fato ocorra em razo de
que o acesso ao interior da reserva de armas seja restrito; local este onde ocorrem as
manutenes de primeiro escalo de todos os armamentos e equipamentos.
7 Voc se preocupa com o estado de conservao, manuteno e operacionalidade da
lanterna que usar durante o seu turno de servio?
Grfico n 07 Preocupao com o equipamento
Fonte: desenvolvido por este autor
Todos os entrevistados demonstraram preocupao com esse equipamento, pois
sabem na prtica, o quanto importante no exerccio de suas atividades operacionais.
127
8 As lanternas disponibilizadas pela Polcia Militar, quando se encontram na reserva de
armamento, possuem um local especfico onde ficam acondicionadas?
Grfico n 08 Local para a lanterna da reserva
Fonte: desenvolvido por este autor
A maioria dos entrevistados (77,77%) responderam afirmativamente; resposta esta
que condiz com a realidade que apontamos no item 5.4 deste trabalho.
9 A lanterna que voc utiliza durante o seu turno de servio, fica acondicionada em que
local?
Grfico n 09 Local da lanterna durante o servio
Fonte: desenvolvido por este autor
Entendemos que a lanterna a ser utilizada pelo policial militar deva estar
acondicionada em um porta-lanterna no seu cinto de guarnio ou no colete ttico. No porta
luvas poder estar uma ou mais lanternas reservas.
128
10 As lanternas utilizadas pelo COBRA/BOPE so acopladas ao armamento?
Grfico n 10 Lanterna acoplada a arma
Fonte: desenvolvido por este autor
Infelizmente o BOPE no possui lanternas que sejam acopladas ao armamento, o
que tornaria mais fcil e prtico o emprego desse equipamento em ocorrncias policiais.
11 O COBRA/BOPE possui armas de porte ou porttil com trilho ou outro dispositivo para
acoplamento de lanternas?
Grfico n 11 Dispositivo para acoplar lanterna
Fonte: desenvolvido por este autor
As nicas armas de porte que a PMSC possui atualmente que lhes possibilita
acoplar uma lanterna, como por exemplo, a da marca/modelo Streamlight TLR-1 a Pistola
PT 100 e PT 24/7. As demais armas, de porte ou porttil de que dispem a PMSC,
necessitariam de trilhos especiais destinados ao acoplamento de lanternas, miras telescpicas
e miras lasers.
129
12 Voc considera que as lanternas existentes no COBRA/BOPE atendem as necessidades?
Grfico n 12 Lanternas do BOPE x Necessidades
Fonte: desenvolvido por este autor
Essa a dura realidade aqui relatada, onde a prtica tem demonstrado na opinio
desses profissionais (94,44%), que o equipamento para uso em baixa luminosidade no atende
as suas necessidades.
13 Voc conhece as principais tcnicas de emprego de lanterna em conjunto com o
armamento?
Grfico n 13 Conhecimento das tcnicas
Fonte: desenvolvido por este autor
Todos os integrantes foram categricos ao afirmar que so conhecedores das
principais tcnicas para uso de lanterna em ocorrncias envolvendo baixa luminosidade.
130
14 A guarnio do COBRA/BOPE equipa-se individualmente com lanternas ao entrar em
servio?
Grfico n 14 Lanternas individuais para o servio
Fonte: desenvolvido por este autor
Entendemos que a realidade apontada por 61,11% dos entrevistados, dever
necessariamente buscar atender a totalidade do efetivo do Grupo COBRA/BOPE, face s
misses especiais afetas a esse Grupo, aliadas ao fato de que tal equipamento deve ser
individual.
15 O COBRA/BOPE faz treinamento de tiro e abordagem em baixa luminosidade?
Grfico n 15 Treinamentos
Fonte: desenvolvido por este autor
Assim como qualquer outro treinamento, somente a sua constncia far com que
tenhamos uma memria muscular reflexa, fazendo com que determinado movimento ocorra
automaticamente quando diante de uma situao dele venhamos a necessitar.
131
16 Em relao a pergunta anterior, se a resposta foi afirmativa, com que freqncia realizam
treinamentos?
Grfico n 16 Frequncia de treinamentos
Fonte: desenvolvido por este autor
So inmeros os treinamentos realizados pelo Grupo COBRA/BOPE ao longo de
um ms. Entre as freqncias apontadas como tendo a maior incidncia (1 x semana e 1 x
ms, ambas com 33%), acreditamos que se realizarem treinamentos dentro desse perodo,
acreditamos que possam ter um bom desempenho operacional.
17 Voc utiliza lanterna fornecida pela Polcia Militar ou usa lanterna particular?
Grfico n 17 Lanterna (Polcia Militar x Particular)
Fonte: desenvolvido por este autor
Mais uma vez temos aqui expressa, atravs de 88,88% (particular +
PM/particular) dos entrevistados a falta de confiana na lanterna que disponibilizada pela
PMSC. Aqueles que responderam PM/particular usam a lanterna da PM como reserva.
132
18 Voc se sente seguro para atender uma ocorrncia em baixa ou na ausncia de
luminosidade, com a lanterna disponibilizada pela Polcia Militar?
Grfico n 18 Lanterna da PM x Segurana
Fonte: desenvolvido por este autor
A insegurana quando necessitam da lanterna que a PMSC disponibiliza atinge
77,77% dos entrevistados, refletindo o fato de que a anlise do equipamento hoje existente em
carga merece ser revisto.
19 Voc considera o conhecimento tcnico e o treinamento de tiro e/ou abordagem em baixa
luminosidade importante? (atribua o grau de importncia).
Grfico n 19 Conhecimento tcnico/Treinamento x Grau de importncia
Fonte: desenvolvido por este autor
O conhecimento tcnico dos integrantes do Grupo COBRA/BOPE refletiu a
resposta dada, onde o grau de importncia mnima atribuda ao assunto foi 03 (trs), sendo
que 88,88% dos entrevistados atriburam grau mximo.
133
20 Voc gostaria de lhe fosse proporcionado mais conhecimento tcnico e treinamento
sobre tiro e/ou abordagem em baixa luminosidade?
Grfico n 20 Novos conhecimentos tcnicos x Necessidade
Fonte: desenvolvido por este autor
Sempre h muito a se aprender em todas as reas do conhecimento,
independentemente do estgio que nos encontramos, e o integrantes do Grupo COBRA/BOPE
deixam claro, quando na totalidade (100%) dos entrevistados querem que lhes dem mais
conhecimento sobre o tema.
21 Voc j participou de alguma ocorrncia onde o uso de lanterna foi fundamental?
Grfico n 21 Lanterna x Fator decisivo
Fonte: desenvolvido por este autor
Essa ltima pergunta estabelece, em nossa opinio, a relao diretamente
proporcional entre a importncia do equipamento (lanterna) que, quando empregada
corretamente, utilizando-se de alguma das tcnicas existentes e dentro da ttica, ser capaz de
tornar-se decisiva em uma ao operacional, saindo dela com a mesma discrio que entrou.
134
5.3 ENTREVISTAS
Realizamos uma entrevista atravs de e-mail com o Maj PM Marcelo Cardoso,
Sub Cmt do BOPE/PMSC e com o Cap PM Julival Queiroz de Santana, Cmt da COE/PMSC,
visando atender uma das etapas eleitas na metodologia para a consecuo do presente
trabalho, que a da pesquisa qualitativa.
Os dois Oficiais acima nominados possuem larga experincia profissional na rea
de Operaes Especiais, ambos possuem o Curso de Operaes Especiais, entre outros cursos
realizados no Brasil e no exterior, portanto, esto altamente credenciados a falar do assunto.
Suas vastas folhas de servios prestados a Polcia Militar de Santa Catarina, com inmeras
misses bem sucedidas, os tornaram referncia na rea de Operaes Especiais em nosso
Estado e no Brasil. Importante ainda frisarmos acerca do currculo desses dois Oficiais que o
Maj PM Cardoso fez curso de baixa luminosidade na Surefire Institute, que considerado um
dos maiores centros de treinamento militar e policial dos Estados Unidos.
O modelo das perguntas que este autor desenvolveu e aplicou aos Oficiais
anteriormente citados, encontra-se no apndice B.
1 Quais as marcas/modelos de lanternas fornecidas pela Polcia Militar e qual a quantidade
hoje disponibilizada ao efetivo? (poder ser marcada mais de uma alternativa)
Surefire
Maglite
Police
Streamlight
Scorpion
Outras
Quantidade
Maj Cardoso: - Maglite; 1 por viatura.
Cap Santana: - Maglite; 12.
2 As lanternas fornecidas pela Polcia Militar, utilizam qual(is) o(s) tipo(s) de pilhas ou
baterias? (poder ser assinalada mais de uma alternativa).
Pilha alcalina
Bateria recarregvel
Lithium
Outras
Maj Cardoso: - Pilha alcalina e bateria recarregvel.
Cap Santana: - Bateria recarregvel.
3 - H uma preocupao por parte dos policiais militares que trabalham na reserva de armas,
com a manuteno, conservao e acondicionamento das lanternas?
Maj Cardoso: Sim.
135
Cap Santana: No que tange ao acondicionamento das lanternas h certa
preocupao por parte dos PM em mant-las em local apropriado (longe de umidade e
exposio ao meio), no entanto no que diz respeito a manuteno e conservao, observamos
certa deficincia, a qual em tese pode estar aliada a falta de conhecimento especfico nesta
rea, em especial ante aos cuidados indispensveis a manuteno e conservao destes
equipamentos. Outro fator importante neste contexto vincula-se a origem dos equipamentos,
normalmente importados e que no contam com a devida assistncia tcnica local, tampouco
lhes so agregados manuais traduzidos, o que dificulta a compreenso por parte dos usurios e
responsveis pela sua guarda, conservao e manuteno, (disseminao de cultura
preventiva).
4 H alguma recomendao por parte desse Comando, atravs da 4 Seo, aos armeiros,
para cuidados coma a manuteno, conservao e acondicionamento das lanternas? Justificar.
Maj Cardoso: Sim, procurar manter as lanternas carregadas ou com pilhas novas
sem viciar as baterias ou exudar as pilhas.
Cap Santana: No h recomendao especfica com relao a estes equipamentos,
porm devemos ressaltar que de forma geral todos os materiais destinados a unidade sob
responsabilidade e guarda dos profissionais devem ser mantidos em perfeito estado de
conservao e emprego operacional. Assim, na prtica constatamos que sempre que h
aquisio e distribuio destes equipamentos, so tambm repassadas orientaes quanto aos
cuidados gerais no tocante ao emprego (uso), limitaes, conservao e manuteno, aspectos
que so repassados pela chefia junto aos seus usurios.
5 Quando esse equipamento (lanterna) apresenta qualquer tipo de problema em seu
funcionamento, que procedimentos so adotados pela 4 Seo? Descreva todas as etapas
adotadas.
Maj Cardoso: No h procedimentos estabelecidos quanto a manuteno de
lanternas.
Cap Santana: De forma geral segue o seguinte fluxo:
a) identificao do problema pelo operador ou profissional responsvel por sua guarda
(armeiro);
136
b) registro no livro de alteraes da reserva, constando o problema existente sendo alguns dos
mais comuns: dano fsico, deficincia de absoro de carga pelas baterias, foco queimado ou
diminuto, boto de acionamento danificado, dentre outros;
c) recolhimento dos equipamentos danificados pelo responsvel pela Seo;
d) encaminhamento do(s) equipamentos danificados para o CMB, atravs de nota ou ofcio;
e) reposio do equipamento quando consertado ou descarte do equipamento (baixa) quando
no possvel consert-lo, ou quando o custo benefcio no se mostra compensador.
6 O efetivo utiliza as lanternas fornecidas pela PMSC ou faz uso de lanternas particulares?
Polcia Militar
Particular
Maj Cardoso: PMSC e particular.
Cap Santana: Constatamos na rotina operacional que o efetivo opta por utilizar as
lanternas particulares, devido a certos fatores tais como: dimenses pouco amistosas das
lanternas fornecidas pela corporao, peso excessivo, baixa qualidade de iluminao, sistema
de acionamento inadequado. De tal sorte que individualmente h uma tendncia ao uso de
lanternas particulares em detrimento das corporativas, as quais mormente servem como uma
espcie de equipamento reserva de uso geral e coletivo.
7 Se utilizam lanternas de propriedade particular, sabe dizer quais so as marcas/modelos
preferidas? (poder ser assinalada mais de uma alternativa).
Surefire
Maglite
Police
Streamlight
Scorpion
Outras
Maj Cardoso: Surefire e Police.
Cap Santana: Maglite, Police, Streamlight.
Neste contexto, verificamos que h uma relao direta entre custo versus
aquisio e uso destes equipamentos, ou seja, muito embora os profissionais tenham
conscincia de que existem equipamentos de melhor ou de excelente qualidade (ex, surefire)
acabam por aderir a um equipamento de custo intermedirio, no entanto ainda mais adequado
a atividade pretendida do que as fornecidas pela prpria Instituio.
8 O efetivo do COBRA/BOPE se equipa individualmente com lanternas fornecidas pela
PMSC ou distribuda 01 (uma) lanterna pro guarnio?
137
Maj Cardoso: Uma lanterna por guarnio.
Cap Santana: Os profissionais que compem o COBRA fazem uso das lanternas
particulares, devido ao ganho ttico advindo da qualidade, facilidade de manuseio e emprego
destes equipamentos. Neste contexto o uso das lanternas fornecidas pela Corporao
restringem-se basicamente a mecanismos auxiliares ou reservas de uso coletivo,
compreendendo ao menos uma por equipe ttica.
9 Qual o grau de importncia que esse Cmdo atribuiria de 1 a 4, viso que os integrantes
do COBRA, so as ocorrncias em baixa ou na ausncia de luminosidade?
1 sem importncia
2 pouco importante
3 importante
4 muito importante
Grau de importncia
Maj Cardoso: grau de importncia 4.
Cap Santana: grau de importncia 4.
10 Na opinio desse Cmdo, qual o mnimo em lumens para uma lanterna ser empregada
com eficincia tcnica e ttica?
Maj Cardoso: 65 Lumens.
Cap Santana: A quantidade mnima de lumens adequada para o emprego tcnico e
ttico para a atividade policial geral sugerida de 45 lumens e para a atividade de operaes
especiais de no mnimo 65 lumens.
11 As lanternas fornecidas pela PMSC, em sua opinio, atendem as necessidades
operacionais? Justificar.
Maj Cardoso: Para emprego ttico especfico do BOPE/COBRA no atendem aos
quesitos portabilidade e luminescncia.
Cap Santana: As lanternas adquiridas pela Instituio no atendem as demandas
operacionais (tcnica e taticamente) uma vez que apresentam certas deficincias, tais como:
a) Dimenses: atualmente so adquiridas lanternas de dimenses exageradas que impedem ou
dificultam o uso ttico com armas curtas ou longas, servindo quando muito como
mecanismo auxiliar em situaes de varredura geral e apoio a aes de busca quando no
envolvem elevado risco;
138
b) Peso: o peso dos equipamentos adquiridos excessivo, sugerindo uma perda gradativa de
qualidade quando conjugado seu uso com armas de porte;
c) Sistema de acionamento: posicionado em local inapropriado (frente da lanterna) o que
dificulta o seu acesso e acionamento do aparelho por parte do operador;
d) Baixa qualidade de iluminao: tal fator deriva da quantidade diminuta ou inadequada de
lumens existentes nestes equipamentos, o que importa em baixa eficcia nas aes de
polcia (varreduras tticas, dissuaso psicolgica de suspeitos, tiro em baixa luminosidade
e outros);
e) Emprego ttico: tais ainda no possuem qualquer tipo de acessrio necessrio ou que
possibilite o seu acoplamento s armas policiais, tampouco sistema de fecho ttico que
propicie a sua conduo junto ao corpo pelo operador;
f) Finalidade: normalmente desenvolvidas pela [sic] empresas para fins civis (camping,
preveno a blackout, etc.) sendo adquiridas e empregadas aleatoriamente (de forma
emprica) na atividade policial.
De forma geral estes fatores e deficincias fazem com que os operadores comprometidos
com a atividade policial procurem adquirir e usar outros sistemas de iluminao (lanternas
tticas) mais adequados ao servio operacional e os displicentes em no utiliz-los por
serem pouco amistosos ao servio (dimenses, peso, etc.).
12 O BOPE/PMSC possui lanternas acopladas as suas armas (monthan light)? Se a resposta
for negativa, informar se h previso para aquisio de armamento que permita acoplar tal
equipamento ao armamento.
Maj Cardoso: O Bope no possui este acessrio e no h previso de aquisio.
Cap Santana: O BOPE no possui sistemas de iluminao (lanternas) acopladas as
armas, sendo est uma das deficincias tcnicas e tticas da OPM, a qual mormente acaba por
utilizar recursos improvisados para viabilizar a realizao das suas misses institucionais. No
que diz respeito previso de aquisio, tal resta prejudicado, uma vez que muito embora haja
solicitao pretrita neste sentido por parte da OPM junto ao setor competente (DALF-CMB),
at o momento no fomos contemplados com estes sistemas, tampouco temos cincia de
algum processo de aquisio em andamento na PMSC. Por fim, quanto a aquisio de
armamentos que possuam sistemas orgnicos de acoplagem destes sistemas (lanternas) h que
ressaltarmos que modernamente, ante ao avano tecnolgico, quando as armas no possuem
estas caractersticas, tais podem ser customizadas com a utilizao de acessrios (suportes), j
desenvolvidos e existentes, quer para as armas de porte ou portteis, no exigindo assim a
139
substituio ou aquisio de armas novas adstrita meramente a estes aspectos tcnicos ou
tticos.
13 Quais as tcnicas de uso de lanternas, no acopladas as armas, que so mais utilizadas
pelos policiais militares dessa unidade?
Maj Cardoso: No h tcnicas definidas, ficando a critrio dos PPMM empregar a
tcnica que melhor se adapte. Este oficial prefere o mtodo Harris.
Cap Santana: As tcnicas mais difundidas e utilizadas na rotina operacional so as
seguintes: Mtodos Harries, Chapman e Ayoob, de tal sorte, que a opo ou adoo por parte
do operador por uma ou outra destas tcnicas depende muito do grau de adestramento
individual, habilidade, compleio fsica e adequao ao ambiente onde opera.
14 O BOPE/PMSC faz treinamentos tcnicos e tticos envolvendo aes em baixa ou com
ausncia de luminosidade? Com que freqncia por ms?
Sim
1x/semana
Quinzenalmente
No
1x/ms
NDA
Maj Cardoso: Sim. 1 vez por ms.
Cap Santana: Quinzenalmente e 1 vez por ms.
OBS.: O COBRA normalmente executa procura efetivar ao menos uma instruo
quinzenal, j a tropa de Patrulhamento Ttico Mvel tende a faz-lo mensalmente ou
bimestralmente.
15 Existe alguma doutrina especfica do BOPE/PMSC sobre o uso de lanternas em aes
policiais em baixa ou na ausncia de luminosidade ou segue alguma diretriz especfica e/ou
permanente do Comando-Geral?
Maj Cardoso: Dependendo do tipo de ao que ser desenvolvida ser
determinada a disciplina de luzes.
Cap Santana: O BOPE atualmente adota a Doutrina da Escola Americana Sure
Fire, uma v que tal entidade conta com renomado conhecimento tcnico nesta rea (aesoperaes em baixa luminosidade), compondo um dos grandes referenciais no
uso, desenvolvimento e disseminao de sistemas de iluminao adequados a atividade
policial, em especial no que tange ao adentramento ttico, varredura em ambientes e tiro em
140
baixa luminosidade. Quanto a seguir alguma Diretriz Especfica, ressaltamos que no h na
Instituio, tampouco no BOPE, qualquer normatizao especfica nesta rea em estudo,
sugerindo assim a necessidade de anlise e formulao dado a sua importncia para a
atividade e rotina policial.
16 Se esse Cmdo fosse atribuir um grau de importncia, de 1 a 4, que grau atribuiria as
ocorrncias em baixa luminosidade? Justifique.
1 sem importncia
2 pouco importante
3 importante
4 muito importante
Grau de importncia
Maj Cardoso: Grau de importncia 4.
Cap Santana: Aspecto notrio vislumbrado na rea da Segurana Pblica, que
aes e operaes policiais, de maior gravidade e risco (assaltos, seqestros, rebelies, etc.)
tendem a ocorrer ou ter o seu pice resolutivo em locais adversos e ambientes com pouca ou
nenhuma iluminao (65 a 70% dos casos), tais como: interior de edificaes, reas de
estacionamento fechado, zonas de vegetao densa, favelas, etc. e em perodo noturno. Assim,
em dados momentos, tais situaes acabam por serem agravadas pelas adversidades
climticas (chuva ou nebulosidade) que tendem a escurecer o ambiente tornando-os inspitos
(mesmo quando em perodo diurno), dificultando a visibilidade dos fatores e situaes de
risco por parte dos operacionais, sugerindo assim o imprescindvel e constante emprego dos
sistemas de iluminao, ou seja, as lanternas para resoluo segura e adequada das
ocorrncias policiais.
17 O BOPE/PMSC, ao longo de sua Histria, passou por alguma situao operacional, em
baixa ou na ausncia de luminosidade, onde o uso de lanternas foi decisivo pra o desfecho da
ao? Se afirmativo, descrever o fato.
Maj Cardoso: Normalmente as operaes em estabelecimentos prisionais exigem
o uso de lanternas e estas imprimem um efeito psicolgico dissuasor nos detentos.
Cap Santana: Sim, o BOPE j passou por inmeras situaes operacionais em
ambiente adverso e de baixa luminosidade, onde o emprego dos sistemas de iluminao
(lanternas) foram fundamentais para a resoluo adequada do evento crtico. Dentre as
ocorrncias podemos citar a rebelio num estabelecimento prisional da capital, com a tomada
de refns, onde dadas as caractersticas do ambiente e suas dimenses, aliada a depredao e
141
atos de vandalismo que afetaram as linhas de transmisso de energia da edificao deixandoa inspita e com parca iluminao, exigindo assim, o uso dos sistemas de iluminao
lanternas individuais, como meio tcnico e ttico apto a propiciar o deslocamento com
segurana, identificao de fatores de risco varredura ambiental, localizao de infratores
em zonas de penumbra e adequado resgate dos refns. Naquela ocasio e, em outras em
situaes similares de baixa luminosidade, tivemos, a revelia da moderna tecnologia existente
nesta rea, de lanarmos mo de recursos e meios de fortuna (velcros e elsticos) para
acoplarmos os sistemas de iluminao as armas portteis, situao que se mostra pouco
aceitvel nos dias atuais, porm necessria e justificvel naquela ocasio ante a nossa falta de
recursos nesta rea em especfico.
18 Outras consideraes que V.S. julgar importantes.
Cap Santana: Na atualidade observamos de forma geral os seguintes aspectos
quanto ao uso dos sistemas de iluminao na Corporao, quais sejam:
a) Diminuta ou pouca relevncia Institucional, o que culmina na aquisio de equipamentos
inapropriados ao servio policial;
b) Pseudo custo X benefcio: posto que ao serem adquiridas por processos pblicos gerais
(licitao) tende a culminar na compra de equipamentos de baixo custo, sugerindo a
obteno de um certo benefcio financeiro em detrimento das vantagens e aspectos
tcnicos e operacionais (qualidade e fim) destes sistemas, a serem utilizados, via de regra,
em eventos policiais graves;
c) Ausncia de estudos e dados estatsticos, no que tange, ao nmero de ocorrncias graves
atendidas em ambientes de baixa luminosidade, o que poderia contribuir para um processo
de mudana na cultura organizacional, no que diz respeito compreenso quanto
importncia destes mecanismos, correspondente aquisio adequada de equipamentos
especficos para a atividade policial e seu uso correto pelos operacionais;
d) Ausncia de parecerias com as empresas nacionais para o desenvolvimento destes
equipamentos, os quais para a atividade policial devem possuir caractersticas especiais e
diversas das destinadas ao pblico civil;
e) Ausncia de locais apropriados ao treinamento, bem como dos correspondentes
equipamentos de iluminao e seus acessrios, necessrios a formao e aprimoramento
tcnicos dos profissionais de segurana, que tendem a buscar referenciais em escolas
privadas de segurana;
142
f) Deficincia nas atividades de treinamento em ambientes de baixa luminosidade na
Corporao, o que importa em aumento substancial do risco (a integridade fsica e a vida
dos PM) em aes e operaes policiais, onde se requer o uso destes equipamentos para a
manuteno da segurana dos envolvidos, bem como para a adequada resoluo do
problema.
As anlises das diretrizes e opinies ora levantadas junto ao efetivo do
COBRA/BOPE e com os Oficiais que entrevistamos, nos ajudaro sobremaneira nas
concluses finais a que nos propomos no projeto apresentado por este autor junto Polcia
Militar, onde procuramos trazer a baila um tema que consideramos de grande valor para o
campo policial militar, pois se trata da sobrevivncia desse profissional durante os
atendimentos de ocorrncias noite.
5.4 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAO TTICA DO BOPE
O BOPE/PMSC segundo informaes do Cap PM Santana (2009) Cmt da COE e
verificadas in loco por este autor, possui atualmente 12 (doze) lanternas maglite que esto
disposio do efetivo. Essas lanternas quando no esto com as guarnies de servio, se
encontram na reserva de armamento da Unidade, sob os cuidados do armeiro.
As lanternas maglite com bateria recarregvel que o BOPE possui, juntamente
com os acessrios que a acompanham exatamente a constante nas figuras que a seguir
apresentaremos.
1
Fig. n 73 Lanterna Maglite
Fonte: stio da Maglite
2
3
Fig. n 74 Acessrios da Lanterna Maglite
Fonte: stio da Maglite
143
1 Bateria recarregvel
2 Carregador de bero
3 120 VAC Conversor
4 Dois suportes
5 Adaptador de 12 volts
Tabela n 05 - Legenda da Fig. n 74
Fonte: stio da Maglite
1 Tail cap
2 O-ring tail cap
3 Lamp protector
4 Spare halogen
lampspring
5 Battry
6 Switch Seal
Fig. n 75 Lanterna Maglite
Fonte: stio da Maglite
7 O-ring head
8 Halogen lamp
9 Reflector
10 - Lens
11 Lens seal
12 Face cap
Tabela n 06 - Legenda da Fig. n 75
Fonte: stio da Maglite
Essas se encontram muito bem guardadas na reserva de armas do BOPE, onde em
visita aquela Unidade, podemos constatar in loco, o estado de guarda, acondicionamento e
conservao. No quesito da manuteno das mesmas, no conseguimos obter evidncias
concretas de como realizada, nos deixando, no entanto, transparecer pelo estado de
conservao que apresentam, que h um grande zelo por parte dos profissionais que labutam
na reserva de armas no tocante a cuidados bsicos que so relativos a outros equipamentos
que l so guardados.
As figuras a seguir, nos do uma noo mais precisa do local onde as mesmas
permanecem guardadas na reserva de armas do BOPE disposio das guarnies de servio.
Fig. n 76 Armrio para equipamentos
(Lanternas, Baterias, Carregadores, HT)
Fonte: foto produzida por este autor
Fig. n 77 Armrio para equipamentos
(Em detalhe o acondicionamento das Lanternas)
Fonte: foto produzida por este autor
144
5.5 OUTRAS MARCAS/MODELOS DE LANTERNAS
Para que possamos estabelecer qualquer tipo de anlise sobre a lanterna que a
Polcia Militar disponibiliza ao efetivo do BOPE, por mais singela a forma que busquemos
para estabelecer relaes em qualquer ordem, necessitamos compar-la a outras existentes no
mercado nacional e/ou internacional.
Como j frisamos aqui anteriormente, uma lanterna para uso policial militar ou
militar, exige caractersticas como vimos, que no so as mesmas que devero estar presentes
nas lanternas de uso comum para o mundo civil. O fim a que se destina uma lanterna para
uso policial militar ou militar, faz com que seja projetada visando aes tticas e operacionais,
que exigem dela, requisitos mnimos necessrios para que possa ser empregada, garantindo
aquele que dela far uso, eficincia e eficcia capaz de atender aos quesitos mencionados nos
itens 3.3.2 e 3.3.3 e seus subitens.
Existe no mundo uma infinidade de marcas/modelos de lanternas para uso civil e
para o uso policial militar e militar, essa realidade tambm se apresenta em um bom estgio,
em nossa opinio. A seguir, apresentaremos uma tabela comparativa de valores entre algumas
peas e marcas/modelos de lanternas tticas, para que possamos ter uma idia sobre as
possibilidades que podemos encontrar.
Marca
Streamlight
Pea
Modelo
Lmpada
Todos
Preo
(R$ ou U$)
U$ 12,95
Bateria de Lithium
3V
U$ 1,95
MN03
U$ 18,00
MN10
U$ 31,00
P60
U$ 19,00
P61
U$ 29,00
3V
U$ 21,00
B65
U$ 19,00
B90
U$ 22,00
Lmpada
Lmpada/Refletor
Surefire
Bateria de Lithium
(cx. 12)
Bateria recarregvel
Tabela n 06 Peas da Lanterna x Custos
Fonte: Surefire e GT Distributors
145
146
Como podemos observar, os valores apresentados so nfimos se comparados a
eficincias que esses equipamentos so capazes de oferecer.
As empresas que so consideradas na vanguarda da fabricao de lanternas
tticas, esto em constantes buscas pelo aperfeioamento de lanternas voltadas ao combater
militar e policial que sejam capazes de reunir todas as caractersticas consideradas essncias
nesse equipamento, pois detm o conhecimento do poder que podem representar quando
corretamente utilizadas.
147
6. CONCLUSO
Ao longo deste trabalho, procuramos cumprir cada etapa a que nos propomos no
projeto que lhe deu incio e atravs dessas etapas, buscamos mostrar a importncia do Grupo
COBRA/BOPE para a Polcia Militar de Santa Catarina e consequentemente para o cidado
catarinense. Como podemos observar historicamente, a 30 (trinta) anos atrs comeava em
nossa Corporao uma preocupao com situaes que fugiam da normalidade, requerendo
que para tal fossem necessrios policiais militares com treinamento diferenciado. O embrio
do que hoje conhecemos por BOPE, comeava a ser gerado. Daquela poca para a atual,
muito foi feito, muitas mudanas ocorreram na seleo do profissional, no seu treinamento e
nos equipamentos que lhes foram disponibilizados; at porque a busca pela excelncia que
envolve o trinmio seleo, treinamento e equipamento, deve ser incansvel. Acreditamos que
somente uma coisa no mudou: o policial militar (o guerreiro) que faz parte do atual BOPE.
A vontade desses profissionais em querer serem os melhores para prestar um excelente
servio sociedade, no mudou com o tempo.
Hoje pela experincia que temos na atividade operacional e como um exintegrante do BOPE, podemos com certeza afirmar que h uma falha lamentvel envolvendo
o trinmio anteriormente citado. E onde se encontra esta falha? Em nosso entendimento est
justamente nos equipamentos que lhes so disponibilizados.
Essas trs partes do trinmio seleo, treinamento e equipamento devem ser fortes
e a quem cabe isso se no a prpria Corporao e Governo do Estado. Investimentos se fazem
necessrios e so fundamentais para quem se propem e tem a misso de prestar atendimentos
em ocorrncias policiais militares de altssimo risco, como o caso do BOPE.
O que algumas pessoas leigas em Operaes Especiais e muitas vezes
responsveis por proporcionar condies adequadas de trabalho aos profissionais de
segurana pblica no entendem que no caso especfico do BOPE, no adianta fardar os
seus integrantes de maneira a serem reconhecidos como diferentes dos demais policiais
militares, mas o que os tornar diferenciados um conjunto que obrigatoriamente passa pela
premissa do j mencionado trinmio. o fortalecimento desse trinmio que os torna homens
de Operaes Especiais.
Quando nos propusemos a desenvolver um tema ligado a rea de Operaes
Especiais, buscamos por dois motivos bem simples: o primeiro a prprio conhecimento e
148
identificao com essa atividade; segundo mostrar atravs de um equipamento erroneamente
considerado por muitos que no labutam na rea de Operaes Especiais, como desprezvel e
que julgam poder quando necessrio utilizar qualquer um comprado na primeira esquina que
encontrarem, que se o COBRA/BOPE, a Tropa de Elite de nossa Polcia Militar de Santa
Catarina no possui equipamento adequado para o atendimento de ocorrncias noite,
conforme ficou constatado na pesquisa qualitativa e quantitativa que realizamos, imaginem o
que podemos esperar das demais Unidades Operacionais de nossa Corporao?
Vejamos o que pensa um dos Oficiais por ns entrevistados sobre a importncia
do tema:
Aspecto notrio vislumbrado na rea da Segurana Pblica, que aes e operaes
policiais, de maior gravidade e risco (assaltos, seqestros, rebelies, etc.)
tendem a ocorrer ou ter o seu pice resolutivo em locais adversos e ambientes
com pouca ou nenhuma iluminao (65 a 70% dos casos), tais como: interior de
edificaes, reas de estacionamento fechado, zonas de vegetao densa, favelas,
etc. e em perodo noturno. Assim, em dados momentos, tais situaes acabam por
serem agravadas pelas adversidades climticas (chuva ou nebulosidade) que tendem
a escurecer o ambiente tornando-os inspitos (mesmo quando em perodo diurno),
dificultando a visibilidade dos fatores e situaes de risco por parte dos
operacionais, sugerindo assim o imprescindvel e constante emprego dos sistemas de
iluminao, ou seja, as lanternas para resoluo segura e adequada das ocorrncias
policiais. (SANTANA, JULIVAL QUEIROZ, Cap BOPE/PMSC, 2009). (grifo
nosso)
Aliando-se ao que nos afirma o Cap PM Santana (2009), e que apresentamos na
introduo de nosso tema, vamos aqui reforar a necessidade da ateno que devemos ter para
com o assunto, pois mais uma vez os dados estatsticos que apresentaremos, demonstram que
h um nmero considervel de ocorrncias atendidas no perodo noturno pelo Grupo
COBRA/BOPE, os quais precisam estar portando equipamentos que lhes proporcionem
segurana e consequentemente sensao de segurana, para que possam atender ocorrncias
no perodo do dia mencionado.
Os dados estatsticos a seguir demonstram o nmero de ocorrncias atendidas pelo
BOPE, em sua totalidade, ou seja, envolvem todas as guarnies da COE e COBRA. No foi
possvel fazer um levantamento estatstico somente com as guarnies do COBRA em razo
de que demandaria um tempo considervel para que o Centro de Comunicao e Informtica
(CCI) pudesse assim proceder e tambm face ao acmulo de servio que est sob a
responsabilidade daquele Centro. Para que pudssemos realizar uma pesquisa envolvendo
somente o COBRA, precisaramos de mais tempo e tempo, foi um fator contrrio a elaborao
149
de nosso trabalho. Mesmo assim, os dados a seguir, por si s demonstram que devemos sim,
considerar e muito os atendimentos envolvendo o BOPE no perodo noturno.
OCORRNCIAS ATENDIDAS PELO BOPE
Jan 08 - Dez 08
Quantidade
HORRIO
684
08h00 s 20h00
557
2000 s 08h00
1241
TOTAL
Percentual
55,12%
44,88%
100%
Tabela n 08 - Dados estatsticos de 2009
Fonte: CCI/PMSC
Grfico n 22 - Dados estatsticos de 2009
Fonte: CCI/PMSC
Queremos mais uma vez frisar que os dados acima no foram trabalhados, ou seja,
precisaramos partir para uma segunda etapa, que seria a identificao dentro desse total,
quantas ocorrncias envolveram efetivamente o Grupo COBRA; em quantas houve disparo de
arma de fogo; se nas que houve disparo de arma de fogo, se tivemos feridos civis e/ou
policiais militares. Somente a partir dessa segunda etapa, onde efetivamente estudaramos os
dados que uma realidade mais clara envolvendo o Grupo COBRA/BOPE nos seria
apresentada, contudo, mesmo sem essa anlise trabalhada dos dados, j podemos consagrar
como importante tal assunto, uma vez que ele nos mostra que mais de 44% (quarenta e
quatro) por cento das ocorrncias atendidas pelo BOPE em 2008 foram aps s 20h00.
Quando passamos a realizar uma anlise dos equipamentos de iluminao
(lanterna) ttica individual, colocado disposio do COBRA/BOPE pela PMSC foi a fase
150
mais tranqila de nosso trabalho, tendo em vista que os equipamentos destinados a este fim
especfico se restringem a uma nica marca/modelo que a Maglite/recarregvel descrita em
detalhes no item 5.4.
A Unidade possui um total de 12 (doze) lanternas, as quais se encontram
perfeitamente acondicionadas, conforme demonstram as figuras n 57 e 58, sendo que todas
aquelas que no esto em uso pelas guarnies de servio esto na reserva de armas do
Batalho.
O que nos chamou a ateno em relao conservao e acondicionamento das
lanternas na reserva de armas foi justamente o estado fsico em que se encontram, o que
demonstra todo o cuidado que no somente o responsvel pela reserva de armas (Chefe da 4
Seo) tem, como tambm os armeiros e os prprios integrantes das guarnies de servio.
No h ressalvas alguma a fazer no que diz respeito ao acondicionamento das lanternas na
reserva de armas.
Quanto quantidade disponibilizada ao efetivo, entendemos ser insuficiente, se
considerarmos que por se tratarem de equipamentos individuais, embora possam ter emprego
coletivo, em determinadas situaes tticas, cada policial militar ao entrar de servio deveria
receber a sua. A quantidade de lanternas que o BOPE possui destinada ao efetivo que estar
de servio, ou seja, as demais guarnies da COE, do COBRA e a guarnio do Oficial de
servio. Esse nmero se torna ainda menor se considerarmos que ocorrncias em baixa ou na
ausncia de luminosidade no esto restrita somente ao perodo noturno, uma vez que
podemos nos deparar com situaes em que tal nvel de luminosidade se faa presente em
pleno dia, como por exemplo, buscas em pores, stos, etc., ou seja, precisamos port-la
diuturnamente.
Para que possamos trazer a baila, a discusso da importncia do assunto que ora
elencamos para nosso estudo, se faz necessrio que no esqueamos jamais que nossa
Doutrina, presente principalmente nas diretrizes de ao operacional, sejam revistas
urgentemente, sob pena de pagarmos com a vida de um policial militar, que dela se rebuscou
para amparar determinada atitude ante uma ocorrncia. Neste sentido, os treinamentos e
ensinamentos, adquiridos em cursos em nossa Corporao, ou em outras Instituies policiais,
se faz necessrio, para que busquemos, sempre o que h de melhor no que diz respeito a
seleo,
treinamento
e equipamento.
Se
determinada
doutrina
consagrada
151
internacionalmente, face os seus estudos e resultados obtidos, e considerada a mais adequada
ao momento atual, dela que devemos recorrer para uso em nossa Corporao. Neste sentido,
os dois Oficiais do BOPE por ns entrevistados, deixaram claro, em seus depoimentos, a
importncia do assunto, justamente por serem dois grandes especialistas na rea de Operaes
Especiais.
Quando no se tem uma direo a seguir, o natural ocorre: a busca pelo que h de
melhor. Nesse sentido, fez claro um de nossos entrevistados quando diz que o BOPE/PMSC
adota a doutrina de emprego de lanternas aquela difundida pela Surefire Institute. Essa
empresa tem se consolidado no mundo das atividades operacionais militares e policiais, como
uma das grandes referncias em treinamento, principalmente aos voltados ao atendimento de
ocorrncias em baixa luminosidade. Um de seus co-fundadores Ken J. Good, fundou
recentemente a empresa Strategos International a qual tambm presta treinamentos similares
aos desenvolvidos pela Surefirre Institute.
Como podemos observar no estudo que fizemos sobre as nossas diretrizes de ao
operacional, buscamos encontrar nessas, qualquer meno acerca do tema, verificando o que o
legislador da PMSC abordou sobre o assunto ou a ele fez aluso quando envolveu ocorrncias
policiais em que nosso policial militar precisasse fazer uso de lanterna. Constatamos que sem
dvida alguma, o que nelas se encontram quando tratam de aes policiais em baixa
luminosidade, esto aqum do que atualmente empregado. Ressaltamos aqui o que muito
bem frisou um de nossos Oficiais entrevistados, quando assim afirma: Quanto a seguir
alguma Diretriz Especfica, ressaltamos que no h na Instituio, tampouco no BOPE,
qualquer normatizao especfica nesta rea em estudo, sugerindo assim a necessidade de
anlise e formulao dado a sua importncia para a atividade e rotina policial.
As nossas diretrizes operacionais permanentes, especficas e at mesmo as
administrativas, precisam urgentemente e necessariamente ser revistas, pois so elas que nos
norteiam diante das mais diversas situaes e delas depende toda uma atuao policial que
culminar com um desfecho, o qual sempre desejamos que seja favorvel e em consonncia
com uma determinada tcnica estabelecida doutrinariamente.
A vida de nossos operadores de segurana pblica depende de tudo o que
pudermos lhes proporcionar de ensinamentos tericos que tenham sido embasados em estudos
aliados a prtica que os consagrou. Somos, enquanto Instituio, responsveis diretos pelo
preparo tcnico e ttico do policial militar que colocamos disposio da nossa sociedade.
Para que pudssemos ter uma idia consistente sobre a percepo dos integrantes
do Grupo COBRA/BOPE sobre o assunto, utilizamos como metodologia, a pesquisa
152
quantitativa onde atravs de um questionrio composto de 21 (vinte e uma) perguntas diretas
e objetivas, nos trouxe informaes que julgamos importantes, no somente para a nossa
pesquisa e estudo, mas acreditamos que tambm para o prprio Comando do BOPE.
No questionrio que aplicamos aos integrantes do Grupo COBRA, pode ser
constatado que h perguntas de cunho logstico, de treinamento-ensino e operacional.
Entendemos que as de cunho logstico serviram para nos dar a base da preocupao em
relao ao equipamento, quanto ao seu estado de empregabilidade. Nesse sentido,
consideramos extremamente satisfatrias as respostas apresentadas e os ndices alcanados,
exceo feita a pergunta n 09, pois entendemos que o porta luvas da viatura, no seja o local
adequado para conduzirmos a lanterna, mas sim junto ao corpo do policial militar,
preferencialmente em um porta lanternas ou em outro local destinado a este fim no colete
ttico. Isso algo que merece ser analisado pelo Comando do BOPE e alertado aos policiais
militares, pois em situao de stress em que so continuamente submetidos aqueles
profissionais, face s caractersticas das ocorrncias em que so empenhados, podem esqueclas no porta luvas ao chegarem a ocorrncia, vindo a tornar-se um enorme transtorno se dela
necessitar.
Um percentual significativo, correspondente a 94,44% dos entrevistados, disseram
que as lanternas existentes no BOPE, no atendem as necessidades operacionais daquela
Unidade Operacional. Mais uma vez a que se ressaltar aqui que estamos falando da tropa de
elite da Polcia Militar de Santa Catarina, a qual possui os homens mais bem treinados e
capacitados nas atividades de Operaes Especiais.
Para que venhamos a traar uma relao de custo versus benefcios quando nos
referimos a equipamentos, precisamos enquanto governantes e administradores substituir esse
parmetro anacrnico por um mais moderno e evoludo, qual seja: no h preo versus vidas.
exatamente assim que precisamos entender tudo o que se refere vida. Se todos
ns a aceitamos, como sendo o maior de todos os bens, a que se economizar nos instrumentos
que ajudaro profissionais a salv-las? Acredito que se fizssemos essa pergunta a qualquer
pessoa, a resposta seria a mesma.
Durante uma interveno cirrgica, que equipamentos, treinamentos e tcnicas
esperamos que possua o cirurgio mdico que ir nos assistir? Obviamente queremos que
tenha o que h de melhor, afinal, nossa vida estar nas mos dele. Que equipamentos, que
treinamentos e tcnicas esperamos que outros profissionais, como por exemplo, um bombeiro,
um eletricista, um juiz, um professor, possuam para nos atender? Esperamos sempre o melhor,
153
pois nossas vidas, nosso futuro est depositado nas mos desses profissionais, quando deles
nos socorremos e, de um policial militar isso no diferente, imperioso.
A impresso que temos quando o BOPE chega a uma ocorrncia, a do limiar da
soluo. Se essa tropa no for capaz de resolver uma determinada ocorrncia, ningum o ser.
Essa premissa sempre tem de ser verdadeira; e para que no se torne falsa, aes concretas de
Governos e Comandos devem estar voltadas em envidar todos os esforos na disponibilizao
de recursos financeiros, os quais possibilitaro treinamento e aquisio de equipamentos de
ponta, para que os profissionais de segurana pblica possam desempenhar suas atividades
num patamar de excelncia.
Em todas as reas tecnolgicas, inovaes so constantes, pois a velocidade com
que se processam atualmente muitas vezes inimaginvel e assombra at mesmo os seus
maiores protagonizadores. Congressos e Seminrios esto a ocorrer em diversas partes do
mundo e a Polcia Militar, como uma das principais Instituies do Estado na defesa do
cidado no pode ficar fora desses mtodos pela busca e divulgao de conhecimentos. A
exemplo disso, podemos citar um fato histrico em nossa Corporao: o I Seminrio para
Oficiais de Material Blico. Esse evento indito no Brasil foi projetado e organizado pela
Polcia Militar de Santa Catarina, atravs do seu Centro de Material Blico (CMB). nesse
diapaso que precisamos caminhar, vislumbrando sempre atingirmos alto grau de capacitao
tcnica que resultar num pronto-atendimento eficiente a sociedade.
A exemplo do Seminrio mencionado, anualmente na Amrica do Sul ocorre a
Feira Internacional de Segurana, onde diversas palestras afins ao tema so realizadas, alm
de mostra de equipamentos voltados ao setor. Foi a partir de uma dessas feiras, que chegou a
Polcia Militar de Santa Catarina, as primeiras informaes sobre a Taser, equipamento noletal, capaz de incapacitar temporariamente um agressor, reduzindo drasticamente o uso de
outros equipamentos de choque e armas letais. Em novembro de 2008, a Polcia Militar fez a
aquisio do primeiro lote desse equipamento. Devemos aqui, fazer um registro que julgamos
muito importante, que foi a importao desse equipamento. Em que pese enorme burocracia
que envolve a importao de qualquer mercadoria em nosso Pas, acredito que a Polcia
Militar de Santa Catarina deu o primeiro passo para a busca de novos equipamentos,
independentemente da fronteira que nos separam deles. A primeira porta para obtermos o que
h de melhor na tecnologia blica foi dado pelo CMB/PMSC. Ainda estamos nos primeiros
passos, mas ningum atinge um objetivo pela inrcia.
Assim necessitamos proceder com a aquisio de equipamentos de iluminao
individual, para emprego ttico. As lanternas so to importantes como qualquer outro
154
equipamento, qui em grau superior a muitos que so considerados primordiais a atuao
policial. Poderemos a exemplo disso, criarmos um teatro de operaes imaginrio e l
postarmos uma equipe ttica, altamente treinada, a qual dever adentrar numa determinada
edificao noite e salvar uma vtima, dominando o agressor. Se essa equipe dispuser dos
melhores armamentos, mas lhe faltar uma boa lanterna que lhes auxiliem na ao, como
podero realizar com xito a misso? Se conseguirmos efetivamente imaginar tal situao,
entendo que iremos concluir no ser um devaneio meramente acadmico, mas uma realidade
to prxima e presente, que requer o mximo de nossa ateno.
Como verificamos quase a metade do total das ocorrncias atendidas pelo BOPE,
entre janeiro e dezembro de 2008, foram no perodo noturno. Essa no uma situao fictcia,
mas uma realidade concreta, baseada em fatos reais, envolvendo vidas humanas. Nessa
realidade so protagonistas policiais e civis, todos, envolvidos na trama mais importante de
suas vidas e nas quais, sempre buscamos um final feliz. Precisamos do que mais para
despertar para essa realidade? Precisamos que vidas sejam ceifadas para que dirigentes
entendam a importncia da aparente simplicidade de um equipamento? No podemos
conceber que tal situao acontea. Devemos caminhar pela difuso do assunto interna
corporis, uma vez que ainda em nosso meio, algo bastante desconhecido.
Nas tabelas n 07 e 08, apresentamos algumas informaes, as quais julgamos as
mais importantes referentes a algumas marcas/modelos de lanternas comercializadas no Brasil
e/ou exterior, sendo que na totalidade das elencadas, todas so importadas, todavia, no se
enfrentaria a mesma dificuldade que vivenciou o CMB/PMSC no processo de aquisio das
Taser, se considerarmos que quase todas esto disponveis no mercado nacional.
Como poderemos comprovar, esses equipamentos apresentam baixo custo,
quando comparados, em contrapartida, aos benefcios inimaginveis que deles podemos
extrair, quando empregados dentro da tcnica e ttica.
Como sugestes, gostaramos que a 3 Seo do Estado Maior da PMSC, fizesse
uma reviso nas diretrizes operacionais, buscando torn-las mais modernas e atuais, quem
sabe, utilizando-se para tal fim, os nobres Oficiais convocados pelo Comando Geral, para
comporem o grupo que ir tratar dos Procedimentos Operacionais Padro (POP). Que esse
grupo levasse em considerao a anlise estatstica que aqui apresentamos, mas que
acreditamos no ser diferente se fossemos estend-la a outras Unidades da Corporao, pois
talvez tenhamos resultados similares, os quais traro por si s, um estado de alerta para as
155
ocorrncias que envolvem uma de suas piores facetas que so aquelas ambientadas na baixa
ou na ausncia de luminosidade.
Gostaramos que, a Diretoria de Apoio Logstico e Finanas (DALF) buscasse
junto aos Oficiais do BOPE, os quais possuem indubitavelmente conhecimento tcnico, as
especificaes mnimas que devem ter um equipamento de iluminao para emprego ttico,
para que no continuemos a comprar e disponibilizar, ferramentas j sabidamente como no
sendo as mais adequadas para determinada funo. Neste sentido, gostaramos de apresentar
uma em especial, recentemente divulgada e que acreditamos esteja ainda em fase de testes,
para uso policial, que a lanterna denominada incapacitator.
Fig. n 78 Lanterna Incapacitator
Fonte: stio tvcanal3
A lanterna-arma Incapacitator a mais recente inveno neste campo, surgida
em 2008, e divulgada pelo blog Tecnologia & Web. O stio que apresentou esta novidade,
assim refere-se a mesma:
A lanterna-arma Incapacitator deve estar, em breve, nas mos dos policiais. A
companhia americana Intelligent Optical Systems est desenvolvendo, a pedido do
Ministrio de Segurana Interior dos Estados Unidos, a Incapacitator, uma lanterna
de defesa capaz de causar cegueira temporria, tontura e nusea. Segundo o blog de
tecnologia da New Scientist, a Incapacitator se baseia na mudana de luzes em
diferentes cores e freqncias, com pulsaes aleatrias, que sobrecarrega o crebro
e causa confuso mental.
Essa mais uma prova do quanto a tecnologia est ao nosso alcance, cabendo as
pessoas responsveis pelos destinos de uma Instituio, buscar os meios necessrios para
tornar realidade aquilo que melhor resposta pode propiciar aos profissionais de segurana
pblica.
156
Finalizando nosso trabalho, queremos deixar algumas consideraes finais,
lembrando que o assunto no se esgota aqui, muito ainda temos a estudar sobre tcnicas em
baixa luminosidade. Gostaramos que nossos policiais militares guardassem alguns tpicos
que julgamos importantes, que so divulgados pela Surefire Institute (2009) e Strategos
International (2009), quais sejam:
- A simplicidade e eficincia reduzem exposio durante as operaes tticas;
- Como regra geral, quem se desloca para o menor nvel de luz fornece mais ocultao em
relao a quem opera em reas com nveis mais elevados de luz;
- Manter a lanterna acionada continuamente em uma busca pode ser mais fcil, bem como
nos tranquiliza, mas tambm faz de voc um alvo, fazendo com que o agressor saiba de longe
a sua posio, que proveniente da sua direo, e quando voc vai estar l;
- Ligar a luz mantendo-a afastada de seu centro, em intervalos irregulares e intermitentes,
enquanto alterna a posio de luz baixa para alta, ir confundir o seu adversrio, enquanto o
que torna mais difcil para ele determinar sua posio;
- A luz constante deve ser utilizada apenas em duas situaes:
quando o agressor retro-iluminado e no pode deslocar-se para uma
posio menos iluminada;
quando o objetivo foi localizado e no uma ameaa imediata.
- Quando procurar por uma ameaa, a sua arma, lanterna e os seus olhos devem estar
alinhados e focados no mesmo ponto;
- Em condies de baixa luminosidade foram onde a maioria dos policiais se envolveram em
tiroteios e onde os confrontos mais srios acontecem;
- Quaisquer ferramentas, e mais especificamente equipamento de iluminao, mantenham-nos
colocados junto a seu corpo ou em local de acesso fcil e rpido;
- Nenhuma ttica, tcnica ou equipamento absolutamente podem garantir sua segurana nesta
profisso. O que se pode fazer treinarmos adequadamente, eliminando os erros brutais ou
negligentes que definitivamente causaro a policiais militares danos e/ou morte;
- Reconhea o paradigma de usar ferramentas de iluminao como um multiplicador de fora;
- Identifique as condies de iluminao tpicas;
- Aprenda a ver as graduaes e disparidades em vrias condies de iluminao;
- Controle o seu ego: o saber diagnosticar o erro e aceitar o fato que temos bastante para
aprender so os primeiros passos para que melhoremos nossa eficincia operacional;
157
- A compreenso clara da natureza de um conflito usando o Ciclo de OODA como um
modelo, desenvolver um nvel de conscincia que ajudar voc constantemente em ameaas
de derrota.
Apesar de algumas dificuldades no que diz respeito a obteno de algumas
informaes junto a outras co-irms de farda e em empresas particulares que trabalham com
treinamento militar, acreditamos que cumprimos todos os objetivos a que nos propomos, onde
buscamos trazer tambm o mximo de informaes aos policiais militares de Santa Catarina,
com um nico objetivo maior, que o de humildemente ajud-los a fazer com que cheguem
em seus lares, todos os dias aps uma exaustiva jornada de trabalho, sos e salvos.
Acreditamos que pela carncia de bibliografia no Brasil acerca do tema, o presente trabalho
poder ajudar de alguma forma aqueles que precisarem de uma primeira orientao sobre o
assunto.
Aos notveis guerreiros do Grupo COBRA/BOPE, deixo meu mais profundo
respeito e admirao, pelo nobre trabalho que exercem e meu agradecimento pela colaborao
ao estudo que ora findamos. A todos vocs FORA E HONRA.
158
APNDICE A - Questionrio para coleta de dados aplicados ao COBRA/BOPE
POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
CENTRO DE ENSINO DA POLCIA MILITAR
CAO I 2009
O presente questionrio destina-se coleta de dados para elaborao do trabalho de concluso
do Curso de Especializao Lato Sensu em Segurana Pblica.
1 Quantas lanternas esto disponveis ao COBRA/BOPE?
at 5
de 5 a 10
mais de 10
NDA
2 Qual(uais) a(s) marca(s) das lanternas disponibilizadas pela Polcia Militar utilizadas pelo
COBRA/BOPE? (poder ser marcada mais de uma alternativa)
Surefire
Maglite
Police
Streamlight
Scorpion
Outras
3 Que tipo de bateria utiliza as lanternas do COBRA/BOPE?
Pilha alcalina
Bateria recarregvel
Lithium
Outras
4 Qual a mdia de durao da bateria, com a lanterna ligada ininterruptamente?
at 30 min.
de 30 a 60 min.
mais de 60 min.
no sabe
5 Quando necessitam de baterias que no sejam as recarregveis, a disponibilizao
imediata?
Sim
No
6 H uma manuteno pela reserva de armas do BOPE nas lanternas disponibilizadas pela
Polcia Militar?
Sim
No
No sabe
159
7 Voc se preocupa com o estado de conservao, manuteno e operacionalidade da
lanterna que usar durante o seu turno de servio?
Sim
No
8 As lanternas disponibilizadas pela Polcia Militar, quando se encontram na reserva de
armamento, possuem um local especfico onde ficam acondicionadas?
Sim
No
No sabe
9 A lanterna que voc utiliza durante o seu turno de servio, fica acondicionada em que
local?
Colete ttico
Porta lanterna
Porta luvas vtr
NDA
10 As lanternas utilizadas pelo COBRA/BOPE so acopladas ao armamento?
Sim
No
11 O COBRA/BOPE possui armas de porte ou porttil com trilho ou outro dispositivo para
acoplamento de lanternas?
Sim
No
12 Voc considera que as lanternas existentes no COBRA/BOPE atendem as necessidades?
Sim
No
13 Voc conhece as principais tcnicas de emprego de lanterna em conjunto com o
armamento?
Sim
No
14 A guarnio do COBRA/BOPE equipa-se individualmente com lanternas ao entrar em
servio?
Sim
No
15 O COBRA/BOPE faz treinamento de tiro e abordagem em baixa luminosidade?
Sim
No
160
16 Em relao a pergunta anterior, se a resposta foi afirmativa, com que freqncia realizam
treinamentos?
1x/semana
Quinzenalmente
1x/ms
NDA
17 Voc utiliza lanterna fornecida pela Polcia Militar ou usa lanterna particular?
Polcia Militar
Particular
18 Voc se sente seguro para atender uma ocorrncia em baixa ou na ausncia de
luminosidade, com a lanterna disponibilizada pela Polcia Militar?
Sim
No
19 Voc considera o conhecimento tcnico e o treinamento de tiro e/ou abordagem em baixa
luminosidade importante? (atribua o grau de importncia).
1 sem importncia
2 pouco importante
3 importante
4 muito importante
Grau de importncia
20 Voc gostaria que lhe fosse proporcionado mais conhecimento tcnico e treinamento
sobre tiro e/ou abordagem em baixa luminosidade?
Sim
No
21 Voc j participou de alguma ocorrncia onde o uso de lanterna foi fundamental?
Sim
No
161
APNDICE B - Entrevista realizada com o Sub Cmt BOPE/PMSC e o Cmt da
COE/BOPE/PMSC
POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA
CENTRO DE ENSINO DA POLCIA MILITAR
CAO I 2009
A presente entrevista destina-se coleta de dados para elaborao do trabalho de concluso
do Curso de Especializao Lato Sensu de Especializao em Segurana Pblica.
1 Quais as marcas/modelos de lanternas fornecidas pela Polcia Militar e qual a quantidade
hoje disponibilizada ao efetivo? (poder ser marcada mais de uma alternativa)
Surefire
Maglite
Police
Streamlight
Scorpion
Outras
Quantidade
2 As lanternas fornecidas pela Polcia Militar, utilizam qual(is) o(s) tipo(s) de pilhas ou
baterias? (poder ser assinalada mais de uma alternativa).
Pilha alcalina
Bateria recarregvel
Lithium
Outras
3 - H uma preocupao por parte dos policiais militares que trabalham na reserva de armas,
com a manuteno, conservao e acondicionamento das lanternas?
4 H alguma recomendao por parte desse Comando, atravs da 4 Seo, aos armeiros,
para cuidados coma a manuteno, conservao e acondicionamento das lanternas? Justificar.
5 Quando esse equipamento (lanterna) apresenta qualquer tipo de problema em seu
funcionamento, que procedimentos so adotados pela 4 Seo? Descreva todas as etapas
adotadas.
6 O efetivo utiliza as lanternas fornecidas pela PMSC ou faz uso de lanternas particulares?
Polcia Militar
Particular
162
7 Se utilizam lanternas de propriedade particular, sabe dizer quais so as marcas/modelos
preferidas? (poder ser assinalada mais de uma alternativa).
Surefire
Maglite
Police
Streamlight
Scorpion
Outras
8 O efetivo do COBRA/BOPE, se equipa individualmente com lanternas fornecidas pela
PMSC ou distribuda 01 (uma) lanterna pro guarnio?
9 Qual o grau de importncia que esse Cmdo atribuiria de 1 a 4, viso que os integrantes
do COBRA, so as ocorrncias em baixa ou na ausncia de luminosidade?
1 sem importncia
2 pouco importante
3 importante
4 muito importante
Grau de importncia
10 Na opinio desse Cmdo, qual o mnimo em lumens para uma lanterna ser empregada
com eficincia tcnica e ttica?
11 As lanternas fornecidas pela PMSC, em sua opinio, atendem as necessidades
operacionais? Justificar.
12 O BOPE/PMSC possui lanternas acopladas as suas armas (monthan light)? Se a resposta
for negativa, informar se h previso para aquisio de armamento que permita acoplar tal
equipamento ao armamento.
13 Quais as tcnicas de uso de lanternas, no acopladas as armas, que so mais utilizadas
pelos policiais militares dessa unidade?
14 O BOPE/PMSC faz treinamentos tcnicos e tticos envolvendo aes em baixa ou com
ausncia de luminosidade? Com que freqncia por ms?
Sim
1x/semana
Quinzenalmente
No
1x/ms
NDA
163
15 Existe alguma doutrina especfica do BOPE/PMSC sobre o uso de lanternas em aes
policiais em baixa ou na ausncia de luminosidade ou segue alguma diretriz especfica e/ou
permanente do Comando-Geral?
16 Se esse Cmdo fosse atribuir um grau de importncia, de 1 a 4, que grau atribuiria as
ocorrncias em baixa luminosidade? Justifique.
1 sem importncia
2 pouco importante
3 importante
4 muito importante
Grau de importncia
17 O BOPE/PMSC, ao longo de sua Histria, passou por alguma situao operacional, em
baixa ou na ausncia de luminosidade, onde o uso de lanternas foi decisivo pra o desfecho da
ao? Se afirmativo, descrever o fato.
18 Outras consideraes que V.S. julgar importantes.
164
APNDICE C - Quadro ilustrativo sobre fardamento camuflado
Ano
Cor / Padro
Exrcito
1857
Combate na ndia
Cqui
Britnico
1885
1889
No servio das tropas na ndia
Azul-ferrete
1896
1902
Brasil
Britnico
Cqui
1903
1906
Fora Armada e/ou Fato
Grigio-verde
Exrcito
Brasil
Exrcito.
Itlia
Nos Alpes.
Brasil
1908
1910
Rssia
Feldegrau
Cqui
Alemanha
Blgica
1915
1920
Frana
Exrcito.
Brasil
Verde-oliva
1937
Telo mimetico
Itlia
Branco
Rssia
Platanenmuster
Alemanha
Leaf
Rssia
1938
1940
1941
Alemanha
1942
Alemanha
Splittermuster
Feld Gray
Alemanha
Azul acinzentado
Preto
Para-quedistas
Exrcito.
As unidades
Waffen-SS.
Todos os uniformes do
Exrcito foram padronizados
neste tom.
Experimentou pela primeira
vez essa colorao.
O verde-cinzento. Para todo o
Exrcito em 1909
Os uniformes sofrem uma
reformulao completa.
Segue
parcialmente
a
tendncia
Feldegrau = campo cinzento
Estabelece uma Seo de
Camuflagem
Foi
estabelecida
essa
colorao para a maioria dos
uniformes.
Distinguir o Exrcito de
outras Foras.
Esse tecido foi produzido a
primeira vez em 1929, tendo
sua produo sendo realizada
at 1990.
Cqui
1931
Tingiram sua tradicional farda
de lama.
Tornou-se padro para aquela
situao
Consta do primeiro plano de
uniformes lanado aps a
Proclamao da Repblica.
Para todos os servios no
exterior.
Na segunda guerra de Boer
Cqui
Observao
de
combate
Exrcito usa durante a 2 Guerra
Mundial.
Comea o uso de uniformes
camuflados
pelos
praquedistas.
O Exrcito teria experimentado
esse tecido por algumas
unidades antes da Guerra.
Padro geral dos uniformes at
o final da guerra.
Padro geral das tropas de
campanha da Luftwaffe.
Usado pelas tropas Panzer no
Platanenmuster = padro de
palma, de quatro cores, criado
em 1938.
Splittermuster = padro de
lasca. O estudo para obter
esse padro foi patrocionado
pelo partido Nazista em 1931.
Feld
Gray
=
verde
acinzentado
165
incio da guerra
1942
1944
1945
1948
1953
1956
Itlia
Cqui mostarda
Japo
Exrcito usa durante a 2 Guerra
Mundial.
EUA
Exrcito.
Marrom
Verde
Transliterado
Tryokhtsvetnyy
Maskirovochnyy
Kostyum
(TTsMKK)
Leibermuster
Engineer Research
and Development
Laboratory (ERDL)
Chocolate Brown,
mdium Green e
light Green
Russisches
Tarnmuster
Rssia
Alemanha
Canad
1965
Strichmuster
Alemanha
Oriental
1970
nos
Sistema composto por duas
cores (cor de terra e um fundo
field-grey)
Sistema de quatro cores.
Britnicos
Alemanha
Ocidental
1980
"Mediterranean
spray"
Fang
Japo
BDU
EUA
"Woodland"
Itlia
DPM
Iraque
Flecktarn
Japo
1991
Usado pelo Exrcito
campos de batalha.
Exrcito.
Flecktarn
1990
Sistema de quatro cores, que
substituiu o
Russisches
Tarnmuster.
URSS
1976
1981
Uniforme com padro de trs
cores. Foi chamado de
lagarto.
Alemanha
Oriental
Verde-oliva
Para uso nas praias.
Para uso nas selvas.
De trs cores. A maioria usou
uniformes
monocromticos
marrons.
De cinco cores.
Sistema de quatro cores. Foi
usado tambm no Vietn.
Exrcito.
1960
1969
No chegaram a utilizar.
Frana
Flchentarnmuster
Kombinezon
maskirovochnyy
letniy
kamuflirovannyy
(KLMK
Disruptive Pattern
Material
"Pattern 1968
DPM"
Exrcito usa durante a 2 Guerra
Mundial.
EUA
1959
1968
-69
De trs cores. Os italianos
usaram
uniformes
monocromticos no deserto.
Telo mimetico
Itlia
Os Fuzileiros Navais adotaram
esse padro.
Exrcito.
Exrcito adota um padro de
inspirado nos EUA.
Exrcito utilizou durante a
Guerra do Golfo.
Exrcito.
Depois
de
vrias
experimentaes. Sistema de
cinco cores. Entrou em
servio em 1980. Esse foi o
padro adotado aps a
unificao.
Um complexo sistema de
cinco cores.
Sistema de quatro cores.
Foi um desenvolvimento do
ERDL. Usa duas tonalidades
de verde, uma de marrom, e
uma de preto em uma mistura
de fibra sinttica e algodo.
Um sistema de quatro cores.
Um sistema de quatro
tonalidades de marron.
Substituiu o padro anterior.
Na guerra do Golfo, adotaram
166
um padro de seis cores.
1992
Itlia
Exrcito adota um padro para o
deserto.
1993
Wstentarn
Alemanha
Exrcito.
2006
Advanced Combat
Uniform (ACU)
USA
Marines.
Padro para uso no deserto,
baseado em trs cores.
Padro em trs cores (areia,
cinza e verde)
OBS.: Tabela desenvolvida por este autor com base nos dados fornecidos pela Ciante (2008).
Tabela n 09 Camuflagem de uniformes
Fonte: stio da Ciante
167
APNDICE D Lanternas citadas na tabela n 06
Fig. n 79 Mag-Charger Rechargeable
Fonte: Maglite
Fig. n 81 - Z2 Combat Light
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 80 5-Cell D
Fonte: Maglite
Fig. n 82 - G2Z Nitrolon Combat Flashlight
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 83 G2 Nitrolon
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 84 - X-400 Weapon Light
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 85 - X-400 Weapon Light
Fonte: Surefire Institute
168
Fig. n 86 Millennium Universal
Weapon Light M971XM07
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 87 Millennium Universal
Weapon Light M971XM07
Fonte: Surefire Institute
Fig. n 88 TLR-1 Weapon Light
Fonte: Streamlight
Fig. n 90 Task Light 2L
Fonte: Streamlight
Fig. n 93 8060
Fonte: Pelican
Fig. n 89 - TLR-2 Weapon Light
Fonte: Streamlight
Fig. n 91 TL-3 Tactical
Fonte: Streamlight
Fig. n 92 Night Fighter
Fonte: Streamlight
Fig. n 94 M6 LED 2390
Fonte: Pelican
169
REFERNCIAS
A FORA militar do sculo 21 fora de ataque. Direo: Tom Johnson e David Loignon.
So Paulo: Focus Filmes, 2008. 5 DVD.
A GUERRA do fogo. Diretor: Jean-Jacques Annaud. So Paulo: Continental Home Vdeo,
1981. 1 DVD.
AHIMTB. Disponvel em: <http://www.ahimtb.org.br/capitulo_2.PDF>. Acesso em: 06 mai.
2009.
AMPERES AUTOMATION. A inveno da pilha. Disponvel em:
<http://www.amperesautomation.hpg.ig.com.br/pilha.html>. Acesso em: 01 set. 2008.
BALCHIN, Jon. 100 cientistas que mudaram o mundo. So Paulo: Madras, 2009. p. 139141. e p. 196-198.
BERNABEU, Francisco Guirado. Negociadores da sociedade do conhecimento. Rio de
Janeiro: Cincia Moderna Ltda., 2008.
BLAINEY, Geoffrey. Uma breve histria do mundo. So Paulo: Fundamento, 2009, cap. 1,
pag. 7-16.
BRASILESCOLA. Disponvel em: <http://www.brasilescola.com/fisica/o-que-sao-ondaseletromagneticas.htm>. Acesso em 06 abr. 2009.
______. Disponvel em: <http://www.brasilescola.com/historiag/guerra-de-troia.htm>. Acesso em:
25 abr. 2009.
CARDOSO, Marcelo. Entrevista. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<bopep3@pm.sc.gov.br> em 04 dez. 2008.
CEANTE: Disponvel em: <http://www.ceante.org/noticia5.htm>. Acesso em: 02 set. 2008.
CEFET/SP. Gnio da lmpada faz 150 anos. Disponvel em:
<http://www.cefetsp.br/edu/eso/cienciascsc/thomasedisonquemfoi.html>. Acesso em: 31 ago.
2008.
170
COGNITIVA. Disponvel em:
<http://www.cognitiva.com.br/mapa_ciencias/capitulo401.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2009.
CONVERTWORLD. Disponvel em:
<http://www.convertworld.com/pt/comprimento/Nan%C3%B4metro.html>. Acesso em: 16
mai. 2009.
COUTO, Mrcio Santiago Higashi. Revista Magnum, So Paulo, ano 14, n. 80, ago./set.
2002. p. 32.
DEPARTAMENTO DE POLCIA DE LOS ANGELES/EUA. Disponvel em:
<http://www.lapdonline.org>. Acesso em: 01 abr. 2009.
EDUCAR. Disponvel em: <http://educar.sc.usp.br/otica/luz.htm>. Acesso em: 16 mai. 2009.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Mini Aurlio. 6. ed. Curitiba: Posigraf, 2006.
FLORES, Marcelo E.; GOMES, Dias G.. Tiro policial. Tcnicas sem fronteiras. Porto
Alegre: Evangraf, 2006, cap. 4, pag. 75-88.
FOLHAONLINE. Disponvel em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u374138.shtml>. Acesso em: 31 mar.
2009.
FOX, Stuart Ira. Fisiologia humana; [traduo de Marcos Ikeda]. 7 ed. So Paulo: Manole,
2007. Cap. 10, p. 260-277.
FRANCO, Ricardo P. et al. Tcnicas policiais uma questo de segurana. Porto Alegre:
Santa Rita, 2002, cap. 12, p. 59-62.
GIL, F. Mo na cabea, vagabundo!!!. Revista Isto . So Paulo, n.1831, 10 nov. 2004. p.
52-54.
GILBERT, A. Enciclopdia das guerras. [So Paulo]: M. Books do Brasil Editora Ltda.,
[2005]. 308 p.
GOOD, Ken J. A Law enforcement officers guide to: the strategies of low-light
engagements. Grandview, MO United States of America, 2009.
171
GT DISTRIBUTORS. 2006 Catalog. Austin, TX, United States of America, 2006.
HOTTOPOS. Disponvel em: <http://www.hottopos.com.br/regeq4/invention.htm>. Acesso
em: 01 set. 2008.
GUILHERME, M.V.F. Estatstica BOPE. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<Guilherme@pm.sc.gov.br> em 16 abr. 2009.
INDUMATEC. Disponvel em:<http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=es&u=http://www.indumatec.com.ar/archivos/manual_luminotecnia.pdf&ei=WP_ZS
eiDKsqrtgemr3hDw&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dmanual%2Bde
%2Bluminot%25C3%25A9cnia%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_ptBRBR313BR315>.Acesso em 06 abr. 2009.
INSTITUTO DE PESQUISA E MEDIDAS. Disponvel em:
<http://www.ipem.sp.gov.br/5mt/cv2/index.htm>. Acesso em: 13 mai. 2009.
JONES, Tony L. The Police officers guide to operating and surviving in low-light and
no-light conditions. Springfield, IL, United States of America: Charles C. Thomas Publisher
Ltda, 2002. cap. 1-2, p. 3-62.
LAWRENCE, Erik D. Tactical pistol hooting. Gun Digest Books. United States of America.
2005, cap. 10, pag. 181-189.
LIMA, Joo Cavalim de. Atividade policial e o confronto armado. 2 ed. Curitiba: Juru,
2007.
LUMEARQUITETURA. Disponvel em:
<http://www.lumearquitetura.com.br/discussao_grandezas.html>. Acesso em 11 abr. 2009.
MAGLITE. Disponvel em: <http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.maglite.com/&ei=Xy0ISoipG6WkNc7krKMD&sa=X&oi=translate&resnu
m=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dmaglite%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_ptBRBR313BR315>. Acesso em: 11 mai. 2009.
MAGNOLI, Demtrio. Histria das Guerras. 3. ed. So Paulo: Contexto, 2008, p. 453-477.
MEYER, John T. 2007 Instruction Schedule and Course Descriptions. Fredericksburg,
VA, EUA. 2007. p. 01.
172
MIRANDA, Abner. Lights, lasers, rails trio. Revista Special Weapons, United States of
America, n. 74, abr. 2009. p. 52-4 e 85.
MUNDO DAS MARCAS. Disponvel em:
<http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/energizer-power-to-keeping-yougoing.html>. Acesso em: 30 ago. 2008.
NARLOCH. L.; RATIER. R.; VERSIGNASSI, A. A tropa revelada. Super interessante. So
Paulo, ano 21, n. 11, nov. 2007. p. 60-68.
NISHIDA, Silvia M. Apostila do Curso de Fisiologia 2007. Departamento de Fisiologia, IB
Unesp-Botucatu. Profa. Disponvel em:
<http://www.ibb.unesp.br/departamentos/Fisiologia/material_didatico/Neurobiologia_medica/
Apostila/08_sentido_visao.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2009.
NRPUBLICATIONS. Disponvel em: <http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.nrapublications.org/si/HB_surefire2.html&ei=3jbIScaYJOComQei
_r3rAg&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dsurefire%2Binsti
tute%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_pt-BRBR313BR315>. Acesso em: 23 mar. 2009.
O GLOBO. A histria do homem que criou o Bope e hoje prega a paz. Disponvel em:
<http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/reporterdecrime/post.asp?cod_Post=77806&a=135>.
Acesso em: 31 mar. 2009.
OPERATION-HELMET. Disponvel em:
<http://www.operation-helmet.org/helmets.html#MICH>. Acesso em 16 abr. 2009.
OSRAM. Disponvel em: <http://br.osram.info/curso_luminotecnica/glossario.htm#25>.
Acesso em 12 abr. 2009.
PARKER, Steve. O corpo humano. So Paulo: Ciranda Cultural, 2008, p. 20.
PHILBIN, Tom. As 100 Maiores Invenes da Histria. Rio de Janeiro: DIFEL, 2006.
POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SO PAULO. Manual bsico de policiamento
ostensivo. So Paulo. 1985. p. 296.
173
POLCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIS. Disponvel em:
<http://www.pm.go.gov.br/2008/index.php?i=libs/onoticia&id=465&pagret=>. Acesso em:
24 mar. 09.
POLCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. Manual de Prtica Policial Vol. 1. Centro de
Pesquisa e Ps-Graduao da PMMG. Minas Gerais, 2002.
POLCIA MILITAR DO RIO GRANDO DO NORTE. Disponvel em:
<www.pm.rn.gov.br/de/artigo/A_questao_das_Tropas_de_Elite.doc>.Acesso em: 23 abr. 09.
POLCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Instruo Modular da Polcia Militar.
Florianpolis. 2002. Mdulo VII, p. 169, 270-275.
______.Diretriz permanente n 10/Cmdo-G. Florianpolis. 1989. Disponvel em:
<http://www.pm.sc.gov.br>. Acesso em: 27 ago. 2008.
______.Diretriz permanente n 11/Cmdo-G. Florianpolis. 1989. Disponvel em:
<http://www.pm.sc.gov.br>. Acesso em: 27 ago. 2008.
______.Diretriz permanente n 12/Cmdo-G. Florianpolis. 1989. Disponvel em:
<http://www.pm.sc.gov.br>. Acesso em: 27 ago. 2008.
______.Diretriz permanente n 34/Cmdo-G. Florianpolis. 1989. Disponvel em:
<http://www.pm.sc.gov.br>. Acesso em: 27 ago. 2008.
______.Diretriz permanente n 35/Cmdo-G. Florianpolis. 1989. Disponvel em:
<http://www.pm.sc.gov.br>. Acesso em: 27 ago. 2008.
______. Site oficial do BOPE/PMSC. Disponvel em: <http://www.bopesc.com.br/>. Acesso
em 01 abr. 2009.
RAMOS, Andr. Fisiologia da Viso. Um estudo sobre o ver e o enxergar. Disponvel
em: <http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/imago/site/semiotica/producao/ramos-final.pdf>. Acesso
em: 20 fev. 2009.
REVISTA MILITAR. Disponvel em:
<http://www.revistamilitar.pt/modules/articles/article.php?id=206>. Acesso em: 24 abr. 2009.
SANTANA, Julival Queiroz de. Entrevista. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<santana007@hotmail.com> em 05 mai. 2009.
174
SANTOS, Antnio Norberto dos. Policiamento. 3 ed. Belo Horizonte: 1969, cap. 5, p. 56.
SAUDETRABALHO. Disponvel em:
<http://saudetrabalho.sites.uol.com.br/SEGURANCA/AMBIENTES_DE_TRABALHO.pdf>.
Acesso em 12 abr. 2009.
SHVOONG. Disponvel em: <http://pt.shvoong.com/books/dictionary/1630161-cronologiada-evolu%C3%A7%C3%A3o-da-l%C3%A2mpada/>. Acesso em: 27 abr. 2009.
SKILL SECURITY. Curso Avanado de Tcnicas de Abordagem em Baixa
Luminosidade. Florianpolis, 2003. 1 CD.
SOMOSTODOSUM. Disponvel em:
<http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/Imagem/c30r64espectro.gif>.
Acesso em: 06 abr. 2009.
STANFORD, Anddy. Fight at Night. Boulder, Colorado, United States of America: Paladin
Press, 1999.
SUAPESQUISA. Disponvel em:
<http://www.suapesquisa.com/historia/guerra_de_troia.htm>. Acesso em: 25 abr. 2009.
SUAREZ, Gabriel. The tactical pistol: advanced gunfighting concepts and techniques.
Paladin press. Colorado. United States of America. 1996, cap. 18, pag. 147-157.
SUPERABRIL. Disponvel em:
<http://super.abril.com.br/superarquivo/1988/conteudo_111435.shtml>. Acesso em: 13 abr.
2009.
SUREFIRE INSTITUTE. Disponvel em: <www.surefireinstitute.com>. Acesso em: 04 jan.
2009.
SWAT comando especial. Diretor: Clark Johnson. Estados Unidos da Amrica: Columbia
Pictures, 2003. 1 DVD.
TEAM ONE NET WORK. 2007 Instruction schedule and course descriptions. Sterling,
VA, USA, 2007. p. 25.
TEES BRAZIL. Baixa Luminosidade. 2004. 1 CD-ROM.
175
TENDLER, Lincoln J. I Police meeting. Revista Magnum, So Paulo, ano 13, n. 84, ago./set.
TREVISOL, J.V. Como elaborar um trabalho cientfico. Joaaba: Edies Unoesc, 2001.
TOCHETO, Domingos. Balstica Forense. Porto Alegre: Ed. Aplicada, 1999. Cap. 3, p. 5571.
TROPA de elite. Diretor: Jos Padilha. Rio de Janeiro: Universal Pictures do Brasil, 2007. 1
DVD.
TROPASELITE. Disponvel em: <http://tropaselite.t35.com/>. Acesso em: 23 abr. 2009.
TVCANAL13. Disponvel em:<http://www.tvcanal13.com.br>. Acesso em: 01 set. 2008.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR. Disponvel em:
<http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ufpa.br/ccen/quimica/classi56.jpg&
imgrefurl=http://www.ufpa.br/ccen/quimica/classificacao%2520de%2520metodos.htm&usg=
__a8A_yH3Si1hYh4mCAPhgDw_UxJQ=&h=421&w=589&sz=31&hl=ptBR&start=2&sig2=IGZ72J_oRJ5CpsytVvsmjw&um=1&tbnid=Agxay7Tp07InM:&tbnh=96&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Despectro%2Beletromagn%25C3%25A9ti
co%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_ptBRBR313BR315%26sa%3DX%26um%3D1&ei=-gbaSfiZA8KLtgevprzhDw>. Acesso em
06 abr. 2009.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN. Disponvel em:
<www.eletrica.ufpr.br/meht/te067/instroduo.luminotecnica.pdf>. Acesso em: 11 abr 2009.
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS. Disponvel em:
<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Livros/Luminotecnica.pdf >. Acesso em: 16 abr. 09.
VALLA, Wilson Odirley. Doutrina de emprego de polcia militar e bombeiro militar.
Curitiba: PMPR, 1999. cap. 1, p. 3-68.
VALENA, M. B. Estatstica BOPE. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<capvalenca@gmail.com> em 30 out. 2008.
VICENTINO, C. Histria geral. 10 ed. So Paulo, 2007. p. 08-16.
VEJA. As armas dos EUA para fritar Saddam. Disponvel em:
<http://veja.abril.uol.com.br/190303/p_052.html>. Acesso em: 15 mar. 2009.
176
______. Tempestade de fogo. Disponvel em:
<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/iraque/capas/materias/iraque01.html>. Acesso em:
02 set. 2008.
VERTEENGENHARIA. Disponvel em:
<http://www.vertengenharia.com.br/arquivos/luminotecnica.pdf>. Acesso em 03 abr. 2009.
WIKIPDIA. Disponvel em: <pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_eletromagn%C...>
Acesso: em 06 abr. 2009.
______. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrorrefletividade>. Acesso em: 11
abr. 2009.
WORDCRAFT. Disponvel em: <http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.wordcraft.net/flashlight.html&ei=fsPTScSOAYSItgfaw8nsBg&sa
=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Ddavid%2Bmisell%26hl%3D
pt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_pt-BRBR313BR315>. Acesso em: 01 abr. 2009.
______.Disponvel em: <http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://www.wordcraft.net/flashlight.html&ei=WSTUSc3PGIbWlQePl5jVDA
&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Ddavid%2Bmisell%26hl
%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_pt-BRBR313BR315>. Acesso em: 01 abr. 2009.
Você também pode gostar
- Livro Completo - ATIVIDADES DE POLÍCIA E O USO DA FORÇADocumento484 páginasLivro Completo - ATIVIDADES DE POLÍCIA E O USO DA FORÇAMatheus MeloAinda não há avaliações
- Análise geocriminal: metodologia aplicada à gestão do sistema operacional do policiamento ostensivoNo EverandAnálise geocriminal: metodologia aplicada à gestão do sistema operacional do policiamento ostensivoAinda não há avaliações
- CURSO BÁSICO DE TIRO AtualizadoDocumento46 páginasCURSO BÁSICO DE TIRO AtualizadoSandro SantosAinda não há avaliações
- 2018 Apostila Armamento e Tiro I - CFSDDocumento60 páginas2018 Apostila Armamento e Tiro I - CFSDMatheus Canabrava100% (1)
- Eb70mc10216 PDFDocumento153 páginasEb70mc10216 PDFMorganaAinda não há avaliações
- Armas de Porte EFAS 2022-IIDocumento74 páginasArmas de Porte EFAS 2022-IIVídeo Aulas PmmgAinda não há avaliações
- Gerenciamentocrises CompletoDocumento59 páginasGerenciamentocrises CompletoApbm-rrApbm100% (2)
- Técnica Policial MilitarDocumento44 páginasTécnica Policial MilitarNeillKristhianAinda não há avaliações
- Armamento e Tiro Cotesia Cassio HolandaDocumento28 páginasArmamento e Tiro Cotesia Cassio HolandaDIEGOAinda não há avaliações
- C 23 1 2parte FinalDocumento10 páginasC 23 1 2parte FinalConcurseiroAinda não há avaliações
- Aula - 07 (PT 840)Documento29 páginasAula - 07 (PT 840)Léia SantiagoAinda não há avaliações
- POP PMSC Completo Nele Contem Acoes de Pol Adm PDFDocumento612 páginasPOP PMSC Completo Nele Contem Acoes de Pol Adm PDFJeff Marinho100% (1)
- Aula 3 - Posições de Tiro Com Arma Longa - Reine 03Documento6 páginasAula 3 - Posições de Tiro Com Arma Longa - Reine 03Eduardo SilvaAinda não há avaliações
- Apostila - ArmamentoDocumento38 páginasApostila - ArmamentoEnelruyAinda não há avaliações
- 0x - Fundamentos Do Tiro PDFDocumento46 páginas0x - Fundamentos Do Tiro PDFRafael VenezianiAinda não há avaliações
- Cenarios OperacionaisDocumento72 páginasCenarios OperacionaisRaphael D' luccaAinda não há avaliações
- Manual de Atendimento Pré-HospDocumento315 páginasManual de Atendimento Pré-HospCalvin hobbesAinda não há avaliações
- Edital PMSPDocumento61 páginasEdital PMSPRebeca BorgesAinda não há avaliações
- I-21-PM - 3º Edição Das Instruções para Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial) (Bol G PM 11 - 19)Documento35 páginasI-21-PM - 3º Edição Das Instruções para Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial) (Bol G PM 11 - 19)Gustavo Paulo100% (1)
- Programa de Manutenção de Helicópteros de Segurança Pública Cap Moyses GRPAeSP PDFDocumento206 páginasPrograma de Manutenção de Helicópteros de Segurança Pública Cap Moyses GRPAeSP PDFMarco OlivettoAinda não há avaliações
- 133 - A Importância Da Prática de Exercícios Físicos para o Policial MilitarDocumento12 páginas133 - A Importância Da Prática de Exercícios Físicos para o Policial MilitarOPERAÇÃO BATALHÃO ESCOLAAinda não há avaliações
- Módulo 4 CartuchosDocumento22 páginasMódulo 4 Cartuchosengenheiromateriais100% (1)
- Taser - CFSD 2011Documento149 páginasTaser - CFSD 2011Vinícios Munari100% (1)
- Mon CAO II 2013 Cap PM Alves - Trein. de Tiro e Uso de Granadas - PPEDocumento106 páginasMon CAO II 2013 Cap PM Alves - Trein. de Tiro e Uso de Granadas - PPEAllanAinda não há avaliações
- Edital Viii PatamoDocumento15 páginasEdital Viii PatamoyuriAinda não há avaliações
- Plano de Ação Policiamento Comunitário No Estado de GoiásDocumento33 páginasPlano de Ação Policiamento Comunitário No Estado de GoiásdrianoduarteAinda não há avaliações
- Aula - 06 (PT MD5)Documento33 páginasAula - 06 (PT MD5)Léia SantiagoAinda não há avaliações
- FUZIL 7.62 A1 MD3 - Copia SeguraDocumento30 páginasFUZIL 7.62 A1 MD3 - Copia SeguraJoão Geraldo QueirogaAinda não há avaliações
- Impo M4Documento24 páginasImpo M4Lucas Mendonça da Mota100% (1)
- Tipos de RecargaDocumento15 páginasTipos de RecargaRonilson FerreiraAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Crise PDFDocumento3 páginasGerenciamento de Crise PDFcleiamesmoAinda não há avaliações
- Apostila Guarda e Escolta - CFS 2021Documento37 páginasApostila Guarda e Escolta - CFS 2021Paulo SérgioAinda não há avaliações
- Instrução Geral - ModeloDocumento37 páginasInstrução Geral - ModeloTIAGOAinda não há avaliações
- Plano Municipal de Segurança PúblicaDocumento41 páginasPlano Municipal de Segurança PúblicaAdielGomesPereiraAinda não há avaliações
- Manual de Defesa Policia MilitarDocumento80 páginasManual de Defesa Policia MilitarMuryllo Siqueyros Lupus SanteAinda não há avaliações
- Gelatina BalisticaDocumento10 páginasGelatina BalisticaDannilo JardimAinda não há avaliações
- I-44-PM - Instrucoes para o Ensino A Distancia Da Policia Militar - 2 Edicao - Atualizada 2022Documento27 páginasI-44-PM - Instrucoes para o Ensino A Distancia Da Policia Militar - 2 Edicao - Atualizada 2022Danielle DantasAinda não há avaliações
- Manual SparkDocumento44 páginasManual SparkDom K. Borges0% (1)
- Manual de Procedimentos Operacionais Da Polícia Militar Do CearáDocumento330 páginasManual de Procedimentos Operacionais Da Polícia Militar Do CearáJanderson NascimentoAinda não há avaliações
- Abordagem Com Motocicletas - Cap CorreiaDocumento3 páginasAbordagem Com Motocicletas - Cap CorreiaFernando XavierAinda não há avaliações
- M 22 PMDocumento255 páginasM 22 PMDaniel Da Silva Gomes100% (1)
- Processo 1.01.00 Abordagem de Pessoas A PeDocumento49 páginasProcesso 1.01.00 Abordagem de Pessoas A PeBRUNO BALENAAinda não há avaliações
- Processo 1.02.00 Abordagem A Veiculo - ANTIGO PDFDocumento20 páginasProcesso 1.02.00 Abordagem A Veiculo - ANTIGO PDFCarlos IsraelAinda não há avaliações
- Fuzil IMBEL M964 A1MD3 para o Fuzil ARMALIT AR10TDocumento21 páginasFuzil IMBEL M964 A1MD3 para o Fuzil ARMALIT AR10TAnonymous mcJZ1wVX89Ainda não há avaliações
- 3.03.13 Regula o Policiamento Turistico Da PMMGDocumento37 páginas3.03.13 Regula o Policiamento Turistico Da PMMGEdmilson FernandesAinda não há avaliações
- Crises DinâmicasDocumento22 páginasCrises DinâmicasCarlosMagnoAinda não há avaliações
- PanesDocumento13 páginasPanesguidoamsAinda não há avaliações
- Monografia Cap Lucca Pós Grad Adesg Usp.Documento104 páginasMonografia Cap Lucca Pós Grad Adesg Usp.VALDEMIR REIS FERNANDESAinda não há avaliações
- Apostila Balistica Forense CCRDocumento30 páginasApostila Balistica Forense CCRAntonio RamirezAinda não há avaliações
- Regulamento Temporada 2023 Atualizado 13 03 23 Copa Proarmas 1Documento16 páginasRegulamento Temporada 2023 Atualizado 13 03 23 Copa Proarmas 1Adriano AndradeAinda não há avaliações
- Be35-05 - Pub P 653.IG 30-32Documento223 páginasBe35-05 - Pub P 653.IG 30-32Luna Aps MartinsAinda não há avaliações
- Armamento Covencional RevólverDocumento44 páginasArmamento Covencional RevólverJanildo Da Silva AranteAinda não há avaliações
- Edital 02 ARMEIRODFDocumento5 páginasEdital 02 ARMEIRODFaldemararaujoAinda não há avaliações
- Edital Iat 2021 SRRSDocumento12 páginasEdital Iat 2021 SRRSemersonmalamin1390Ainda não há avaliações
- O Imbel Md97Documento19 páginasO Imbel Md97Bia MarquesAinda não há avaliações
- MTP05Documento112 páginasMTP05Marco PereiraAinda não há avaliações
- Armamento e Tiro PolicialDocumento43 páginasArmamento e Tiro PolicialJerry Cavalcante Lidiane100% (1)
- Manual 45m911a1Documento26 páginasManual 45m911a1MarcosmAinda não há avaliações
- InsNorDpf111 17Documento12 páginasInsNorDpf111 17drediaferiaAinda não há avaliações
- Armamento e TiroDocumento170 páginasArmamento e TiroMARCOS_SHAKAWAinda não há avaliações
- Apostila de Armamento e Tiro IDocumento13 páginasApostila de Armamento e Tiro ICesar SousaAinda não há avaliações
- Legislação OrganizacionalDocumento37 páginasLegislação OrganizacionalWillian LemosAinda não há avaliações
- Munições e Cartuchos para Uso Policial PDFDocumento8 páginasMunições e Cartuchos para Uso Policial PDFErivaldo JúniorAinda não há avaliações
- Armamento SenaspDocumento23 páginasArmamento SenaspCarlos CfrsAinda não há avaliações
- Aula de Regras de Segurança PROPOINTDocumento17 páginasAula de Regras de Segurança PROPOINTDom K. BorgesAinda não há avaliações
- EDITAL COEsp 2018Documento6 páginasEDITAL COEsp 2018Fernando SalesAinda não há avaliações
- 1983 01 04 - Portaria CG 028Documento51 páginas1983 01 04 - Portaria CG 028Ray LandeAinda não há avaliações
- POP 16 - Transporte e Escolta de PresoDocumento4 páginasPOP 16 - Transporte e Escolta de PresoDom K. BorgesAinda não há avaliações
- Atucaiados Pelo Estado - Vilma Reis PDFDocumento247 páginasAtucaiados Pelo Estado - Vilma Reis PDFMarcos RochaAinda não há avaliações
- LACBMGO - Lei Ordinária N° 15.704 - 2006Documento6 páginasLACBMGO - Lei Ordinária N° 15.704 - 2006Pedro Daniel AlvesAinda não há avaliações
- Exercícios Módulo 2Documento17 páginasExercícios Módulo 2Ellen ReisAinda não há avaliações
- 202332bepm-Processopmsc00053469 2023-Assinado 20230810.2Documento42 páginas202332bepm-Processopmsc00053469 2023-Assinado 20230810.2Caio Fabio FigueiredoAinda não há avaliações
- IT 17 - Brigada de IncêndioDocumento16 páginasIT 17 - Brigada de Incêndioasalmeida2007Ainda não há avaliações
- Questões de Crimes No CPMDocumento6 páginasQuestões de Crimes No CPMMário ClarkAinda não há avaliações
- Monografia Cap Lucca Pós Grad Adesg Usp.Documento104 páginasMonografia Cap Lucca Pós Grad Adesg Usp.VALDEMIR REIS FERNANDESAinda não há avaliações
- I-02-Pm - 4 Ediçao (Alt BG 163 - 16)Documento13 páginasI-02-Pm - 4 Ediçao (Alt BG 163 - 16)nrogernAinda não há avaliações
- Plano 100 Dias Segurança PúblicaDocumento19 páginasPlano 100 Dias Segurança PúblicaJoão Paulo FornelAinda não há avaliações
- Estatuto Da PM Ro Decreto Lei N 09 A 1982 E1659444292Documento54 páginasEstatuto Da PM Ro Decreto Lei N 09 A 1982 E1659444292gabriella oliveiraAinda não há avaliações
- Caderno de Prova CFS 2019Documento24 páginasCaderno de Prova CFS 2019Padu WillimannAinda não há avaliações
- ESTATUTO - 2020 - Atualizado - PMPADocumento28 páginasESTATUTO - 2020 - Atualizado - PMPAFábioAinda não há avaliações
- 2020 08 07 DiarioOficialMPPE PDFDocumento105 páginas2020 08 07 DiarioOficialMPPE PDFEuclidesBritoAinda não há avaliações
- Formulario de Avaliacao Da Conduta Social FACSRI 15JAN20Documento33 páginasFormulario de Avaliacao Da Conduta Social FACSRI 15JAN20Nahahow '-'Ainda não há avaliações
- Atualização Da Doutrina de Gerenciamento de Crises: Incidentes Policiais e Centros de Consciência Situacional C5i Na Quarta Revolução IndustrialDocumento20 páginasAtualização Da Doutrina de Gerenciamento de Crises: Incidentes Policiais e Centros de Consciência Situacional C5i Na Quarta Revolução Industrialnelson duringAinda não há avaliações
- Manual de Sobrevivencia Policial PDFDocumento33 páginasManual de Sobrevivencia Policial PDFGêmini Abreu Rotam100% (1)