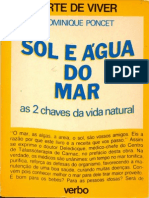Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpo e o Devir-Monstro - Carlos Augusto Peixoto Junior
Corpo e o Devir-Monstro - Carlos Augusto Peixoto Junior
Enviado por
Gabriel In-nocentiniTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Corpo e o Devir-Monstro - Carlos Augusto Peixoto Junior
Corpo e o Devir-Monstro - Carlos Augusto Peixoto Junior
Enviado por
Gabriel In-nocentiniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LUGAR COMUM N25-26, pp.
245-255
O corpo e o devir-monstro107
Carlos Augusto Peixoto Junior
De acordo com Merleau-Ponty, o sculo XX foi o responsvel por um
apagamento da linha divisria entre corpo e esprito, encarando a vida humana
como espiritual e corprea de ponta a ponta, sempre apoiada sobre o corpo. Se
para muitos pensadores do sculo XIX o corpo era um feixe de mecanismos ou
um pedao de matria, o sculo passado teria restaurado e aprofundado a questo
da carne, ou seja, o corpo animado. Para Jean-Jacques Courtine, o sculo passado
tambm foi aquele que inventou teoricamente esse corpo. Essa inveno teria
surgido, em primeiro lugar, com a psicanlise, desde que Freud, ao observar os
corpos das histricas de Charcot, teria decifrado a histeria de converso e compreendido o que iria constituir um enunciado fundamental de muitas investigaes
posteriores: o inconsciente fala atravs do corpo (Courtine, 2006/2008, p. 7).
Com isso, o corpo acabou sendo ligado ao inconsciente e ao sujeito, mas tambm
inserido nas formas sociais da cultura.
No entanto, desde Freud, restaria ainda um obstculo a transpor: a obsesso lingstica do estruturalismo, a qual, desde o ps-guerra at os anos 1960,
iria, efetivamente, tentar silenciar o corpo e seus devires. No entanto, j ao final
daquela mesma dcada, as coisas comeariam a mudar. O corpo passou a desempenhar papis importantes nos movimentos individualistas e igualitaristas que
protestavam contra o peso das hierarquias culturais, polticas e sociais herdadas
do passado. Nestas condies, o discurso e as estruturas estavam estreitamente
ligados ao poder, ao passo que o corpo estava do lado das categorias oprimidas e
marginalizadas: as minorias de raa, de classe ou de gnero pensavam ter apenas
o prprio corpo para opor ao discurso do poder, assim como para se contrapor
linguagem como instrumento que buscava impor o silncio aos corpos.
Mas, se em linhas muito gerais, podemos considerar que esse foi o retrato
da resistncia do corpo s foras reativas que buscaram enterr-lo nos ltimos
107 Trabalho apresentado no Colquio Cultura, trabalho e natureza na globalizao, RJ, Casa
de Rui Barbosa, 2008. Verso modificada de artigo intitulado Sobre corpos e monstros: algumas reflexes contemporneas, submetido Revista Psicologia em Estudo da Universidade
Estadual de Maring.
246
O CORPO E O DEVIR-MONSTRO
tempos, no decorrer de toda a histria da humanidade at os dias atuais, uma figura, tambm sempre marginalizada, fez com que a questo do corpo viesse com
freqncia tona, despertando ao mesmo tempo horror e admirao. Trata-se da
figura do monstro, que aqui buscaremos analisar a partir de questes tais como
o corpo monstruoso, a monstruosidade como fenmeno, o devir-monstro e seus
reflexos no mbito de uma poltica de subjetivao. Em todas estas vertentes, o
que poderemos notar que o monstro sempre desestabiliza a representao e a
identidade em suas diversas formas de apresentao.
Segundo Jos Gil, o monstro mostra mais do que tudo o que visto, pois
mostra o irreal verdadeiro. O transbordamento que ele veicula ultrapassa o contedo representado, e est para alm de sua origem e de sua causa. O monstro , ao
mesmo tempo, absolutamente transparente e totalmente opaco. Quando o encaramos, nosso olhar fica paralisado e absorto em um fascnio sem fim. Ao exibir a
sua deformidade, a sua anormalidade que normalmente se esconde o monstro
oferece ao olhar a sua aberrao para que todos a vejam.
Seu corpo difere do corpo normal na medida em que revela o oculto, algo
de disforme, de visceral, de interior, uma espcie de obscenidade orgnica. Tal
obscenidade, ele no apenas a exibe como tambm a desdobra, virando a pele do
avesso, desfraldando-a, sem se preocupar com o olhar do outro, para fascin-lo.
Mas na realidade o olhar nada v, dado que fica suspenso nessa revelao-ocultamento que a prpria imagem do corpo monstruoso. Para Gil, o que fascina que
o interior do monstro se corporifique e que no seja realmente um corpo porque
no dotado de alma. Mostrando o avesso de sua pele, sua alma abortada que
o monstro exibe: seu corpo o reverso de um corpo com alma. Ao revelar o que
deve permanecer oculto, o corpo monstruoso subverte a mais sagrada das relaes entre a alma e o corpo: a alma revelada deixa de ser uma alma, torna-se, no
sentido prprio, o reverso do corpo, um outro corpo, mas amorfo e horrvel, um
no-corpo (Gil, 2006, p. 79).
Nestas condies, estamos na presena de um corpo no codificado, de
um corpo que prolifera num processo de absoro dos signos que transforma o
prprio corpo em signo delirante, parasitando todos os outros signos da linguagem. Trata-se, portanto, da irrupo no espao social de um corpo individual asignificante que, devorando os signos, amedronta e provoca angstia no nosso
ser cultural. Ainda de acordo com Gil, o monstro mostra a natureza o corpo
tentando significar por ela prpria, sem a ajuda de (e contra) a cultura: significa,
ao mesmo tempo, demasiadas coisas e nada (Gil, 1997, p. 49). Seguindo essa
mesma linha de argumentao, podemos afirmar que o monstro como um corpo
Carlos Augusto Peixoto Junior
significante catico que, ao contrrio de nos representar apenas de um modo deformado, esta a para indicar no s os nossos limites, mas as possibilidades em
potncia dos nossos corpos, do Corpo (Pinto da Silva, 2007, p. 6).
Abordando o tema da monstruosidade no mbito da vida, Georges Canguilhem recorria a Gabriel Tarde para afirmar que o tipo normal era apenas o grau
zero da monstruosidade (Canguilhem, 1965/1992, p. 25). Do seu ponto de vista, a
vida no transgrediria as suas leis nem os seus planos e, portanto, seus acidentes
no constituiriam excees, nem haveria nada de propriamente monstruoso nas
monstruosidades.
Aproximando-se do seu mestre poca de As palavras e as coisas, Michel Foucault tambm considerava que os monstros no seriam de uma natureza
distinta da das prprias espcies (Foucault, 1966/1981, p. 170), e constituiriam
apenas o rudo de fundo ou o murmrio ininterrupto do mundo natural. Desta
forma, a partir do poder contnuo que a natureza detm, o monstro faria aparecer
a diferena colocando em questo, no mbito do saber cientfico, o primado da
identidade e da representao.
Se no perodo dedicado arqueologia do saber as referncias foucaultianas aos monstros se restringiam a esses aspectos da histria natural o que,
alis, notado por Gil quando menciona a ausncia de referncias ao ano na
anlise do Las meninas de Velsquez feita por Foucault (Gil, 2006, p. 61-63) , na
construo de sua teoria genealgica do poder, o tema da monstruosidade ocupar
um lugar importante. Em seu curso sobre Os anormais nos anos de 1974-75, ele
discute a ampla dimenso alcanada pelos monstros na genealogia do conceito de
anormalidade desde o sculo XVIII.
Dentre as principais figuras no domnio das teorias mdico-jurdicas sobre as anomalias daquele perodo, destacava-se a do monstro humano. Foucault
nos mostra como, no quadro de referncia legal do saber jurdico, o que definia
o monstro humano, tanto na sua existncia como na sua forma, era no apenas a
violao das leis da sociedade, mas tambm a violao das leis da prpria natureza. Neste contexto, a existncia do monstro enquanto tal j era suficiente para
considerar as infraes s leis. Apesar de ser considerado um fenmeno extremo
e extremamente raro no domnio biolgico-jurdico, no limite, o monstro teria
sido transformado num ponto central para a avaliao de diferentes aspectos de
subverso das leis. Ainda de acordo com Foucault, at a metade do sculo XVIII,
havia um estatuto criminal da monstruosidade, no que ela era transgresso de todo
um sistema de leis, quer sejam leis naturais, quer sejam leis jurdicas. Portanto,
era a monstruosidade que, em si prpria, era criminosa (Foucault, 1999, p. 69).
247
248
O CORPO E O DEVIR-MONSTRO
O monstro, efetivamente, contradizia a lei constituindo uma infrao levada ao
seu ponto mximo.
No entanto, se o monstro foi capturado pelo saber-poder mdico-jurdico
no mbito das anomalias, isso certamente ocorreu porque o anmalo tambm
comportava nele uma potncia subversiva relacionada multiplicidade e ao devir.
Conforme observam Deleuze e Guattari, a palavra anmalo, adjetivo que caiu
em desuso, tinha uma origem muito diferente de anormal (Deleuze e Guattari,
1980/1997, p. 25). Indo muito alm desse adjetivo latino sem substantivo, o qual
qualifica aquilo que no tem ou contradiz a regra, a a-nomalia, substantivo grego que perdeu o seu adjetivo, designa o que desigual, rugoso, spero, ou seja,
uma ponta de desterritorializao. Enquanto o anormal s poderia se definir em
funo de caractersticas especficas ou genricas, o anmalo algo como um indivduo excepcional, uma posio ou um conjunto de posies em relao a uma
multiplicidade. A partir desse ponto de vista, cada multiplicidade definida por
uma borda funcionando como Anmalo; mas h uma enfiada de bordas (fibra),
de acordo com a qual a multiplicidade muda (Deleuze e Guattari, 1980/1997, p.
33). E essa srie de bordas enfileiradas constitui uma linha de fuga ou de desterritorializao. Nestes termos, o Anmalo, o Outsider ou, naquilo que nos interessa
aqui, o monstro teratolgico, isto , real, ou ficcional tem muitas funes: ele
no apenas tangencia cada multiplicidade, cuja estabilidade passageira ou local
ele determina com a dimenso mxima provisria, como tambm constitui a condio da aliana necessria ao devir, levando cada vez mais longe na linha de fuga
as passagens de multiplicidades ou transformaes de devir.
A desterritorializao presente nessa dimenso do devir implica a instaurao de um agenciamento, uma circulao de afetos impessoais, uma corrente
alternativa, a qual, atuando como uma mquina de guerra que anula diferentes
tentativas de reterritorializao, tumultua os projetos significantes e os sentimentos subjetivos. Trata-se, portanto, da instaurao de uma individuao impessoal,
a partir da qual o monstro, no seu devir, coloca em questo o conceito de sujeito
e a primazia do simblico no campo da produo de subjetividades. Alm disso,
o devir tambm problematiza toda idia de evoluo por dependncia e filiao.
Para Deleuze e Guattari, o devir sempre de uma ordem outra que a da filiao.
Ele da ordem da aliana. Se a evoluo comporta verdadeiros devires, no vasto
domnio das simbioses que coloca em jogo seres de escalas e reinos inteiramente
diferentes, sem qualquer filiao possvel (Deleuze e Guattari, 1980/1997, p.
19). nesse sentido que os autores podem considerar que existe sempre uma
aliana anti-natureza em qualquer bloco de devir. Opondo a epidemia filiao e
Carlos Augusto Peixoto Junior
o contgio hereditariedade, eles nos fazem ver que o devir tem a ver com hbridos, eles prprios estreis, nascidos de uma unio que no se reproduzir, mas que
sempre recomeam e a cada vez ganham terreno.
Diante dessas hipteses, j poderamos dizer que o que est em jogo no
devir-monstro do corpo a sua dimenso de absoluta singularidade. Como afirma
Perret-Gentil, de certa forma e de acordo com uma certa proporo, tudo aquilo
que mostrado ou que se mostra afirmando a sua singularidade contra e atravs
do semelhante monstruoso (Perret-Gentil, 2004, p. 80). Se o monstro constitui
algo que mostrado, ele aquilo que faz ver a sua singularidade numa tal evidncia que pouco deixa a dizer, numa evidncia que se mostra por si mesma sem
precisar se justificar. O seu mostrar, enquanto tal, j suficiente para que se possa
ver e saber o que ele . Trata-se portanto de um momento em que a expresso no
mais propriamente equvoca, mas unvoca. Enquanto individuao absoluta, o
monstro constitui o impossvel de toda generalidade.
Interrogando-se de forma mais detalhada sobre o que poderia ser a multiplicidade no domnio das espcies monstruosas, Jean-Clet Martin considerava
que a figura do monstro seria constituinte da multiplicidade e da unidade como
um todo, a qual produz uma diferena nfima e, no entanto, altamente transformadora. Com efeito, diz o autor, o monstro nos afeta por sua maneira heterclita de
convocar uma diferena genrica suscetvel de afirmar uma confuso entre as espcies, como se o gnero irradiasse sua universalidade atravs de todas as singularidades da matria, renovando com o seu fluxo qualquer especificidade tpica. O
monstro a mostrao de uma vizinhana aberrante, de uma diferena que passa
pelo gnero engolindo a das espcies (Martin, apud Perret-Gentil, 2004, p. 77).
Ser hbrido, o monstro designa a singularidade de um gnero materializado, individualizado embora no-especfico, atualizado no aqui e agora. Ele seria o gnero
enquanto tal, realizado em carne e osso. Portanto, ainda de acordo com Martin,
o que o monstro expe por todos os lados a realidade do gnero, o realismo do
universal e sua individualizao no sensvel: a idia como formosa deformidade.
Essa relao complexa entre monstro e gnero no mais no domnio
de uma histria natural crtica, mas no contexto das discusses sobre o corpo e
a sexualidade no mundo contemporneo tambm foi objeto de algumas discusses do ps-feminismo americano, o qual busca realizar uma poltica de subverso radical do conceito de gnero no mbito do sexo. Em seu Manifesto Ciborgue, Donna Haraway afirma que os monstros sempre definiram os limites
da comunidade na imaginao ocidental. Os centauros e as amazonas da Grcia
antiga estabeleceram os limites da polis centrada do humano masculino grego
249
250
O CORPO E O DEVIR-MONSTRO
ao vislumbrarem a possibilidade de casamento e as confuses de fronteira entre
o guerreiro, de um lado, e a animalidade e a mulher, de outro. Hermafroditas e
gmeos univitelinos constituram o confuso material humano dos primrdios da
Frana moderna, o qual fundamentava o discurso no natural e no sobrenatural, no
mdico e no legal, nas maravilhas excepcionais e nas doenas, todos eles elementos cruciais no estabelecimento da identidade moderna. As cincias voltadas para
o estudo da evoluo e do comportamento dos macacos e smios marcaram as
mltiplas fronteiras das identidades industriais do final do sculo passado. J os
monstros-ciborgue da fico cientfica feminista definem possibilidades e limites
polticos bastante diferentes daqueles propostos pela fico mundana do Homem
e da Mulher (Haraway, 1991, p. 180).
De acordo com Haraway, essas seriam algumas das conseqncias de
se levar a srio a imagem dos ciborgues como sendo algo mais do que apenas
nossos inimigos. Nossos corpos, atesta a autora, so nossos eus; os corpos so,
na verdade, mapas de poder e identidade, e os ciborgues no constituem uma
exceo a isso. S que o corpo do ciborgue no busca uma identidade unitria e,
portanto, no produz infindveis dualismos antagnicos. Para o ciborgue, um
pouco e dois, apenas uma possibilidade. Com ele, o intenso prazer na habilidade
da mquina deixa de ser um pecado e passa a constituir um importante aspecto do
processo de corporificao. Assim, a mquina deixa de ser idolatrada e comea a
fazer parte de nossos processos corporais. Se podemos ser responsveis pelas mquinas, tambm podemos nos responsabilizar pelas fronteiras e passamos a constituir, ns mesmos, essas fronteiras. Nesse sentido, os ciborgues podem expressar
seriamente o aspecto, s vezes parcial ou fluido, do sexo e da corporificao sexual. A encarnao ciborguiana, no obedece a um calendrio edpico no qual as
terrveis clivagens de gnero seriam curadas atravs de uma utopia simbitica oral
ou de um apocalipse ps-edipiano. Os mais terrveis e promissores monstros dos
mundos ciborguianos esto corporificados em narrativas no-edpicas, obedecendo a uma lgica de represso diferente, a qual, em nome de nossa sobrevivncia,
precisamos compreender (Haraway, 1991, p. 150). Nesse sentido, o ciborgue
uma criatura do mundo ps-gnero que no tem qualquer compromisso com as
sexualidades edipianas em geral, todas elas fundadas em representaes dicotmicas.
Aproximando os monstros das mes e das mquinas, Rosi Braidotti tambm traz contribuies significativas para a apreenso do papel subversivo das
figuras monstruosas no que diz respeito ao debate sobre as relaes entre sexo
e gnero em uma poltica ps-feminista. Segundo a autora, os monstros sempre
Carlos Augusto Peixoto Junior
ocuparam um lugar importante na histria e na filosofia das cincias biolgicas,
indicando a relao delas com a diferena e com os corpos diferentes. No contexto
biolgico, eles sempre representaram no apenas as mal-formaes do organismo
humano, como tambm assinalavam o lugar intermedirio das misturas e da ambivalncia. Esse aspecto j estaria implcito na raiz grega antiga da palavra monstro,
teras, a qual significava tanto horrvel como maravilhoso, objeto de abjeo e
adorao. Desde o sculo XIX, seguindo o sistema de classificao da monstruosidade elaborado por Geoffroy Saint-Hilaire, as mal-formaes corporais haviam
sido definidas em termos de excesso, falta ou deslocamento de rgos. Mesmo
que antes de chegar a esse tipo de classificao cientfica a filosofia natural j
lutasse para dar conta destes objetos de abjeo, Braidotti afirma que a constituio da teratologia como cincia oferece um exemplo paradigmtico das maneiras pelas quais a racionalidade cientfica lidava com diferenas do tipo corporal
(Braidotti, 1994, p. 78).
Assim, de acordo com a autora, fica evidente que o discurso sobre os
monstros incide sobre uma questo de suma importncia para a teoria feminista: o
estatuto da diferena no escopo do pensamento racional. Com sua lgica de oposies binrias, tal pensamento sempre tratou a diferena como aquilo que alguma
outra coisa que no a norma. Considerando que o corpo feminino em diferentes
momentos foi aproximado do monstro devido sua falta ou incompletude em relao ao corpo do homem, e que o corpo e o desejo das mes foram tomados como
causa ou origem de diferentes anomalias ou anormalidades, Braidotti nos mostra
que isso se deveu antes de tudo ao fato de que, durante muito tempo, no se conseguiu pensar diferentemente a diferena. Nestes termos, a aproximao entre os
corpos dos monstros, das mulheres e das mes nos serve como instrumento de
denncia do pensamento falogocntrico que sempre procurou tratar o feminino
e a feminilidade como objeto de abjeo. Alm disso, marcando a sua diferena
singular, como um degenerado que se contrape ao tipo genrico, o monstro tambm nos obriga a recusar a idia de mulher genrica. Conforme mostrou Eliane
Robert Moraes, diante das interrogaes que as criaturas teratolgicas lanam,
na afirmao de sua diferena, no seria possvel postularmos um ideal universal
feminino, que negaria, igualmente, a singularidade de cada ser (Moraes, 2005, p.
24). Se mulheres e monstros puderem ser considerados figuras emblemticas da
incompletude, acima de tudo, vale lembrar que ambos nos mostram que somos,
cada um de ns, um desvio em relao ao suposto homem genrico e universal e
que, portanto, nessa qualidade, cabe a cada um e a todos a aventura sensvel de
uma existncia.
251
252
O CORPO E O DEVIR-MONSTRO
Mantendo-nos no mbito destes desdobramentos polticos da corporeidade do devir-monstro, no poderamos deixar de mencionar aqui as importantes
contribuies de Antonio Negri a propsito do corpo e da monstruosidade no
contexto de uma poltica imanente da multido. De acordo com o filsofo italiano, o corpo mais singular tambm (...) o mais comum (Negri, 2003, p. 202).
Como potncia de determinao que vive na singularidade materialista, o corpo
se alimenta de uma ruptura que gera desmedida. E na ruptura da temporalidade
que o autor situa a chave da produo do ser. Nessas condies, o corpo reage
ruptura produzindo um ser novo. Inserido no domnio da materialidade do eterno,
o corpo o conduz ruptura, e revivifica a eternidade, experimentando-se como
prxis do tempo. Portanto, antes de tudo, a reflexo corprea seria uma imerso
ontolgica que ativa o eterno mediante a abertura, deste eterno, sobre a borda do
ser, sobre o ponto do porvir (Negri, 2003, p. 82). Com isso, pode-se dizer que,
ao refletir, o corpo no apenas se v imerso em um campo material, mas tambm
se abre inovao. O corpo reflete o eterno pondo-o em contato com o devir,
porque, apesar de essa relao ser desmedida, ela tambm produo. No campo
do comum, pensa Negri, a singularidade que constitui a potncia de desmedida.
ela que estabelece uma relao entre o fora da medida prprio resistncia
excluso, e o alm da medida relativo potncia que constitui um novo comum.
Abrindo-se para a desmedida biopoltica, o corpo afetado por ela e essa afetao
j , ela prpria, potncia. Para o autor, se o corpo capacidade de exprimir afetos, tal como queria Espinosa, ao se mostrar afetado pelas relaes produtivas, ele
tem a sua potncia aumentada.
Ainda de acordo com o filsofo italiano, a passagem da poca do homem-homem para a do homem-mquina, do moderno para o ps-moderno, fez
com que o corpo se transformasse na potncia que constitui a base da mquina, ao
mesmo tempo em que tambm se desenvolveu atravs dela. Na poca do homemmquina, o trabalho vivo potncia de gerao metamrfica, gerao teleolgica
materialista e no-finalista. Nenhum transcendental, assim como nenhuma conexo dialtica precede ou informa o efeito dessa gerao. Nessa teleologia, a causa sempre externa porque se debrua sobre a borda do tempo, onde o novo surge,
e em um certo aspecto o produto da gerao inovadora sempre um monstro (Negri, 2003, p. 207). Se o monstro pode ser reconhecido como potncia
de metamorfose (Negri, 2002, p. 137), toda metamorfose implica passagens. A
metamorfose sempre singular porque se constitui na criao de um novo ser,
para alm da borda do tempo, onde a marca da singularidade se coloca. Quando
o singular ultrapassa a borda do tempo, a passagem se transforma em multido
Carlos Augusto Peixoto Junior
porque constri novo ser comum, que, por isso mesmo, vale para a multido de
singularidades (Negri, 2003, p. 203). As metamorfoses tambm dizem respeito aos corpos enquanto conjunto de mutaes sensoriais, perceptivas e mentais
produzidas pela experimentao no mundo da vida dentro de novos ambientes
maqunicos e da produo desterritorializada. Neste sentido, Negri considera que
a metamorfose gerao biopoltica. A artificialidade ou a naturalidade dos processos biopolticos, expostos sobre a borda do ser, constituem uma nova natureza
ou um novo artefato. Por isso, complementa o autor, diz-se, no ps-moderno, que
o sujeito se torna ciborgue ou artefato tecnolgico. Na verdade, atravs de todas
as metamorfoses anteriores, ao longo do desenvolvimento das diferentes tecnologias, o corpo j se tornou, de alguma maneira e em algum aspecto, um ciborgue;
mas a transformao atual, na era do homem-mquina, realmente a transformao do ciborgue, em sentido prprio (Negri, 2003, p. 222).
Nos tempos atuais, poca em que o horizonte social definitivamente se
constituiu como o campo por excelncia da biopoltica, Negri e Hardt acham que
devemos sempre nos lembrar dos monstros e de suas primeiras histrias modernas,
posto que o efeito monstro desde ento s se multiplicou. Hoje, Frankenstein
da famlia (Negri e Hardt, 2005, p. 255), dizem os autores. Sem dvida, neste fim
de sculo os monstros proliferam: vemo-los por todos os lados, no cinema, nos
quadrinhos, em gadgets e brinquedos, livros e exposies de pintura, no teatro e
na dana. Invadindo o planeta, eles definitivamente tornaram-se familiares. A prpria teratologia tornou-se fantstica. J no nos contentamos mais com as classificaes de Geoffroy Saint-Hilaire, que finalmente pareciam pacificar um universo
confuso, racionalmente escandaloso, incapaz, desde h sculos, de estabelecer
as leis da aberrao. Nesse contexto, o discurso dos seres vivos deve se tornar
uma teoria de sua construo e das possibilidades que os aguardam no porvir.
Imersos nessa realidade instvel, diante da crescente artificialidade do mundo e
da institucionalizao do social, necessrio que estejamos cada vez mais preparados para que os monstros surjam a qualquer momento, como, alis, no param
de surgir. Se Deleuze j havia reconhecido o monstro no interior da humanidade,
afirmando que o homem o animal que est mudando sua prpria espcie, Negri
e Hardt levaram a srio essa formulao. Com o avano dos monstros e com o
tratamento cientfico dado a eles, a humanidade transforma a si mesma, assim
como tambm modifica sua histria e a prpria natureza. Ainda de acordo com os
autores, o problema no consiste mais em decidir se essas tcnicas humanas de
transformao devem ser aceitas, mas em aprender o que fazer com elas e saber
se funcionaro em nosso benefcio ou em nosso detrimento. Na realidade, precisa-
253
254
O CORPO E O DEVIR-MONSTRO
mos aprender a amar certos monstros e a combater outros (Negri e Hardt, 2005,
p. 256). Assim, precisamos utilizar as expresses monstruosas da multido para
desafiar e subverter as metamorfoses da vida artificial transformadas em mercadoria, o poder capitalista que vende as mutaes da natureza e a nova eugenia
que sustenta esse poder. Pois, se como afirmam Negri e Hardt, o conceito de
multido obriga-nos a entrar num novo mundo no qual s podemos entender a ns
mesmos como monstros (Negri e Hardt, 2005, p. 253), justamente nesse mundo
dos monstros que a humanidade tem que se apropriar do seu futuro.
Referncias
BRAIDOTTI, R. Mothers, monsters and machines. In: Nomadic subjects: embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory, New York: Columbia
University Press, 1994
CANGUILHEM, G. La monstruosit et le monstrueux. In: La connaissance de la
vie, Paris: Vrin, (1965) 1992.
COURTINE, J-J. O corpo anormal histria e antropologia culturais da deformidade. In: Corbin, A., Courtine, J-J & Vigarello, G. Histria do corpo - vol. 3 - As mutaes do olhar: o sculo XX, Petrpolis: Editora Vozes, 2006/2008.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil plats: capitalismo e esquizofrenia, vol.4. Rio de
Janeiro: Editora 34, (1980) 1997.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das cincias humanas.
So Paulo: Martins Fontes, (1966) 1981.
______ Les anormaux cours au Collge de France, 1974-1975. Paris: Gallimard/
Le Seuil, 1999.
GIL, J. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 1997.
______ Monstros. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 2006.
HARAWAY, D. A cyborg manifesto: science, technology and socialist-feminism in
the late twentieth century. In: Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature. London: Free Association Books, 1991.
MASSUMI, B. A users guide to capitalism and schizophrenia: deviations from Deleuze and Guattari. Cambridge: MIT Press, 1992.
MORAES, E. R. Anatomia do monstro. In: Bueno M. L.; Castro, A. L. Corpo, territrio da cultura. So Paulo: Annablume, 2005.
NEGRI, A. Du retour: abcdaire biopolitique. Paris: Calmann-Lvy, 2002.
______ Kairs, Alma Venus, Multitudo: nove lies ensinadas a mim mesmo. Rio de
Janeiro: DP&A Editora, 2003.
Carlos Augusto Peixoto Junior
NEGRI, A. e HARDT, M. Multido: guerra e democracia na era do Imprio. Rio de
Janeiro: Record, 2005.
PERRET-GENTIL, F. Lescamoteur. In: Beaune, J-C. La vie et la mort des monstres. Lyon: Champ Vallon, 2004.
PINTO DA SILVA, F. M. Da literatura, do corpo e do corpo na literatura: Derrida,
Deleuze e monstros do Renascimento. Universidade de vora, disponvel em: http://
criticanarede.com/teses/deleuze.pdf, 2007.
Carlos Augusto Peixoto Junior Psicanalista; Professor do Programa de Ps-graduao em Psicologia Clnica da PUC-Rio; Pesquisador do CNPQ; Organizador de Formas
de subjetivao, RJ, Contracapa, 2004; autor de Metamorfoses entre o sexual e o social, RJ,
Civilizao Brasileira, 1999, e de Singularidade e subjetivao: ensaios sobre clnica e cultura,
RJ, PUC - Rio/7Letras, 2008.
255
Você também pode gostar
- 3653269-Vol 1Documento922 páginas3653269-Vol 1Gilbert Oliveira100% (7)
- Espinhela CaídaDocumento11 páginasEspinhela CaídaAnselmo NeivaAinda não há avaliações
- GASSNER, John - Mestres Do Teatro IDocumento418 páginasGASSNER, John - Mestres Do Teatro ICristian Pio Avila100% (5)
- 12 Acessorios de Tubulação IndustrialDocumento53 páginas12 Acessorios de Tubulação IndustrialSullyvan Lucilene OliveiraAinda não há avaliações
- Diagnóstico de Falhas de MotorDocumento102 páginasDiagnóstico de Falhas de MotorLeandro SoaresAinda não há avaliações
- Lista 2 - Espelhos PlanosDocumento21 páginasLista 2 - Espelhos Planosmariadudabarroso4Ainda não há avaliações
- Sol e Água Do Mar - Dominique Poncet - 1 - 4 PDFDocumento50 páginasSol e Água Do Mar - Dominique Poncet - 1 - 4 PDFhesicos100% (1)
- Análise Crítica Do Relativismo CulturalDocumento1 páginaAnálise Crítica Do Relativismo CulturalAnselmo NeivaAinda não há avaliações
- Trilogia Tebana PDFDocumento130 páginasTrilogia Tebana PDFAnselmo NeivaAinda não há avaliações
- Umbanda No UruguaiDocumento2 páginasUmbanda No UruguaiAnselmo NeivaAinda não há avaliações
- O Que É Umabanda - Patricia BirmanDocumento53 páginasO Que É Umabanda - Patricia BirmanLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Artigo Preto-Velho Anselmo (2) )Documento12 páginasArtigo Preto-Velho Anselmo (2) )Anselmo NeivaAinda não há avaliações
- Alcoois e Fenois - QO1Documento18 páginasAlcoois e Fenois - QO1Arcenio Key Cee Afonso100% (1)
- Antero de QuentalDocumento4 páginasAntero de QuentalMartaAinda não há avaliações
- Complicações Da Nefropatia DiabeticaDocumento1 páginaComplicações Da Nefropatia DiabeticaMATEUS MEDEIROS VILELAAinda não há avaliações
- 2.2 As Concepções de AprendizagemDocumento1 página2.2 As Concepções de AprendizagemNomeAinda não há avaliações
- OdontologiaDocumento79 páginasOdontologiabiancaAinda não há avaliações
- O Estado de Sono No Processo de AprendizagemDocumento13 páginasO Estado de Sono No Processo de AprendizagemEduardo SanchesAinda não há avaliações
- Levantamento FitossanitárioDocumento5 páginasLevantamento FitossanitárioAires MartinsAinda não há avaliações
- Execução Da Pavimentação de Entrada de Via e Entrada de Avenida - Campo NovoDocumento2 páginasExecução Da Pavimentação de Entrada de Via e Entrada de Avenida - Campo NovoJosé Valter AlvesAinda não há avaliações
- Atividade 11 Fluxo de EnergiaDocumento2 páginasAtividade 11 Fluxo de EnergiaMeida SoaresAinda não há avaliações
- Aula Anatomia VegetalDocumento8 páginasAula Anatomia VegetalLEMOSAinda não há avaliações
- Plano de ContasDocumento36 páginasPlano de ContasKlaus Wippel WippelQBRNAinda não há avaliações
- Fatorização Resumos ExerciciosDocumento5 páginasFatorização Resumos ExerciciosSilvia RibeiraAinda não há avaliações
- MODULO 1 - Arte Grega - PinturaDocumento93 páginasMODULO 1 - Arte Grega - PinturaFranklin AlvesAinda não há avaliações
- Aula 10 - Eletroválvula Do Canister - Oficina Do Saber - Mte-ThomsonDocumento3 páginasAula 10 - Eletroválvula Do Canister - Oficina Do Saber - Mte-ThomsonGilsonMendonçaAinda não há avaliações
- Modelos Moleculares para o Ensino de Química Utilizando Materiais Alternativos Serragem e BiscuitDocumento7 páginasModelos Moleculares para o Ensino de Química Utilizando Materiais Alternativos Serragem e BiscuitAna Paula SousaAinda não há avaliações
- Tabela de ReagentesDocumento6 páginasTabela de ReagentesRachel BianchiAinda não há avaliações
- Anatomia Humana - Van de GraaffDocumento1.489 páginasAnatomia Humana - Van de GraaffLaurinda Pereira AlvesAinda não há avaliações
- HVR NVRDocumento16 páginasHVR NVRLuis NascimentoAinda não há avaliações
- Aula 01 - HiperestaticaDocumento11 páginasAula 01 - HiperestaticaWelder CavalcanteAinda não há avaliações
- Livro-Texto Semantica UFSCDocumento21 páginasLivro-Texto Semantica UFSCChristina CarterAinda não há avaliações
- Aula 2 - Cen. Econ. e MercadosDocumento5 páginasAula 2 - Cen. Econ. e MercadosEber Kennedy Cassimiro OliveiraAinda não há avaliações
- Atividades Complementares Sobre AdjetivoDocumento1 páginaAtividades Complementares Sobre AdjetivoSilvana LopesAinda não há avaliações
- TC EN DRW170775AC 210107 MANUAL W.en - PTDocumento6 páginasTC EN DRW170775AC 210107 MANUAL W.en - PTDinho AcioliAinda não há avaliações
- A Lei Da Preparação PréviaDocumento2 páginasA Lei Da Preparação PréviaIvair CamposAinda não há avaliações