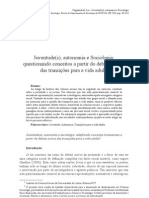Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Adolescentes Autores de Atos Infracionais
Adolescentes Autores de Atos Infracionais
Enviado por
PauloVitorCandidoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Adolescentes Autores de Atos Infracionais
Adolescentes Autores de Atos Infracionais
Enviado por
PauloVitorCandidoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia & Sociedade; 23 (1): 125-134, 2011
ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS:
PSICOLOGIA MORAL E LEGISLAO
ADOLESCENTS WHO COMMITTED CRIMINAL TRANSGRESSIONS:
MORAL PSYCHOLOGY AND BRAZILIAN LAWS
Franciela Flix de Carvalho Monte
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil
Leonardo Rodrigues Sampaio, Josemar Soares Rosa Filho e Laila Santana Barbosa
Universidade Federal do Vale do So Francisco, Petrolina, Brasil
RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de discutir o Estatuto da Criana e do Adolescente ECA, e o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo SINASE, os quais dispem sobre a proteo integral dos direitos fundamentais
de crianas e adolescentes. Foca-se a discusso nas diretrizes do atendimento a adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas, especialmente em instituies de ressocializao, destacando-se como caractersticas
imprescindveis para o desenvolvimento integral dos adolescentes: o estmulo negociao, autonomia, e
democracia, especialmente no relacionamento entre profissionais e adolescentes. Estes documentos so analisados
luz das contribuies tericas de Piaget para o campo da Psicologia do Desenvolvimento, bem como de achados
atuais sobre o desenvolvimento sociomoral de crianas e adolescentes autores de atos infracionais.
Palavras-chave: ECA; SINASE; autonomia moral; socioeducao.
ABSTRACT
This article aims to discuss Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA) and Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) whichprovide forfull protectionof fundamental rightsof children andadolescents.
This discussion is based on the perspective of Psychology of Moral Development, especially Piaget theory and
some recent work about social-moral development of young transgressors. It will be emphasized the necessity of
changing the assistance to this public, incorporating some ideals like moral autonomy, democracy and interpersonal respect in the routines of the institutions of re-socialization.
Keywords: ECA; SINASE; moral autonomy; socioeducation.
Introduo
O Brasil um pas onde as diferenas sociais
e econmicas ainda segregam milhares de pessoas,
marginalizando-as em relao ao desenvolvimento
social, econmico e poltico nacional. A essas pessoas,
resta recorrer a programas assistencialistas, que tentam
burlar a imagem de miserabilidade e omisso do poder
pblico quanto aos direitos fundamentais do cidado.
Nesse cenrio, mesmo considerados popularmente como o futuro da nao, as crianas e adolescentes
brasileiros, especialmente os provenientes de camadas
menos favorecidas economicamente, veem seus direitos
fundamentais violados, vitimizados pela violncia de
todas as espcies (fsica, sexual, psicolgica), em situaes de risco social e vulnerveis a mazelas diversas.
Concomitantemente a esse quadro, assiste-se a
um fortalecimento dos argumentos em prol da reduo
da maioridade penal, sob alegaes pautadas na exacerbao e destaque dado pela mdia aos atos infracionais
cometidos por crianas e adolescentes. Manchetes
do tipo: Violncia quadruplicou entre menores nos
ltimos 10 anos (Brasil Portais, 2008), Crescimento
da violncia nos crimes cometidos por menores chama
ateno de especialistas (Marsola, 2008), so rotineiras
e destacam o aumento do nmero de casos, impunidade
e crueldade dos crimes cometidos por adolescentes.
O movimento para reduo da maioridade penal,
e consequente punio dos adolescentes autores de
atos infracionais, defendido por considervel parte da
sociedade brasileira, muito criticado por aqueles que
apoiam a ideia de que a criana e o adolescente devem
125
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. Adolescentes autores de atos infracionais: psicologia moral e legislao
ser vistos como pessoas em desenvolvimento, o que
aponta para a necessidade de polticas que assegurem
orientao e educao aos jovens. Nesse sentido, a
opo pela reduo da maioridade penal serviria muito
mais para encobrir os graves problemas sociais, e a falta
de polticas pblicas destinadas proteo e cuidado das
crianas e adolescentes brasileiros, do que para reduzir
os ndices de violncia entre jovens (Conselho Federal
de Psicologia, 2006).
Apesar do enfoque exacerbado sobre os atos infracionais praticados por adolescentes, dados da Fundo das
Naes Unidas para Infncia (UNICEF, 2002) apontam
que a incidncia desses atos menor do que 8% do total de
crimes cometidos no pas. Eles indicam ainda que a prtica
de infraes cometidas por adolescentes concentra-se nos
danos contra o patrimnio (cerca de 75% do total), sendo
baixa a taxa de atos que atentam contra a vida.
Por outro lado, ainda segundo o UNICEF (2002),
a violncia presente na sociedade atinge de forma contundente o adolescente. Somente no ano 2000 foram
9.302 mortes de adolescentes por causas externas, com
destaque para os casos de homicdio. Alm disso, a populao de crianas e adolescentes uma das maiores
vtimas das desigualdades sociais vividas no pas, incluindo a omisso do poder pblico quanto ao seu dever
de promover qualidade de vida para os cidados.
Acrescenta-se a esse argumento os dados publicados pelo Conselho Federal de Psicologia, em estudo sobre
a realidade na assistncia aos adolescentes em conflito
com a lei no Brasil. O perfil do adolescente autor de ato
infracional confunde-se com o de grupos ditos vulnerveis
socialmente, marginalizados em relao a polticas pblicas e ao acesso a condies dignas de vida (Ayres, Jnior,
Calazans, & Filho, 2003) devido a fatores histricos,
culturais e estruturais, a saber: a maior parte dos adolescentes autores de ato infracional so do sexo masculino,
com baixa escolaridade e baixa renda familiar, alm de,
na sua grande maioria, fazer uso de drogas ilcitas como
a maconha, o crack e a cocana (Teixeira, 2005).
Apesar do forte enfoque dado questo do adolescente que comete ato infracional nos dias de hoje,
considera-se que esse um problema antigo e complexo.
Conforme sinalizam Oliveira e Assis (1999), a justia
brasileira relata casos de atos violentos cometidos por
adolescentes j no ano de 1830. quela poca, o Cdigo Criminal vigente previa que menores infratores
deveriam ser recolhidos em casas de correo, desde
que seus atos tivessem sido feitos com discernimento.
Destaca-se o Abrigo de Menores do Distrito Federal,
substitudo em 1913 pelo Instituto Sete de Setembro,
atravs do Decreto 21.518 (Galvo, 2005).
Segundo Galvo (2005), em 1927 foi promulgado
o Cdigo de Menores (Lei 5.083), o qual determinava
que crianas menores de 14 anos no poderiam ser
126
julgadas judicialmente, e que, quando necessrio, adolescentes entre os 14 e 18 anos de idade deveriam ser
submetidos a processos judiciais especiais, diferentes
daqueles aplicados aos adultos.
Ainda com o intuito de resolver problemas relacionados precariedade no atendimento aos jovens
que cometiam crimes, o Governo Federal instituiu, em
1941, o Servio de Assistncia ao Menor (SAM). Esse
servio foi extinto em 1964, pois utilizava um modelo de
atendimento do tipo correcional-repressivo, e sofria de
uma srie de problemas estruturais: falta de instalaes
fsicas adequadas e atuao de profissionais que viam na
represso e punio bases legtimas para a recuperao
do menor infrator, assim denominados quela poca.
Em substituio ao SAM, em 1964, foram criadas
a Fundao Nacional de Bem Estar do Menor (FUNABEM) e as Fundaes Estaduais de Bem Estar do Menor
(FEBEMs), as quais propunham objetivos bastante ambiciosos, segundo a anlise de Oliveira e Assis (1999).
Dentre esses, destacam-se: pesquisar mtodos, testar
solues, estudar tcnicas que conduzissem elaborao cientfica dos princpios que deveriam presidir toda
a ao que visasse reintegrao do menor famlia e
comunidade... [atravs de uma] abordagem preventiva e socioteraputica. (p. 832). Todavia, por sofrer
com problemas semelhantes queles enfrentados pelo
SAM, a FUNABEM mostrou-se altamente ineficiente
no cumprimento dos objetivos a que se propunha.
Considerando o fracasso dos projetos anteriores, a
sociedade civil, membros do Ministrio Pblico e funcionrios da FUNABEM discutiram amplamente a proposta
de uma nova lei, baseada no que havia de mais avanado
poca em matria de direito internacional (Galvo,
2005). Esse amplo movimento culminou na elaborao
e instituio do Estatuto da Criana e do Adolescente
(ECA), em 1990. Criou-se, portanto, um instrumento
jurdico cuja principal meta era desenvolver polticas pblicas voltadas para promoo e manuteno dos direitos
essenciais das crianas e adolescentes brasileiros.
Ressalta-se que a assistncia ao adolescente autor
de ato infracional no tem sido preocupao apenas no
mbito poltico e legislativo. No campo acadmico, por
exemplo, o desenvolvimento da conscincia e atitudes
morais tem despertado a ateno de pesquisadores diversos, havendo um amplo corpo de estudos empricos,
demonstrando a eficcia de programas de interveno
para a promoo da conscincia cidad, evoluo nos
julgamentos morais e desenvolvimento do respeito
pelos Direitos Humanos, os quais, a partir dessa perspectiva terica, so elementos imprescindveis para o
comportamento social e respeito pelos direitos de outros
cidados (Blatt & Kohlberg, 1975; Camino & Camino,
2003; Camino & Luna, 2004; Carramilo-Going, 2005;
Dias, 1999; Freitas, 1999).
Psicologia & Sociedade; 23 (1): 125-134, 2011
No entanto, torna-se necessria a discusso de
instrumentos jurdicos e pedaggicos j existentes, a
exemplo do ECA e do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), mais especificamente porque se acredita que o referido campo de conhecimentos
tem muito a oferecer na discusso das polticas pblicas
de cuidado e proteo da criana e do adolescente, e na
anlise crtica das estratgias de enfrentamento vigentes
atualmente. Ademais, considera-se que os conhecimentos nessa rea podem auxiliar na elaborao, discusso
e reformulao das metodologias usadas para efetivar
as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da
Criana e do Adolescente (ECA).
Este trabalho tem, portanto, o objetivo de discutir
o ECA e o SINASE quanto aplicao de medidas
socioeducativas aos adolescentes autores de atos infracionais, enfatizando especialmente o desenvolvimento
social e moral, apontados como objetivos da poltica de
proteo integral infncia e adolescncia (Conselho
Nacional dos Direitos da Criana e do Adolescente
[Conanda], 1990). Ressalta-se que esses documentos
sero analisados luz das contribuies tericas de
Piaget (1932/1994) para o campo da Psicologia Moral,
bem como de outros achados empricos sobre o desenvolvimento sociomoral de crianas e adolescentes.
Aponta-se, portanto, que Piaget parte de uma
concepo de sujeito epistmico, que se desenvolve
e constri o conhecimento atravs de sua atividade
sobre os objetos fsicos e sociais (Piaget, 1964/2004).
No campo da moralidade, La Taille prope que Piaget
esteve interessado no estudo de um sujeito moral,
correlato ao sujeito epistmico (2006, p.15), o qual
constri concepes morais (conhecimento moral) por
meio da interao social.
Assim, na obra piagetiana, o sujeito moral
desenvolve-se a partir de um estado inicial de anomia
(ausncia de regras/normas), passa por um estgio de
heteronomia (obedincia restrita regra advinda de uma
figura de autoridade) e chega autonomia, entendida
como um momento no qual o sujeito supera a obedincia
da regra como algo exterior e passa a entender as leis, regras e normas como contratos sociais democraticamente
negociados e estabelecidos para o bem comum (Piaget,
1932/1994; La Taille, 2006). Entende-se, portanto, que
no que se refere aos aspectos sociomorais do desenvolvimento, a autonomia seria um objetivo central do ECA
e do SINASE. Esta permitiria o desenvolvimento de
uma conscincia verdadeiramente cidad.
Assim, o presente trabalho ser estruturado da
seguinte forma: inicialmente sero feitas apresentaes
sobre o ECA e o SINASE e, em seo posterior, uma
anlise crtica dos parmetros pedaggicos desses
documentos, a partir do conhecimento produzido na
rea da Psicologia Moral. Por fim, sero discutidas
algumas pesquisas que apontam como as propostas de
medidas socioeducativas do ECA e do SINASE tm
sido executadas.
O Estatuto da Criana e do Adolescente
ECA
No intuito de promover e garantir os direitos fundamentais s crianas e adolescentes brasileiros, e em
virtude dos problemas inerentes ao antigo Cdigo de
Menores, foi criado, em 1990, o Estatuto da Criana e
do Adolescente ECA (Lei n. 8.069). Tentou-se, com
o ECA, garantir todas as oportunidades e facilidades
para as crianas e adolescentes, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento fsico, mental, moral, espiritual e
social, em condies de liberdade e dignidade (Artigo
3, grifos nossos).
Com o estabelecimento dessa lei, as mudanas
frente forma como as crianas (de 0 a 12 anos incompletos) e os adolescentes (12 a 18 anos) passaram
a ser tratados so incontestveis, fazendo com que algumas polticas pblicas fossem pensadas para atender
especificamente os jovens do pas. Buscava-se acabar
com concepes generalistas, que no atentavam para
a situao peculiar de desenvolvimento das crianas e
adolescentes em situao de risco ou abandono. A partir
da Constituio Federal de 1988 e do ECA, as crianas
e adolescentes brasileiros passaram a ser vistos como cidados, aos quais se deve garantir direitos fundamentais
(vida, educao, sade, escola, respeito, dentre outros),
o que antes era negligenciado pelos instrumentos jurdicos que tratavam, quase que restritamente, dos deveres
dessa parcela da populao.
Ainda assim, muitas crticas foram levantadas
contra essa lei. Por exemplo, acusou-se o ECA de
apenas garantir direitos, sem explicitar deveres nem
consequncias para os adolescentes, quando esses
praticavam atos infracionais (Grandino, 2007). Porm,
vale salientar que o ECA no um estatuto elaborado
para acolher e desresponsabilizar os jovens de seus atos.
Dessa forma, o adolescente autor de ato infracional
passvel de responder pelo seu ato atravs do cumprimento de medidas socioeducativas, as quais podem
ser dos seguintes tipos: (1) advertncia, (2) obrigao
de reparar o dano, (3) prestao de servios comunidade, (4) liberdade assistida, (5) insero em regime
de semiliberdade e (6) internao em estabelecimento
socioeducativo.
Ressalta-se que a aplicao de medidas socioeducativas referentes aos adolescentes que cometem atos
infracionais deve seguir algumas orientaes, tais como
a obrigatoriedade de escolarizao e profissionalizao,
bem como a garantia de atendimento personalizado,
respeitando a identidade e singularidade dos adolescen-
127
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. Adolescentes autores de atos infracionais: psicologia moral e legislao
tes. Quando o ato infracional tiver sido cometido por
crianas, sero aplicadas medidas de proteo como,
por exemplo, matrcula e frequncia obrigatrias em
estabelecimento oficial de ensino.
Especialmente no caso das instituies de internamento, as orientaes do ECA e do SINASE buscam
afastar a imagem dessas instituies dos presdios ou
das antigas FEBEMs, nas quais o tratamento as aproximava das chamadas Instituies Totais, que se caracterizam pelo tratamento despersonalizado, padronizado
e pela falta de mobilidade e poder de contratualidade
dos usurios do servio (Goffman, 1974). Ou seja, nessas instituies, o tratamento dispensado para todos os
casos ignora os aspectos individuais de cada sujeito.
Esse tipo de assistncia condenada pelo ECA e
pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
SINASE, os quais orientam para a construo de um
Plano Individual de Atendimento (PIA) e reavaliao
caso a caso, juntamente com a famlia e o adolescente,
a partir dos interesses deste. Esses documentos tm uma
orientao menos coercitiva e mais democrtica, no
sentido de tentar promover o desenvolvimento dos adolescentes assistidos a partir do exerccio da democracia,
negociao e protagonismo, o que vai na mesma direo
das noes de Piaget (1932/1994) sobre a construo
da autonomia moral, conforme ser melhor discutido
posteriormente.
vlido notar tambm que o ECA orienta que a
medida aplicada ao adolescente dever levar em conta
a sua capacidade de cumpri-la, as circunstncias e a
gravidade da infrao, deixando claro, dessa forma,
que o julgamento precisa acontecer de maneira que seja
percebida a intencionalidade do ato. Ou seja, deve-se
observar se o adolescente julga a gravidade dos seus
atos e das aes das outras pessoas a partir das intenes e motivao dos mesmos, e no somente com base
em suas consequncias, especialmente as materiais.
Conforme Piaget (1932/1994), esse tipo de concepo
caracteriza o realismo moral, perodo no qual o indivduo faz seus julgamentos a partir de dados materiais, da
vigilncia cega regra, desconsiderando as motivaes
pessoais dos envolvidos.
A preocupao do ECA e do SINASE com a
adequao da medida socioeducativa s capacidades
do adolescente em cumpri-la mostra, assim, alm da
pertinncia da aplicao de medida socioeducativa, uma
preocupao com o desenvolvimento da responsabilidade subjetiva nesses adolescentes, momento a partir
do qual o indivduo julga seus atos e os de terceiros
a partir da intencionalidade de cada pessoa (Piaget
1932/1994). Nessa mesma direo, medidas como a
reparao de danos, por exemplo, no fazem sentido
para adolescentes que ainda no tenham construdo a
noo de reciprocidade. Na verdade, podero funcio-
128
nar apenas como sanes expiatrias, ou seja, castigos
por um ato inadequado, que no ajudam o adolescente
a perceber a medida como um tipo de ressarcimento
pelo mal provocado a outro cidado, que tem direitos
iguais aos seus.
Mostra-se necessrio, portanto, que, para todas as
medidas aplicadas, desde a advertncia at a internao,
ao invs de punio, haja um trabalho orientado para
uma tomada de conscincia moral autnoma, a qual
poder inclinar o sujeito a considerar o ato infracional
imprprio e desrespeitoso em relao aos contratos
sociais estabelecidos e aos direitos de todas as pessoas
da sociedade.
O Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo SINASE
O SINASE foi elaborado por rgos integrantes
do Sistema de Garantia de Direitos, em comemorao
aos 16 anos da publicao do Estatuto da Criana e do
Adolescente e busca responder questo central de
como devem ser enfrentadas as situaes de violncia
que envolvem adolescentes autores de atos infracionais
ou vtimas de violao de direitos, no cumprimento de
medidas socioeducativas.
Por isso, tal documento articula-se como um
conjunto ordenado de princpios, regras e critrios,
de carter jurdico, poltico, pedaggico, financeiro
e administrativo, que envolve desde o processo de
apurao de ato infracional at a execuo de medida
socioeducativa (Conanda, 2006, p. 23), reiterando
diretrizes referentes garantia dos direitos fundamentais e do desenvolvimento integral do adolescente, j
propostas no ECA.
As medidas socioeducativas orientadas pelo ECA
e pelo SINASE no devem ser entendidas e aplicadas
como castigos ou sanes, mas como dotadas de natureza pedaggica. Essa substituio de paradigma operada
pelo ECA, em detrimento do restrito ensino coercitivo e
punitivo aplicado nas FEBEMS, representou uma opo
pela incluso social do adolescente em conflito com a
lei (Conanda, 2006, p. 14). No entanto, essa incluso
social s pode se dar atravs da assistncia integral
criana e ao adolescente, especialmente atravs de
polticas pblicas que atendam e garantam os direitos
fundamentais previstos no ECA, tais como sade,
educao, lazer, esporte, cultura, convvio comunitrio,
entre outros.
Ainda em referncia s unidades de aplicao de
medidas socioeducativas, o SINASE prope parmetros
para seleo das pessoas que trabalharo com os adolescentes, alm de tratar dos parmetros arquitetnicos e da
organizao funcional das unidades socioeducativas, da
gesto e do financiamento das obras, do monitoramento
Psicologia & Sociedade; 23 (1): 125-134, 2011
e posterior avaliao das entidades, considerando condies bsicas de salubridade, acessibilidade e conforto.
Alm disso, faz referncia a parmetros da gesto pedaggica, os quais sero melhor discutidos a seguir.
Parmetros pedaggicos e desenvolvimento
sociomoral no atendimento de adolescentes
autores de atos infracionais
Inicialmente, interessante ressaltar que a
perspectiva do ECA e do SINASE, quando falam em
garantir o desenvolvimento integral da criana e do
adolescente, no concerne apenas ao desenvolvimento
fsico e motor, mas tambm ao desenvolvimento mental,
moral e social, conforme explicitado em seu pargrafo
3 (Lei n. 8.069, 1990). Nesse sentido, entende-se que
tais objetivos contemplam aspectos do desenvolvimento
sociomoral.
Quanto a essa temtica, nfase deste trabalho,
muitas podem ser as contribuies da Psicologia da
Moral, e luz dessa que algumas discusses sero
tecidas, considerando os parmetros pedaggicos descritos no SINASE para as aes em unidades de medidas
socioeducativas.
Ser utilizada aqui a noo de Piaget (1964/2004)
segundo a qual o desenvolvimento um processo contnuo de mudanas, de um estado de menor equilbrio
cognitivo-afetivo para um estado de maior equilbrio
entre as atividades do sujeito e as perturbaes exteriores, sendo esse processo impulsionado, dentre
outros fatores, pela interao social e pelos interesses
do sujeito epistmico.
Ressalta-se que na obra piagetiana, a natureza do
desenvolvimento dinmica e no linear, sendo construda na interao social e a partir do processo de equilibrao das estruturas cognitivas do sujeito. Aqui, vale
lembrar que para Piaget (1964/2004) essa equilibrao
atende necessidade de melhor organizao psquica,
a partir de demandas surgidas no meio social ou do
prprio sujeito, s quais ele responde transformando
e rearranjando estruturas cognitivas construdas num
perodo anterior do desenvolvimento, mas que no se
mostram mais suficientes para atender s necessidades
do presente.
Assim sendo, ressalta-se a orientao do ECA e
do SINASE, de considerar as necessidades pedaggicas do adolescente, com preferncia pelas que visem o
fortalecimento dos vnculos sociais como uma fonte de
desequilbrio constante e de internalizao e reconstruo dos valores socialmente legitimados.
De fato, a importncia que se tem dado manuteno dos vnculos familiares e comunitrios, desde a
ltima Constituio Federal (1988), um grande avano
em relao poltica de atendimento a adolescentes
em conflito com a lei. Essa inteno vem tentando ser
consolidada atravs das noes de municipalizao/
regionalizao do atendimento e descentralizao
poltico-administrativa, as quais tentam manter o adolescente o mais prximo possvel do convvio familiar
e comunitrio, inclusive sendo as medidas de privao
de liberdade as menos encorajadas, e previstas apenas
para casos excepcionais. Mesmo assim, caso se faa
necessrio o cumprimento dessas, fica assegurado o
direito do adolescente a receber visitas de familiares
e/ou parceiro(a).
Juntamente com a corresponsabilizao da famlia, da sociedade e do Estado sobre crianas e adolescentes, essa orientao busca o fortalecimento de redes
sociais de apoio, bem como a construo de uma rede de
assistncia complexa e articulada entre esses diversos
atores. Vale ressaltar que a convivncia e a interao
com o grupo social de origem, onde laos afetivos e
sociais so estabelecidos, so imprescindveis para o
desenvolvimento sociomoral do adolescente, haja vista
a importncia da afetividade e da interao entre pares
para o aprendizado e internalizao de regras e contratos
sociais, fatores imprescindveis formao de sujeitos
moralmente autnomos (Piaget, 1962, 1964/2004).
Busca-se, atravs da garantia dos direitos fundamentais, estimular o desenvolvimento do adolescente
atravs da participao em eventos culturais, de lazer
e esporte, a assistncia sade, profissionalizao e
educao, alm do respeito pela sua religio, etnia e
sexualidade.
O adolescente deve ser alvo de um conjunto de aes
socioeducativas que contribua na sua formao, de
modo que venha a ser um cidado autnomo e solidrio... Ele deve desenvolver a capacidade de tomar
decises fundamentadas, com critrios para avaliar
situaes relacionadas ao interesse prprio e ao bem
comum, aprendendo com a experincia acumulada
individual e social, potencializando sua competncia
pessoal, relacional, cognitiva e produtiva. (Conanda,
2006, p. 51. Grifos nossos)
Note-se, portanto, que o objetivo maior das medidas socioeducativas promover a autonomia dos
sujeitos a quem elas assistem. Para Piaget (1932/1994),
a autonomia s pode ser atingida em um ambiente que
propicie o respeito mtuo e a reciprocidade entre os pares
envolvidos, jamais atravs da coero, a qual dificulta
a formao de sujeitos autnomos, capazes de decidir
moralmente sobre questes sociais mais amplas.
Partindo das teorias de autores como Piaget
(1932/1994) e Kohlberg (1954/1992), compreende-se
que o indivduo moralmente autnomo aquele que tem
uma viso mais ampla e crtica da sociedade e de seus
contratos; que entende as leis como um sistema de acor-
129
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. Adolescentes autores de atos infracionais: psicologia moral e legislao
dos democraticamente estabelecidos, que possibilitam
a vida em grupo. Esse nvel de autonomia moral pode
levar, inclusive, ao questionamento dessas leis, desde
que o indivduo considere que elas, de alguma maneira,
ferem direitos universais, como a vida, a dignidade e o
bem-estar humano (Biaggio, 1997).
Para atingir a autonomia moral, portanto, fundamental que o adolescente ultrapasse a esfera espontnea de apreenso da realidade para chegar esfera crtica da realidade, assumindo conscientemente seu papel
de sujeito. Contudo, esse processo de conscientizao
acontece no ato de ao-reflexo (Conanda, 2006, p.
53). Diante disto, imprescindvel que o adolescente
tenha espao para expressar suas opinies, religio e
cultura, que a ele seja possibilitado opinar acerca das
rotinas das unidades onde cumpre a medida socioeducativa. Assim, os adolescentes devem ser preparados
para tomar decises, o que deve ser exercitado durante
o cumprimento da medida socioeducativa e previsto no
Projeto Poltico Pedaggico da unidade e no Plano Individual de Atendimento (PIA). Portanto, o adolescente
deve ser estimulado pelo socioeducador a questionar,
criticar, avaliar e redefinir seu PIA e seu desempenho,
e da equipe, a qualquer tempo.
Quanto ao quadro de recursos humanos das
unidades de medidas socioeducativas, devem ser pessoas com comprovada idoneidade moral e que sejam
capazes de educar pelo exemplo, mostrar compreenso
e exigir disciplina dos seus educandos, alm de terem
tempo suficiente para conhec-los, a fim de que vnculos sejam formados, facilitando, assim, o processo
socioeducativo. Esse aspecto apoiado pela literatura
em Psicologia, especialmente no que se refere afetividade como motor do desenvolvimento sociomoral, ou
seja, como um fator que direciona, acelera ou retarda o
desenvolvimento a partir do nvel de interesse afetivo
do sujeito por determinadas atividades, pessoas ou
situaes (Batson, Klein, Highberger, & Shaw, 1995;
Piaget, 1962; Sampaio, 2007).
Quanto orientao de ensinar pelo exemplo, Piaget (1932/1994, p. 239), afirma que medida que ele (o
adulto) pratica a reciprocidade... e prega com o exemplo, e no apenas com palavras, exerce, aqui como em
tudo, sua enorme influncia. No caso dos adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas, isso se
mostra muito mais imprescindvel, uma vez que esses
adolescentes (especialmente aqueles submetidos aos
regimes de semiliberdade ou internao) encontram-se
privados de outros contatos nos quais possam observar
e interagir com pessoas com outros modelos de conduta
cidad. Destaca-se que os modelos de conduta aos quais
esses jovens esto submetidos nas unidades socioeducativas brasileiras, pelo contrrio, estimulam a moral
heternoma, pois h uma forte nfase na utilizao de
130
castigos, sanes e coero como tcnicas pedaggicas
(Monte & Sampaio, 2009).
Embora se saiba que so muitas as variveis
com as quais se necessita lidar no trato com medidas
socioeducativas e sua implementao, destaca-se como
indispensvel a interao entre os diversos atores sociais, no intuito de garantir condies essenciais para o
desenvolvimento do adolescente, tais como o debate e a
participao ativa nos espaos e aparelhos sociais (como
escolas, igrejas, associaes estudantis e de moradores,
unidades de sade), na construo da rede de assistncia
e no seu prprio processo de (re)insero social.
Discusses tericas acerca da educao moral
e relatos de intervenes de autores como Biaggio,
Vargas, Monteiro, Souza e Tesche (1999), Blatt e Kohlberg (1975), Camino e Camino (2003), Camino e Luna
(2004), Carramilo-Going (2005), Correia (2007), Dias
(1999); Freitas (1999), Goergen (2001) e Nucci (2000)
corroboram com a ideia de que a participao ativa dos
indivduos em discusses e debates acerca de temas sociais diversos, a exemplo dos direitos humanos, propicia
o desenvolvimento da conscincia moral autnoma.
Cita-se, por exemplo, os trabalhos de Blatt e
Kohlberg (1975) sobre a tcnica das discusses em
grupos de debates, a qual se mostrou eficiente na tarefa
de desenvolver moralmente os sujeitos participantes,
os quais, quando comparados pr e ps-interveno,
mostraram aumentos significativos nos nveis de julgamento moral, segundo a tipologia de Kohlberg (1992).
Tais avanos podem ser explicados a partir dos conflitos
cognitivos produzidos durante a discusso de dilemas
morais que envolviam contedos relacionados vida
em sociedade.
Ainda nessa direo, Power, Higgins e Kohlberg
(1989) buscaram formar o que ficou conhecido como
Comunidade Justa, cujo objetivo principal era promover o desenvolvimento moral atravs da participao
ativa dos estudantes em discusses sobre como era
e como deveria ser a comunidade escolar. Os temas
eram decididos democraticamente e versavam sobre
o cotidiano dos alunos, incluindo as discusses das
regras escolares. Conforme explica Biaggio (1997),
mais do que um programa de desenvolvimento moral,
a comunidade justa visa tambm uma aprendizagem
de participao democrtica, um aumento do senso de
responsabilidade, motivao para o trabalho escolar,
cidadania, e autoestima (p.50).
No Brasil, Biaggio et al. (1999) estudaram os
efeitos da discusso de dilemas com contedo ecolgico
entre adolescentes de uma escola pblica gacha. Tais
dilemas foram elaborados com base nos estudos de Blatt
e Kohlberg (1975), e os adolescentes foram avaliados
pr e ps-interveno. Observou-se que aqueles que
participaram ativamente das discusses mostraram um
Psicologia & Sociedade; 23 (1): 125-134, 2011
aumento significativo do grau de maturidade de atitudes
em relao ao meio ambiente (p.230).
Mais recentemente, Correia (2007) realizou um
trabalho semelhante com Policiais Militares em formao, num curso de direitos humanos no Estado de
Pernambuco. A hiptese inicial era a de que mtodos
ativos de aprendizagem (no caso, o trabalho com projetos) possibilitariam maior avano nas concepes de
tica, direitos humanos e cidadania, do que mtodos
pedaggicos passivos (baseados na exposio oral de
contedos). Aps a interveno, observou-se que, embora o nvel de desenvolvimento moral dos policiais do
grupo submetido metodologia por ele denominada de
Ativa (baseada na aprendizagem atravs de projetos)
no tenha sido modificado para um nvel superior, houve
uma mudana considervel dentro do mesmo nvel, o
que o levou a considerar que a mudana de nvel teria
ocorrido, caso a interveno tivesse se dado por um
espao maior de tempo.
Ou seja, embora no tenham ocorrido modificaes quantitativas em relao ao grau de desenvolvimento moral dos participantes, houve mudanas
significativas na qualidade dos argumentos dos participantes, no que se refere aos temas avaliados. Correia
(2007) conclui, em conformidade com as pesquisas j
citadas, que a discusso e participao ativa propiciam
o desenvolvimento de uma conscincia mais ampla a
respeito de temas como a tica, cidadania e direitos
humanos, aspecto indispensvel ao desenvolvimento
sociomoral autnomo de um cidado.
Cita-se, finalmente, Carramilo-Going (2005)
que desenvolveu projetos de interveno educacional
moral com crianas que se envolviam constantemente
com roubos e pequenos furtos em favelas das cidades
de Diadema e So Bernardo do Campo. Atravs da
discusso sobre dilemas morais e temas transversais,
construo de contos de fadas e engajamento em jogos
de regras, essa autora conseguiu promover avanos
nos raciocnios morais e o desenvolvimento de valores
ligados cidadania e solidariedade nos participantes
do programa.
No que se refere mais especificamente assistncia a adolescentes em conflito com a lei, Galvo (2005)
comparou duas instituies paraibanas que atendiam
adolescentes autores de atos infracionais, e observou que
na instituio na qual predominava um sistema opressorrepressivo eram frequentes os atos de violncia, rebelies
e fugas. Por outro lado, na instituio na qual os jovens
podiam participar de oficinas artstico-culturais, recebiam
educao formal e profissionalizante, e na qual era adotada uma pedagogia voltada para o ensino de valores, os
casos de violncia eram muito raros e havia uma maior
conscincia relativa importncia da necessidade de
respeito aos Direitos Humanos.
Aqui importante ressaltar que os casos citados
anteriormente demonstraram a eficcia de intervenes
no mbito da educao moral para promoo de avanos
nos julgamentos morais, o que no garante, necessariamente, resultados semelhantes quando da aplicao
dessas tcnicas em contextos envolvendo adolescentes
autores de atos infracionais. Todavia, supe-se que isto
possa ocorrer, haja vista que, em comum, tais pesquisas
apontam aspectos da qualidade das interaes que facilitam o desenvolvimento da moralidade nos sujeitos, a
saber: o engajamento no debate e tomada de decises
de maneira democrtica, a participao ativa e autnoma dos sujeitos nas discusses sobre seu cotidiano
e a constituio de um ambiente no qual prevaleam o
respeito mtuo e o estmulo autonomia moral.
Aplicao das medidas socioeducativas:
alguns achados empricos
Apesar do ECA e do SINASE, assim como a literatura no campo da Psicologia Moral, apontarem para
a necessidade da existncia das condies discutidas
anteriormente para o desenvolvimento sociomoral autnomo, a anlise acerca da realidade das instituies
brasileiras de ressocializao de adolescentes autores
de atos infracionais aponta para srios problemas estruturais e pedaggicos.
Em 2003, uma pesquisa do Governo Federal demonstrou que a populao de adolescentes internados
em instituies de ressocializao era de cerca de 10
mil jovens distribudos em cerca de 190 instituies
responsveis por aplicar medidas socioeducativas em
meio fechado. A maioria destas instituies sofria com
problemas de superlotao, e cerca de 70% dos locais
investigados foram avaliados como tendo estrutura
fsica imprpria para a ressocializao, no possuindo
espao fsico para a realizao de atividades esportivas, reas de lazer ou de convivncia e estando em
pssimas condies de conservao e higiene (Silva
& Gueresi, 2003).
Em 1999, Oliveira e Assis demonstraram que, na
cidade do Rio de Janeiro, um entre cada trs adolescentes institucionalizados era reincidente, mais de 70%
no estavam estudando no momento da internao, e
que entre esses havia um alto ndice (cerca de 27%) de
internos analfabetos. Nessa mesma direo, constata-se
que muitas instituies responsveis pela internao de
adolescentes autores de atos infracionais mostram-se
altamente ineficazes em exercer seu papel educativo
(Silva & Gueresi, 2003), no conseguem aplicar as
propostas socioeducativas previstas no ECA (Teixeira,
2005) e funcionam, muitas vezes, como verdadeiras
escolas do crime, fomentando no adolescente aquilo
que deveria ser desaprendido.
131
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. Adolescentes autores de atos infracionais: psicologia moral e legislao
Durante uma pesquisa, em uma instituio de
ressocializao no interior de Pernambuco, Monte e
Sampaio (2009) constataram, alm da inexistncia
de uma estrutura fsica adequada para a realizao de
atividades socioeducativas, a reproduo das regras,
rotinas e valores do sistema penitencirio tradicional
dentro da unidade de ressocializao pesquisada. Denominados AGENTES (conforme grafia nos uniformes
de trabalho), a funo de socioeducador nessa unidade
resumia-se manuteno da ordem, aplicao de
sanes e vigilncia dos adolescentes, ou seja, num
trabalho corretivo e coercitivo, base para todas as aes
socioeducativas aplicadas nessa instituio.
Os resultados encontrados por Espndula e Santos
(2004) corroboram a suposio de que as instituies
de ressocializao de adolescentes refletem a realidade
carcerria do Brasil. Esses pesquisadores entrevistaram
socioeducadores em unidades de assistncia a adolescentes que cometeram ato infracional, e constataram
que esses profissionais mostravam descrdito quanto
recuperao dos adolescentes, inclusive adotando
prticas que se baseavam exclusivamente em punio
e castigo. Segundo Espndula e Santos, a representao
social do adolescente autor de ato infracional como
anormal e irrecupervel alimentada pela prpria
instituio socioeducativa e funciona como um empecilho prtica das mudanas propostas pelo ECA,
ou seja, a prioridade do desenvolvimento integral e
ressocializao do adolescente.
Em resumo, essas pesquisas apontam para resqucios da chamada mentalidade menorista do antigo
Cdigo de Menores a qual, alm de primar pelo castigo,
sanes e correo, cultiva, com suas instituies falidas
(FEBEMS, por exemplo), o iderio de periculosidade e
irrecuperabilidade dos adolescentes por elas assistidos.
Aponta-se, aqui, que embora estas pesquisas revelem
uma situao aqum da ideal, dever das instituies
que executam as medidas socioeducativas fornecer todas
as condies para uma boa convivncia do adolescente
internado ou em regime de semiliberdade (as quais incluem, por exemplo, estrutura fsica, alimentao e lazer),
promovendo seu desenvolvimento pleno.
Torna-se, portanto, urgente discutir, repensar e
questionar a metodologia pedaggica (baseada essencialmente na punio e coero) que vem sendo tradicionalmente utilizada em unidades que assistem aos
adolescentes que cometem ato infracional. Sugere-se,
em conformidade com o ECA, o SINASE e a literatura
aqui discutida, a adoo de prticas pedaggicas respaldada na democracia, autonomia e participao ativa dos
adolescentes nas tomadas de deciso cotidianas, uma
vez que as aes socioeducativas devem exercer uma
influncia sobre a vida do adolescente, contribuindo
para a formao da identidade, de modo a favorecer a
132
elaborao de um projeto de vida, o seu pertencimento
social e o respeito s diversidades (cultural, tnicoracial, de gnero e orientao sexual), possibilitando que
o jovem assuma um papel inclusivo na dinmica social
e comunitria. Para tanto vital a criao de acontecimentos que fomentem o desenvolvimento da autonomia,
da solidariedade e de competncias pessoais relacionais,
cognitivas e produtivas. (Conanda, 2006, p. 52)
Sugere-se que esse tipo de trabalho deva englobar
toda a rede de assistncia a crianas e adolescentes, e
envolver desde os rgos responsveis pelo cuidado
e promoo dos seus direitos at as instituies que
cuidam da ressocializao de adolescentes autores de
atos infracionais.
Consideraes finais
Diante da apresentao e discusso do ECA e do SINASE aqui realizadas, considera-se que, no nvel jurdico,
muito se tem avanado quanto assistncia de crianas
e adolescentes autores de atos infracionais; no entanto,
ainda h um longo caminho a percorrer, especialmente no
que se refere execuo dessas polticas e leis.
Embora haja dificuldades financeiras e estruturais,
o iderio da punio e do castigo como bases pedaggicas para a ressocializao de crianas e adolescentes
autores de ato infracional ainda parece se configurar
como o maior obstculo a um trabalho comprometido
com a formao autnoma desses jovens. Em muitas
instituies de ressocializao, os adolescentes so considerados delinquentes, que, por sua natureza ruim,
so irrecuperveis e altamente perigosos.
Desconsidera-se, portanto, que eles so indivduos
cujo desenvolvimento sofre forte influncia das desigualdades e injustias sociais a que so submetidos, assim
como do tipo de relao interpessoal prevalente nos
locais em que eles cumprem medidas socioeducativas,
assim como apontado pelo referencial terico e pesquisas aqui discutidas. Destaca-se, inclusive, que a perspectiva da Psicologia da Moral, especialmente a teoria
piagetiana, configura-se como uma potencial base para
programas de interveno em unidades socioeducativas
que objetivem a discusso e reformulao de modelos
pedaggicos, para desenvolvimento integral e autnomo
dos adolescentes nessas instituies. Ademais, contribui
para a discusso do quo eficazes podem ser as medidas
socioeducativas (especialmente aquelas executadas em
meio aberto) se considerado o carter pedaggico, formativo e ressocializador de tais medidas.
Destaca-se tambm que, ainda que haja recursos
jurdicos to bem elaborados, como o Estatuto da Criana e do Adolescente, esses instrumentos no gozam de
uma aceitao social ampla, uma vez que, mesmo aps
duas dcadas de elaborao e vigncia, o ECA enfrenta
Psicologia & Sociedade; 23 (1): 125-134, 2011
crticas de movimentos oposicionistas, os quais se agarram s representaes sociais comentadas, bem como
exacerbao e ao sensacionalismo da mdia. Esquece-se,
no entanto, conforme j foi discutido, que o nmero de
atos infracionais cometidos por crianas e adolescentes
bem menor, quando comparado taxa de crimes ou
delitos que ferem seus direitos fundamentais.
Portanto, apesar do ECA e do SINASE significarem um grande avano em relao garantia formal dos
direitos das crianas e adolescentes, eles dificilmente
sero efetivos sem que as representaes sociais a respeito desses jovens sejam condizentes com o conceito
apresentado nesses documentos.
Por fim, cabe destacar que esta breve anlise
no tem o intuito de se configurar enquanto leitura
nica, uma vez que se trata de um recorte da temtica
a partir de tais documentos. No entanto, espera-se abrir
caminhos a questionamentos que se tornem essenciais
e imprescindveis, tanto para o ambiente acadmico
quanto para o domnio pblico. Ressalta-se que todos
os cidados tm obrigao de zelar pela criao e fiscalizao de polticas pblicas mais justas e condizentes
com os objetivos para as quais essas so concebidas:
promover qualidade de vida e igualdade de direitos para
todos os membros da sociedade.
Referncias
Ayres, J. R.C. M., Jnior, I. F., Calazans, G. J., & Filho, H. C.
S. (2003). O conceito de vulnerabilidade e as prticas de
sade: novas perspectivas e desafios. In D. Czeresnia (Org),
Promoo da sade: conceitos, reflexes, tendncias (pp.
39-53). Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz.
Batson, C. D., Klein, T. R., Highberger, L., & Shaw, L. L. (1995).
Immorality from empathy-induced altruism: When compassion and justice conflict. Journal of Personality and Social
Psychology, 68(6), 10421054.
Biaggio, A. M. B. (1997). Kohlberg e a Comunidade Justa:
promovendo o senso tico e a cidadania na escola. Psicologia
Reflexo e Crtica, 1(10) 47-69.
Biaggio, A. M. B., Vargas, G. A. O., Monteiro, J. K., Souza, L.
K., & Tesche, S. L. (1999). Promoo de atitudes ambientais
favorveis atravs de debates de dilemas ecolgicos. Estudos
de Psicologia, 4(2), 221-233.
Blatt, M. M. & Kohlberg, L. (1975). The effects of classroom
moral discussion upon childrens level of moral judgment.
Journal of Moral Education, 129-161.
Brasil Portais. (2008). Violncia quadruplicou entre menores nos
ltimos 10 anos. Acesso em 30 de maro, 2009, em http://
www.180graus.brasilportais.com.br/geral/violencia-quadruplicou-entre-menores-nos-ultimos-10-anos-74266.html
Camino, C. & Camino, L. (2003). Moralidade e socializao: estudos
empricos sobre prticas modernas de controle social e julgamento moral. Psicologia: Reflexo e Crtica, 1(16), 41-61.
Camino, C. & Luna, V. (2004). Aquisio e desenvolvimento
de valores morais. In M. Correia (Org.), Psicologia e escola: uma parceria necessria (pp. 101-125). Campinas:
Editora Alnea.
Carramilo-Going, L. (2005). Projeto amigo: a construo da
moral-sade e qualidade de vida por meio dos jogos de
regras e dilemas morais [Resumo estendido]. In Anais do V
Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento (p.
90). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Conselho Federal de Psicologia. (2006). Campanha contra a
reduo da maioridade penal. Acesso em 12 de fevereiro,
2008, em http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/noticias/noticia_070720_821.html
Conselho Nacional dos Direitos da Criana e do Adolescente
(Conanda). (2006). Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Braslia, DF: Autor.
Constituio da Repblica Federativa do Brasil. (1988, 5 de
outubro). Acesso em 17 de fevereiro, 2009, em http://www.
planalto.gov.br.
Correia, R. A. B. (2007). Educao para a cidadania dos policiais militares em Pernambuco. Dissertao de Mestrado,
Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Cincias Jurdicas, Universidade Federal da Paraba, Joo Pessoa.
Dias, A. A. (1999). Educao moral para a autonomia. Psicologia
Reflexo e Crtica, 12(2), 459-478.
Espndula, D. H. P. & Santos, M. F. S. (2004). Representaes
sobre a adolescncia a partir da tica dos educadores sociais
de adolescentes em conflito com a lei. Psicologia em Estudo,
9(3), 357-367.
Freitas, L. B. L. (1999). Do mundo amoral possibilidade de ao
moral. Psicologia Reflexo e Crtica, 2(12), 447-448.
Fundo das Naes Unidas para Infncia. (2002). Situao da
adolescncia brasileira. Acesso em 17 de maro, 2009, em
www.unicef.org.br
Galvo, L. K. S. (2005). Concepes de adolescentes em conflito
com a lei sobre direitos humanos e sentimento de injustia.
Dissertao de Mestrado, Universidade Federal da Paraba,
Joo Pessoa.
Goergen, P. (2001). Educao moral: adestramento ou reflexo
comunicativa? Educao e Sociedade, 22(76), 147-174.
Goffman, E. (1974). Manicmios, prises e conventos (3 ed.).
Perspectiva: So Paulo.
Grandino, P. J. (2007). Estatuto da Criana e do Adolescente:
o sentido da lei para as relaes intergeracionais. Braslia,
DF: Ministrio da Educao. Acesso em 25 de julho, 2008,
em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/12_junqueira.pdf.
Kohlberg, L. (1992). Psicologia del desarrollo moral. Bilbao: Editorial Discle de Brower. (Obra original publicada em 1954)
La Taille, Y. (2006). Moral e tica: dimenses intelectuais e
afetivas. Porto Alegre: Artmed.
Lei n. 8.069. (1990, 13 de julho). Dispe sobre o Estatuto da
Criana e do Adolescente, e d outras providncias. Braslia,
DF: Cmara dos Deputados. Acesso em 17 de fevereiro, 2009,
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Marsola, F. (2008). Crescimento da violncia nos crimes cometidos por menores chama ateno de especialistas. Acesso em
30 de maro, 2008, em http://globominas.globo.com/GloboMinas/Noticias/MGTV/0,,MUL385215-9033,00.html.
Monte, F. C. & Sampaio, L. C. (2009). Prticas pedaggicas e moralidade em unidade de internamento de adolescentes autores
de atos infracionais. Trabalho de Concluso de Curso, Universidade Federal do Vale do So Francisco, Petrolina, PE.
Nucci, L. (2000). Psicologia moral e educao: para alm de
crianas boazinhas [verso eletrnica]. Educao e Pesquisa, 26(2), 71-89.
133
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. Adolescentes autores de atos infracionais: psicologia moral e legislao
Oliveira, M. B. & Assis, S. G. (1999). Os adolescentes infratores
do Rio de Janeiro e as instituies que os ressocializam.
A perpetuao do descaso. Cadernos de Sade Pblica,
4(15), 831-844.
Piaget. J. (1962). The relation of affectivity to intelligence in the
mental development of the child. Bulletin of the Menninger
Clinic, 26(3), 129-137.
Piaget, J. (1994). O juzo moral na criana (2 ed.). So Paulo:
Summus. (Obra original publicada em 1932)
Piaget, J. (2004). Seis estudos de psicologia (24 ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitria. (Obra original publicada em 1964)
Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1989). Kohlbergs
Approach to Moral Education. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Sampaio, L. (2007). A psicologia e a educao moral. Psicologia:
Cincia e Profisso, 4(27), 584-595.
Silva, E. R. A. & Gueresi, S. (2003). Adolescentes em conflito
com a lei: situao do atendimento institucional no Brasil
(Texto para discusso, 979). Braslia, DF: Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada IPEA.
Teixeira, M. L. (2005). At quando? O adolescente e o futuro: nenhum a menos. Braslia, DF: Conselho Federal de Psicologia.
Recebido em: 22/04/2009
Reviso em: 06/05/2010
Reviso em: 27/06/2010
Aceite final em: 03/07/2010
134
Franciela Flix de Carvalho Monte Mestranda em
Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE. Endereo: Universidade Federal de
Pernambuco, Centro de Filosofia e Cincias Humanas.
Av. Acadmico Hlio Ramos, s/n, 8 Andar. Cidade
Universitria. Recife/PE, Brasil. CEP 50670-901.
Email: francielamonte@yahoo.com.br
Leonardo Rodrigues Sampaio Doutor em Psicologia
Cognitiva, Professor Adjunto da Universidade Federal do
Vale do So Francisco - UNIVASF.
Josemar Soares Rosa Filho Graduando em Psicologia
pela Universidade Federal do Vale do So Francisco
UNIVASF.
Laila Santana Barbosa Graduanda em Psicologia
pela Universidade Federal do Vale do So Francisco
UNIVASF.
Como citar:
Monte, F. F. C., Sampaio, L. R., Rosa Filho, J. S., & Barbosa, L. S. (2011). Adolescentes autores de atos infracionais:
psicologia moral e legislao. Psicologia & Sociedade,
23(1), 125-134.
Você também pode gostar
- Funções o Direito Penal - Paulo QueirozDocumento70 páginasFunções o Direito Penal - Paulo QueirozLacie GrahamAinda não há avaliações
- Crimes de Racismo Teoria e PraticaDocumento26 páginasCrimes de Racismo Teoria e Praticacristiane santos100% (1)
- Direito Penal Do Inimigo - Juarez Cirino Dos Santos PDFDocumento20 páginasDireito Penal Do Inimigo - Juarez Cirino Dos Santos PDFLacie Graham100% (1)
- Ed1618 CSBM Nota PrelimDocumento31 páginasEd1618 CSBM Nota PrelimLacie GrahamAinda não há avaliações
- Manual Ferro Black DeckerDocumento4 páginasManual Ferro Black DeckerLacie GrahamAinda não há avaliações
- A Teoria Do Garantismo Penal e o Princípio Da LegalidadeDocumento11 páginasA Teoria Do Garantismo Penal e o Princípio Da LegalidadeLacie GrahamAinda não há avaliações
- 156 586 1 PB PDFDocumento19 páginas156 586 1 PB PDFLacie GrahamAinda não há avaliações
- Ginástica Laboral Uma Breve RevisãoDocumento7 páginasGinástica Laboral Uma Breve RevisãoJoão JuniorAinda não há avaliações
- Enzo Gianini ProvaDocumento3 páginasEnzo Gianini ProvaBruno LimaAinda não há avaliações
- Solidariedade Social DurkheimDocumento2 páginasSolidariedade Social Durkheimlubuchala5592Ainda não há avaliações
- Teoria Crítica - Mauro WolfDocumento18 páginasTeoria Crítica - Mauro WolfJuliana SantannaAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIA III WOLF, E. Por FIELDMAN BIANCO e RIBEIRO - Antropologia e Poder Contribuições de Eric Wolf FAZER RESENHADocumento33 páginasANTROPOLOGIA III WOLF, E. Por FIELDMAN BIANCO e RIBEIRO - Antropologia e Poder Contribuições de Eric Wolf FAZER RESENHAIsisSouza100% (1)
- 2º Ano - Novo Ensino MédioDocumento64 páginas2º Ano - Novo Ensino MédioThierry AlmeidaAinda não há avaliações
- Yara Maria de Carvalho e Fabiana Fernandes de Freitas - Atividade Física, Saúde e ComunidadeDocumento22 páginasYara Maria de Carvalho e Fabiana Fernandes de Freitas - Atividade Física, Saúde e ComunidadeOdraudeIttereipAinda não há avaliações
- XAVIER, Beto. Futebol No País Da Música (Flavia Guia Carnevalli)Documento6 páginasXAVIER, Beto. Futebol No País Da Música (Flavia Guia Carnevalli)Leonardo D. DuarteAinda não há avaliações
- PlanoEnsino - ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOSDocumento2 páginasPlanoEnsino - ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOSSirlei GhettiAinda não há avaliações
- Trabalho PP de MaliaDocumento16 páginasTrabalho PP de Maliarogerio fernandoAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo de Didática GeralDocumento17 páginasTrabalho de Campo de Didática GeralAbel AmadeuAinda não há avaliações
- JACCOUD MAYER - A Pesquisa QualitativaDocumento43 páginasJACCOUD MAYER - A Pesquisa Qualitativamurilobass50% (2)
- 1701 2697 1 PB PDFDocumento23 páginas1701 2697 1 PB PDFsabrina vieiraAinda não há avaliações
- Prova Recuperacao Cpmi 2 AnoDocumento3 páginasProva Recuperacao Cpmi 2 AnoElisângela LemosAinda não há avaliações
- Midia Alternativa e o Impresso Na ArteDocumento101 páginasMidia Alternativa e o Impresso Na ArteGiancarlo PereiraAinda não há avaliações
- Teologia Da Salvacao - Apostila de SoteriologiaDocumento68 páginasTeologia Da Salvacao - Apostila de SoteriologiaGislane Lima PinheiroAinda não há avaliações
- BIBLIOGRAFIA Métodos e Técnicas de Pesquisa SociológicaDocumento7 páginasBIBLIOGRAFIA Métodos e Técnicas de Pesquisa SociológicaClodoaldo BastosAinda não há avaliações
- 104 117 VieiraDocumento14 páginas104 117 VieiraRafael StraforiniAinda não há avaliações
- Cartografia Da Folkcomunicação - EBOOK PDFDocumento618 páginasCartografia Da Folkcomunicação - EBOOK PDFJuliana HermenegildoAinda não há avaliações
- A Quem Servem Os CurrículosDocumento32 páginasA Quem Servem Os CurrículosIza GodoiAinda não há avaliações
- Forjas Da Escravidão: Contribuição Ao Estudo Dos Mundos Do Trabalho e Espaço Urbano No Rio de Janeiro (1810-1871)Documento133 páginasForjas Da Escravidão: Contribuição Ao Estudo Dos Mundos Do Trabalho e Espaço Urbano No Rio de Janeiro (1810-1871)Diego SchibelinskiAinda não há avaliações
- Crise Orgânica e Ação Política Da Classe Trabalhadora Brasileira: A Primeira Greve Geral Nacional (5 de Julho de 1962)Documento335 páginasCrise Orgânica e Ação Política Da Classe Trabalhadora Brasileira: A Primeira Greve Geral Nacional (5 de Julho de 1962)Rejane Carolina Hoeveler100% (1)
- Estagio Educação InfantilDocumento20 páginasEstagio Educação InfantilKarla CasadoAinda não há avaliações
- Psico Das Emergências - ÉticaDocumento18 páginasPsico Das Emergências - ÉticaLeandro Caetano Pinto BucciAinda não há avaliações
- Concepcao Educacao Paulo Freire paraDocumento9 páginasConcepcao Educacao Paulo Freire paraWashington SilvaAinda não há avaliações
- Crianças e Adolescentes em Vulnerabilidade SocialDocumento19 páginasCrianças e Adolescentes em Vulnerabilidade SocialflowersforeverAinda não há avaliações
- Juventude, Autonomia e SociologiaDocumento16 páginasJuventude, Autonomia e SociologiaMarcelo ManfrinatiAinda não há avaliações
- Século XXDocumento14 páginasSéculo XXRaabe SalimAinda não há avaliações
- 573-Texto Do Artigo-1988-1-10-20190513Documento10 páginas573-Texto Do Artigo-1988-1-10-20190513Rose Mary Alves CostaAinda não há avaliações