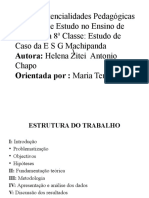Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Positivaçãoelinguagem
Positivaçãoelinguagem
Enviado por
Raquel MendesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Positivaçãoelinguagem
Positivaçãoelinguagem
Enviado por
Raquel MendesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Campo Jurdico N.
01 Maro 2013
AS CINCIAS E O DIREITO:
UMA POSITIVAO ARBITRADA
PELA LINGUAGEM
Joo Bosco Pavo1
Resumo: O artigo discute o problema da Positivao das cincias em geral
e do Direito em especial. O Positivismo no leva em conta as culturas
que no se adequam quela da Razo nica estabelecida pela Lgica
Formal. A lngua como definidora de valores e de nossa lgica cultural e
econmica estabelece nossa relao com o mundo atravs da gramtica.
A subsuno dos fatos aos conceitos consequncia lgica desta prarbitrariedade estabelecida pela linguagem. O artigo conclui que antes
do Direito e das cincias serem positivados, a linguagem define previamente como o Direito deve ser pensado e como as outras cincias devem
ser construdas. Ir contra tal positivao significa desconstruir os significados das palavras e a sua ordem.
Palavras chaves: Positivismo; Direito; Lgica; Linguagem.
Rsume: Larticle met en discussion le problme de la Positivassions des
sciences en gnrales et du Droit en particulier. Le Positivisme ne tient
pas en compte les cultures que ne sadaptent pas celle de la Raison
unique tablie travers la Logique Formel. La langue comme celle que
dfinit les valeurs et notre logique culturelle et conomique tablit notre rapport avec le monde travers la grammaire. Lapplication des
faits aux concepts cest la consquence logique de cet arbitraire tabli
par le langage. Larticle conclut quavant du Droit et des sciences soient positivs, le langage dfinit a priori comme le Droit doit tre pens
et comme les autres sciences doivent tre construites. Marcher contre
Formado em Filosofia pela PUC de Campinas (SP), com Mestrado e Doutorado em Lingustica
Aplicada pela Sorbonne, Paris V Rn Descartes. Atualmente professor de Filosofia Jurdica e
Antropologia Jurdica da FASB e tambm professor titular da UNEB, Campus IX de Barreiras,
Bahia, Brasil.
187
J. B. PAVO As cincias e o direito: uma positivao arbritrada pela linguagem
cette positivassions signifie dconstruire les signifis des mots et son
ordre.
Mots cls: Positivisme; Droit; Logique ; Langage
Sumrio: I; II; III; IV; Bibliografia.
I
A Positivao das cincias foi uma estratgia iniciada no sculo XVII
para fazer uma cincia laica e separada totalmente dos aspectos subjetivos
da religio. A utilizao da matemtica foi uma forma de neutralizar anjos
e demnios que ainda pairavam nos ares do final da idade mdia.
A desconexo completa de toda subjetividade tinha como finalidade
tornar a cincia isenta de preconceitos e de vontades exteriores a ela, ao mesmo tempo torna-la tambm universal para todos os lugares e tempos.
A coincidncia com a questionvel descoberta do Novo Mundo refora o conceito de verdade nica ou de Razo nica como forma de universalizar verdades e valores e de tornar submissos aqueles que no possussem ou participassem dessa Razo.
Na integrao cultural ou lgica, o processo de colonizao/educao vai ter um papel fundamental, programando os indivduos de forma
homognea e os fazendo partilhar de um mesmo esprito intencional.
A teoria da Razo nica vai nortear todos os campos das cincias
que sero mais objetivas quanto mais matematizantes elas forem. A objetividade tornou-se a tnica de todas as cincias do sculo XIX e com isso o
conceito de Positivo a substitui. Positivo e objetivo passam a ser sinnimos
e contrrios subjetividade advinda do senso comum, das emoes e das
culturas que interpretavam a realidade segundo as suas vontades.
O Positivismo vem descartar o sentido de cultura como um conjunto
de esquemas fundamentais previamente assimilados, a partir dos quais se
articula uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicveis a
outros esquemas particulares (idiossincrasias). O Positivismo nega que a
realidade difere de acordo com a cultura ou o grupo a que o indivduo
pertence.
As instituies como a Escola, a Religio e o Direito, dentro dessa
perspectiva so obrigadas a passar estes princpios de organizao e de es-
188
Revista Campo Jurdico N. 01 Maro 2013
quemas fundamentados dentro de uma Razo nica e notadamente europeia.
Mas, finalmente as culturas produzem esse ser humano capaz de pesar, avaliar e estabelecer valores. Esse pensar est tambm relacionado
capacidade humana de fazer escolhas segundo esquemas definidos pela
cultura a que pertence.
Aristteles dizia que o Homem um ser social e assim a sua capacidade de viver em coletividade parece ser o que mais caracteriza o Homem.
Mas, finalmente ele social a partir de suas necessidades para superar os
seus medos e limitaes em relao aos outros e em relao ao mundo.
Socializa-se porque se percebe um ser impotente diante da natureza. Por
ter medo de no sobreviver procura ajuda de seus semelhantes.
O ser humano se caracteriza por possuir potencialidades transcendentais e simblicas at na prpria relao com o mundo concreto, apesar
de ele se sentir limitado ao material.
Os seres humanos variam em consequncia das condies sociais,
econmicas, polticas e histricas em que vivem2.
Ele dotado de uma capacidade criadora e recriadora que lhe permite no s manipular o mundo, mas recria-lo. Diferente do animal que possui uma inteligncia concreta, ele se desenvolve a partir de uma inteligncia
abstrata e cria tcnicas e capacidades de recriar suas aes e produes.
Com tudo isso ele transforma o mundo e se transforma no mundo.
As transformaes produzidas pelo pensamento e pela ao histrica
produzem o que chamamos de cultura. O ser humano, ao recriar o seu
mundo, produz cultura, produz valores culturais ou bens culturais. O mais
importante elemento cultural a vida social.
As diferenas entre ele e o animal, no so apenas de evoluo biolgica, pois enquanto o animal permanece mergulhado na natureza, o homem capaz de transform-la, tornando possvel a cultura.
Ao produzir cultura, a ao humana, produz realidades a partir de
intencionalidades, uma delas o trabalho.
Outra caracterstica do ser humano que ele tem conscincia da sua
pertena a um grupo. Essa conscincia formada por palavras e pela lgica.
As palavras e a linearidade que elas so colocadas, no passam de interpretaes ou de representaes simblicas determinadas pela cultura.
CHAUI, Marilena. O que Ideologia. Editora Brasiliense. Coleo Primeiros Passos, n13, 2005.
189
J. B. PAVO As cincias e o direito: uma positivao arbritrada pela linguagem
As palavras, diz Nietzsche (sc. XIX), no passam de interpretaes
antes de serem signos. Elas foram inventadas pelas classes superiores, logo
no indicam um significado, mas impem uma interpretao.
Partindo dessa premissa, a lngua definidora de nossos valores e
eles fazem parte de uma lgica cultural e econmica e essa lgica estabelece a relao de dominao que est inserida na gramtica sujeito/verbo/
objeto. Ela se reflete na relao capital/trabalho: Sujeito = patro; verbo =
trabalho e objeto = empregado.
Nietzsche diz que se voc quer destruir a ideia de Deus deve matar a
gramtica. Aplicando-se isso sociedade, ns teramos: se quisermos mudar as relaes numa sociedade, mudemos os nossos conceitos e a ordem
que eles so relacionados e colocados. Essa a ordem lgica. O mesmo se
d se quisermos mudar o nosso mundo jurdico.
As tentativas de mudanas em nossas sociedades no foram acompanhadas de uma modificao de nossos conceitos ou de nossa lgica. Por
este motivo talvez, temos frustrado as nossas tentativas de mudanas sociais, econmicas, jurdicas e de sistemas de governos. Uma verdadeira revoluo parece que deve ser iniciada por uma transformao lingustica e lgica.
II
A Linguagem uma atividade humano-simblica construda pela
cultura para estabelecer o relacionamento com o mundo de uma forma
mais ou menos unssona e unidimensional, o que torna a relao significante/significado arbitrria. Ela obrigatria numa mesma comunidade
lingustica. Significante o som, ou a imagem acstica e Significado aquilo que a cultura (poder) estabeleceu para se pensar aquele som. Linguagem
produto da razo e esta produto da cultura e s pode existir onde h
racionalidade. Toda linguagem um sistema de signos. Signo uma coisa
que est em lugar de outra e no tem nada a ver com ela.
O saber simblico o conjunto de representaes conceituais que
temos a impresso que tiramos do mundo, mas que finalmente tomamos
emprestado, pois o poder (atravs da cultura) j estabelece como devemos
representa-lo e interpreta-lo.
Essa j uma forma de positivao da realidade, pois j h obrigatoriedade mesmo que seja dentro de uma comunidade com uma mesma cultura.
190
Revista Campo Jurdico N. 01 Maro 2013
No h relao alguma do signo com o objeto por ele representado,
necessita-se de uma conveno. O que se traduz no princpio que no h
relao concreta alguma entre as ideias (palavras) e as coisas.
O lao entre representao e objeto representado arbitrrio, logo
uma construo da razo (estabelecida pelo poder), uma inveno do sujeito para se aproximar da realidade.
O nome tem a capacidade de tornar presente para a nossa conscincia o objeto que est longe de ns. As coisas s passam a existir (para ns)
quando ns a nomeamos.
Os jogos de linguagem (Wittgeinstein, 1921) que nos so impostos
impedem-nos de pensar o mundo de forma diferente. Toda linguagem possui um repertrio (dicionrio). Alm do dicionrio necessrio estabelecer
regras de combinao desses signos, o que podemos usar junto e o que no
podemos. So as regras de uso da linguagem.
O pensar criticamente a realidade j est dimensionado pela prpria
lgica que estabelece esses jogos. Assim, toda experincia possvel, s
possvel, se for determinada, prevista e delimitada pela razo (Kant, XVIII).
Razo esta que construda segundo as regras desses mesmos jogos. Cada
lngua possui uma estrutura prpria em nvel de repertrio e de regras de
combinao e uso.
A lgica formal, atravs do silogismo, estabelece as regras de combinao, para se pensar corretamente o mundo. Ela estabelece uma verdade
de razo e no de fato. Ela estabelece o Dever-Ser, a ideia, a lei e no o
Ser, a materialidade ou o crime.
A reconstruo de qualquer fato feita atravs da Razo que estabelece os conceitos a serem utilizados, estabelece as regras de combinao destes
conceitos (a lgica) que finalmente estabelecem a abstrao do fato.
Em outros termos, h uma subsuno dos fatos aos conceitos ou o
discurso estabelece a realidade dos fatos. Finalmente, h uma positivao dos conceitos para que todos pensem o mundo de forma idntica.
O repertrio de conceitos e a lgica estabelecida para as relaes entre os conceitos estabelecem o que se chama de ideologia. Nesse caso, a
ideologia representa o conjunto de ideias, concepes ou opinies sobre
algo. Ela estabelece uma doutrina, ou corpo sistemtico de ideias e um
posicionamento interpretativo diante dos fatos.
Na definio de Marilena Chau: Ideologia um conjunto lgico,
sistemtico e coerente de representaes: ideias e valores, normas, regras
de conduta. Um corpo explicativo e prtico de carter prescritivo, normati191
J. B. PAVO As cincias e o direito: uma positivao arbritrada pela linguagem
vo, dando explicao racional para as diferenas socioculturais, sem atribuir a elas uma diviso da sociedade em classes.
A funo da ideologia a de apagar as diferenas, encontrando certos referenciais como Humanidade, liberdade, Igualdade, Nao, Estado,
etc. Aqui ideologia se caracteriza pela naturalizao, considerando naturais as diferenas e divises de classe e pela universalizao (positivao?)
onde os valores das classes dominantes servem para a classe dominada.
Todo discurso fruto de um ato de vontade e que para se exprimir
deve, obrigatoriamente, seguir um padro pr-estabelecido (positivado): as
regras que estabelecem como se deve falar. Desta forma, todo discurso
ideolgico e em consequncia, no neutro. Ele proferido por algum,
dentro de um contexto determinado e de uma idiossincrasia. Portanto, ele
poltico e subjetivo.
Se a funo da linguagem a de veicular informao, desse modo
devem existir regras (universais) para se informar. Ora, essas regras no so
naturais ou a priori, elas foram tiradas da vontade de algum.
Assim, o ser humano tem que agir verbalmente segundo essas regras.
Tais regras estabelecem quando se pode falar, que tipo de contedo se pode
falar, que tipo de crtica e de interpretao se pode fazer, que tipo de variedade lingustica se pode usar.
O discurso no possui signos somente para serem compreendidos,
mas so tambm signos de riqueza destinados a serem avaliados e signos de
autoridade, destinados a serem acreditados e obedecidos.
Autrement dit, les discours ne sont seulement (ou seulement par
exception) signes destins tre compris, dchiffrs; ce sont aussi des signes
de richesses destines tre valus, apprcis et des signes destins tre
crus e obis3.
O cdigo aceito pelo poder apresentado como neutro e superior a
todos e todos tm que produzi-los de acordo com o poder. Assim, no Direito, como nas cincias em geral, so utilizados muitos aforismos (desaforismos?) do latim, porque eles representam (do ares de) neutralidade,
positividade, cientificidade, verdade e justia, pois na viso oficial a lngua um sistema estvel, imutvel, submetido a regras objetivo-positivas.
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. Lconomie des changes linguistiques. Librairie Arthme Fayard, Paris, 1982, p. 60.
192
Revista Campo Jurdico N. 01 Maro 2013
A linguagem do mundo jurdico escrita num cdigo extremamente
complexo e objetivo/positivo para parecer justa, verdadeira, universal e
absoluta, assim so todas as linguagens ditas cientficas ou no.
O mercado do mundo jurdico define a linguagem elaborada a ser
utilizada e o valor do discurso depende das relaes de fora, mensurada
pela capacidade argumentativa utilizando-se dessa linguagem.
Os cidados apesar de declarados iguais perante a lei so discriminados j na base do mesmo cdigo em que a lei redigida4.
Os dicionrios so inventrios de signos legitimados, so instrumentos do processo de estandardizao ou de positivao, assim como a literatura aceita que sanciona o aceitvel.
Nossos discursos no recebem sentido e valor seno dentro de um
mercado que estabelece quais so os melhores discursos e consequentemente os que vo estabelecer as verdades.
Les discours ne reoivent leur valeur (et leur sens) que dans la relation un march, caractris par une loi de formation des prix particulire...5.
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem as representaes simblicas. No se poderia organizar distribuir obrigaes, definir relaes de parentesco, construir normas, etc.
Para aprender direitos e deveres uma sociedade depende dessas representaes simblicas. O desenvolvimento humano depende, em grande
parte, da capacidade de criar smbolos e quanto mais complexos eles forem, tem-se a impresso que mais a sociedade pode se desenvolver.
III
Chegamos concluso que a realidade lingustica interfere na construo da realidade humana. Parafraseando Protgoras (Sc. IV AC), a linguagem a medida de todas as coisas. Ora, se o homem necessita ser lingustico antes de ser poltico, a medida do mundo que ele possui foi-lhe transmitida pela linguagem.
Partindo da, algumas perguntas devem fazer parte de nossas preocupaes: Como fica a relao com a verdade e com a justia ou como se
aprende a verdadeira realidade do ser?
4
5
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, Escrita e Poder. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. Op. cit., p. 60.
193
J. B. PAVO As cincias e o direito: uma positivao arbritrada pela linguagem
Ora, existiria a verdade se fosse possvel uma percepo exata do
mundo como ele . Mas o mundo do sujeito e o mundo do objeto no
possuem correspondncias lgicas.
Bourdieu em A economia das trocas simblicas analisa o papel da
linguagem na estrutura social. Ele diz que no se pode dissociar a linguagem de sua estrutura social em que usada. Uma relao de comunicao
lingustica no simplesmente uma operao de codificao/decodificao, mas fundamentalmente uma relao de fora simblica determinada
pela estrutura do grupo social (relaes existentes entre os interlocutores).
A cultura dominante e legtima domina o mercado lingustico e assim o mercado acadmico e jurdico, estritamente dominado pelos produtos lingusticos da classe dominante.
En tant que march linguistique strictement soumis aux verdicts des
gardiens de la culture lgitime, le march scolaire est strictement domin
par les produits linguistiques de la classe dominante et tend sanctionner
les diffrences de capital prexistantes6.
No universo social, alm de bens materiais, circulam bens simblicos
(informaes). A linguagem um desses bens simblicos. Numa sociedade
capitalista, essa troca cria relaes de fora material, que opem possuidores e possudos, dominados, dominantes e relaes de foras simblicas
(meios simblicos).
As relaes de comunicao so relaes de foras simblicas ou relaes de foras lingusticas. Elas explicam porque determinados falantes
exercem poder e domnio sobre os outros, na interao verbal e determinados produtos lingusticos recebem mais valor do que outros.
Essas relaes definem quem pode falar, a quem e como. Atribuem
valor e poder linguagem de uns e o desprestgio de outros.
Toda relao lingustica funciona como um mercado lingustico,
em que os bens que se trocam so palavras. Os falantes colocam seus
produtos no mercado, prevendo o preo que lhes ser atribudo. O preo
depende no s da mensagem que veicula, mas tambm da posio e da
importncia que se tm na estrutura social do grupo que pertence quem
o produz.
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. Op. cit., p. 53.
194
Revista Campo Jurdico N. 01 Maro 2013
Les locuteurs dpourvus de la comptence lgitime se trouvent exclus en fait des univers sociaux o elle est exige, ou condamns au silence7.
O capital cultural e capital lingustico tm distribuio desigual entre
as diferentes classes sociais do capital lingustico e pode ser excludente e
nos condenar ao silncio.
O mercado lingustico est presente tambm no mundo do Direito e
de forma ainda mais especial. Afinal a comprovao dos fatos parece no
ser feita empiricamente, mas atravs de sua reconstruo racional. Portanto, os locutores (profissionais do Direito) que no tm esta competncia
lingustica dentro do mercado, no conseguem atribuir valor de veracidade aos fatos que reconstroem.
IV
Podemos inferir a partir destas constataes que antes do Direito ser
positivado, antes das cincias serem positivadas, a linguagem que define a
realidade tanto do Direito como das outras cincias foi, aprioristicamente,
positivada tambm. Linguagem entenda-se aqui, como os conceitos e a prpria lgica que confere relaes entre eles.
A propalada globalizao no deixa de impor esta forma de pensar
atravs de uma Razo nica que nos foi implantada atravs do processo
colonizatrio e continua a ser implantada atravs da educao formal e no
formal.
Assim, todas as formas de pensar e de julgar sero percebidas como
corretas e justas se estiverem conforme a lgica formal aristotlica. Todas
as outras formas de razo no sero seno desvios, senso comum e at
mesmo des-razes ou razes no civilizadas, etc.
Como no se nasce possuidor dessa Razo ou de qualquer outra
forma de razo, mas se adquire o capital lingustico no ambiente cultural
em que se vive, o mercado lingustico que vai estabelecer a razo correta
para se julgar, pensar e existir no mundo.
esse mesmo mercado lingustico que estabelece qual o verdadeiro
discurso das cincias e qual o justo discurso do Direito.
Idem, ibidem, p. 42.
195
J. B. PAVO As cincias e o direito: uma positivao arbritrada pela linguagem
As cincias e o Direito como prticos ficam subordinados a uma positivao difcil de ser afastada mesmo quando se tenta tornar a cincia
relativa e fragmentada e o direito consuetudinrio e mais subjetivo.
Hans Kelsen8 construiu a pirmide das subordinaes e das positivaes que levam necessariamente as menores de nossas normas serem condicionadas s primeiras que as originaram e segundo os nossos argumentos
todas elas se originam da linguagem.
Quando se pensa linguagem na oralidade pode-se admitir certa dose
de subjetividade, mas quando se pensa linguagem escrita, a tentativa de
eliminao de toda subjetividade uma condio sine qua non para o surgimento da cincia positiva.
Podemos, teoricamente, ir at contra essa positivao da nossa linguagem, como das cincias e do Direito, mas mesmo esse ir contra determinado por essa mesma linguagem. Isso significaria que at as nossas crticas so subordinadas e permitidas por esta Razo, ou teremos que construir outra... Com certeza seremos taxados de loucos.
REFERNCIAS
BOURDIEU, Pierre. Ce que parler veut dire. Lconomie des changes linguistiques.
Librairie Arthme Fayard, Paris, 1982.
CHAUI, Marilena. O que Ideologia. Editora Brasiliense. Coleo Primeiros Passos, n13, 2005.
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, Escrita e Poder. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito. So Paulo: Martins Fontes, 1998.
SOARES, Magda. Linguagem e Escola: uma perspectiva social. So Paulo: tica,
1994.
KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito. So Paulo: Martins Fontes, 1998.
196
Você também pode gostar
- Exercícios de Inteligência ArtificialDocumento18 páginasExercícios de Inteligência ArtificialEdson AlvesAinda não há avaliações
- Recordação, Trauma e Memoria ColetivaDocumento22 páginasRecordação, Trauma e Memoria ColetivaPollianaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Faculdade ÚnicaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Faculdade ÚnicaDiego MoraisAinda não há avaliações
- Direito CartularDocumento16 páginasDireito Cartularraquel_995591196Ainda não há avaliações
- Teoria Da Argumentação e Retórica - Slide Numero 1Documento5 páginasTeoria Da Argumentação e Retórica - Slide Numero 1raquel_995591196Ainda não há avaliações
- Direito CartularDocumento16 páginasDireito Cartularraquel_995591196Ainda não há avaliações
- Moradas Ou Castelo InteriorDocumento100 páginasMoradas Ou Castelo Interiorraquel_995591196Ainda não há avaliações
- Curso de Pscicopedagogia Clinica e Institucional - EducaDocumento67 páginasCurso de Pscicopedagogia Clinica e Institucional - EducaMickaelly L Mamede100% (1)
- Fatores de Textualidade 2Documento15 páginasFatores de Textualidade 2John Jefferson AlvesAinda não há avaliações
- Psicologia Da Personalidade 2Documento2 páginasPsicologia Da Personalidade 2Dionísio BacoAinda não há avaliações
- Santos Simone Cardoso Dos PDFDocumento50 páginasSantos Simone Cardoso Dos PDFDea CortelazziAinda não há avaliações
- IndexaçãoDocumento48 páginasIndexaçãoDaniele Labanian100% (2)
- Slide Helena Retificado 2023Documento16 páginasSlide Helena Retificado 2023Braiton antonioAinda não há avaliações
- Mecânica AnalíticaDocumento2 páginasMecânica AnalíticaClaudioTRodriguesAinda não há avaliações
- Recordar, Repetir e Elaborar (Novos Recomendações Sobre A Técnica Da Psicanálise II)Documento5 páginasRecordar, Repetir e Elaborar (Novos Recomendações Sobre A Técnica Da Psicanálise II)Merlise Moreira SousaAinda não há avaliações
- Relatorio Projeto Completo 2019 Estágio em Letras Lingua Inglesa e PortuguesaDocumento15 páginasRelatorio Projeto Completo 2019 Estágio em Letras Lingua Inglesa e PortuguesaFlavia SantosAinda não há avaliações
- Introducao A EAD - ApostilaDocumento20 páginasIntroducao A EAD - ApostilaSandro PereiraAinda não há avaliações
- Portifolio VanderleiaDocumento16 páginasPortifolio Vanderleiasandro gomes da silvaAinda não há avaliações
- CN-Critérios de AvaliaçãoDocumento4 páginasCN-Critérios de AvaliaçãoBruno CasimiroAinda não há avaliações
- PRATICA DE ENSINO REFLEXOES Postagem Lascou 2Documento10 páginasPRATICA DE ENSINO REFLEXOES Postagem Lascou 2André Vila RamosAinda não há avaliações
- Projeto de Intervenção ModificadoDocumento9 páginasProjeto de Intervenção Modificadocristianaaraujorosa711Ainda não há avaliações
- Psicologia Na Engenharia de Segurança, Comunicação E TreinamentoDocumento96 páginasPsicologia Na Engenharia de Segurança, Comunicação E TreinamentoLuiz Carlos Pereira100% (1)
- A FUNÇÃO SOCIAL DO ENSINO E A CONCEPÇÃO Antoni ZabalaDocumento38 páginasA FUNÇÃO SOCIAL DO ENSINO E A CONCEPÇÃO Antoni Zabalajulianaf_3Ainda não há avaliações
- Manual UFCD0351 - Perfil e Funções Do AtendedorDocumento49 páginasManual UFCD0351 - Perfil e Funções Do AtendedorClaudio Matos100% (2)
- ENFERMAGEMDocumento54 páginasENFERMAGEMGabriela Herrmann CayeAinda não há avaliações
- Comportamento Humano Nas OrganizaçõesDocumento5 páginasComportamento Humano Nas OrganizaçõesLorraine OliveiraAinda não há avaliações
- De Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH (Artigo) Autor Dra. Didia Fortes e Dra. Gilca SoaresDocumento9 páginasDe Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH (Artigo) Autor Dra. Didia Fortes e Dra. Gilca SoaresLaiza Rebeca100% (1)
- CalendarioAcademica 2013-1-2 UFBA - Atualizado 18.02.13Documento1 páginaCalendarioAcademica 2013-1-2 UFBA - Atualizado 18.02.13Anonymous Cf1sgnntBJAinda não há avaliações
- Déficit en Habilidades Sociales en NiñosDocumento12 páginasDéficit en Habilidades Sociales en NiñosMaria Yolanda Lara100% (1)
- Museu InterativoDocumento188 páginasMuseu InterativoEduardo Abel CoralAinda não há avaliações
- Atividade A1 de Estrategia de NegociaçãoDocumento2 páginasAtividade A1 de Estrategia de Negociaçãogeovanna marquesAinda não há avaliações
- Etica Na Publicidade - Benneton PDFDocumento71 páginasEtica Na Publicidade - Benneton PDFekeninomimAinda não há avaliações
- 3 - Planejamento de Projeto de Vida - 2º AnoDocumento5 páginas3 - Planejamento de Projeto de Vida - 2º AnoMARINA ALESSANDRA DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- (Educacao) - Ana Carita - Indisciplina Na Sala de Aula, Como Prevenir, Como RemediarDocumento115 páginas(Educacao) - Ana Carita - Indisciplina Na Sala de Aula, Como Prevenir, Como RemediardiokaAinda não há avaliações