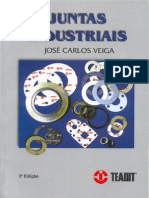Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual BP Borrach A
Manual BP Borrach A
Enviado por
Adilson TozoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Manual BP Borrach A
Manual BP Borrach A
Enviado por
Adilson TozoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FICHA TCNICA
TTULO
Manual de Boas Prticas
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PROJECTO
Prevenir Preveno como Soluo
ELABORAO
Eurisko Estudos, Projectos e Consultoria, S.A.
EDIO/COORDENAO
AEP Associao Empresarial de Portugal
CONCEPO GRFICA
mm+a
EXECUO GRFICA
Multitema
APOIOS
Projecto apoiado pelo Programa Operacional de
Assistncia Tcnica ao QREN Quadro de Referncia
Estratgico Nacional Eixo Fundo Social Europeu
TIRAGEM
1000 exemplares
ISBN
978-972-8702-49-6
DEPSITO LEGAL
323627/11
Janeiro, 2011
004
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
ndice
1.
INTRODUO
11
2.
A INDSTRIA DA BORRACHA E DAS MATRIAS PLSTICAS
12
2.1.
INDSTRIA DA BORRACHA
12
2.1.1
Actividades da Indstria da Borracha
13
2.1.2
Descrio dos processos de fabrico
13
2.1.3
Principais riscos
20
2.2
INDSTRIA DAS MATRIAS PLSTICAS
25
2.2.1
Actividades da Indstria das Matrias Plsticas
25
2.2.2
Descrio do processo de fabrico
25
2.2.3
Principais riscos
35
3.
ORGANIZAO DOS SERVIOS DE SEGURANA E SADE
NO TRABALHO (SST)
39
3.1.
MODALIDADES DE ORGANIZAO DOS SERVIOS DE SEGURANA
E SADE NO TRABALHO
39
3.2.
SERVIOS DE SEGURANA E DE SADE NO TRABALHO
40
3.2.1. Servios de segurana no trabalho
40
3.2.2
Servios de sade no trabalho
41
3.3.
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A SEGURANA
E SADE NO TRABALHO
42
4.
SINISTRALIDADE LABORAL
43
4.1.
CARACTERIZAO DOS ACIDENTES DE TRABALHO
43
4.2.
PREVENO DE ACIDENTES
44
4.3.
GESTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
46
4.4.
TAXAS ESTATSTICAS DE SINISTRALIDADE
51
4.5.
FERRAMENTAS DE TRATAMENTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
52
5.
INSTALAES
53
5.1
CONCEPO DE LOCAIS DE TRABALHO
53
5.2
ENQUADRAMENTO LEGAL
54
5.3
CARACTERSTICAS GERAIS DOS EDIFCIOS
55
5.4
DIMENSIONAMENTO DOS LOCAIS DE TRABALHO
59
MANUAL DE BOAS PRTICAS
5.5
INSTALAES DE APOIO
61
5.6
INFRA-ESTRUTURAS
62
5.7
ORGANIZAO DOS LOCAIS DE TRABALHO
64
5.7.1
Gesto visual - 5 S
64
5.7.2
Implementao de um sistema de 5 S
65
5.8
MANUTENO DAS CONDIES DE HABITABILIDADE
66
6.
SEGURANA NO TRABALHO
67
6.1
ILUMINAO
67
6.1.1
Conceitos bsicos
67
6.1.2
Sistemas de iluminao
68
6.1.3
Nveis de iluminao adequados
68
6.1.4
Avaliao dos nveis de iluminao
70
6.1.5
Tipo de iluminao a utilizar e sua qualidade
70
6.1.6
Seleco de sistemas de iluminao artificial eficientes
72
6.1.7
Outras tecnologias
73
6.1.8
A iluminao na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
75
6.2
RUDO
77
6.2.1
Principais efeitos
79
6.2.2
Enquadramento legal
80
6.2.3
Medies e avaliaes do rudo
80
6.2.4
Principais fontes de rudo na Indstria da Borracha
e das Matrias Plsticas
82
6.2.5
Medidas de preveno e proteco
84
6.2.6
Seleco de protectores auriculares
85
6.3
VIBRAES
85
6.3.1
Principais efeitos na sade
86
6.3.2
Enquadramento legal
87
005
006
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.3.3
Medio de vibraes
6.3.4
Principais fontes de vibraes na Indstria da Borracha
88
e das Matrias Plsticas
89
6.3.5
Medidas de preveno e proteco
91
6.4
CONTAMINANTES QUMICOS
93
6.4.1
Principais contaminantes qumicos presentes na Indstria
da Borracha e das Matrias Plsticas
94
6.4.2
Principais efeitos na sade
96
6.4.3
Avaliao do risco de exposio a contaminantes qumicos
97
6.4.4
Medidas de preveno e proteco
100
6.5
AMBIENTE TRMICO
103
6.5.1
Efeitos na sade
103
6.5.2
Caracterizao do ambiente trmico
106
6.5.3
Medidas de preveno e proteco
109
6.5.4
Ambiente trmico na Indstria da Borracha
e das Matrias Plsticas
111
6.6
RADIAES
113
6.6.1
Radiaes ionizantes
113
6.6.2
Radiaes no ionizantes
115
6.6.3
Principais fontes
117
6.6.4
Medidas de preveno e proteco
118
6.7
MOVIMENTAO MANUAL DE CARGAS
121
6.7.1
Riscos na movimentao manual de cargas
122
6.7.2
Medidas de preveno e proteco
125
6.8
MOVIMENTAO MECNICA DE CARGAS
127
6.8.1
Prticas gerais de preveno e proteco
130
6.8.2
Empilhadores
132
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.8.3
Empilhadores (com o condutor apeado ou condutor
transportado) e porta-paletes
133
6.8.4
Pontes rolantes
134
6.8.5
Transportadores contnuos por tela e rolos
136
6.8.6
Robots pneumticos
137
6.9
ARMAZENAMENTO
137
6.9.1
Regras bsticas de segurana
139
6.9.2
Armazenagem na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas 140
6.10
SUBSTNCIAS OU MISTURAS PERIGOSAS
142
6.10.1 Identficao das substncias qumicas utilizadas
142
6.10.2 Registo, avaliao, autorizao e restrio das
substncias qumicas (REACH)
152
6.10.3 Fichas de dados de segurana
153
6.10.4 Armazenagem e utilizao de produtos qumicos
153
6.11
158
RISCOS ELCTRICOS
6.11.1 Acidentes de origem elctrica
158
6.11.2 Efeitos da corrente elctrica
158
6.11.3 Proteco das pessoas
159
6.11.4 Enquadramento legal
160
6.11.5 Posto de transformao
161
6.11.6 Quadros elctricos
165
6.11.7 Outras infra-estruturas
166
6.11.8 Instalaes
167
6.11.9 Ferramentas e mquinas elctricas
168
6.12
169
SEGURANA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
6.12.1 Mquinas novas e mquinas usadas
171
6.12.2 Equipamentos de trabalho
177
6.12.3 Manuteno
183
007
008
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.12.4 Mquinas e equipamentos de maior perigosidade na
6.13
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
185
EQUIPAMENTOS SOB PRESSO
187
6.13.1 Processo de registo e licenciamento
188
6.13.2 Instalao de um equipamento sob presso
194
6.14
205
INCNDIOS
6.14.1 Preveno de incndios
206
6.14.2 Combate a incndios
221
6.15
235
ORGANIZAO DA EMERGNCIA
6.15.1 Procedimentos em caso de emergncia e plano
de emergncia interno
235
6.15.2 Organizao de segurana
243
6.15.3 Formao em segurana contra incndio
244
6.15.4 Registos de segurana
244
6.15.5 Simulacros
245
6.15.6 Plano de segurana interno
246
6.15.7 Sinalizao e iluminao de emergncia
246
6.15.8 Vias de evacuao e sadas de emergncia
247
6.15.9 Primeiros socorros
248
6.15.10 Consideraes adicionais para a Indstria da Borracha e das
6.16
Matrias Plsticas
249
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
252
6.16.1 Fundamentos ATEX
252
6.16.2 Avaliao do risco de exploso
256
6.16.3 Medidas de preveno e proteco do risco de exploso
259
6.16.4 Preveno de exploso por controlo das fontes de ignio
261
6.16.5 Aparelhos para utilizao em atmosferas explosivas
261
6.16.6 Medidas de proteco para limitar os efeitos de exploses
263
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.16.7 Medidas organizacionais
265
6.16.8 Manual de proteco contra exploses
266
7.
SINALIZAO SEGURANA
266
7.1
FORMAS DE SINALIZAO
267
7.1.1
Sinais coloridos
268
7.1.2
Sinais luminosos
272
7.1.3
Sinais acsticos
273
7.1.4
Comunicao verbal
273
7.1.5
Sinais gestuais
274
8.
EQUIPAMENTOS DE PROTECO INDIVIDUAL
275
8.1
PROCEDIMENTO DE SELECO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTECO INDIVIDUAL
8.2
276
ENQUADRAMENTO DOS EPI NA REALIDADE DA INDSTRIA
DA BORRACHA E DAS MATRIAS PLSTICAS
278
8.3
BOAS PRTICAS NA UTILIZAO DE EPI
288
9.
ERGONOMIA
289
9.1
INTRODUO
289
9.2
ANLISE E INTERVENO ERGONMICA
289
9.2.1
Posturas e movimentos corporais
290
9.2.2
Posto de trabalho
297
9.2.3
Equipamentos de trabalho
301
9.2.4
Factores psicossociais
302
9.2.5
Factores ambientais
304
9.3
RISCOS ERGONMICOS NA INDSTRIA DA BORRACHA E DAS
MATRIAS PLSTICAS
304
10.
GESTO DA SEGURANA E SADE NO TRABALHO (SST)
306
10.1
POLTICA DA SEGURANA E SADE NO TRABALHO
307
10.2
PLANEAMENTO
308
009
010
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
10.3
IMPLEMENTAO E OPERAO
311
10.4
VERIFICAO
314
10.5
REVISO PELA GESTO
317
11.
FORMAO E COMUNICAO
317
11.1
FORMAO
318
11.2
COMUNICAO
321
ANEXOS
ANEXO I Ficha resumo de dados de segurana do produto
327
ANEXO II Instruo de segurana de um empilhador
329
ANEXO III Principal legislao em matrias de segurana
e sade no trabalho
BIBLIOGRAFIA
333
351
MANUAL DE BOAS PRTICAS
1. INTRODUO
O Programa Prevenir Preveno como Soluo desenvolvido pela AEP - Associao Empresarial de Portugal e pela
ACT Autoridade para as Condies de Trabalho, com o apoio do POAT - Programa Operacional de Assistncia Tcnica.
Este programa tem como principal objectivo apoiar as empresas na implementao de medidas que permitam atingir os nveis de
eficincia operacional desejados, em termos de Segurana e Sade no Trabalho.
Os destinatrios deste programa foram as pequenas e mdias empresas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas,
nomeadamente:
Fabricao de artigos de borracha (CAE 221);
Fabricao de artigos de matrias plsticas (CAE 222).
A metodologia adoptada foi estruturada em quatro nveis de interveno distintos figura 1.
FIGURA 1
Nveis de interveno nas empresas
Nvel 4
Elaborao de estudo
sectorial e manual de boas prticas
Nvel 3 Avaliao
Nvel 2 Diagnstico e proposta de interveno
Nvel 1 Pesquisa e interveno nas empresas
011
012
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Em cada um dos nveis de interveno esto includas etapas que a seguir se descrevem quadro 1.
QUADRO 1
Descrio das etapas pertencentes aos diferentes nveis de interveno
Nveis de interveno
Nvel 1
Etapas
1. Divulgao do Programa a cerca de 5 000 empresas
2. Sesso de Apresentao do Programa
3. Contacto com cerca de 500 empresas (inscritas na sesso e outras pr-seleccionadas)
4. Elaborao do Questionrio (Guio de Visita)
5. Seleco das 60 empresas com base no interesse e disponibilidade manifestada
6. Visitas s 60 empresas e preenchimento dos Questionrios
7. Elaborao dos Relatrios Individuais
8. Recolha de Dados Estatsticos do Sector
9. Elaborao do Relatrio Sectorial
10. Apresentao dos Resultados da Fase 1
Nvel 2
1. Seleco de 40 empresas
2. Realizao de diagnsticos
3. Road-show 2 seminrios tcnicos
Nvel 3
1. Seleco de 15 empresas
2. Realizao de auditorias
3. Road-show 2 seminrios tcnicos
Nvel 4
Elaborao de Estudo Sectorial e Manual de Boas Prticas
O presente manual foi elaborado com base nos resultados obtidos nas trs primeiras fases deste programa, em informao
sectorial complementar e nas publicaes existentes na temtica da Segurana e Sade no Trabalho, correspondendo ao Nvel 4
do programa Prevenir.
Este manual, pretende tambm constituir um importante suporte tcnico para incentivar e facilitar as empresas do sector no
planeamento e implementao de aces de melhoria e de minimizao dos riscos associados s actividades desenvolvidas.
2. A INDSTRIA DA BORRACHA E DAS MATRIAS PLSTICAS
2.1 INDSTRIA DA BORRACHA
A Indstria da Borracha comporta diversas actividades de acordo com a classificao de actividade econmica que lhe foi
atribuda. No quadro seguinte so descritas as actividades por CAE.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
2.1.1 Actividades da Indstria da Borracha
QUADRO 2
Actividades da Indstria da Borracha
CAE
Actividade
221
Fabricao de artigos de borracha
22111
Fabricao de pneus e cmaras-de-ar
22112
Reconstruo de pneus
22191
Fabricao de componentes de borracha para calado
22192
Fabricao de outros produtos de borracha, n.e.
2.1.2 Descrio dos processos de fabrico
Os processos utilizados na Indstria da Borracha, tal como o tipo de produtos de borracha, so muito variados. Apesar disso,
existem algumas operaes bsicas comuns: mistura, extruso, calandragem, moldagem, construo, vulcanizao, inspeco
final e acabamentos.
A borracha pura no tem utilidade. As propriedades desejadas como plasticidade, elasticidade, resistncia, dureza, resistncia
abraso, impermeabilidade, etc., so conseguidas na sua formulao. Assim, o processo de produo comea pela formulao e
preparao da pasta de borracha, segundo frmulas j existentes e de acordo com a aplicao final a que se destinam. Uma
mistura de borracha compreende, aproximadamente, entre 10 e 20 componentes. Os principais componentes, para alm da
borracha (natural, sinttica ou regenerada), so normalmente cargas, plastificantes, agentes de vulcanizao, aceleradores e
retardadores de vulcanizao, pigmentos, etc.
As matrias primas utilizadas neste sector so em parte de origem nacional e em parte de origem estrangeira. A nvel nacional,
destacam-se entre outras, as produes de negro de fumo, tecidos, enxofre, xido de zinco, carbonato de clcio, caulino, cargas,
resinas e leos de processamento.
Na actividade de reconstrues de pneus, uma parte das matrias-primas adquirida nas empresas de outros segmentos do
sector.
Os processos de fabrico utilizados variam nos vrios subsectores, conforme se trate da fabricao de artigos de borracha,
fabricao de pneus, ou ainda da sua reconstruo. Apresentam-se a seguir os fluxogramas dos vrios processos de fabrico por
subsector, salientando-se, no entanto que existem operaes unitrias comuns aos vrios subsectores.
013
014
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Subsector da Fabricao de Pneus e Cmaras de Ar
O fabrico de pneus e cmaras de ar compreende as vrias operaes unitrias que se apresentam no fluxograma seguinte:
FIGURA 2
Subsector da Fabricao de Pneus e Cmaras de Ar
Pesagem
Mistura
Batch-off
Calandragem
Extruso
Construo ou montagem do pneu
Vulcanizao
Descabelagem
Inspeco final
Apresenta-se de seguida uma breve descrio de cada uma das operaes.
Pesagem
Nesta operao so pesadas as matrias-primas necessrias s vrias formulaes, tais como: borrachas de natureza vria,
pigmentos, negro de fumo, aceleradores, retardadores, activadores de vulcanizao, etc. Esta pesagem pode ser manual ou
automtica.
Mistura
Esta operao tem como objectivo a disperso homognea dos diversos ingredientes e levada a cabo em misturadores que
podem ser de dois tipos: misturadores internos e misturadores abertos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O misturador interno possui uma cmara dentro da qual esto dois rotores, de forma especial, que rodam em sentidos opostos e
a velocidades diferentes e que permitem a mistura dos diferentes ingredientes.
No misturador aberto existem dois rolos paralelos e horizontais que rodam em sentido inverso e a velocidades diferentes.
O atrito produzido pelo movimento de rotao dos rolos contra a borracha produz o seu aquecimento e facilita a sua mistura. As
temperaturas podem chegar a 180C. Estes misturadores possuem um circuito de refrigerao que impede a subida da
temperatura para valores demasiado elevados.
No fim desta operao a borracha ainda sai quente e na forma de uma banda onde as superfcies facilmente aderem umas s
outras.
Batch-off
Nesta operao a borracha quente passa por uma soluo aquosa, que constitu um tratamento anti-aderente. As tiras de
borracha, aps arrefecimento sem ar, so cortadas e empilhadas para utilizao posterior. A borracha pode ento seguir para as
operaes de formao, como a calandragem de tecidos ou metais, ou a extruso de componentes.
Calandragem
Na calandragem, as tiras de borracha passam por um conjunto de cilindros paralelos e polidos (calandra) e so transformadas
em finas folhas de espessura previamente determinada. Nesta operao podem ser incorporados na borracha txteis, napas e
fios ou tecidos metlicos.
As tiras de borracha obtidas, com ou sem os tecidos incorporados, podem ser cortadas com a largura desejada, seguindo para a
montagem.
Extruso
Esta operao permite obter, aps aquecimento a cerca de 150C, a forma e espessura desejada fazendo passar a borracha pela
extrusora. A borracha comprimida atravs da fieira, que pode ter variadas formas de acordo com o perfil final pretendido.
Construo ou montagem do pneu
Normalmente esta operao realizada na mquina de construo de pneus, onde numa primeira fase, se monta a carcaa, para
posteriormente se adicionar as telas metlicas e o piso, completando assim o pneu. O tipo de componentes adicionados em cada
uma das fases funo do tipo de pneu a construir. Desta operao resulta o pneu em verde que passa para a fase seguinte, a
vulcanizao.
Vulcanizao
Aps a pintura do pneu este sujeito vulcanizao em prensas. O pneu adquire nesta fase a sua forma e propriedades
elastomricas finais. Para dar a forma ao pneu introduz-se no interior deste um saco, que na altura em que se fecha a prensa
insuflado, comprimindo o pneu em direco ao molde. O pneu sujeito a aquecimento indirecto por vapor atingindo temperaturas
da ordem dos 200C.
Descabelagem
Nesta operao retirada a borracha em excesso, que resulta da existncia de orifcios no molde. Em seguida, o pneu passa para
a ltima fase do processo, a inspeco final.
015
016
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Inspeco Final
O controle da qualidade do pneus produzidos faz-se atravs de uma inspeco visual e nalguns casos utilizando uma mquina de
raios x. Todos os pneus fazem um teste de uniformidade radial e lateral, sendo ainda alguns deles testados numa mquina de
balanceamento.
Subsector da Reconstruo de Pneus e Cmaras de Ar
Este processo produtivo tem como produto final pneus reconstrudos. Pode ser considerado como um processo de reciclagem
que utiliza pneus usados como uma das suas matrias primas.
As principais operaes neste processo produtivo so as indicadas no fluxograma seguinte:
FIGURA 3
Subsector da Reconstruo de Pneus e Cmaras de Ar
Recepo e armazenagem
Inspeco
Raspagem ou grosagem
Aplicao de cola ou cimentao
Enchimento ou aplicao do piso
ConstruoVulcanizao
ou montagem do pneu
Inspeco
Vulcanizao
final
Acabamentos
Rotulagem e expedio
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Descreve-se de seguida cada uma delas.
Recepo e armazenagem
As carcaas dos pneus so identificadas pelas suas caractersticas e armazenadas at inspeco.
Inspeco
As carcaas de pneus so sujeitas a uma anlise pormenorizada do seu estado de conservao. Esta operao pode ser realizada
utilizando mquinas especficas que ajudam a expor as diferentes partes do pneu, permitindo assim identificar a existncia de
falhas, defeitos superficiais ou objectos estranhos. As carcaas em boas condies podem seguir directamente para o processo
de fabrico ou, em alguns casos, serem sujeitas a reparaes.
Raspagem ou grosagem
Esta operao consiste na raspagem da superfcie da carcaa para remover a banda de borracha remanescente, de forma a
definir a geometria da carcaa e preparar a textura da superfcie para receber a nova borracha. Nesta operao podero ser
ainda efectuadas ligeiras reparaes, corrigindo pequenos defeitos da carcaa.
Aplicao de cola ou cimentao
A cola aplicada na carcaa, previamente preparada, aumentando desta forma a adeso da banda de borracha que colocada na
carcaa, formar o novo piso do pneu. A cola constituda por uma mistura de borracha e solvente.
Enchimento ou aplicao do piso
A aplicao do novo piso na carcaa feita de acordo com o tipo de vulcanizao a que se destina. No processo a frio, a banda de
borracha pr-moldada colocada na carcaa e procede-se sua calcao para melhorar a adeso.
No processo a quente, a banda de borracha no vulcanizada aplicada na carcaa, seguindo depois para o processo de
vulcanizao por prensa onde adquire a sua forma final.
Vulcanizao
No processo a frio necessrio introduzir o pneu em envelopes de borracha, onde por aco do vcuo se promove a adeso do
piso carcaa. O conjunto introduzido nos autoclaves e sujeito a um ciclo de presso e temperatura.
No processo a quente, o pneu introduzido em moldes aquecidos por vapor, adquirindo o perfil de piso pretendido. Devido
temperatura atingida (cerca de 150C), a borracha passa por uma transformao qumica, onde so formadas ligaes por pontes
de enxofre que conferem borracha as suas propriedades finais de elastmero.
Inspeco final
Procede-se ao exame rigoroso dos pneus para deteco de eventuais defeitos de moldagem ocorridos no processo de
vulcanizao. Verifica-se, tambm, se o pneu obedece s especificaes tcnicas requeridas.
Acabamentos
So eliminadas as rebarbas/picos resultantes da moldagem e procede-se pintura da superfcie do pneu.
017
018
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Rotulagem e expedio
Aps identificao do pneu de acordo com as suas caractersticas, procede-se ao seu armazenamento.
Subsector da Fabricao de Produtos de Borracha
Neste subsector existe uma larga variedade de processos de fabrico especficos, nomeadamente, para o fabrico de solas,
acessrios para automveis, etc., pelo que as operaes abaixo indicadas dizem respeito a um processo genrico para este
subsector.
Na figura 4 apresenta-se um fluxograma dum processo genrico da fabricao de produtos de borracha.
FIGURA 4
Subsector da Fabricao de Produtos de Borracha
Pesagem
Mistura
Batch-off
Calandragem
Extruso
Moldagem
Vulcanizao
Acabamentos
Pesagem
Nesta operao so pesadas as matrias primas necessrias s vrias formulaes, tais como borrachas de vria natureza:
pigmentos, negro de fumo, aceleradores, retardadores, activadores de vulcanizao, etc.
Mistura
Esta operao tem como objectivo a disperso homognea dos diversos ingredientes e realizada a cabo em misturadores que
podem ser de dois tipos: misturadores internos e misturadores abertos.
O misturador interno possui uma cmara dentro da qual esto dois rotores, de forma especial, que rodam em sentidos opostos e
a velocidades diferentes que permitem misturar os diferentes ingredientes.
No misturador aberto existem dois rolos paralelos e horizontais que rodam em sentido inverso e a velocidades diferentes.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O atrito produzido pelo movimento de rotao dos rolos contra a borracha produz o aquecimento da borracha e facilita a sua
mistura. As temperaturas podem chegar a 180C. Estes misturadores possuem um circuito de refrigerao que impede a subida
da temperatura para valores demasiado elevados.
No fim desta operao a borracha ainda sai quente e na forma de uma banda onde as superfcies facilmente aderem umas s outras.
Batch-off
Nesta operao, a borracha quente passa por uma soluo aquosa, que constitu um tratamento anti-aderente. As tiras de
borracha, aps um arrefecimento a ar, so cortadas e empilhadas para utilizao posterior. A borracha pode ento seguir para
as operaes de formao como a calandragem de tecidos ou metais, a extruso de perfis ou a moldagem.
Calandragem
Na calandragem as tiras de borracha passam por um conjunto de cilindros paralelos e polidos (calandra) e so transformadas
em finas folhas de espessura previamente determinada. Nesta operao podem ser incorporados na borracha, txteis, napas ou
fios metlicos.
As tiras de borracha obtidas podem ser cortadas com a largura desejada e seguir para a vulcanizao, para a confeco de
produtos mais complexos ou, em certos casos, embaladas, pesadas e distribudas.
Extruso
Esta operao permite dar borracha a forma e espessura desejada fazendo-a passar pela extrusora. A borracha comprimida
atravs da fieira, que pode ter variadas formas de acordo com o perfil final pretendido. Para conseguir passar pela fieira a
borracha atinge temperaturas que podem chegar aos 150C.
Moldagem
Na moldagem dada ao produto a forma pretendida atravs da utilizao de moldes e pela aco do calor. Esta operao de
formao diferente da extruso e da calandragem, uma vez, que ocorrem simultaneamente a formao e a vulcanizao.
Existem diversos tipos de moldagem, como a moldagem por compresso, por transferncia e por injeco.
Vulcanizao
Por aco do calor (150 a 170C), a borracha passa por uma transformao qumica onde so formadas ligaes por pontes de
enxofre que conferem borracha as suas propriedades finais de elastmero.
Em funo do artigo pretendido, a vulcanizao pode ser realizada em autoclaves, em fornos de microondas e ainda em prensas.
Acabamentos
Os diferentes nveis de exigncia dos produtos finais fazem com que exista uma grande variedade de operaes de acabamentos.
Podem incluir a eliminao de rebarbas, pintura, cosido, halogenao, fresagem, corte, etc.
019
020
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
2.1.3 Principais Riscos
QUADRO 3
Principais riscos associados Indstria da Borracha
Principais riscos da Indstria da Borracha
Actividade
Recepo de
matrias-primas
Factores de
Risco
Movimentao de
cargas pesadas
e/ou volumosas
Repetitividade das
tarefas
Risco
Medidas de Preveno
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Rotatividade dos trabalhadores
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Forma de
acondicionamento
e apresentao
das matriasprimas
Armazenagem
incorrecta de
mercadoria, com
possibilidade de queda
Definio e implementao de regras de
armazenagem
Circulao de
empilhadores nas
reas de trabalho
e circulao de
pessoas
Atropelamento
Separao/delimitao das reas de
trabalho e de circulao
Queda de materiais
Colocao de equipamentos para a correcta
armazenagem dos materiais
Verificao peridica das condies de
segurana dos empilhadores
Formao dos manobradores
Capotamento do
Empilhador
Promover formao para a conduo segura
de empilhador
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos
pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
Pesagem
Repetitividade da
operao de
carga e descarga
de moinhos
Esforo fsico excessivo
Adopo de posturas
incorrectas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Instalao e utilizao de tapetes
transportadores para alimentao
Rotatividade dos trabalhadores
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Principais riscos da Indstria da Borracha
Actividade
Pesagem
(cont.)
Factores de
Risco
Incorrecta
movimentao
manual de cargas
Risco
Esforo fsico excessivo
Adopo de posturas
incorrectas
Medidas de Preveno
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Organizao do trabalho
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Forma de
acondicionamento
e apresentao de
matrias-primas
Armazenagem
incorrecta de
mercadoria, com
possibilidade de queda
Definio e implementao de regras de
armazenagem
Libertao de
poeiras
Doenas respiratrias
Instalar sistemas eficazes de aspirao de
poeiras
Alergias
Sensibilizar os trabalhadores para o uso de
proteco respiratria
Sinalizao adequada
Contacto com
substncias
perigosas
Alergia
Irritao drmica
Sensibilizar os trabalhadores para uso de
vesturio de proteco que cubra a
totalidade do corpo e no permitir uso de
camisolas de mangas curtas ou cales
Sinalizao adequada
Trabalhos nas
proximidades de
mquinas que
libertam calor
Queimaduras por
contacto com
superfcies quentes
Uso de luvas resistentes a temperaturas
elevadas
Desconforto trmico/
/Stress trmico
No Vero, ajustar os horrios de trabalho
tendo em conta os perodos do dia em que
as temperaturas so mais amenas
Sinalizao das superfcies quentes
Instalar sistemas de climatizao
Trabalhos nas
proximidades de
mquinas que
libertam calor
Desconforto trmico/
/Stress trmico
Promover boas condies de ventilao nos
locais de trabalho
Sensibilizar os trabalhadores para a
necessidade de ingesto frequente de gua,
evitar o consumo de alimentos ricos em
gorduras e caf em excesso
Incndio
Sistemas de deteco e extino de
incndios
Sinalizao adequada
021
022
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Principais riscos da Indstria da Borracha
Actividade
Vulcanizao
Factores de
Risco
Funcionamento
de mquina de
vulcanizao e
prensas
(Mquinas
ruidosas e com
emisso de calor)
Risco
Medidas de Preveno
Riscos mecnicos
Manuteno de mquinas
Proteco de partes mveis
Operadores com formao e experincia
Sinalizao de partes perigosas
Exposio ao rudo
Encapsulamento de motores e isolamento
de superfcies
Colocao de materiais absorventes
Rotatividade de postos de trabalho para
diminuio dos tempos de exposio ao rudo
Utilizao de protectores de ouvido
Sinalizao adequada
Queimaduras por
contacto com
superfcies quentes
Uso de luvas resistentes a temperaturas
elevadas
Desconforto
Trmico/Stress trmico
No Vero, ajustar os horrios de trabalho
tendo em conta os perodos do dia em que
as temperaturas so mais amenas
Sinalizao das superfcies quentes
Instalar sistemas de climatizao
Promover boas condies de ventilao nos
locais de trabalho
Sensibilizar os trabalhadores para a
necessidade de ingesto frequente de gua,
Evitar o consumo de alimentos ricos em
gorduras e caf em excesso
Incndio
Sistemas de deteco e extino de
incndios
Sinalizao adequada
Exposio a
compostos
orgnicos volteis
Dores de cabea
Irritao dos olhos, das
mucosas e do sistema
Instalar sistemas eficazes de aspirao de
vapores
Sensibilizar os trabalhadores para a o uso
de equipamentos de proteco respiratria
Sinalizao adequada
Permanncia em
p durante longos
perodos, para
verificao de
etapa
Esforo fsico excessivo
Rotatividade dos trabalhadores
Adopo de posturas
incorretas
Instalao de tapetes antivibratrios
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Mecanizao do transporte de cargas
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Esforo visual
para verificao
da etapa
Iluminao insuficiente
Privilegiar a iluminao natural dos locais
de trabalho
Iluminao geral adequada e iluminao
localizada, sempre que necessrio, de modo
a assegurar nveis de iluminao adequados
Eliminar todas e quaisquer situaes de
encadeamento ou reflexos
Limpeza e manuteno peridicas das
luminrias
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Principais riscos da Indstria da Borracha
Actividade
Embalagem
Factores de
Risco
Trabalho com
equipamentos
ruidosos
Risco
Exposio ao rudo
Medidas de Preveno
Encapsulamento de motores e isolamento
de superfcies
Colocao de materiais absorventes
Rotatividade dos postos de trabalho para
diminuio dos tempos de exposio ao rudo
Utilizao de protectores de ouvido
Trabalho com
equipamentos
que transmitem
vibraes
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos
pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
Contacto com
elementos
mveis de
mquinas
Riscos mecnicos
Proteco das partes mveis
Manuteno de mquinas
Operadores com formao e experincia
Sinalizao das partes perigosas
Movimentao
manual de cargas
Esforo fsico excessivo
Mecanizar o transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Rotatividade dos trabalhadores
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Instalao de sistemas de climatizao
Elevada
temperatura nos
locais de trabalho
Assegurar uma boa ventilao natural e/ou
forada
Disponibilizar vesturio adequado para os
trabalhadores
Disponibilizar gua potvel de forma
gratuita
Instalaes de
moldes
Utilizao de
pontes rolantes
para a instalao
de moldes
pesados
Queda de objectos
pesados
Manuteno de pontes rolantes
Armazenagem
Armazenagem
incorrecta
Queda de objectos por
derrube e
desprendimento
Definio e implementao de regras de
armazenagem
Leses
msculo-esquelticas
Posturas adequadas para a realizao da
tarefa
Posturas
inadequadas na
movimentao
manual de cargas
Definio de caminhos para passagem de
carga
Uso de EPI adequados ao risco
Armazenagem em estante com identificao
de carga mxima ou sobre palete,
devidamente acondicionado
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores na movimentao manual de
cargas
023
024
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Principais riscos da Indstria da Borracha
Actividade
Armazenagem
(cont.)
Factores de
Risco
Circulao de
empilhadores
Risco
Medidas de Preveno
Atropelamento
Separao/delimitao das reas de
trabalho e de circulao
Queda de materiais
Colocao de equipamentos para a correcta
armazenagem dos materiais
Verificao peridica das condies de
segurana dos empilhadores
Formao dos manobradores
Capotamento do
empilhador
Formao para a conduo segura de
empilhador
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos
pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
Manuteno
Uso de
ferramentas
manuais
Exposio ao rudo
Movimentao
mecnica e
manual de cargas
Queda de material
Trabalho de corte
e soldadura
Uso de
substncias
qumicas
perigosas
Servios
administrativos
Exposio a vibraes
Posturas inadequadas
Sobresforos
Exposio a produtos
qumicos perigosos
Exposio a poeiras,
fumos, vapores
perigosos
Uso de
equipamentos
ruidosos
Riscos elctricos
Utilizao de
equipamentos
dotados de visor
Adopo de posturas
incorrectas
Psicossociais
(monotonia)
Trabalho prolongado
com ecrs de
visualizao
Iluminao insuficiente
Uso de equipamento de proteco individual
adequado ao risco (luvas, protectores
auriculares, mscara e botas de proteco,
mscara de soldador, vesturio de
proteco)
Manuteno e verificao dos equipamentos
de trabalho e das instalaes elctricas
Procedimentos de controlo de fontes de
energia
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Alterao do posto de trabalho, de modo a
serem respeitados os princpios
ergonmicos
Melhoria das condies de iluminao
Pausas regulares
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
MANUAL DE BOAS PRTICAS
2.2 INDSTRIA DAS MATRIAS PLSTICAS
A Indstria das Matrias Plsticas compreende diversas actividades de acordo com a classificao da actividade econmica que lhe
foi atribuda. No quadro seguinte so descritas as actividades por CAE.
2.2.1 Actividades da Indstria das Matrias Plsticas
QUADRO 4
Actividades da Indstria das Matrias Plsticas
CAE
Actividade
222
Fabricao de artigos de matrias plsticas
22210
Fabricao de chapas, folhas, tubos e perfis de plstico
22220
Fabricao de embalagens de plstico
22230
Fabricao de artigos de plstico para a construo
22291
Fabricao de componentes de plstico para calado
22292
Fabricao de outros artigos de plstico, n.e.
2.2.2 Descrio do processo de fabrico
O processo de transformao de plsticos inclui as seguintes principais fases:
Preparao da matria-prima
Para se garantir uma boa fabricao e, respectivamente, boas propriedades na utilizao posterior do plstico, necessrio
prepar-lo adequadamente. Desta forma, atravs da preparao, os plsticos obtm as propriedades de fabricao e utilizao
necessrias. A figura abaixo mostra uma viso geral das diferentes etapas de preparao da matria-prima.
FIGURA 5
Preparao da matria-prima
Preparao
Moagem
Dosagem
Frio
Quente
Granulagem
Mistura
Aditivos
025
026
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A preparao tem dois objectivos importantes: por um lado, assegurar uma distribuio uniforme dos aditivos na matria prima;
por outro, obter a forma (por exemplo granulado) que facilite o posterior fabrico.
Aditivao e Dosagem
Aditivos
Pode-se variar as propriedades dos plsticos atravs de uma preparao orientada dos seus aditivos.
QUADRO 5
Aditivos para o Fabrico do Plstico
ADITIVOS
EFEITO
Antioxidantes (termoestabilizadores)
Impedem as reaces de degradao do plstico por oxidao
Fotoestabilizantes
Impedem as reaces de degradao do plstico por
incidncia luminosa (luz UV)
Lubrificantes
Influem nas propriedades de fabricao do plstico durante a
plastificao
Diluentes
Reduzem o mdulo de elasticidade
Pigmentos
Coloram o plstico
Reforos
Elevam o mdulo de elasticidade
Dosagem
Como a introduo de aditivos na matria-prima depende de uma correcta dosagem de cada componente necessrio que se
meam as quantidades. A medio pode ser feita de duas maneiras: por volume ou por peso de plstico.
A medio pelo volume tem a desvantagem de ser relativamente imprecisa, uma vez que os materiais so normalmente
apresentados em gros. Os espaos entre os gros so de diferentes dimenses, de forma que para os mesmos volumes
geralmente as parcelas relativas de componentes so diferentes. A vantagem o preo relativamente baixo dos aparelhos.
A medio por peso, isto , a pesagem, consideravelmente mais precisa e muito mais fcilmente automatizvel do que a
medio por volume. Infelizmente os equipamentos necessrios so bem mais caros.
Mistura
O objectivo da mistura distribuir os aditivos, de maneira mais homognea possvel, no plstico sem tension-los
demasiadamente. Isto acontece, em regra geral, em mquinas com trabalho descontnuo, que geram um movimento relativo
entre os materiais a serem misturados. O processo de mistura dividido em dois; mistura a frio e a mistura a quente.
Mistura a frio
A mistura a frio acontece temperatura ambiente. As partes individuais de componentes so apenas misturadas entre si. Um
exemplo deste processo de mistura o misturador de queda livre, no qual o processo de mistura acontece somente pela
influncia da fora da gravidade. Serve, principalmente, para misturar materiais de tamanhos de gros variados.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Mistura a quente
Na mistura a quente acontece um aquecimento dos componentes. temperatura de 140C, determinados aditivos fundem-se e
difundem-se no plstico. Os misturadores de moinhos so exemplos de misturadores a quente.
Extruso
Introduo
A extruso o fabrico de um semi-manufacturado contnuo de plstico. O espectro de produtos estende-se de simples semi-manufacturados como tubos, placas e filmes at perfis complicados. Tambm possvel um processamento adicional directo ou
semi-manufacturado ainda quente, por exemplo, por sopro ou calandragem. Como o plstico completamente fundido durante a
extruso e adquire uma forma completamente nova, classifica-se a extruso como processo de moldagem.
Extrusora
A extrusora o componente padro em todas as instalaes e processos baseados em extruso. Tem como funo produzir um
fundido homogneo de plstico alimentado normalmente granulado ou em p, e conduzi-lo com a presso necessria atravs
da ferramenta. Uma extrusora composta pelas partes mostradas na figura 6.
FIGURA 6
Extrusora
Funil
O funil tem a funo de alimentar por igual a extrusora com o material a ser processado. Como geralmente os materiais no
escorregam por si s, os funis so equipados com um agitador adicional.
Parafuso (Rosca)
O parafuso exerce vrias funes como, por exemplo, puxar, transportar, fundir e homogeneizar o plstico e , por isso, a pea
principal de uma extrusora. O mais difundido o parafuso de trs zonas, j que com ele podem ser processados trmica e
economicamente a maioria dos termoplsticos.
027
028
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 7
Parafuso de trs zonas
Na zona de entrada (alimentao), o material, ainda na sua forma rgida, introduzido e transportado para a frente.
Na zona de compresso o material compactado e fundido pela variao do dimetro do parafuso.
Na zona de sada (calibragem), o material fundido homogeneizado e elevado temperatura de processamento desejada.
Uma caracterstica dimensional importante a relao entre o comprimento e o dimetro externo (L/D). Esta relao determina
a potncia da extrusora.
Alm do uso geral do parafuso de trs zonas, tambm podem ser utilizados outros tipos de rosca para aplicaes especficas.
Independentemente da sua forma construtiva, so colocadas as seguintes exigncias para todos os parafusos e,
consequentemente, para as extrusoras:
Avano constante, sem pulsao;
Produo de um fundido homogeneizado trmica e mecanicamente;
Processamento do material abaixo das suas faixas limites de degradao trmica, qumica e mecnica.
Do ponto de vista econmico, exigida produo em grande escala com baixo custo. No entanto, estas exigncias s podem ser
preenchidas se existir uma boa combinao de parafuso com cilindro, uma vez que os dois trabalham intimamente ligados.
Cilindro
A diferena entre cada extrusora reside no tipo de construo do cilindro (quadro 6.)
QUADRO 6
Diviso das extrusoras por tipo de construo do cilindro
EXTRUSORA
TIPO DE CILINDRO
Parafuso nico
- convencional
- extraco rgida
Duplo parafuso
- mesmo sentido de giro
- sentido inverso de giro
A extrusora de parafuso nico convencional possui um cilindro interno liso. A presso necessria para vencer a resistncia da
ferramenta formada na zona de sada. O material transportado pelo atrito entre os prprios pedaos de material bem como
entre os pedaos e a parede do cilindro.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Na extrusora de parafuso nico com extraco rgida a parede do cilindro guarnecida ao longo da zona de entrada com
ranhuras longitudinais. Estas ranhuras proporcionam um melhor transporte e, com isso, melhor compactao do material.
A formao de presso acontece j na zona de entrada.
Todavia, necessria a utilizao de peas especiais para obteno da mistura na zona de sada, j que a homogeneizao do
material neste tipo de extrusora pior do que na convencional.
A extrusora de duplo parafuso com sentido inverso de giro utilizada para materiais em p e, especialmente, para o PVC.
A vantagem deste tipo de extrusora que os aditivos so facilmente misturados no plstico.
No cilindro em forma de 8, os parafusos so construdos de maneira a serem formadas cmaras fechadas entre os eixos,
obrigando o material a avanar (Fig. 8). Somente no final do parafuso, onde a presso gerada, aparece um fluxo escorrido e o
material funde graas ao atrito.
FIGURA 8
Extrusora de duplo caracol
A vantagem desta extrusora que para tempos de passagem curtos e altas temperaturas podem ser processados materiais
sensveis sem que seja ultrapassado o limite de degradao.
A extrusora de duplo parafuso com mesmo sentido de giro utilizada, na maioria das vezes, para a preparao de poliolefinas.
O material avana devido ao atrito entre parafuso e cilindro.
Sistema de aquecimento
A fuso do material na extrusora no ocorre apenas devido ao atrito, mas tambm por introduo externa de calor. Para isso
existe o sistema de aquecimento. O sistema dividido em vrias zonas, que podem ser aquecidas ou resfriadas isoladamente.
So utilizadas geralmente resistncias em tiras; no entanto, outros sistemas tambm so empregados, como, por exemplo,
serpentinas de lquidos.
Desta forma pode-se obter uma determinada distribuio de temperatura ao longo do cilindro. Para o processamento de
materiais termicamente sensveis, so utilizados, por vezes, parafusos aquecidos.
Materiais processados
Na extruso so processados materiais que tambm so utilizados na injeco. Todavia, existe uma grande diferena entre os
dois processos e a partir da, resultam variadas exigncias ao material. Enquanto que na injeco desejvel baixa viscosidade e
alta fluidez, na extruso exigida alta viscosidade. Esta alta viscosidade garante que o material no escoe entre a sada do bico e
a entrada do calibrador. No quadro 7 esto listados alguns exemplos de aplicao (extrudados), obtidos a partir do processo de
extruso.
029
030
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 7
Extrudados
PLSTICO
FAIXA DE TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO
EXEMPLOS DE APLICAO
PE
130 - 200 C
Tubos, filmes, revestimentos
PP
180 - 260 C
Tubos, filmes, planos, fitas
PVC
180 - 210 C
Tubos, perfis
PMMA
160 - 190 C
Tubos, perfis
PC
300 - 340 C
Perfis, corpos ocos
Princpio de funcionamento da extrusora
O princpio de funcionamento da extrusora assemelha-se ao moedor de carne. Como j mencionado, o material puxado na zona
de entrada e empurrado para a zona de compresso. A compactado pela diminuio gradativa da altura de passagem, e levado
ao estado de fundido. Na zona de sada o material ainda mais homogeneizado e igualmente aquecido.
Dependendo de cada tipo de extrusora, a presso obtida na zona de entrada ou na sada. Como o processo de fuso no fornece
sempre uma massa fundida completamente homognea, para estes casos so construidas, no parafuso, zonas de mistura.
Injeco
Introduo
A injeco o principal processo de fabricao de peas de plstico. Cerca de 60% de todas as mquinas de processamento de
plsticos so injectoras. Com elas podem ser fabricadas peas desde miligramas at 90 kg. A injeco classifica-se como um
processo de moldagem. Na fig. 9 apresentado um esquema do processo de injeco.
FIGURA 9
Processo de injeco (esquema)
Etapa I - Plastificao
Etapa II - Injeco
Etapa III - Desmoldagem e Extraco
O processo de injeco adequado para produo em massa, uma vez que a matria-prima pode geralmente ser transformada
em pea pronta numa nica etapa. Ao contrrio da fundio de metais e da prensagem de durmeros e elastmeros, na injeco
de termoplsticos, com moldes de boa qualidade, no surgem rebarbas. Desta forma o retrabalho de peas injectadas pouco e,
s vezes, nenhum. Assim podem ser produzidas mesmo peas de geometria complexa numa nica etapa.
Em regra geral, os termoplsticos so processados por injeco, mas tambm podem ser processados durmeros e
elastmeros. Decisivo para a rentabilidade do processo o nmero de peas produzidas por unidade de tempo. Depende
MANUAL DE BOAS PRTICAS
fortemente do tempo de resfriamento da pea no molde e este, da maior espessura da parede da pea. O tempo de resfriamento
cresce com o quadrado da espessura da parede. Por motivos econmicos, muito rara a produo de peas com grandes
espessuras de parede. Normalmente no se encontram paredes de 8mm ou mais.
possvel listar as seguintes caractersticas sobre a injeco:
Passagem directa de material fundido para pea pronta;
No necessrio nenhum ou apenas pouco retrabalho da pea;
Processo totalmente automatizvel;
Elevada reprodutividade da pea;
Elevada qualidade da pea.
Mquina Injectora
Injectoras so, em regra geral, mquinas universais. A sua funo abrange a produo descontinuada de peas, preferencialmente a
partir de fundidos macromoleculares, apesar de a moldagem ocorrer sob presso (definio pela DIN 24450).
O preenchimento destas funes executado pelos diferentes componentes de mquinas injectoras (Fig.10).
FIGURA 10
Estrutura de uma mquina injectora
Unidade de injeco
Neste componente o plstico fundido, homogeneizado, transportado, doseado e injectado no molde. A unidade de injeco tem
assim duas funes. Uma a plastificao do plstico e outra a sua injeco no molde. Actualmente comum o uso de
mquinas de parafuso. Estas injectoras trabalham com um parafuso, que tambm serve de mbolo de injeco (Fig.11).
O parafuso gira num cilindro aquecvel, ao qual o material alimentado por cima atravs de um funil.
FIGURA 11
Unidade de injeco de uma injectora de parafuso
031
032
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A unidade de injeco move-se, geralmente, sobre a mesa da mquina. Regra geral, podem ser substitudos o cilindro, o parafuso
e o bico de injeco, de forma a poderem ser ajustados ao material a ser processado ou tambm ao volume de injeco.
Unidade de fecho
A unidade de fecho das injectoras assemelha-se a uma prensa horizontal. A placa de fixao no lado do bico de injeco fixa e a
placa de fixao no lado do fecho mvel, de maneira a que deslize sobre as colunas. Sobre estas placas de fixao verticais so
fixados os moldes de maneira que as peas prontas possam cair.
As vantagens destes sistemas so a sua alta preciso, qualquer posicionamento, sem perigo de deformaes inadmissveis do
molde e quebra de colunas. As desvantagens so a baixa velocidade de fecho, a baixa rigidez da unidade de fecho, principalmente
devido a alta flexibilidade do leo e elevado consumo de energia.
Mesa de mquinas e gabinete de controlo
A mesa da mquina serve para abrigar as unidades de plastificao e de fecho. Isto inclui o tanque para o leo hidrulico e o
mecanismo hidrulico. Muitas vezes tambm a instalao de comando e operao colocada directamente na mesa da mquina.
O departamento de controlo incorpora os instrumentos, os componentes elctricos, os reguladores e o sistema de fornecimento
de energia. Isto corresponde unidade de comando e calibragem da mquina. Em mquinas modernas a introduo dos
parmetros feita por teclado e telas de dilogos. O microprocessador instalado no gabinete controla o andamento do comando,
supervisiona os dados de processo e produo, armazena dados e documenta o processo.
Molde
O molde no pertence directamente mquina injectora, uma vez que, para cada pea, deve ser construdo individualmente.
composto no mnimo de duas partes principais, sendo cada uma fixa numa placa de fixao da unidade de fecho. O tamanho
mximo do molde definido pelo tamanho da placa de fixao e pela distncia entre duas colunas vizinhas da mquina.
O molde composto essencialmente dos seguintes elementos:
Placa com as cavidades;
Sistema de alimentao;
Sistema de troca de calor;
Sistema de extraco.
Estes elementos cumprem essencialmente as seguintes funes:
Receber e distribuir o fundido;
Moldar o fundido na forma de pea.
Sopro
O processo de sopro consiste basicamente na expanso de uma pr-forma de material plstico aquecido, sob aco de ar
comprimido, contra a parede de um molde bipartido. O material expandido respira e endurece quando entra em contacto com a
superfcie do molde e extrado aps a abertura da ferramenta.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A pr-forma soprada pode ser extrudada ou injectada. No caso da pr-forma extrudada, utiliza-se uma extrusora convencional
para produzir um ncleo tubular entre as duas metades do molde. Ao ser atingido o comprimento adequado, o molde fecha
esmagando as extremidades do tubo, e uma faca corta-o rente extrusora. O mandril de sopro inserido numa abertura, para
que ocorra o sopro de ar comprimido no interior do ncleo, provocando a sua expanso. Quando a pr-forma injectada, uma
pea injectada, com a forma e espessura de parede adequada, para ser posteriormente transferida a uma estao de sopro,
onde aquecida, soprada e resfriada.
Na fabricao de embalagens, os processos que se destacam so os filmes, os frascos soprados, os frascos e tampas injectadas,
os filmes laminados, que propiciam a proteco adequada a diversos produtos, os sacos de rfia e recipientes termoformados.
Rotomoldagem
A rotomoldagem, tambm chamada de moldagem rotacional ou fundio rotacional, um processo de transformao de
plsticos adequado ao fabrico de uma gama de artigos ocos, vazados ou abertos. Do ponto de vista tecnolgico, no h limites
quanto s dimenses dos produtos. As caractersticas do processo conferem s peas propriedades que lhes permitem competir
com artigos de plstico reforado com fibras-de-vidro e com termoplsticos moldados por sopro, injeco e termoformagem.
A tcnica de moldagem (etapas do processo) provavelmente ainda a menos sofisticada entre as empregadas na indstria do
plstico. Entretanto, o amadurecimento tecnolgico do processo vem sendo confirmado pelas inovaes em equipamentos,
materiais e tcnicas de acabamento e de controlo de processo apresentada nos ltimos quatro anos, o que se reflete no
expressivo crescimento da sua indstria a nvel mundial, com taxas anuais de 10 a 15% no final da dcada de 90, contra os 6 a 7%
referentes a todo a sector de transformao de plsticos.
Basicamente, o processo de rotomoldagem envolve quatro etapas:
Carregamento: as cavidades de um ou mais moldes bipartidos, abertos, so carregadas com uma quantidade
pr-determinada de material, geralmente em p (em pasta, no caso do PVC, ou lquidos reactivos); aps o carregamento os
moldes so manualmente fechados por cintas ou grampos.
Aquecimento e moldagem: os moldes so posicionados num forno e rotacionados biaxialmente, de modo que o material, ao
atingir a sua temperatura de adeso, comea a ser depositado sobre a superfcie interna, formando camadas relativamente
uniformes. medida que as camadas se formam, as partculas do p fundem e sinterizam, resultando uma massa de
material com bolhas internas (decorrentes do ar entre as partculas). Com o tempo, as bolhas so total ou parcialmente
eliminadas, densificando a camada de plstico fundido aderida ao molde.
Resfriamento: ainda em rotao, para evitar escoamento do material e taxas de resfriamento no uniformes, os moldes so
removidos do forno para que a remoo de calor dos moldes seja feita pelo ar ambiente, por ar forado ou ainda por
asperso de gua (neblina).
Desmoldagem: terminado o tempo previsto para a solidificao e resfriamento complementar das peas, os movimentos
rotativos so cessados e os moldes so abertos, para que as mesmas sejam removidas manualmente.
Duas caractersticas da rotomoldagem so singulares em relao aos demais mtodos de transformao de termoplsticos:
No h necessidade de aplicao de presso sobre material plastificado para a moldagem, que ocorre basicamente pela
aco da fora da gravidade; em todos os outros processos, o material submetido s grandes foras de cisalhamento para
ser conformado.
A fuso do material plstico e a solidificao do moldado ocorrem no mesmo local, ou seja, o molde precisa ser aquecido e
resfriado em cada ciclo, e no h necessiade de plastificar o material rapidamente como nos parafusos de extrusoras e
injectoras.
033
034
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Destas caractersticas, e do facto do resfriamento ocorrer apenas num dos lados da pea (parede do molde), decorrem a maioria
das vantagens e desvantagens do processo:
Baixo custo das ferramentas e simplicidade das mquinas, por no haver altas presses de moldagem envolvidas. Para
peas sem requisitos exigentes de qualidade e repetitividade, a mquina e o molde costumam ser montados pelo prprio
transformador. Os moldes de alumnio fundido ou chapas metlicas dobradas e soldadas tm formato de casca, usando
muito menos material que os moldes para outros processos; so desprovidos de sistemas complexos para resfriamento,
extraco e alimentao, e so fabricados em poucas semanas, praticamente no requerendo muitas horas das caras e
demoradas operaes de maquinagem;
Frequente ausncia de problemas microestruturais criados pelo cisalhamento do material e resfriamento no uniforme,
como orientaes moleculares desfavorveis, linhas de solda e tenses residuais internas, tornando os rotomoldados mais
resistentes ao impacto do que os soprados e os injectados;
Distribuio razoavelmente uniforme da espessura da parede dos moldados, especialmente em relao aos soprados e
termoformados, que geralmente sofrem afinamento nos cantos decorrentes do estiramento respectivamente da pr-forma
e da chapa;
Possibilidade de modificar espessura do produto sem alterao das ferramentas: mudanas intencionais de espessura em
injectados so impossveis sem modificaes ou fabricao de novo molde, enquanto na rotomoldagem isto conseguido
apenas com a variao da quantidade de material carregado no molde;
Inexistncia de rebarbas, retalhos de chapa e canais de alimentao, caractersticas dos processos de sopro,
termoformagem e de injeco, respectivamente, que exigem despesas de reprocessamento;
Simplicidade de produo de moldados complexos, como peas com insertos, peas de parede dupla, artigos com contornos
intrincados, aberturas laterais e undercuts, que geram dificuldades ou restries aos processamentos por injeco, sopro e
termoformagem;
Baixa produo decorrente da maior durao dos ciclos de produo, que podem chegar a mais de uma hora para alguns
artigos grandes, encarecendo o produto rotomoldado;
Pequeno numero de matrias-primas adequadas ao processo, que exige capacidade de livre escoamento, em funo das
nfimas presses de moldagem;
Maior custo da matria-prima, uma vez que o material granulado convencional no pode ser usado, necessitando-se de uma
etapa de pulverizao do material comprado;
Menor controlo dimensional: em virtude de no haver molde no interior da pea, a mesma contrai livremente, facilitando
contraces excessivas, distores e empenamento, principalmente pelas tenses geradas pelo gradiente trmico entre a
parede interna do moldado e aquela em contacto com o molde;
Baixa automatizao: devido forma como o processo ocorre e ao tipo de molde usado, as operaes de carregamento,
extraco, abertura e fecho dos moldes so quase sempre manuais; de contrrio, os custos de equipamento e moldes
diminuram as vantagens econmicas do processo.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
2.2.3 Principais riscos
QUADRO 8
Principais riscos associados Indstria das Matrias Plsticas
Principais riscos da Indstria das Matrias Plsticas
Actividade
Recepo de
matrias-primas
Factores de
Risco
Movimentao de
cargas pesadas
e/ou volumosas
Repetitividade das
tarefas
Risco
Medidas de Preveno
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Rotatividade dos trabalhadores
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Forma de
acondicionamento
e apresentao
das
matrias-primas
Armazenagem
incorrecta de
mercadoria, com
possibilidade de queda
Definio e implementao de regras de
armazenagem
Circulao de
empilhadores nas
reas de trabalho
e circulao de
pessoas
Atropelamento
Separao/delimitao das reas de
trabalho e de circulao
Queda de materiais
Colocao de equipamentos para a correcta
armazenagem dos materiais
Verificao peridica das condies de
segurana dos empilhadores
Formao dos manobradores
Capotamento do
Empilhador
Promover formao para a conduo segura
de empilhador
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos
pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
Mistura
Movimentao de
cargas pesadas
e/ou volumosas
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
035
036
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Principais riscos da Indstria das Matrias Plsticas
Actividade
Mistura
(cont.)
Factores de
Risco
Libertao de
poeiras para o ar
ambiente do
trabalho
Risco
Inalao de poeiras
Medidas de Preveno
Aspirao localizada
Ventilao geral
Utilizao de mscara de proteco
Sinalizao adequada
Equipamentos
ruidosos
Exposio ao rudo
Encapsulamento de motores e isolamento
de superfcies
Colocao de materiais absorventes
Rotatividade de postos de trabalho para
diminuio dos tempos de exposio ao
rudo
Utilizao de protectores de ouvido
Sinalizao adequada
Locais de
trabalho a altura
elevada
Queda em altura
Instalao de varandins de proteco
Escadas com dimenso adequada e piso
anti-derrapante
Utilizao de equipamentos de proteco
individual
Injeco /
Insuflao
Mquinas com
elementos em
movimento
Contacto com
elementos em
movimento
Instalao de dispositivos de proteco
adequados (fixos, mveis ou amovveis), com
encravamentos elctricos (sempre que
aplicvel), com ou sem bloqueio
Verificao peridica das condies de
segurana dos equipamentos de trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Sinalizao adequada
Equipamentos
ruidosos
Exposio ao rudo
Encapsulamento de motores e isolamento
de superfcies
Colocao de materiais absorventes
Rotatividade de postos de trabalho para
diminuio dos tempos de exposio ao
rudo
Utilizao de protectores de ouvido
Sinalizao adequada
Lmina cortante
do X-acto
Corte
Aquisio de X-acto de segurana com
dispositivo de proteco na zona da lmina
Utilizao de luvas de proteco
Elevada
temperatura nos
locais de trabalho
Desconforto trmico/
/Stresse trmico
Instalar sistema de climatizao
Assegurar uma boa ventilao natural e/ou
forada
Disponibilizar vesturio adequado para os
trabalhadores
Disponibilizar gua potvel de forma
gratuita
Elevada
temperatura das
superfcies
Queimaduras
Isolamento trmico das superfcies a
contactar
Utilizao de equipamentos individuais de
proteco adequados
Sinalizar o perigo de queimadura
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Principais riscos da Indstria das Matrias Plsticas
Actividade
Inspeco
Factores de
Risco
Iluminao
insuficiente
Risco
Fadiga visual
Medidas de Preveno
Privilegiar a iluminao natural dos locais
de trabalho
Iluminao geral adequada e iluminao
localizada, sempre que necessrio, de modo
a assegurar nveis de iluminao adequados
Eliminar todas e quaisquer situaes de
encadeamento ou reflexos
Limpeza e manuteno peridica das
luminrias
Acabamento
Uso de
ferramentas
cortantes
Cortes
Contacto com
arestas vivas
(peas)
Adopo de posturas
incorrectas
Trabalho com
equipamentos
ruidosos
Exposio ao rudo
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Uso de equipamento de proteco individual
adequado ao risco (luvas e proteco
auricular)
Segurana de equipamentos de trabalho
Implementao de boas condies
ergonmicas no posto de trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Posto de trabalho
com condies
ergonmicas
deficientes
Embalagem
Movimentao de
cargas pesadas
e/ou volumosas
Circulao de
empilhadores nas
reas de trabalho
e circulao de
pessoas
Esforo fsico excessivo
Mecanizao do transporte de cargas
Adopo de posturas
incorrectas
Utilizao de equipamentos auxiliares para a
movimentao manual de cargas
Leses
musculo-esquelticas
(dorsolombares)
Organizao do trabalho
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Queda da carga
Utilizao de calado de proteco
adequado
Entalamento
Utilizao de luvas de proteco adequadas
Atropelamento
Separao/delimitao das reas de
trabalho e de circulao
Queda de materiais
Colocao de equipamentos para a correcta
armazenagem dos materiais
Verificao peridica das condies de
segurana dos empilhadores
Formao dos manobradores
Capotamento do
Empilhador
Promover formao para a conduo segura
de empilhador
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos
pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
037
038
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Principais riscos da Indstria das Matrias Plsticas
Actividade
Armazenagem
Factores de
Risco
Circulao de
empilhadores nas
reas de trabalho
e circulao de
pessoas
Risco
Medidas de Preveno
Atropelamento
Separao/delimitao das reas de
trabalho e de circulao
Queda de materiais
Colocao de equipamentos para a correcta
armazenagem dos materiais
Verificao peridica das condies de
segurana dos empilhadores
Formao dos manobradores
Capotamento do
Empilhador
Promover formao para a conduo segura
de empilhador
Exposio a vibraes
Manter o empilhador em bom estado de
conservao
Verificar periodicamente a presso dos pneus
Manter em bom estado de conservao o
pavimento
Rotatividade dos trabalhadores
Armazenamento
incorrecto do
material
Queda de materiais
Colocao de dispositivos de proteco nas
estantes de armazenagem
Construo de elevada resistncia e
estabilidade
Afixao da carga mxima a colocar em
cada prateleira
Acondicionar devidamente todo o material a
armazenar
Colocar dispositivos de proteco contra o
embate dos empilhadores
Manuteno
Uso de
ferramentas
manuais
Movimentao
mecnica e
manual de cargas
Trabalho de corte
e soldadura
Uso de
substncias
qumicas
perigosas
Servios
Administrativos
Exposio ao rudo
Exposio s vibraes
Queda de material
Posturas inadequadas
Sobresforos
Exposio a produtos
qumicos perigosos
Exposio a poeiras,
fumos, vapores
perigosos
Uso de
equipamentos
ruidosos
Riscos elctricos
Utilizao de
equipamentos
dotados de visor
Adopo de posturas
incorrectas
Psicossociais
(monotonia)
Trabalho prolongado
com ecrs de
visualizao
Uso de equipamento de proteco individual
adequado ao risco (luvas, auriculares,
mscara e botas de proteco, mscara de
soldador, vesturio de proteco)
Manuteno e verificao dos equipamentos
de trabalho e das instalaes elctricas
Procedimentos de controlo de fontes de
energia
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Alterao do posto de trabalho, de modo a
serem respeitados os princpios
ergonmicos
Melhoria das condies de iluminao
Formao, informao e sensibilizao dos
trabalhadores
Iluminao insuficiente
Longos perodos
de tempo em
posio sentada
Psicossociais
(monotonia)
Pausas regulares
MANUAL DE BOAS PRTICAS
3. ORGANIZAO DOS SERVIOS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO (SST)
Neste captulo sero apresentadas, de forma resumida, algumas obrigaes de carcter formal e organizacional no mbito da
segurana e sade no trabalho.
3.1 MODALIDADES DE ORGANIZAO DOS SERVIOS DE SEGURANA E SADE NO TRABALHO
De acordo com a legislao em vigor, Lei n. 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime jurdico da promoo da
segurana e sade no trabalho, est a cargo da entidade empregadora a organizao dos servios de segurana e sade no
trabalho, que poder assumir uma das modalidades indicadas no quadro seguinte:
QUADRO 9
Modalidades para Organizao dos Servios de Segurana e Sade no Trabalho
Modalidade do servio de SST
Descrio
Servio interno
Os servios internos de segurana e de sade no trabalho so criados pelo empregador e
fazem parte da estrutura da empresa, funcionando sob a sua dependncia e
enquadramento hierrquico e abrangem exclusivamente os trabalhadores que nela
prestam servio.
obrigatrio para entidades com:
Mais de 399 trabalhadores, ou
Que no conjunto de estabelecimentos distanciados at 50 km daquele que ocupa maior
nmero de trabalhadores e que, com este, tenham mais de 399 trabalhadores, ou
Mais de 29 trabalhadores desde que hajam actividades de risco elevado.
Considera-se servio interno o servio prestado por uma empresa a outras empresas do
grupo desde que aquela e estas pertenam a sociedades que se encontrem em relao de
domnio ou de grupo.
Servio comum
Servios criados por vrias empresas ou estabelecimentos pertencentes a sociedades
que no se encontrem em relao de grupo, nem se encontrem obrigadas a organizar
servios internos, contemplando exclusivamente os trabalhadores de cuja segurana e
sade aqueles so responsveis, atravs da celebrao de um acordo escrito. Esta
modalidade carece de autorizao do organismo competente.
Caso alguma das empresas possua pelo menos 400 trabalhadores no mesmo
estabelecimento ou no conjunto de estabelecimentos situados num raio de 50km, s
poder estabelecer este tipo de acordo se previamente tiver sido autorizada a dispensa de
servios internos de segurana e de sade no trabalho.
Servio externo
Considera-se servio externo aquele que desenvolvido por entidades que, mediante
contrato com o empregador, desenvolvem actividades de segurana ou de sade no
trabalho, desde que no seja servio comum.
Os servios externos podem revestir uma das seguintes modalidades:
a) Associativos, prestados por associaes com personalidade jurdica sem fins
lucrativos, cujo fim estatutrio compreenda, expressamente, a prestao de servio de
segurana e sade no trabalho;
b) Cooperativos, prestados por cooperativas cujo objecto estatutrio compreenda,
expressamente, a actividade de segurana e sade no trabalho;
c) Privados, prestados por sociedades de cujo pacto social conste, expressamente, o
exerccio de actividades de segurana e de sade no trabalho ou por pessoa individual
detentora das qualificaes legais adequadas;
d) Convencionados, prestados por qualquer entidade da administrao pblica central, regional
ou local, instituto pblico ou instituio integrada no Servio Nacional de Sade.
Os servios previstos esto sujeitos a autorizao, podendo ser concedida para
actividades de uma ou ambas as reas da segurana e da sade (autorizaes disponveis
no site da ACT e da DGS).
O contrato de prestao de servios deve constar de documento escrito.
Empresas com menos de 10
trabalhadores que no
exeram actividades de risco
elevado
Promoo e vigilncia da sade: Servio Nacional de Sade.
HST: Prprio empregador/ Trabalhador designado (carece de autorizao ou de renovao de
autorizao concedida pelo organismo competente para a promoo da segurana e sade no
trabalho do ministrio responsvel pela rea laboral, pelo perodo de cinco anos).
039
040
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A autorizao para a prestao de servios externos de segurana e sade no trabalho outorgada pelo Inspector-Geral do
Trabalho e pelo Director-Geral da Sade, conforme se trate de processos nos domnios da segurana no trabalho ou da sade
laboral, respectivamente e implica, nomeadamente, a prvia anlise processual e realizao de vistoria(s) entidade requerente.
Podem ser consultadas as listas das empresas autorizadas ou que se encontram a aguardar autorizao (e que por essa razo
podem exercer as actividades) nos respectivos sites das entidades.
Dever de notificao
De acordo com o n. 7 do artigo 74 da Lei n. 102/2009, de 10 de Setembro, cabe ao empregador notificar o respectivo organismo
competente da modalidade adoptada para a organizao do servio de segurana e de sade do trabalho, bem como da sua
alterao, nos 30 dias seguintes verificao de qualquer dos factos.
A notificao da modalidade de servios adoptada pelo empregador deve ser feita no modelo n. 1360 da Casa da Moeda,
estabelecido pela Portaria n. 1179/95, de 26 de Setembro, enquanto esta no for revogada por uma nova portaria conjunta dos
membros do governo responsveis pela rea da sade e laboral, como estabelece o Artigo 113 da Lei n. 102/2009.
Relatrio anual de actividades
O actual regime jurdico de promoo da segurana e sade no trabalho, a Lei n. 102/2009, define no seu artigo 112., a
obrigatoriedade do envio de informao sobre a actividade de segurana e sade no trabalho, estabelecendo ainda o seu envio
por modelo electrnico. A portaria n. 55/2010 de 17 de Dezembro veio ento regular o contedo e o prazo de entrega do relatrio
nico, sendo que a informao relativa s actividades de SST encontra-se no anexo D do relatrio. A ferramenta informtica de
preenchimento e envio do relatrio nico encontra-se no sitio da internet do Gabinete de Estratgia e Planeamento do Ministrio do
Trabalho e Solidariedade Social - http://www.gep.mtss.gov.pt/. O relatrio nico entregue anualmente durante o perodo de 16 de
Maro a 15 de Abril do ano seguinte quele a que respeita.
3.2 SERVIOS DE SEGURANA E DE SADE NO TRABALHO
A actividade dos servios de segurana e de sade no trabalho visa:
Assegurar as condies de trabalho que salvaguardem a segurana e a sade fsica e mental dos trabalhadores;
Desenvolver as condies tcnicas que assegurem a aplicao das medidas de preveno;
Informar e formar os trabalhadores no domnio da segurana e sade no trabalho;
Informar e consultar os representantes dos trabalhadores para a segurana e sade no trabalho ou, na sua falta, os
prprios trabalhadores.
3.2.1 Servios de segurana no trabalho
As actividades tcnicas de segurana no trabalho so exercidas por tcnicos superiores ou tcnicos de segurana e higiene no
trabalho, certificados pelo organismo competente para a promoo da segurana e da sade no trabalho do ministrio
competente para a rea laboral (ACT), com autonomia tcnica.
A actividade dos servios de segurana deve ser assegurada regularmente no prprio estabelecimento durante o tempo
necessrio, devendo a empresa possuir, em estabelecimento industrial:
at 50 trabalhadores: um tcnico;
acima de 50 trabalhadores: dois tcnicos, por cada 1500 trabalhadores abrangidos ou fraco, sendo pelo menos um deles
tcnico superior.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O empregador deve fornecer aos servios de segurana no trabalho os elementos tcnicos sobre os equipamentos e a
composio dos produtos utilizados, devendo estes ser informados sobre todas as alteraes dos componentes materiais do
trabalho e consultados, previamente, sobre todas as situaes com possvel repercusso na segurana dos trabalhadores.
3.2.2 Servios de sade no trabalho
As actividades de sade no trabalho devero ser exercidas por mdico do trabalho, devendo, em empresas com mais de 250
trabalhadores, ser coadjuvado por um enfermeiro com experincia adequada.
O mdico do trabalho deve prestar actividade durante o nmero de horas necessrio realizao dos actos mdicos, de rotina ou
de emergncia e outros trabalhos que deva coordenar. Dever conhecer os componentes materiais do trabalho com influncia
sobre a sade dos trabalhadores, desenvolvendo para este efeito a actividade no estabelecimento, pelo menos uma hora por ms
por cada grupo de 10 trabalhadores ou fraco. Ao mdico do trabalho proibido assegurar a vigilncia da sade de um nmero
de trabalhadores a que correspondam mais de 150 horas de actividade por ms.
Devera existir um gabinete mdico com uma rea mnima de 12 m2 e uma largura mnima de 2,60 m, bem como uma sala de
espera com uma rea mnima de 8 m2. Para empresas com mais do que 200 trabalhadores, igualmente necessrio um gabinete
de enfermagem.
De acordo com as indicaes da DGS (circular informativa de 2010), o gabinete mdico, gabinete de enfermagem e o gabinete
tcnico devem ter condies mnimas a seguir indicadas.
QUADRO 10
Equipamento necessrio no Gabinete Mdico
Equipamento mnimo do Servio de SST
Gabinete Mdico
Mobilirio: cadeira giratria de 5 pernas; cadeira simples; mesa de trabalho com, pelo menos
1.00 x 0.50m, com gavetas; banco rotativo; catre; cesto para papis; candeeiro rodado de haste
flexvel.
Equipamento / utenslios: de rasteio da viso (ex. visioteste ou titmus).
Negatoscpio simples; Estetofonendoscpio; Estigmomanmetro; Espirmetro.
Electrocardiografo; Mini-set oftalmocpio e otoscpio.
Equipamento de suporte vital de vida e de emergncia.
Gabinete de
Enfermagem
Mobilirio: cadeira giratria de 5 pernas; cadeira simples; mesa de trabalho com, pelo menos
1.00 x 0.50m, com gavetas; banco rotativo; bancada de trabalho em inox; armrio para
acondicionar material.
Equipamento / utenslios: recipientes para acondicionar resduos hospitalares (contentores
para material cortante e perfurante e balde em inox com tampa accionada por pedal).
Balana para adultos com craveira.
Material farmacutico (incluindo vacinas) e frigorifico em conformidade.
Gabinete Tcnico
Mobilirio: cadeira giratria de 5 pernas; cadeira simples; mesa de trabalho com, pelo menos
1.00 x 0.50m, com gavetas; cesto para papeis.
Equipamento / utenslios: de avaliao de factores de risco fsicos (ex: rudo, iluminao,
temperatura / humidade), qumicos, biolgicos e outros de acordo com as actividades a
desempenhar, bem como equipamentos de proteco individual.
041
042
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Exames de sade
Devem ser realizados exames de sade tendo em vista comprovar e avaliar a aptido fsica e psquica do trabalhador para o
exerccio da actividade, bem como a repercusso desta e das condies em que prestada na sade do mesmo, nomeadamente:
Exame de admisso: antes do incio da prestao de trabalho ou, se a urgncia da admisso o justificar, nos 15 dias
seguintes;
Exames peridicos: anuais para os menores de 18 anos e para os trabalhadores com idade superior a 50 anos, e de 2 em
2 anos para os restantes trabalhadores;
Exames ocasionais: sempre que haja alteraes substanciais nos componentes materiais de trabalho que possam ter
repercusso nociva na sade do trabalhador, bem como no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausncia superior a
30 dias por motivo de doena ou acidente.
Fichas de aptido
Face ao resultado do exame de admisso, peridico ou ocasional, o mdico do trabalho deve, imediatamente na sequncia do
exame realizado, preencher uma ficha de aptido (Portaria n. 299/2007, de 16 de Maro) e remeter uma cpia ao responsvel dos
recursos humanos da empresa. Se o resultado do exame de sade revelar a inaptido do trabalhador, o mdico do trabalho deve
indicar, sendo caso disso, outras funes que aquele possa desempenhar.
Sempre que a repercusso do trabalho e das condies em que o mesmo prestado se revelar nociva para a sade do
trabalhador, o mdico do trabalho deve comunicar tal facto ao responsvel pelo servio de segurana e sade no trabalho e, bem
assim, se o estado de sade o justificar, solicitar o seu acompanhamento pelo mdico assistente do centro de sade ou outro
mdico indicado pelo trabalhador.
3.3 REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A SEGURANA E SADE NO TRABALHO
Os representantes dos trabalhadores para a segurana e sade no trabalho so eleitos pelos trabalhadores por voto directo e
secreto, segundo o princpio da representao proporcional pelo mtodo de Hondt.
S podem concorrer listas apresentadas pelas organizaes sindicais que tenham trabalhadores representados na empresa ou
listas que se apresentem subscritas, no mnimo, por 20 % dos trabalhadores da empresa, no podendo nenhum trabalhador
subscrever ou fazer parte de mais de uma lista. Cada lista deve indicar um nmero de candidatos efectivos igual ao dos lugares
elegveis e igual nmero de candidatos suplentes.
Os representantes dos trabalhadores no podem exceder:
Empresas com menos de 61 trabalhadores um representante;
Empresas de 61 a 150 trabalhadores dois representantes;
Empresas de 151 a 300 trabalhadores trs representantes;
Empresas de 301 a 500 trabalhadores quatro representantes;
Empresas de 501 a 1000 trabalhadores cinco representantes;
Empresas de 1001 a 1500 trabalhadores seis representantes;
Empresas com mais de 1500 trabalhadores sete representantes.
O mandato dos representantes dos trabalhadores de trs anos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Aos representantes dos trabalhadores para a segurana e sade no trabalho deve ser assegurada formao permanente para o
exerccio das respectivas funes.
Por conveno colectiva, podem ser criadas comisses de segurana e sade no trabalho de composio paritria, constituda
pelos representantes dos trabalhadores para a segurana e sade no trabalho, com respeito pelo principio da proporcionalidade.
4. SINISTRALIDADE LABORAL
4.1 CARACTERIZAO DOS ACIDENTES DE TRABALHO
Considera-se acidente de trabalho, de acordo com o regime de reparao de acidentes de trabalho e de doenas profissionais
(Lei n. 98/2009, de 4 de Setembro), aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza directa ou indirectamente
leso corporal, perturbao funcional ou doena de que resulte reduo na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.
Considera-se tambm acidente de trabalho o ocorrido:
No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste:
Entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais de um emprego;
Entre a sua residncia habitual ou ocasional e as instalaes que constituem o seu local de trabalho;
Entre qualquer dos locais referidos no ponto precedente e o local do pagamento da retribuio;
Entre qualquer dos locais referidos nos pontos anteriores e o local onde ao trabalhador deva ser prestada qualquer forma
de assistncia ou tratamento por virtude de anterior acidente;
Entre o local de trabalho e o local da refeio;
Entre o local onde, por determinao do empregador, presta qualquer servio relacionado com o seu trabalho e as
instalaes que constituem o seu local de trabalho habitual ou a sua residncia habitual ou ocasional.
Na execuo de servios espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito econmico para o empregador;
No local de trabalho e fora deste, quando no exerccio do direito de reunio ou de actividade de representante dos
trabalhadores, nos termos previstos no Cdigo do Trabalho;
No local de trabalho, quando em frequncia de curso de formao profissional ou, fora do local de trabalho, quando exista
autorizao expressa do empregador para tal frequncia;
No local de pagamento da retribuio, enquanto o trabalhador a permanecer para tal efeito;
No local onde o trabalhador deva receber qualquer forma de assistncia ou tratamento em virtude de anterior acidente e
enquanto a permanecer para esse efeito;
Em actividade de procura de emprego durante o crdito de horas para tal concedido por lei aos trabalhadores com processo
de cessao do contrato de trabalho em curso;
Fora do local ou tempo de trabalho, quando verificado na execuo de servios determinados pelo empregador ou por ele
consentidos.
043
044
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As causas de acidente de trabalho, geralmente associam-se a:
Factores pessoais
Falta de conhecimento ou destreza;
Motivao incorrecta;
Problemas fsicos ou mentais.
Factores de trabalho
Condies inadequadas de trabalho;
Manuteno inadequada.
Causas imediatas
Mquinas e ferramentas
Instalaes mal protegidas; Instalaes no protegidas; Defeito de fabrico; Ferramenta e/ou equipamento em mau estado.
Condies de organizao
Disposio errada dos equipamentos; Armazenagem perigosa; Falta de proteco individual eficaz.
Condies de ambiente fsico
Iluminao deficiente ou inadequada; Factores imprprios de ambiente; Factores climticos desfavorveis.
Actos inseguros, como causas imediatas dos acidentes que podem estar relacionadas com:
Falta de cumprimento de ordens
Actuar sem autorizao ou sem avisar; No utilizar ou neutralizar os dispositivos de segurana; No utilizar o
equipamento de proteco individual previsto.
Maus hbitos de trabalho
Trabalhar a um ritmo anormal; utilizar ferramentas de uma maneira errada; assumir posies pouco seguras ou adoptar
posies inadequadas; distraco, brincadeiras.
4.2 PREVENO DE ACIDENTES
A melhor forma de preveno de acidentes de trabalho a informao, a consciencializao e a formao dos trabalhadores no
local de trabalho, a que acresce a aplicao de todas as medidas de segurana colectiva e individual inerentes actividade
desenvolvida.
Quando acontece um acidente/incidente deve ser investigado (logo aps a sua ocorrncia) por pessoa ou grupo de pessoas
competentes.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O objectivo da investigao de acidentes no s determinar a causa (ou causas) dos danos, mas sim o porqu de terem ocorrido
e a proposta das medidas correctivas a serem implementadas.
As aces correctivas devem basear-se nos princpios gerais da preveno:
Eliminao dos riscos ou substituio do que constitui perigo por algo menos perigoso (por exemplo: substncias ou
preparaes perigosas);
Medidas de engenharia para a proteco colectiva;
Sinalizao de segurana (advertncias, avisos);
Medidas de organizao do trabalho (elaborao de procedimentos e instrues), formao e sensibilizao;
Proteco individual.
A melhor forma de gerir os acidentes de trabalho preveni-los!
045
046
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
4.3 GESTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Sempre que ocorra um acidente de trabalho, sugere-se a implementao do procedimento apresentado no quadro seguinte.
QUADRO 11
Procedimento de Gesto de Acidentes de Trabalho
Fluxograma representativo
Assistncia
ao sinistrado
Notificao
do acidente
Descrio
Quando ocorre um acidente, o responsvel do sector e os prprios colegas do sinistrado,
devem determinar a gravidade do acidente e dependendo da situao, o sinistrado
socorrido no prprio local ou encaminhado para um centro hospitalar. Em qualquer
situao o responsvel do sector deve efectuar a sua notificao ao Responsvel da
Segurana.
O mdico de trabalho tambm dever ser informado nas situaes em que o sinistrado ficar
de baixa por um perodo superior a 30 dias. O trabalhador s dever retomar o trabalho
aps o exame mdico de aptido e nas condies que o mdico determinar.
Todos os acidentes devem ser registados independente da sua gravidade.
A empresa deve proceder comunicao do acidente Companhia de Seguros. No caso de
acidentes graves ou mortais, a comunicao deve ser feita ACT num perodo de 24 horas
aps a ocorrncia do acidente, devendo ser enviado adicionalmente o registo de assiduidade
do trabalhador em causa, dos 30 dias anteriores ao acidente.
Investigao
do acidente
O responsvel da Segurana / Tcnico Superior de Higiene e Segurana no Trabalho
/ Outros elementos da empresa que se considerem relevantes, efectuam a anlise do
acidente de trabalho, determinando as causas, devendo sempre que possvel, chegar sua
causa primria.
Devero ser recolhidos os dados complementares necessrios at que se chegue a uma
descrio detalhada e adequada. Desta investigao poder fazer parte no s o
levantamento das situaes atravs de entrevistas com os intervenientes, como tambm a
recolha de provas atravs de fotografias e imagem vdeo.
Quantificao
de custos
Devem ser simultaneamente contabilizados os custos associados ao acidente,
nomeadamente:
Custos directos (assistncia ao sinistrado, pagamento de eventuais indemnizaes,
reparao de mquinas e equipamentos, agravamento dos prmios de seguro, etc.);
Custos indirectos (baixa na produtividade, comprometimento da imagem da empresa,
etc.).
Caso no seja possvel quantificar os custos indirectos, utilizar a estimativa:
Custos indirectos = 4 ou 5 x Custos directos.
Planeamento e
implementao de
aces correctivas e
preventivas
Verificao da eficcia
das aces correctivas
O objectivo da investigao no deve ser encontrar culpados, mas sim, compreender o que
condicionou o acidente e eliminar ou minimizar as suas causas.
Aps a determinao das causas do acidente planeiam-se as aces correctivas e/ou
preventivas, com a definio de responsveis pela implementao e prazos.
Finalmente avaliada a eficcia das aces implementadas, garantindo assim a
eliminao ou reduo das causas que motivaram o acidente.
O impresso da figura seguinte um exemplo possvel para o registo de acidentes de trabalho, independentemente das suas
consequncias; o impresso da IGT (figura 13) destina-se comunicao de acidentes graves ou mortais e o modelo da figura 14
destina-se participao obrigatria das doenas profissionais.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 12
Exemplo de registo de acidente de trabalho
047
048
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 13
Modelo de participao de acidentes de trabalho graves ou mortais
Ex.mo/a Senhor/a
(Sub)Delegado(a) da IGT
Comunicao de acidente de trabalho:
mortal
m
ggrave
1. Identificao do empregador
Denominao Social: ......................................................................................................................
Actividade ou objectivo social: ........................................................................................................
CAE: ............................. N. de pessoa colectiva ou entidade equiparada: ...................................
Sede: (endereo, telefone, fax e correio electrnico): ....................................................................
.........................................................................................................................................................
Aplice de seguro de acidente de trabalho n.: .....................................Seguradora: ....................
2. Identificao do sinistrado
Nome: ....................................................................................Nacionalidade: ................................
Residncia: ........................................................................... Cdigo Postal: ................................
F
Naturalidade: ......................................................................................... Sexo: M
FF
Antiguidade na empresa: .......................................... Profisso: ...................................................
Situao profissional
Horrio praticado pelo sinistrado no
momento do acidente
Trabalhador
ou empregador
de
Trabalhados por
por conta
conta prpria
de outrem
outrem
Em
Em perodo
perodo normal
normal
TF
Trabalhador por conta prpria ou empregador
FFamiliar no remunerado
Em turno rotativo
Estagirio
Em turno fixo
O
Praticante/aprendiz
O
Outra situao
Outro horrio
Especifique:
_________________________________________
Especifique:
_______________________________
3. Dados do Acidente
Data: ......... / ....../ .......
Hora do acidente: ......... H ...........
Hora do
do acidente:
acidente: .........
......... H
H ...........
...........
Hora
049
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Local do acidente:
Nas instalaes do empregador
Em viagem de ........................ para............................ (local) ............................................
Em obra:
(identificao do dono de obra, endereo, telefone e localizao da obra): ..................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(identificao da entidade executante, endereo, telefone) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Em instalaes de outra empresa (denominao social endereo, telefone):................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Consequncias do acidente conhecidas data da comunicao:
Cessao de trabalho esperada de mais de 3 dias
Hospitalizao
Leses sofridas e danos causados: ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tarefa desempenhada pelo sinistrado no momento do acidente: .................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Circunstncias do acidente: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Durao diria e semanal do trabalho prestado pelo sinistrado nos 30 dias que antecederam o
acidente: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Anexos:
Registo dos tempos de trabalho prestado pelo sinistrado nos 30 dias que antecederam o
acidente
Data: ............. / .............../ .................
................................................................................................................................................
(assinatura e carimbo)
049
050
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 14
Modelo de participao obrigatria de doena profissional
MANUAL DE BOAS PRTICAS
4.4 TAXAS ESTATSTICAS DE SINISTRALIDADE
Os registos de acidentes devem ser considerados para o clculo das taxas estatsticas de sinistralidade. Poder assim a empresa
comparar o seu desempenho com os valores referenciados pela Organizao Internacional do Trabalho (OIT).
Taxa de Frequncia:
TF =
n. de acidentes com baixa
n. de horas homem trabalhadas
TG =
n. de dias perdidos
x 106
n. de horas homem trabalhadas
x 106
Taxa de Gravidade
Taxa de Incidncia
TI =
n. de acidentes com baixa
n. mdio de trabalhadores
x 103
Nota: De acordo com a resoluo da 6 Conferncia Internacional de Estatstica do Trabalho (1942) um acidente mortal corresponde perda de
7500 dias de trabalho.
A OIT estabelece os seguintes critrios de referncia para os ndices de frequncia e de gravidade.
QUADRO 12
Avaliao dos ndices de frequncia e de gravidade, segundo a OIT
ndice de frequncia (IF)
IF = TF
ndice de gravidade (IG)
IG = TG x 10-3
ndice de incidncia
< 20
20-50
50-80
> 80
Bom
< 0,5
0,5-1
1-2
>2
Bom
Mau
Mau
Nota: possvel comparar a taxa de gravidade com o ndice de gravidade dividindo os resultados da taxa por 1000.
A comparao das taxas obtidas com os valores de referncia da OIT permite empresa avaliar a necessidade de implementar
aces correctivas e/ou preventivas de modo a minimizar os riscos e consequentemente os acidentes de trabalho.
051
052
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
No quadro seguinte apresenta-se uma forma possvel de efectuar o registo da informao para avaliao da sinistralidade laboral.
QUADRO 13
Registo mensal de acidentes
Acidentes de Trabalho
Ms
N.
acidentes
c/baixa
N. dias
baixa
Mortal
Horas
trabalhadas
Horas
perdidas
Dias
perdidos
Taxa
frequncia
Taxa
gravidade
Comparao
valores OIT
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
4.5 FERRAMENTAS DE TRATAMENTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Integrado no programa SafeWork foi desenvolvido o Kit SafeWork, que um conjunto de ferramentas, cujo objectivo
disponibilizar s empresas, preferencialmente PMEs, um conjunto de instrumentos de apoio gesto da segurana e sade no
trabalho. Este Kit, resulta do desenvolvimento do projecto SafeWork, ao abrigo da IC EQUAL, Medida 03.02.02. Modernizao e
Inovao Organizacional. Ao nvel dos acidentes de trabalho, o programa disponibiliza a ferramenta GAT - Gesto de acidentes de
trabalho. Esta ferramenta informtica permite ao/ utilizador/a aps subscrio, registar e gerir os acidentes de trabalho, bem
como gerar um nmero alargado de indicadores que lhe permite comparar o desempenho da empresa com uma amostra do
mesmo CAE (Benchmarking), bem como analisar a evoluo do desempenho da empresa.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 15
Kit Safe Work
5. INSTALAES
Podemos afirmar que a implantao deficiente de locais de trabalho, implica riscos de acidentes de trabalho e doenas
profissionais, assim como perdas de eficincia decorrentes de fluxos fsicos e de fluxos de informao e gesto mais difceis.
5.1 CONCEPO DE LOCAIS DE TRABALHO
As condies de trabalho fornecem e condicionam um ambiente de trabalho capaz de promover, ou no, quer a produtividade,
quer a sade e segurana dos trabalhadores.
Na fase de projecto das instalaes industriais, dever-se- ter em conta a concepo dos locais de trabalho, consoante o tipo de
tarefa que se ir realizar.
Nesta concepo dos locais de trabalho deve-se ter em considerao determinados parmetros, tais como:
Estabilidade e solidez dos edifcios;
Dimensionamento dos locais de trabalho;
Paredes;
Instalao elctrica;
Vias de circulao/escadas;
Deteco e combate a incndios;
Ventilao;
Temperatura e humidade;
Iluminao;
Pavimentos;
Tectos e coberturas;
053
054
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Portas/sadas de emergncia;
Cais e rampas de carga;
Locais de descanso;
Instalaes sanitrias/vestirios;
Instalaes de primeiros socorros;
Armazenagem.
Sendo as instalaes de uma empresa um conjunto de locais/postos de trabalho onde os trabalhadores exercem diferentes
actividades, devero estas cumprir um conjunto de requisitos legais com vista garantia de promoo de um ambiente de
trabalho seguro e produtivo, devendo ser adequadas s actividades que nelas decorrem.
O nfase dado aos factores fsicos do ambiente deve ser complementado com o conhecimento do clima social e psicolgico do
local de trabalho, e a influncia que este exerce sobre a sade, o bem-estar e a qualidade de vida do trabalhador.
FIGURA 16
Objectivos do estudo dos postos de trabalho
Objectivos do estudo
dos postos de trabalho
Homem/espao de trabalho
1. Eficincia e
segurana das
combinaes:
Homem/mquina
Homem/ambiente
2. Conforto e satisfao dos trabalhadores envolvidos
5.2 ENQUADRAMENTO LEGAL
Ao abrigo da Directiva 89/654/CEE, pode-se definir local de trabalho como: O local destinado a incluir postos de trabalho,
situados nos edifcios da empresa ou do estabelecimento, incluindo todos os outros locais na rea da empresa ou do
estabelecimento a que o trabalhador tenha acesso para o seu trabalho.
QUADRO 14
mbito da directiva 89/654/CEE
Na Directiva 89/654/CEE so estabelecidas prescries mnimas de segurana e de sade para os locais de trabalho,
nomeadamente relativas a:
Estabilidade e solidez dos edifcios;
Vias de circulao e zonas de perigo;
Instalao elctrica;
Escadas e passadeiras rolantes;
Vias e sadas de emergncia;
Cais e rampas de carga;
Deteco e luta contra incndios;
Dimenses e volume de ar nos locais de trabalho;
Ventilao dos locais de trabalho;
Locais de descanso;
Temperatura dos locais de trabalho;
Instalaes sanitrias;
Iluminao natural e artificial dos locais de trabalho;
Instalaes destinadas a primeiros socorros;
Pavimentos, paredes, tectos e telhados nos locais
de trabalho;
Janelas e clarabias dos locais de trabalho;
Portas e portes;
Trabalhadores deficientes;
Locais de trabalho exteriores (disposies especiais);
Mulheres grvidas e mes em perodo de
amamentao.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Dada a sua eminente importncia no mbito das vrias vertentes da sade e segurana do trabalho, nomeadamente, iluminao,
ambiente trmico, rudo, ergonomia, emergncia, electricidade, etc., o legislador abrangeu as instalaes com diversa
regulamentao, nomeadamente quanto s prescries de segurana e sade, ou de adaptabilidade ao tipo de negcio, ou ainda
ao licenciamento das instalaes e actividade. Assim, no mbito industrial, os principais normativos a ter em conta so:
Portaria n. 53/71 de 3 de Fevereiro, alterada pela Portaria n. 702/80 de 22 de Setembro que estabelece o Regulamento
Geral de Segurana e Higiene no Trabalho nos Estabelecimentos Industriais;
Portaria n. 987/93 de 6 de Outubro que estabelece as prescries mnimas de segurana e de sade nos locais de
trabalho de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 347/93 de 1 de Outubro.
Em face da quantidade de informao estabelecida pelos diplomas e normas, nos quadros seguintes, tentaremos descrever, de
forma clara e sucinta, os principais requisitos a cumprir, que no substituem a necessidade do responsvel industrial em
analisar os documentos acima referidos, e outros complementares, atendendo s especificidades e tipologia de cada empresa.
5.3 CARACTERSTICAS GERAIS DOS EDIFCIOS
As instalaes industriais devem ser concebidas e construdas de forma a assegurar as condies necessrias de estabilidade,
resistncia e salubridade, bem como garantir a segurana compatvel com as caractersticas e os riscos nas actividades que
nelas venham a ser ou j sejam exercidas.
QUADRO 15
Caractersticas gerais das instalaes
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Implantao do edifcio
Boa acessibilidade;
Morfologia (relevo, hidrografia) do solo adequada;
Disposio de forma a potenciar as condies de insolao, iluminao e ventilao
naturais (se possvel, a fachada principal a NE-SW ou NW-SE);
Distncia mnima entre edifcios deve ser de 3 m (para garantir boas condies de
insolao, iluminao e visibilidade);
Distncia segura de linhas de alta tenso.
De acordo com o tipo
de actividade a
desenvolver, e de
acordo com a
legislao,
a implantao do
edifcio junto de outros
edifcios (industriais,
servios, escolares,
habitacionais,...)
poder ser permitida
ou no.
Vias de circulao no exterior
Devero ser seguidas as normas de sinalizao (incluindo as rodovirias);
Existncia de pelo menos dois acessos/sadas para a rua;
Acessos para veculos separados dos destinados a pessoas ou com dimenses suficientes
circulao de pees em segurana;
As vias de circulao para pees devero ter uma largura mnima de 1,20 m;
Existncia de sistemas de iluminao alternativos ao geral;
Evitar a existncia de desnveis e escadas;
No caso de poderem proporcionar quedas em altura, devero existir resguardos laterais
(0,9 m e 0,45 m) e rodap com 0,14 m.
As vias normais e de
emergncia devem
estar
permanentemente
desobstrudas e, no
caso de terem
sistemas de
fecho/encravamento,
terem as respectivas
chaves acessveis e o
chaveiro devidamente
organizado.
055
056
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Coberturas
Construo em materiais resistentes (>1200 J) a intempries e aos raios UV (estrutura e
placas);
Materiais com elevada resistncia ao fogo e reverberaes;
Existncia de clarabias/lanternins em materiais resistentes (>700 g/m2 ) para permitir a
entrada de luz e a ventilao;
Existncia de passadios e escadas de acesso (com guarda-corpos, guarda-cabeas e linha
de vida) para manuteno;
As chamins de exausto devero estar separadas dos pontos de entrada de ar
(no devero ser descurados os ventos dominantes);
Dotadas de sistemas de drenagem de guas pluviais e, no caso de necessidade, sistemas
de chuveiro para arrefecimento dos telhados;
Existncia de isolamento trmico.
No caso de coberturas
que no tenham
resistncia suficiente,
para que se lhes
possa aceder, devero
ser previstos
equipamentos de
segurana de forma a
prevenir acidentes.
Como exemplo, o
acesso efectuado por
meio de um brao
telescpico, em que o
trabalhador est
ligado a uma linha de
vida atravs do arns.
Pavimentos/pisos exteriores
Adequados ao tipo de actividade;
Compactos e uniformes;
Resistentes s cargas induzidas pela movimentao de veculos;
Resistentes s cargas do edifcio;
Dotados de sistemas de drenagem de guas pluviais cobertos com grelhas inoxidveis.
No caso de locais
onde haja
possibilidade de
existncia de
derrames de lquidos
devero ter uma
ligeira inclinao
(1 a 2%).
Paredes exteriores
Resistentes a intempries;
Bom isolamento trmico e acstico;
Resistentes ao fogo (incluindo os materiais de revestimento).
As paredes devero
garantir as condies
mnimas de segurana
e estabilidade do
edifcio.
Pisos e disposio geral
A implantao de cada piso deve ser concebida de forma a, se necessrio (p.e. incremento
da produo), poder ser alterada a sua disposio de uma forma rpida e isenta de perigos;
Preferencialmente, os armazns e as reas relacionadas com a produo devero ficar ao
nvel do solo, bem como vestirios e lavabos;
As salas, gabinetes, etc... devero ser dimensionados para o n. de pessoas que
previsivelmente trabalharo/circularo nesse espao;
A comunicao entre pisos dever ser passvel de ser cortada em caso de sinistro
(fogo, derrames/fugas de fludos, ...) de forma a evitar a sua propagao.
No caso de edifcios
com mais do que um
piso, devero existir
elevadores e montacargas por forma a
facilitar o transporte
de pessoas e bens, ou
na impossibilidade,
para alm das
escadas, devero
existir rampas de
acesso.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Paredes interiores, tectos e pavimentos
Resistentes s variaes trmicas e preferencialmente em materiais no combustveis;
Sempre que necessrio, as paredes devem ser revestidas com materiais impermeveis e de
fcil higienizao at uma altura de cerca de 1,50 m e no devero ter salincias e
revestimentos capazes de dificultar a sua limpeza;
Caractersticas de absoro de sons e de isolamento trmico;
Materiais impermeveis, ignfugos e fceis de limpar (dever ser minimizada a existncia de
juntas);
Resistentes a ataques qumicos e desgastes mecnicos;
O pavimento deve ser anti-derrapante, sem salincias, cavidades ou desnveis;
Os pavimentos em que
haja escorrncia de
lquidos ou que
tenham necessidade
de lavagens
frequentes, devem ter
a superfcie lisa e
impermevel,
inclinao ligeira e
uniforme de 1 a 2%, e
terem previstos
sistemas de
drenagem.
No caso da existncia de tapetes, estes devem ser encastrados;
Sempre que o tipo de trabalho o justifique, devero ser adoptadas medidas complementares,
como, por exemplo reforo estrutural com vista reduo da propagao de vibraes.
Janelas, clarabias, lanternins
Possibilidade de ajuste da abertura;
Dotadas de sistemas de controlo da incidncia dos raios solares (para evitar
encandeamento);
Facilmente acessveis (limpeza e manuteno);
Caractersticas de absoro de sons e de isolamento trmico;
As aberturas para o
exterior permitem a
iluminao e
ventilao naturais, no
entanto, a quantidade
de luz dever ser
avaliada, para que no
seja excessiva.
Colocadas e dimensionadas de forma a no provocarem acidentes.
Portas interiores e exteriores
Sempre que possvel, devem estar dotadas de um visor de forma a evitar colises;
As portas e portes de correr devem estar equipadas com sistemas de encravamento de
forma a no sarem das calhas de fixao;
As portas e portes de movimentao vertical devem estar equipadas com sistemas de
bloqueio de descida;
No caso de portas e portes automticos, devem estar dotadas de sistemas de deteco de
movimento (p.e. clulas fotoelctricas) por forma a poderem parar automaticamente;
As portas das vias de emergncia devero ser corta-fogo;
Dimensionadas e colocadas de forma a no obstrurem a circulao.
As portas devem
permitir, pelo seu
nmero e localizao,
a rpida sada dos
colaboradores,
visitantes e/ou
subcontratados.
Devero ser de
abertura fcil pelo
interior (p.e. barras
anti-pnico) e no
sentido de sada (salvo
se derem para a via
pblica);
recomendvel a
existncia de pelo
menos duas sadas
para o exterior por
piso.
057
058
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Vias de circulao interiores para pessoas: escadas (fixas ou rolantes) tapetes corredores rampas
Largura mnima de 1,20 m;
No caso de serem localizadas num local onde existam outras actividades (p.e. zona fabril)
devem ser delimitadas e marcadas no cho;
Piso regular e antiderrapante (ou no caso de degraus, tiras abrasivas junto ao bordo);
Resguardos laterais/corrimo no interrompidos (a 0,90 m de altura, diam. 3 a 8 cm,
afastamento da parede superior a 4 cm) e rodap - tero que ser dos dois lados se for uma
via com probabilidade de utilizao por muitas pessoas ao mesmo tempo (em escada, pode
haver necessidade de existir um corrimo intermdio dependendo da largura);
No caso de existncia de risco de queda de objectos/cargas, deve o mesmo ser assinalado e
tornado obrigatrio o uso de EPI adequados (por exemplo uso de capacete);
Inclinao no superior a 35 para escadas e 20 para rampas;
Em escadas e tapetes rolantes, devem existir dispositivos de paragem de emergncia fceis
de identificar e activar em caso de necessidade;
Existncia de patamares com largura suficiente (>= 1 m) para onde se abram as portas;
N. de degraus por lano dever situar-se entre 3 e 20, sendo que estes tm que ter iguais
dimenses e o n. mximo de lanos sem mudana de direco ser de 2;
Nas escadas curvas, os degraus devero ter a largura mnima de 0,29 m a 0,60 m da face
interior ou de 0,42 m medidos da face exterior e a altura de 0,17 m;
O clculo das
dimenses das vias de
circulao depende do
n. potencial de
utilizadores e do grau
de risco presente.
No caso de existir
movimentao de
pessoas e veculos na
mesma via, esta
dever ser
dimensionada de
forma a eliminar
qualquer possibilidade
de confronto.
Nos locais onde se
preveja a
movimentao de
macas, a largura
dever ser de 2,40 m
no mnimo para esta
poder rodar.
As vias de circulao
devero estar dotadas
de iluminao
normal e de
emergncia.
Vias de circulao interiores para veculos um veculo ou possibilidade de cruzamento
Utilizao das normas e sinalizao rodovirias (vertical e horizontal);
Evitar a hiptese de cruzamento de veculos e pessoas;
Largura mnima:
Mx. largura do veculo + 2x0,5 m (1 veculo)
Mx. largura do veculo + 2x0,5 m + 0,4 m (se houver cruzamento)
A altura das vias dever ser a dos veculos ou respectivas cargas, incrementada de 0,30 m.
O clculo das
dimenses das vias de
circulao depende do
n. potencial de
veculos que ali
circulam e do grau de
risco presente.
As vias de circulao
destinadas a veculos
devem estar
distanciadas de:
portas, portes,
passagens para
pees, corredores e
escadas, de modo a
no constiturem risco
para os seus
utilizadores.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Vias de evacuao
Um mnimo de 2 portas de emergncia por cada piso;
Distncia entre portas de emergncia no superior a 50 m;
A localizao das vias de evacuao deve ser tal, que o ngulo de impasse em caso de
emergncia no seja inferior a 45;
As portas devem estar munidas de barras anti-pnico, abrindo para o exterior;
Largura mn. de 1,20 m ou 2,40 m (se for utilizada para macas);
Devem estar munidas de iluminao de emergncia (autonomia de pelo menos 2 h);
Quando uma escada faz parte da via de evacuao, esta deve ser enclausurada ou ser
exterior (devendo obedecer s regras previstas nas vias normais de circulao);
Os locais de concentrao devem ser ao ar livre ou em locais isentos de perigo;
Na impossibilidade de, em pisos superiores, existirem escadas enclausuradas ou
exteriores, devero existir mangas de evacuao.
A quantidade, a
distribuio e
dimenso devem ter
em conta a sua
utilizao bem como o
nmero de
trabalhadores e
visitantes.
De referir que os
elevadores e montacargas no so
caminhos de
evacuao
(capacidade limitada,
falhas de
funcionamento no
decurso dos
incndios, aumento da
temperatura no
interior dos
elevadores
provocando efeito
estufa e invaso pelos
fumos)
As vias devero estar
sinalizadas de uma
forma visvel e
normalizada
(de acordo com a
legislao) e
permanentemente
desobstrudas;
5.4 DIMENSIONAMENTO DOS LOCAIS DE TRABALHO
O dimensionamento dos locais de trabalho dever ser efectuado em funo do nmero de equipamentos e das suas condies de
funcionamento, bem como da presena de meios auxiliares como mesas de trabalho ou estantes de apoio e ainda do tipo de
produtos fabricados.
059
060
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 16
Caractersticas gerais de dimensionamento dos locais de trabalho
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Locais operacionais e tcnicos
O p-direito mnimo dever ser de 3 m, no entanto, em ambiente industrial, dever
acrescer-se 2 m acima das caldeiras, fornos e estufas e/ou equipamentos de alto porte;
A largura til mnima em torno de mquinas e postos de trabalho, dever ser de 0,60m a
0,80 m;
Devem ter piso anti-derrapante e paredes em materiais lisos, impermeveis e resistentes
ao fogo e a instalao elctrica deve ser blindada e anti-deflagrante no caso de ambientes
explosivos;
Os locais onde se produza rudo, vibraes ou que tenham equipamentos sob presso,
devem estar compartimentados (p.e. compressores);
Em equipamentos com dimenses que o justifiquem, devero existir passadios e escadas
de acesso seguro (guarda-corpos, rodaps), em materiais incombustveis;
Sempre que se justifique, os equipamentos devem estar dotados de isolamento trmico
e/ou acstico e exausto/aspirao de gases, vapores, fumos ou poeiras;
Os locais de carga de baterias/acumuladores devem estar afastados de locais onde haja
produo de chamas e chispas;
Os locais de pintura e de produo de poeiras e/ou fumos devero ser instalados em
cabines com sistema de aspirao;
Na necessidade de recorrer a soldadura, devero prever-se anteparos, bem como a
utilizao de sistemas de aspirao mveis.
A cubagem mnima de
ar por trabalhador
dever ser de
11,50 m3, podendo ser
reduzida para
10,50 m3 caso se
verifique uma boa
renovao
A rea mnima por
trabalhador de
1,80 m2;
O caudal mdio de ar
puro deve ser de, pelo
menos, 30 m3 a 50 m3
por hora/trabalhador.
Os diferentes locais
devero estar
delimitados com faixa
amarela de cerca de
10 a 12 cm de largura
e devidamente
identificados e
sinalizados todos os
riscos existentes.
As oficinas devem
estar dotadas de
recipientes fechados
para recolha de
desperdcios e panos
impregnados de leo.
Armazns
Devem ser bem arejados e iluminados;
As paredes e os pavimentos devem ser adequados utilizao, preferencialmente
recobertos por materiais de fcil manuteno e limpeza;
Devem permitir a segregao de materiais e estar devidamente identificados (horizontal e
verticalmente);
A estante a utilizar deve ser estruturada em funo das cargas previstas por nvel e deve
ser garantido o seu aprisionamento s paredes e/ou ao pavimento como garantia da sua
estabilidade (sempre que necessrio, o piso deve ser reforado ou utilizadas sapatas para
distribuio da presso);
A utilizao de meios de movimentao auxiliares, nomeadamente telas transportadoras e
tapetes de rolos, deve garantir a estabilidade das cargas e a preveno de queda.
No caso de armazns para produtos inflamveis (p.e. qumicos), txicos ou infectantes,
devero ser compartimentados, ter instalao elctrica anti-deflagrante e ser de acesso
restrito;
Os materiais a granel devero ser colocados em silos ou em estruturas com superfcies
resistentes e com rea adaptada;
Os lquidos podero ser armazenados em fossas ou reservatrios e devero estar dotados
de bacias de reteno;
O seu
dimensionamento
depende do tipo de
materiais a
armazenar, bem como
dos equipamentos
necessrios para a
sua movimentao e
dos riscos inerentes.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Armazns
Os armazns de gases devem situar-se no exterior, ter boa ventilao, ter um sistema de
arrefecimento tipo chuveiro e, no caso de botijas, ter um sistema de aprisionamento para
evitar a sua queda;
Se houver necessidade de armazenamento e/ou estgio de material em ambiente
controlado, devero ser tidas em considerao as seguintes exigncias:
Portas com abertura pelos 2 lados;
Meios de comunicao com o exterior;
Dispositivos de alarme;
Cmaras de transio no caso de equipamentos de frio.
A definio do local
dos armazns de
matrias-primas, de
produtos intermdios
e de produto acabado
deve ser feita
minimizando o fluxo
de materiais e
pessoas, com vista a
ganhos de eficincia.
Sendo, por norma,
locais de baixa
superviso humana,
dever ser dado
especial nfase
utilizao de meios de
deteco e combate a
incndio.
5.5 INSTALAES DE APOIO
A limpeza, a temperatura e a humidade das salas de convvio destinadas ao pessoal, bem como das instalaes sanitrias,
cantinas, instalaes de primeiros socorros ou locais tcnicos, devem estar de acordo com os fins especficos desses locais.
QUADRO 17
Caractersticas gerais das instalaes de apoio
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Instalaes sanitrias/vestirios
Separados por sexo e sem comunicao com os locais de trabalho;
Pavimentos anti-derrapantes e paredes em materiais lisos, lavveis e impermeveis;
Cabines de duche (zona de duche + antecmara com banco e cabide) devem possuir gua
quente e fria, estar separadas das sanitas e urinis e ter uma porta passvel de ser fechada,
bem como serem acessveis pelos vestirios;
Exigncias em termos de quantidades:
No caso de haver mais
de 25 trabalhadores, a
rea ocupada pelos
vestirios, chuveiros e
lavatrios dever
corresponder, no
mnimo, a 1 m2 por
utilizador.
1 lavatrio/10 utilizadores que cessem o trabalho ao mesmo tempo;
1 sanita+1 urinol/25 homens que trabalhem ao mesmo tempo ou 1 sanita/15 mulheres;
1 cabine de duche/10 utilizadores ou fraco que cesse o trabalho ao mesmo tempo;
As retretes devem ser instaladas em compartimentos com as dimenses mnimas
de 0,80 m de largura por 1,30 m de profundidade, com tiragem de ar directa para o exterior
e com porta independente, a abrir para fora, provida de fecho;
Instalao
para
10 homens
Instalao
para 10
mulheres
As divisrias que no forem inteiras devem ter a altura mnima de 1,80 m e o espao livre
junto ao pavimento, caso exista, no pode ser superior a 0,20 m;
Os vestirios devem estar dotados de armrios pessoais com fecho por chave (estes devem
ser duplos sempre que o tipo de trabalho o exigir).
Os armrios
individuais devem ter
as dimenses fixadas
pela NP 1116.
061
062
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Locais de descanso - refeitrio - cantina
Devem ser aprazveis, facilmente acessveis e ter espaos prprios para fumadores;
No devero comunicar directamente com a zona fabril;
O sistema de exausto deve ser dimensionado de acordo com o fogo;
A zona de confeco dever ter paredes revestidas a materiais lisos, impermeveis (inox,
cermica) e pavimento liso e anti-derrapante e ser separada da zona de atendimento;
Os locais de armazenamento devem ser separados da zona de confeco e de atendimento;
Devem ter lavatrios, mesas e cadeiras em quantidade ajustada ao n. de utentes;
necessrio terem gua potvel corrente;
No caso dos refeitrios, devero existir meios prprios para aquecimento da comida.
A rea de refeitrios e
locais de descanso,
deve ser calculada em
funo do nmero
mximo de pessoas
que os possam utilizar
simultaneamente e
tendo em conta os
requisitos mnimos
definidos no
quadro 18:
O n. de locais
sentados (com
espaldar) e mesas
deve ser adequado ao
nmero de utentes
simultneos.
Podem ser utilizados
como locais para
colocao de placards
de informao.
Posto mdico e de enfermagem/primeiros socorros
Dever ter uma sala de espera, um sanitrio, uma sala de enfermagem e um gabinete mdico;
Na sala de enfermagem, dever existir um lavatrio com gua corrente;
Deve ser arejado e devidamente iluminado, devendo possuir instalao elctrica com
Ter que se situar
numa zona livre de
perigo e de fcil
acesso.
autonomia.
QUADRO 18
rea de refeitrios e de locais de descanso
Nmero de Pessoas
rea
25 ou menos pessoas
18,5 m2
26 a 74 pessoas
18,5 m2 + 0,65 m2 por pessoas acima de 25
75 a 149 pessoas
50 m2 + 0,55 m2 por pessoas acima de 75
150 a 499 pessoas
92 m2 + 0,50 m2 por pessoas acima de 149
500 ou mais pessoas
255 m2 + 0,40 m2 por pessoas acima de 499
5.6 INFRA-ESTRUTURAS
As instalaes tcnicas (elctrica, gs, gua, aquecimento, ventilao, etc.) devem ser dimensionadas e construdas atendendo s
necessidades especficas da instalao e devem ser regularmente verificadas por entidades certificadas ou tcnicos competentes.
Como proteco de descargas electrostticas, as tubagens devero possuir ligao terra.
Deve ser dada particular ateno ao estado de limpeza e manuteno de modo a garantir o seu correcto funcionamento.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 19
Caractersticas gerais das infra-estruturas tcnicas
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Rede elctrica
Deve estar correctamente dimensionada e prevendo a proteco dos circuitos com
disjuntores e diferenciais de forma a permitir, em caso de sobrecarga ou curto-circuito, a
passagem terra;
Os quadros elctricos devem estar identificados e sinalizados;
Periodicamente,
devero ser feitos
testes ligao de
terra.
Se possvel dever-se- utilizar calhas tcnicas (suspensas ou em fossa tapada) de fcil acesso;
Dever existir um circuito de emergncia ligado a uma fonte prpria.
Rede de gua
obrigatria a distribuio de gua potvel pelo que devero ser instalados bebedouros
(preferencialmente de jacto ascendente) em locais facilmente acessveis;
Devero existir depsitos com capacidade suficiente para o combate a incndios at
chegada de ajuda do exterior.
No caso de gua
captada na instalao,
deve esta ser
analisada conforme
normativos legais e os
resultados divulgados.
Rede de saneamento
Deve existir um sistema colector dos efluentes e uma estao de tratamento de guas
residuais ou caso no se verifique, o sistema de esgotos deve estar ligado rede municipal.
Os resduos
resultantes devero
ser encaminhados
para entidades
competentes e
reconhecidas
legalmente como tal.
Recolha de resduos
Dever-se- proceder segregao dos resduos slidos (directos e indirectos) por forma a
promover a sua reciclagem;
A recolha junto aos postos de trabalho dever ser feita amiudamente e dever existir um
local apropriado para o seu armazenamento (correctamente identificado) e separado dos
locais de trabalho.
A parceria com
empresas de
reciclagem poder
tornar-se uma mais
valia financeira para a
empresa.
Redes de fludos
Devem ser identificadas por pintura e o sentido de fluxo deve estar identificado;
Os sistemas de leitura (p.e. manmetro de presso) e a vlvulas de corte devero estar
altura dos olhos.
No caso de
ar-comprimido, o
compressor, dever
situar-se em local
isolado e arejado.
Exausto-aspirao
A instalao de sistemas de exausto e aspirao de poluentes deve atender s
caractersticas do tipo de trabalho desenvolvido e o seu dimensionamento estudado em
funo da capacidade pretendida;
Deve estar dotada de meios de corte e seccionamento.
Os equipamentos e
respectivos
colectores, devero
situar-se em local
exterior, isolado e
arejado.
063
064
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PARMETROS/CARACTERSTICAS
Observaes
Ventilao
Deve estar dimensionada de forma a permitir uma renovao de ar de 30 a 50 m3 / h por
trabalhador.
Ar-condicionado/aquecimento
Deve estar dimensionado de forma a permitir as condies de presso, temperatura e
humidade adequadas ao tipo de trabalho desenvolvido.
5.7 ORGANIZAO DOS LOCAIS DE TRABALHO
Tendo por base uma perspectiva de melhoria contnua, a organizao dos locais de trabalho deve basear-se em princpios
norteados na racionalizao e flexibilidade do espao, bem como na racionalizao de movimentos e at a simplificao dos
processos produtivo e logstico. Neste processo de simplificao, no deve ser descurada a importncia de garantir facilidade de
limpeza dos postos de trabalho, com vista deteco precoce de falhas.
5.7.1 Gesto visual - 5 S
Os 5S so uma prtica da qualidade idealizada no Japo no princpio da dcada de 70. O seu nome corresponde s iniciais de cinco
palavras japonesas:
SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE.
Simplificao Organizao Limpeza Conservao Disciplina
A filosofia dos 5 S tem como objectivo a organizao do local de trabalho e a padronizao dos processos de trabalho de maneira
a torn-los mais eficientes. um processo educacional que visa construir uma base para a qualidade total, atravs de prticas
voltadas para a mudana de comportamento, atitudes e valores das pessoas.
A implementao dos 5 S passa, numa fase inicial, pela introduo de tcnicas que estabeleam e mantenham um ambiente
visual de qualidade e seguro no local de trabalho, tendo como objectivo:
a simplificao do ambiente de trabalho;
a eliminao de actividades que no acrescentam valor;
a reduo do desperdcio;
o aumento da segurana;
a obteno de um maior nvel de eficincia e qualidade.
Deve ser considerado um compromisso de melhoria integral do ambiente e das condies de trabalho e no apenas uma
simples campanha de limpeza. A sua aplicao requer dedicao e compromisso para que as prticas da resultantes
perdurem a longo prazo e acabem por se tornar num estilo de vida no trabalho.
Como principal vantagem, pode-se referir que no s os trabalhadores se sentem melhor no seu local de trabalho, como toda a
organizao se torna mais produtiva e competitiva.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
No quadro seguinte apresenta-se a descrio das fases de implementao da metodologia:
QUADRO 20
5 S fases
Metodologia 5 S
SEIRI
Separar o que
necessrio do que no
necessrio
Separar os materiais que tm utilidade dos que no tm. Os materiais que tm utilidade
sero aqueles que se mantm no mbito do local de trabalho e os inteis podem ser
eliminados, armazenados ou disponibilizados para outras seces e/ou postos de
trabalho.
SEITON
Situar cada coisa no
seu lugar
Identificar todos os materiais que se tenha decidido armazenar e definir os respectivos
locais de armazenagem, tanto os que se esto a usar como os outros. Desta forma,
qualquer pessoa que venha a utilizar um determinado material poder encontr-lo
facilmente, us-lo e rep-lo no mesmo local de forma eficaz e rpida.
SEISO
Suprimir as fontes de
sujidade
Manter o local de trabalho limpo, identificando as fontes de sujidade e fazendo o
reconhecimento dos pontos difceis de limpar, segregando os materiais danificados e
encontrando as solues para eliminar as causas que criam estas situaes.
SEIKETSU
Sinalizar anomalias
Enfatizar o controlo visual de modo a reconhecer um funcionamento normal de outro
que irregular, bem como definir metodologias de actuao.
SHITSUKE
Seguir melhorando
Promover o desenvolvimento de regras e bons hbitos para manter um ambiente de
trabalho seguro, incutindo a capacidade e auto-disciplina de fazer as coisas da forma
como devem ser feitas.
5.7.2 Implementao de um sistema de 5 S
Como ponto de partida para a implementao desta metodologia, dever ser feito um levantamento de informaes e observao
directa da prtica das actividades desenvolvidas.
Como boa prtica, dever haver o cuidado de manter registo fotogrfico (ou filmado) da situao inicial, com vista a um maior
controlo das mudanas efectuadas e evidncia da melhoria.
Na fase de diagnstico, bem como nas fases seguintes, e com o objectivo de facilitar a definio de metodologias e prioridades de
actuao, poder ser utilizado o questionrio que se apresenta seguidamente:
065
066
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 17
Lista de verificao 5 S
Local/posto:
1.
Estado geral do pavimento, paredes, tectos e janelas aceitvel?
2.
Estado de limpeza de pavimentos, paredes, janelas e tectos aceitvel?
3.
Existe facilidade de circulao na rea?
4.
Os locais de passagem esto definidos?
5.
O layout /implantao adequado?
6.
O mobilirio est adequado s tarefas?
7.
Os equipamentos/mobilirios esto ergonomicamente bem colocados?
8.
9.
Os meios auxiliares (carros de transporte, caixas de armazenamento intermdio,
etc) esto adequados tarefa?
O estado de limpeza/atractividade/aspecto geral do mobilirio, equipamento e meios
auxiliares bom?
10.
Existem materiais ou ferramentas/equipamentos desnecessrios?
11.
Para a localizao dos materiais observada a frequncia da sua utilizao?
12.
13.
14.
15.
Sim No N/A Obs.
Existem ajudas visuais (localizao e identificao clara) que facilitem a
procura/consulta? Esto actualizadas?
Esto identificados os utilizadores dos diferentes materiais, equipamentos,
ferramentas ou objectos?
A organizao nas capas dos arquivos, gavetas, computadores, armrios, etc, facilita
a utilizao pelo prprio e por outros utilizadores?
Existem standards definidos (cores, smbolos, etc.) para identificao ou segregao
dos materiais?
16.
A organizao dos fios elctricos, telefone, tomadas, tubagens, etc, boa?
17.
So conhecidas as causas da sujidade/desorganizao?
18.
A segregao de resduos efectuada?
19.
Os contentores de resduos esto limpos e sinalizados?
20.
Nvel de rudo, vibraes, iluminao, odores, derrames, etc, aceitvel?
21.
Existem sistemas de preveno e actuao em caso de emergncia?
Esto actualizados e verificados/calibrados?
22.
Os sistemas de actuao em caso de emergncia esto acessveis e identificados?
Observaes:
Responsvel:
Data:
5.8 MANUTENO DAS CONDIES DE HABITABILIDADE
Periodicamente, devero ser efectuadas verificaes s condies gerais do edifcio, bem como intervenes tcnicas com vista
manuteno das condies de habitabilidade e adaptabilidade ao tipo de actividade desenvolvida.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6. SEGURANA NO TRABALHO
6.1 ILUMINAO
As condies de iluminao nos locais de trabalho constituem um importante factor de risco, dado que cerca de 80% das impresses
sensoriais so de natureza visual. Uma iluminao correcta num local de trabalho contribui, de forma determinante, para a obteno
de um ambiente de trabalho que previne o aparecimento de problemas psquicos e fisiolgicos nos trabalhadores, como sejam, a
perda do rendimento visual, o aparecimento de dores de cabea, de fadiga fsica e nervosa e outros.
Inversamente, a existncia de condies de visibilidade desajustadas ao tipo de funo em causa resulta inevitavelmente em
perda de produtividade e de motivao e na diminuio do rendimento geral, podendo, em situaes mais crticas, contribuir para
o aparecimento de acidentes de trabalho.
Assim, uma iluminao adequada nos locais de trabalho uma condio imprescindvel para a obteno de um bom ambiente de
trabalho e, desta forma, aumentar a produtividade e diminuir o absentismo e os acidentes de trabalho.
6.1.1 Conceitos bsicos
QUADRO 21
Conceitos bsicos
Grandeza
Smbolo
Definio
Unidade
a quantidade total de
luz emitida por uma fonte
luminosa, por unidade de
tempo.
lmen
(lm)
uma medida do fluxo
luminoso emitido, por
unidade de ngulo slido,
numa determinada
direco.
candela
(cd)
uma medida do fluxo
luminoso incidente
(1 lmen) por unidade de
superfcie (1 m2).
lux (lx)
(1 lux =
1 lm/m2)
a intensidade luminosa
emitida, transmitida ou
reflectida por unidade de
superfcie e que atinge o
sistema de viso.
candela
por metro
quadrado
(cd/m2)
a diferena de
luminncia entre o
objecto e o fundo em
relao luminncia do
prprio fundo.
--
C = (L2 - L1)/L1
a relao da
iluminao que uma
superfcie reflecte
(luminncia) em relao
com a que recebe
(iluminncia).
--
R = Fluxo luminoso reflectido (r)
Fluxo luminoso incidente (i)
Fluxo
luminoso
Intensidade
luminosa
Iluminncia
Luminncia
Contraste
Reflectncia
Factor de
reflexo
067
068
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.1.2 Sistemas de iluminao
Os sistemas de iluminao industriais podem dividir-se em vrios grupos dependendo do tipo de classificao que se faa.
QUADRO 22
Sistemas de iluminao
Natural
Artificial
Geral
Mista
Combinao de ambas, natural e artificial
Especial
Emergncia
Localizada
Combinada
Sinalizao
Decorativa
Germicida
6.1.3 Nveis de iluminao adequados
Toda a actividade requer uma determinada iluminao, que deve existir como nvel mdio na zona em que a mesma se
desenvolve e que depende dos seguintes factores:
O tamanho dos detalhes;
A distncia entre o olho e o objecto;
O factor de reflexo do objecto;
O contraste entre o objecto (detalhe) e o fundo sobre o qual se destaca;
A rapidez do movimento do objecto;
A idade do observador.
Quanto maior for a dificuldade para a percepo visual, maior deve ser o nvel mdio de iluminao. O nvel de iluminao ptimo
para uma determinada tarefa corresponde ao que permite um maior rendimento com uma fadiga visual mnima, sendo que as
linhas gerais de orientao em termos de nveis de iluminao so publicadas por vrias organizaes internacionais.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Os principais requisitos estabelecidos pelo Regulamento Geral de Segurana e Higiene no Trabalho nos Estabelecimentos
Industriais a fim de assegurar uma iluminao adequada so os seguintes:
Iluminao dos locais de trabalho com luz natural, recorrendo artificial apenas quando a primeira se manifeste
insuficiente (neste caso, esta deve ser de origem elctrica);
Iluminao das vias de passagem, de preferncia, com luz natural;
Distribuio uniforme da luz natural nos postos de trabalho, implementando, se necessrio, dispositivos adequados que
evitem o encandeamento;
Estabelecimento de superfcies de iluminao natural e artificial em boas condies de limpeza e funcionamento;
Intensificao da iluminao geral em zonas de risco de quedas;
Estabelecimento de nveis de iluminao acima dos valores limite recomendados pelas normas aplicveis;
Se necessrio, implementao de iluminao localizada nos postos de trabalho, atravs de uma conveniente combinao
com a iluminao geral;
Instalao de sistemas de iluminao geral e localizada de forma a evitar sombras e encandeamentos.
Na ausncia de legislao nacional especfica, regra comum adoptar como valores a assegurar os indicados na norma
ISO 8995 : 2002 Lighting of Indoor Work Places, que define os nveis de iluminao recomendados para determinadas
actividades / operaes em funo do tipo de tarefas desempenhadas nos diferentes locais de trabalho analisados.
QUADRO 23
Nveis de iluminncia para a Indstria da Borracha e Matrias Plsticas
Tipo de superfcie, tarefa ou actividade
Nvel de iluminncia (lux)
Preparao de matrias-primas e materiais, trabalho mecnico geral
300
Instalaes de processamento de operao remota
50
Instalaes de processamento com interveno manual limitada
150
Instalaes de tratamento constantemente ocupadas
300
Salas de medio de preciso / laboratrios
500
Inspeco de cor
1000
Corte, acabamento, inspeco
750
069
070
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 24
Nveis de iluminncia para reas de utilizao geral de edifcios.
Tipo de superfcie, tarefa ou actividade
Nvel de iluminncia (lux)
Halls de entrada
100
Salas de espera
200
reas de circulao e corredores
100
Escadas
150
Cais de carga
150
Cantinas
200
Locais de descanso
100
Casas de banho, balnerios
200
Posto mdico
500
Escritrios, salas de comando
200
Sala do correio, central telefnica
500
Armazns
100
Embalagem
300
Centrais / salas de controlo
150
Resumidamente, para tarefas com exigncias visuais fracas, os nveis de iluminncia devem situar-se entre os 200 e os 500 lux,
para tarefas com exigncias visuais mdias, os nveis de iluminncia devem situar-se entre os 300 e os 750 lux e para tarefas com
exigncias visuais elevadas, os nveis de iluminncia devem situar-se entre os 500 e 1000 lux.
6.1.4 Avaliao dos nveis de iluminao
O instrumento utilizado na avaliao do nvel de iluminao o luxmetro.
Alguns cuidados devem ser tomados a fim de se obter uma leitura correcta dos nveis de iluminao. Os aspectos principais a
considerar so:
A leitura do nvel de iluminao deve ser efectuada no plano de trabalho ou, quando este no for definido, a 85 cm do piso;
Deve-se inicialmente fazer as medies do nvel de iluminao geral em todo o ambiente de trabalho. As leituras devem
ser feitas em dia escuro e nublado, a fim de serem consideradas, no levantamento, as piores condies de iluminao.
Quando existem actividades nocturnas no ambiente analisado, as medies devem ser realizadas noite;
As iluminncias devem ser medidas com a clula do luxmetro colocada horizontalmente e sem que sobre ela incidam
sombras, tanto do operador como de outras pessoas;
Os valores, para se encontrar o nvel mdio para a iluminao geral de um local, devero ser obtidos dividindo esse local
em quadrados com um metro de lado, aps o que as medies sero efectuadas no centro de cada um desses quadrados.
6.1.5 Tipos de iluminao a utilizar e sua qualidade
Os locais de trabalho devem ser iluminados com luz natural, recorrendo-se artificial complementarmente, quando aquela seja
insuficiente.
As superfcies de iluminao natural devem ser dimensionadas e distribudas de tal forma que a luz diurna seja uniformemente
repartida e serem providas, se necessrio, de dispositivos destinados a evitar o encandeamento.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O encandeamento instantneo ou permanente aparece quando h uma distribuio muito desigual da luminosidade no campo da
viso. Todos os automobilistas conhecem o efeito desagradvel do encandeamento instantneo: de dia, pelo sol reflectido por
uma superfcie polida, ou de noite, pelos faris de uma outra viatura.
O encandeamento permanente muito frequente na indstria, onde a luminncia elevada de uma janela, por exemplo, pesa
continuadamente numa parte do campo visual. A este respeito, dever procurar-se a eliminao das fontes de encandeamento
constitudas normalmente por lmpadas nuas e superfcies brilhantes. Alm de as evitar, haver que ter em ateno os
contrastes, pelo que as cores so teis na conciliao destes dois imperativos.
No que respeita orientao dos postos de trabalho em relao entrada de luz natural no edifcio, aconselha-se a que se
orientem paralelamente com as janelas voltadas a norte ou perpendicularmente com as janelas que tenham uma outra
orientao. Esta disposio permite colher mximos benefcios da luz natural e evitar situaes de encandeamento.
QUADRO 25
Factores que influenciam a qualidade da iluminao
Factor
Observaes
Nvel de iluminncia adequada
Quanto mais elevada a exigncia visual da actividade, maior dever ser o valor da
iluminncia.
Limitao de encandeamento
45
Proporo harmoniosa entre
iluminncia das vrias zonas
Acentuadas diferenas entre a
iluminncia de diferentes
planos causam fadiga visual,
devido ao excessivo trabalho de
acomodao da vista, ao
passar por variaes bruscas
de sensao de claridade.
Proporo harmoniosa
entre luminncias
10
Efeitos luz e sombra
Deve-se tomar cuidado no direccionamento do foco de uma luminria, para se evitar
que essa crie sombras perturbadoras.
Reproduo de cores
Uma boa reproduo de cores est directamente ligada qualidade da luz incidente.
Tonalidade de cor da luz ou
temperatura de cor
Um dos requisitos
para o conforto
visual a
utilizao da
iluminao para
dar ao ambiente o
aspecto desejado.
Ar condicionado e acstica
O calor gerado pela iluminao no deve sobrecarregar a refrigerao artificial do
ambiente.
071
072
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.1.6 Seleco de sistemas de iluminao artificial eficientes
Muito embora haja vrios factores que podem condicionar a opo por determinado tipo de lmpada, um dos mais importantes ,
sem dvida, a sua eficincia luminosa.
Esta eficincia expressa em lumen/Watt (lm/W), e d-nos a relao entre o fluxo luminoso e a potncia elctrica consumida, em
cada tipo de fonte de iluminao; neste contexto, uma lmpada tanto mais eficiente, quanto maior for o fluxo luminoso emitido,
para a mesma energia elctrica absorvida. Duma forma genrica, as lmpadas normalmente utilizadas dividem-se em dois tipos,
assim designados:
Lmpadas incandescentes (standard e de halogneo).
Lmpadas de descarga (fluorescentes, vapor de mercrio, vapor de sdio e iodetos metlicos).
No quadro seguinte apresentam-se os valores da eficincia luminosa (lm/W), bem como a gama de potncias e o tempo mdio de
vida, para os tipos mais vulgares de lmpadas:
QUADRO 26
Valores de eficincia luminosa (lm/W), potncia e tempo mdio de vida de vrios tipos de lmpadas
Tipo de lmpada
Potncia W
Eficincia luminosa
lmen/Watt
Tempo mdio de vida
(horas)
40 a 1000
10 a 20
1000
150 a 2 000
21 a 25
2 000
6 a 65
50 a 95
7 000
8 000
Incandescentes:
Standard
Halogneo
Fluorescentes tubulares
Fluorescentes compactas:
Integrais
9 a 25
36 a 50
Modulares
5 a 16
60 a 80
50 a 1000
40 a 60
8 000
400 a 2 000
80 a 90
4 000 a 6 000
Mercrio de alta presso
Iodetos metlicos
Vapor de sdio:
Baixa presso L.P.S.
18 a 180
100 a 200
6 000
Alta presso H.P.S.
50 a 1 000
70 a 125
6 000
A anlise ao quadro anterior permite tirar algumas concluses, relativamente s vantagens e desvantagens de cada tipo de lmpada:
A iluminao do tipo incandescente, quer convencional (standard), quer de halogneo, dever ser evitada, sempre que possvel,
pois a par duma vida relativamente curta, a que apresenta menores eficincias luminosas, conduzindo por isso, aos maiores
consumos de energia elctrica.
As lmpadas fluorescentes apresentam caractersticas de bom nvel, conseguindo aliar uma vida longa, com uma eficincia
luminosa bastante elevada. Acrescem ainda como vantagens, o seu tempo curto de reacendimento e um bom ndice de
restituio de cor (parmetro que caracteriza a aptido das lmpadas para no alterar a cor dos objectos que iluminam).
A nvel de iluminao industrial, este tipo de lmpadas deve ser essencialmente utilizado em iluminao localizada (postos de
trabalho), ou em zonas com p direito baixo, pois em naves de grande altura (acima de 4 a 5 metros), prefervel recorrer a outro
tipo de lmpadas de descarga, para efeitos de iluminao geral.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Dentro das restantes lmpadas de descarga (vapor de mercrio, vapor de sdio e iodetos metlicos), as mais utilizadas para
iluminao industrial (a altura elevada), so habitualmente, as lmpadas de vapor de mercrio que, no entanto, tm vindo a ser
progressivamente substitudas por outras mais eficientes.
Efectivamente, as lmpadas de vapor de mercrio embora sejam das que registam uma vida mais longa (8 000 h), apresentam
valores de eficincia inferiores ao das lmpadas de vapor de sdio e dos iodetos metlicos.
Assim, nas situaes de iluminao geral de naves fabris de altura elevada, em que a restituio de cor no seja muito
importante (pois a mesma eventualmente garantida pela iluminao localizada do posto de trabalho), a soluo mais eficaz so
as lmpadas de vapor de sdio de alta presso, pois apresentam uma eficincia luminosa das mais elevadas, embora com um
ndice de restituio de cor relativamente baixo. Nos casos em que este ltimo parmetro seja determinante, a alternativa sero
os iodetos metlicos, pois aliam uma eficincia luminosa elevada, com um excelente ndice de restituio de cor. Para situaes
em que a iluminao localizada necessria, devido a exigncias associadas s tarefas desenvolvidas, a soluo mais eficaz, so
as lmpadas fluorescentes com balastros electrnicos.
As lmpadas com melhor eficincia luminosa so as de vapor de sdio de baixa presso, no entanto, a sua aplicabilidade
limita-se iluminao exterior ou iluminao de segurana, pois o seu ndice de restituio de cor praticamente nulo.
Para alm das lmpadas, outro componente que influencia o consumo energtico de alguns sistemas de iluminao, so os
balastros; estes dispositivos so necessrios para o funcionamento de todos os tipos de lmpadas de descarga (desde as
fluorescentes at aos iodetos), sendo responsveis por uma parte importante (15% a 20%) do consumo elctrico do sistema,
inerente s perdas que lhes esto associadas.
Ao longo dos anos, os fabricantes tm desenvolvido esforos no sentido de reduzir as perdas energticas dos balastros, que se
materializaram pelo aparecimento de balastros de baixo consumo, balastros de baixas perdas e balastros electrnicos.
Estes ltimos, quer por apresentarem perdas reduzidas, quer por melhorarem a eficincia da prpria lmpada, so os mais
atractivos e de maior divulgao, nomeadamente na sua aplicao a lmpadas fluorescentes tubulares, nas quais possvel obter
redues no consumo elctrico, da ordem dos 20% a 30%. A este benefcio haver ainda que adicionar as restantes vantagens do
balastro electrnico, como sejam: maior estabilidade da luz, eliminao do efeito de trepidao, possibilidade de regulao
automtica do fluxo luminoso, etc.
Embora estas ltimas representem um investimento mais elevado, pode-se considerar, duma forma simplista, que estes podero
constituir a soluo mais racional.
Chama-se tambm a ateno para:
A importncia de utilizar armaduras eficientes e equipadas com os reflectores, difusores, etc., mais adaptados a cada
caso, pois estes acessrios permitem melhorar sensivelmente as caractersticas da fonte luminosa, o que se traduz
normalmente, por uma reduo da potncia instalada em iluminao.
O estabelecimento de programas de limpeza e manuteno preventiva que contemplem a mudana de lmpadas fundidas,
a limpeza das luminrias e superfcies de entrada de luz natural originando assim a uma maior eficincia dos sistemas de
iluminao.
6.1.7 Outras tecnologias
Recentemente tm vindo a ser desenvolvidas novas solues ao nvel da iluminao, destacando-se a tecnologia LED e solues
de aproveitamento da iluminao natural em espaos interiores.
073
074
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Tecnologia LED
Os LEDs so pequenos, robustos e consomem pouca energia (10 a 30 vezes menos que uma lmpada convencional) apresentando
uma reduo dos custos energticos e emisso de CO2.
A iluminao a LED no produz calor, evitando o envelhecimento dos materiais sujeitos a essa temperatura (difusores acrlicos,
cablagem, suportes, etc) e materiais envolventes, aumentando a sua vida til e reduzindo as necessidades de ar condicionado
para compensar a temperatura.
Tubo solar de iluminao natural
A luz natural captada e orientada atravs de tubo revestido, interiormente, por material extremamente reflector, que minimiza a
disperso dos raios e permite um fornecimento de luz a distncias considerveis.
Este sistema no produz calor no Vero, nem fonte de condensaes ou transmisso de frio no Inverno. Funciona como um
vidro duplo e no necessita de qualquer limpeza ou manuteno interior durante a sua vida til.
Este produto contribui directamente para a reduo do consumo energtico, e consequentemente para a melhoria da eficincia
energtica dos edifcios.
Vantagens:
Capacidade de iluminao superior a uma janela;
Luz perfeitamente natural;
Inexistncia de transferncia trmica (calor ou frio);
Sem necessidade de limpeza ou manuteno;
Resistente a raios UV;
Solues de insero nas coberturas 100% fiveis e garantidas;
Possibilidade de instalao de acessrios (luz artificial, ventilao) ;
Regulador de intensidade de luz natural.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 18
Aproveitamento da iluminao natural em espaos interiores
a) Iluminao natural para naves industriais
b) Tubo solar
a)
b)
b)
b)
6.1.8 A iluminao na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Ao nvel da indstria da Borracha e das Matrias Plsticas verifica-se, de um modo geral, deficincias nos sistemas de
iluminao, nomeadamente devido a:
ndices de iluminncia insuficientes;
Problemas de encandeamento;
Problemas de sombreamento.
075
076
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As figuras seguintes evidenciam boas e ms prticas de iluminao.
FIGURA 19
Exemplos de boas prticas de iluminao
a) e b ) Reforo da iluminao artificial
c) Cobertura da nave industrial com bom aproveitamento da luz natural.
a)
b)
c)
FIGURA 20
Exemplos de boas prticas de iluminao
Iluminao localizada na seco de montagem de uma Indstria de Matrias Plsticas
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 21
Exemplos de ms prticas de iluminao
a) Lmpada sem armadura
b) Armadura sem difusor
b)
a)
6.2 RUDO
O rudo normalmente considerado como um som desagradvel e indesejvel que quando assume determinadas caractersticas,
pode ser nocivo para o Homem.
O som qualquer variao de presso que o ouvido pode detectar. A gama de frequncia do som vai desde valores inferiores a
1 Hz at vrias centenas de KHz; no entanto, a gama audvel situa-se entre os 20Hz e os 20KHz. Abaixo da gama audvel situamse os infrasons e acima dessa gama situam-se os ultrasons.
As ondas sonoras so captadas, em meio areo, pelo ouvido externo do ser humano e enviadas, atravs de vibraes, para o
ouvido interno, a partir do qual so transmitidos sinais ao crebro, onde so descodificados, provocando as sensaes auditivas.
FIGURA 22
Mecanismo da audio humana
Ouvido externo
Ouvido mdio
Ouvido interno
Energia Sonora
Energia Mecnica
Energia Nervosa
Um som pode, assim, ser caracterizado atravs da sua frequncia, presso sonora e nvel de presso sonora.
Frequncia A frequncia de um fenmeno peridico como uma onda sonora o nmero de vezes que esse fenmeno se
repete por unidade de tempo. Em acstica pode definir-se como o nmero de vezes que a presso oscila em torno da
presso atmosfrica, por unidade de tempo. A unidade de medida o Hertz (Hz), que o nmero de pulsaes/vibraes
de uma onda acstica sinusoidal durante um segundo.
Presso sonora o parmetro utilizado quando o objectivo a avaliao de situaes de incomodidade ou de risco de
trauma auditivo. expresso em Pascal (Pa).
077
078
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Nvel de presso sonora O valor mnimo de presso sonora (nvel zero de audio), frequncia de 1000 Hz, que o
aparelho auditivo pode detectar equivale a 2 x 10-5 Pa. Desta forma, o nvel de presso sonora (Lp) um valor expresso em
decibel (dB) e que resulta da frmula seguinte:
-5
p0 o valor da presso sonora de referncia (2 x 10 Pa).
O limite superior de presso sonora, considerado como limiar da dor, corresponde sensivelmente ao valor de 200 Pa, ou seja 140
decibel.
-5
Com uma faixa de audibilidade para a presso sonora entre 2 x 10 e 200 Pa, a utilizao de escalas lineares conduziria a
nmero muito grandes. Alm disso, sabe-se que o ouvido humano responde de uma forma logartmica e no linear aos
estmulos sonoros.
Por estas razes, optou-se por exprimir os parmetros sonoros numa escala logartmica entre os valores medidos e os valores de
referncia da presso sonora, desde que as frequncias que a compem se encontrem dentro de uma determinada faixa audvel (de
20 a 20.000 Hz).
FIGURA 23
Presso sonora e nvel de presso sonora
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Em virtude da estrutura do aparelho auditivo e das caractersticas do sistema nervoso relacionado com a audio, o ser humano
reage de modo diverso aos sons com o mesmo nvel de presso sonora mas de diferentes frequncias.
Dado que o ouvido humano no tem a mesma sensibilidade a todas as frequncias do espectro sonoro audvel, procede-se
ponderao dos nveis de presso sonora. A curva de ponderao A foi estabelecida de modo a que traduzisse aproximadamente a
resposta do ouvido humano. Os valores medidos e ponderados so expressos em dB(A).
Quadro 27
Curva de ponderao A
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Lp
(dB)
-26
-16
-9
-3
+1
+1
-1
6.2.1 Principais efeitos
No mbito da Segurana e Sade no Trabalho, o rudo definido como um som ou conjunto de sons desagradveis e/ou
perigosos, capazes de alterar o bem-estar fisiolgico ou psicolgico das pessoas, de provocar leses auditivas que podem levar
surdez e de prejudicar a qualidade e quantidade do trabalho.
Pode, assim, afirmar-se que o rudo acarreta efeitos fisiolgicos e psicolgicos nas pessoas, os quais, por sua vez, produzem
efeitos sociais e econmicos.
QUADRO 28
Efeitos do rudo
EFEITOS FISIOLGICOS
EFEITOS PSICOLGICOS
EFEITOS SOCIAIS E ECONMICOS
Leso do sistema auditivo (surdez);
Irritabilidade;
Diminuio da produtividade;
Distrbios gastrointestinais;
Apatia;
Distrbios relacionados com o
sistema nervoso central (dificuldade
em falar, problemas sensoriais,
diminuio da memria);
Mau humor;
Aumento da frequncia e da
gravidade dos acidentes;
Acelerao do pulso (elevao da
presso arterial, contraco dos
vasos sanguneos; diluio da
pupila; diminuio da resistncia
elctrica da pele; aumento da
produo hormonal da tiride;
aumento da incidncia de doenas constipaes, afeces
ginecolgicas, etc; baixa da barreira
imunolgica do organismo;
dificuldade em distinguir cores;
vertigens; diminuio da velocidade
da percepo visual; cansao geral;
dores de cabea.
Medo;
Insnias.
Aumento dos conflitos laborais;
Aumento das queixas individuais;
Diminuio da inteligibilidade.
079
080
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.2.2 Enquadramento legal
O Decreto-Lei n. 182/2006, de 6 de Setembro, transps para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2003/10/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativa a prescries mnimas de segurana e sade respeitantes exposio dos trabalhadores aos
riscos devidos ao rudo, revogando o Decreto-Lei n. 72/92 e o Decreto Regulamentar n. 9/92, ambos de 28 de Abril.
No n. 1 do artigo 3. so estabelecidos valores limite de exposio e valores de aco que determinam, quando atingidos, a
adopo de medidas preventivas e/ou correctivas de diversa ndole por parte do empregador:
Valores limites de exposio: LEX,8h = 87 dB(A) e LCpico = 140 dB(C);
Valores de aco superiores: LEX,8h = 85 dB(A) e LCpico = 137 dB(C);
Valores de aco inferiores: LEX,8h = 80 dB(A) e LCpico = 135 dB(C).
Em que:
Exposio pessoal diria ao rudo (LEX,8h) o nvel sonoro contnuo equivalente, ponderado A, calculado para um perodo normal
de trabalho dirio de oito horas (T0), que abrange todos os rudos presentes no local de trabalho, incluindo o rudo impulsivo,
expresso em dB (A), dado por:
em que:
Te a durao diria da exposio pessoal de um trabalhador ao rudo durante o trabalho;
T0 a durao de referncia de oito horas (28 800 segundos);
pA(t) a presso sonora instantnea ponderada A, expressa em pascal (Pa), a que est exposto um trabalhador;
p0 a presso de referncia: p0 = 2x10-5 pascal = 20Pa.
Nvel de presso sonora de pico (LCpico) o valor mximo da presso sonora instantnea, ponderado C, expresso em dB (C), dado
pela expresso:
LCpico = 10 lg
em que:
PCpico
P0
PCpico o valor mximo de presso sonora instantnea a que o trabalhador est exposto, ponderado C, expresso em Pascal.
6.2.3 Medies e avaliaes do rudo
De acordo com a legislao j referida, as avaliaes de rudo devem ser feitas do seguinte modo:
Avaliao inicial da exposio pessoal diria de cada trabalhador ao rudo durante o trabalho e do valor mximo do pico de
presso sonora a que cada trabalhador est exposto;
Avaliaes suplementares sempre que seja criado um novo posto de trabalho ou quando um posto de trabalho j existente
sofra modificaes que provoquem uma variao significativa da exposio pessoal diria de cada trabalhador ao rudo
durante o trabalho ou do valor mximo do pico de presso sonora a que cada trabalhador est exposto;
Avaliaes peridicas com periodicidade mnima de um ano, sempre que sejam atingidos ou excedidos os valores de aco superior.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Para realizao das medies so utilizados sonmetros e/ou dosmetros. Geralmente, os primeiros so utilizados em postos de
trabalho fixos, enquanto que os segundos, so recomendados para medies em postos de trabalho mveis. As medies devem
ser feitas por pessoal devidamente habilitado para a utilizao do equipamento de medio utilizado, o qual deve ser homologado
e encontrar-se devidamente calibrado por entidade competente.
FIGURA 24
Exemplo de Dosmetro
FIGURA 25
Exemplo de Sonmetro
A metodologia das medies est definida no Decreto-Lei n. 182/2006, de 6 de Setembro.
No caso de ser ultrapassado um valor limite imposto por lei, exige-se a imediata tomada de medidas com vista reduo dos
efeitos nefastos do rudo, devendo as zonas de risco ser devidamente sinalizadas.
O Decreto-Lei n. 182/2006 de 6 de Setembro, estabelece a obrigatoriedade de adopo de medidas preventivas mnimas nos
seguintes casos:
Se forem atingidos ou ultrapassados os valores de aco inferiores:
Colocar disposio dos trabalhadores expostos protectores auriculares com atenuao adequada ao rudo e que
cumpram com os requisitos dispostos na norma NP EN 458:2006;
Proceder vigilncia mdica e audiomtrica da funo auditiva dos trabalhadores de dois em dois anos
(ou periodicidade inferior por indicao mdica);
Efectuar o registo das avaliaes de riscos associados ao rudo.
Se forem atingidos ou ultrapassados os valores de aco superiores:
Investigar as causas dos elevados nveis de presso sonora;
Implementar um programa de medidas tcnicas, com vista reduo do rudo, ou de organizao do trabalho, para
diminuio da exposio dos trabalhadores;
Realizar avaliaes peridicas do rudo (no mnimo anuais);
Realizar vigilncia mdica e audiomtrica da funo auditiva dos trabalhadores com periodicidade anual
(ou periodicidade inferior por indicao mdica);
Criar a obrigatoriedade de utilizao de protectores auriculares com atenuao adequada ao rudo a que os
trabalhadores esto expostos;
Delimitar e sinalizar os postos de trabalho;
Registar as avaliaes do rudo em impresso prprio.
081
082
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Se forem ultrapassados os valores limite de exposio:
Tomar medidas imediatas para reduzir a exposio;
Investigar as causas dos elevados nveis de presso sonora;
Aplicar outras medidas de proteco e preveno identificadas como necessrias.
6.2.4 Principais fontes de rudo na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O rudo est entre os principais riscos fsicos encontrados na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas originado
principalmente nas mquinas utilizadas no processo produtivo, tais como:
Extrusoras;
Aglutinadoras;
Mquinas de injeco;
Mquinas de vulcanizao;
Serras;
Moinhos.
A avaliao de riscos associados ao rudo dever implicar:
A avaliao dos nveis de rudo a que os trabalhadores se encontram expostos;
A utilizao de mtodos e equipamentos adaptados s condies existentes e que permitam determinar os parmetros e
decidir sobre a ultrapassagem dos limites;
A possibilidade de se incluir a amostragem desde que representativa da exposio;
Os sistemas de medio devero estar de acordo com a legislao de controlo metrolgico.
A medio do rudo dever ser efectuada por:
Entidade acreditada;
Tcnico superior ou tcnico de higiene e segurana do trabalho com formao especfica em mtodos e instrumentos
de medio de rudo.
Os dados devero ser registados em modelos definidos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 26
Operaes/Equipamentos geradores de rudo
Paralelamente ao processo produtivo destas indstrias, encontramos em muitas unidades fabris, a produo e manuteno de
ferramentas e moldes para utilizao no processo de produo. Estas actividades so fontes geradoras de rudo muitas vezes
superiores a 80 dB(A),
So exemplo destas operaes:
Operaes com prensas;
Operaes de corte;
Operaes de acabamento (rebarbagens, maquinagens, etc.);
Operaes com ferramentas metlicas (martelar, serrar, etc.).
FIGURA 27
Operaes/Equipamentos geradores de rudo
No entanto, de um modo geral, todas as unidades industriais da Borracha e das Matrias Plsticas so caracterizadas por um
rudo de fundo elevado principalmente na zona de moagem, zona de prensas de vulcanizao e na seco de ferramentas e
moldes, normalmente superior a 80 dB(A).
Ainda na rea de produo, verifica-se a existncia de nveis sonoros elevados localizados mquina a mquina podendo variar em
funo do tipo de mquina e da sua idade de fabrico. O nvel de rudo nas mquinas sofre um grande aumento quando h a
utilizao de ar comprimido, verificando-se uma variao acentuada nos valores medidos em cada mquina quer na produo
como na ferramentaria (seco de moldes).
083
084
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.2.5 Medidas de preveno e proteco
Como medidas preventivas e de proteco podem ser implementadas as seguintes:
QUADRO 29
Medidas de preveno e proteco
Medidas
organizacionais
Planificao da produo, com eliminao dos postos mais ruidosos;
Correcta manuteno de mquinas e equipamentos;
Rotao peridica do pessoal exposto;
Aquisio de equipamentos menos ruidosos;
Realizao das tarefas mais ruidosas quando haja menos trabalhadores;
Separao das actividades ruidosas por diferentes espaos.
Medidas construtivas
Substituio ou lubrificao das mquinas;
Diminuio da velocidade de rotao de ventiladores;
Utilizao de materiais amortecedores;
Utilizao de materiais mais absorsores de rudo nas paredes, tectos e pavimentos;
Cobertura das fontes de rudo;
Uso de isolamentos antivibrteis;
Insonorizao dos locais em relao ao exterior.
Medidas de proteco
individual
Uso de protectores com atenuao adequada.
Medidas gerais
Informao e sensibilizao dos trabalhadores;
Sinalizao das zonas ruidosas;
Limitao de acesso s zonas ruidosas;
Vigilncia mdica e audiomtrica dos trabalhadores expostos ao rudo.
As mquinas e equipamentos de concepo e fabrico recentes j integram medidas de reduo de rudo, o que nem sempre
acontece nos equipamentos mais antigos. No sendo, na maioria dos casos, economicamente vivel a substituio destes, devem
ser tomadas medidas de controlo, que permitam a reduo da exposio ao rudo.
FIGURA 28
Mquina de injeco com encapsulamento
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.2.6 Seleco de protectores auriculares
Para proceder seleco de protectores auriculares necessrio conhecer a distribuio do nvel sonoro em funo da frequncia do
som. Uma proteco eficaz dever ter um mximo de atenuao nas frequncias em que os nveis sonoros sejam mais elevados.
De acordo com a NP EN 458 de 2006, os protectores de ouvido so seleccionados de acordo com o valor de exposio pessoal
efectiva ao rudo - LEX,8h efectivo.
Quadro 30
Escolha/verificao de protectores auriculares
LEX,8h efectivo {dB(A)}
<65
65 a 69
70 a 74
75 a 80
>80
Excessivo
Aceitvel
Satisfatrio
Aceitvel
Insuficiente
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 182/2006 de 6 de Setembro considera-se que um protector auditivo proporciona
a atenuao adequada quando um trabalhador com este protector correctamente colocado fica sujeito a um nvel de exposio
pessoal diria efectiva inferior aos valores limite e, se for tecnicamente possvel, abaixo dos valores de aco inferiores.
FIGURA 29
Exemplos de protectores auriculares
6.3 VIBRAES
Em todos os sectores de actividade, o corpo humano est permanentemente exposto a vibraes mecnicas com maior ou menor
perturbao do bem-estar, segurana e sade dos trabalhadores expostos.
As vibraes so fenmenos fsicos, que podemos definir como movimentos oscilatrios, peridicos ou aleatrios, de um
elemento estrutural, em torno de uma posio de referncia ou de equilbrio. As vibraes so agentes fsicos nocivos que
afectam os trabalhadores e que podem ser provenientes das mquinas ou ferramentas portteis a motor ou resultantes dos
postos de trabalho. A exposio s vibraes produzida quando se transmite a alguma parte do corpo o movimento oscilante de
uma estrutura, seja pelo solo, um punho de uma ferramenta ou um assento.
Conforme o modo de contacto entre o objecto vibrante e o corpo, as vibraes podem ser subdivididas, de uma forma geral, em:
Vibraes transmitidas ao corpo inteiro, sempre que um indivduo est apoiado numa superfcie que vibra;
Vibraes transmitidas ao sistema mo-brao quando transmitidas pelos membros superiores.
A ocorrncia de ambas no meio laboral frequentemente coexiste em variadas situaes de trabalho.
Quando no eficazmente controlada, a vibrao um fenmeno difcil de evitar. A produo de vibrao est normalmente
associada a desequilbrios, tolerncias e folgas das diferentes partes constituintes da mquina podendo ainda resultar do
contacto da mquina vibrante com a estrutura. Se as vibraes assim produzidas, mesmo de pequena amplitude, forem
transmitidas a estruturas adjacentes excitando as frequncias de ressonncia destas, sero geradas novas fontes produtoras de
vibraes com maior amplitude e que, muitas vezes se apresentam igualmente como fonte de rudo.
085
086
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.3.1 Principais efeitos na sade
Dependendo da frequncia do movimento e de sua intensidade, a vibrao pode causar sensaes muito diversas, que vo desde
o simples desconforto at alteraes graves da sade, passando pela interferncia com a execuo de certas tarefas como a
leitura, a perda de preciso ao executar movimentos ou a perda de rendimento devido fadiga.
As vibraes transmitidas em determinadas frequncias (ressonncias) podem trazer efeitos negativos mais significativos como
problemas vasculares, osteomusculares e neurolgicos.
O ser humano apercebe-se das vibraes transmitidas numa gama de frequncias que vai dos 0,1 aos 1000 Hz.
40 - 125 Hz - provocam efeitos vasculares;
70 - 150 Hz - chegam at s mos;
>150 Hz - afectam principalmente os dedos;
>600 Hz - provocam efeitos neuromusculares.
Vibraes de frequncias mais baixas podem levar a leses nos ossos. Em concreto, vibraes de baixas e mdias frequncias,
produzem sobretudo efeitos a nvel da coluna, causando o aparecimento de hrnias, lombalgias, afeces do aparelho digestivo e
do sistema cardiovascular, perturbaes da viso e inibio dos reflexos.
Os efeitos so graduais em funo da sua intensidade, isto , as vibraes de fraca intensidade afectam o bem-estar e o conforto
das pessoas expostas e medida que o seu nvel aumenta, provocam diminuio nas capacidades humanas, prejudicando a
execuo de tarefas e, em consequncia a segurana; as vibraes de forte intensidade, a mais curto ou longo prazo, podem
originar leses fisiolgicas e patologias graves.
Originam efeitos biomecnicos e fisiopatolgicos distintos, conforme a banda de frequncia da estimulao vibratria.
Vibraes transmitidas ao sistema Mo - Brao
Geralmente resultam do contacto dos dedos ou das mos com algum elemento vibrante (por exemplo, um punho de ferramenta
porttil, um objecto que se mantenha contra uma superfcie mvel ou um comando de uma mquina vibratria). Os efeitos
nocivos manifestam-se, normalmente, na zona de contacto com a fonte de vibrao, mas tambm pode existir uma transmisso
importante no resto do corpo.
FIGURA 30
Exemplo de um caso de Sndrome de Reynaud ou efeito do Dedo Branco.
O efeito mais frequente e mais estudado
a Sndrome de Reynaud, de origem profissional,
tambm chamado de Dedo Branco, induzido
por vibraes, que tem a sua origem
em alteraes vasculares.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Vibraes transmitidas ao Corpo Inteiro
Quando as vibraes so transmitidas a todo o corpo, este no vibra todo de igual forma. Cada parte reage de maneira diferente,
consoante a sua prpria frequncia de ressonncia. As vibraes cuja frequncia entra na frequncia de ressonncia de um
subsistema so as mais nocivas, pois as vibraes so amplificadas.
A transmisso das vibraes ao corpo e seus efeitos sobre o mesmo so muito dependentes da postura e nem todos os indivduos
apresentam a mesma sensibilidade, assim a mesma exposio s vibraes pode resultar em consequncias diferentes.
Entre os efeitos que se atribuem s vibraes transmitidas ao corpo inteiro, encontram-se os associados aos traumatismos na
coluna vertebral. Tambm so atribudos s vibraes outros efeitos sade, tais como, dores abdominais e digestivas,
problemas de equilbrio, dores de cabea, transtornos visuais, falta de sono e sintomas similares
6.3.2 Enquadramento legal
O Decreto-Lei n. 46/2006, de 24 de Fevereiro estabelece as prescries mnimas de proteco da sade e segurana dos
trabalhadores em caso de exposio aos riscos devidos a vibraes mecnicas. Esta pea lesgislativa define e estabelece o
seguinte:
Valor de aco de exposio valor da exposio pessoal diria, calculado num perodo de referncia de oito horas, expresso em
metros por segundo quadrado, que, uma vez ultrapassado, implica a tomada de medidas preventivas adequadas. Para o sistema
mo-brao o valor de aco de exposio de 2,5m/s2 e para o corpo inteiro o valor de aco de exposio de 0,5m/s2.
Valor limite de exposio valor limite da exposio pessoal diria, calculado num perodo de referncia de oito horas,
expresso em metros por segundo quadrado, que no deve ser ultrapassado. Para o sistema mo-brao o valor limite de
exposio de 5m/s2 e para o corpo inteiro o valor limite de exposio de 1,15m/s2;
Este Decreto-Lei obriga o empregador a avaliar e, se necessrio, medir os nveis de vibraes a que os trabalhadores se
encontram expostos.
A avaliao pode ser realizada mediante a observao de prticas de trabalho especficas, com base em informaes fornecidas
pelo fabricante, relativas ao nvel provvel de vibraes do equipamento ou do tipo de equipamento utilizado, nas condies
normais de utilizao.
A medio do nvel de vibraes mecnicas deve ser realizada por entidade acreditada.
Sempre que seja excedido em valor limite de exposio, a periodicidade mnima de avaliao dos riscos de dois anos.
Se forem ultrapassados os valores limite de exposio, o empregador deve:
Tomar medidas imediatas que reduzam a exposio, de modo a no exceder os valores limite de exposio;
Identificar as causas da ultrapassagem dos valores limite;
Corrigir as medidas de proteco e preveno de modo a evitar a ocorrncia de situaes idnticas.
087
088
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.3.3 Medio de vibraes
As vibraes transmitidas s mos devem ser medidas nas direces de um sistema de coordenadas, no local da mo onde
transmitida a energia.
FIGURA 31
Sistema de coordenadas para medio das vibraes transmitidas ao sistema mo-brao.
a) Nesta posio, a mo agarra de maneira normalizada uma barra cilndrica de 2 cm de raio
- Sistema de coordenadas biodinmicas; -- Sistema de coordenadas basicntricas
b) Nesta posio a mo apoia-se sobre uma esfera de 10 cm de raio
a)
b)
As vibraes que afectam o corpo inteiro podem ser transmitidas de trs formas (ver figura 32):
atravs dos ps de um indivduo que se encontre em p;
atravs das ndegas de uma pessoa sentada;
atravs da rea de suporte de uma pessoa deitada.
FIGURA 32
Formas de transmisso das vibraes ao corpo inteiro.
a) ax, ay, az = acelerao nas direces dos eixos x, y e z
Eixo x = costas - peito
Eixo y = lado direito - lado esquerdo
Eixo z = ps - cabea
a)
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Os nveis de vibraes devem ser medidos nas direces de um sistema de coordenadas rectangulares de eixos x, y e z, cuja
origem o corao. Os parmetros a determinar so:
a amplitude (m/s2);
a frequncia (Hz);
a direco (x, y, z);
o tempo de exposio s vibraes.
A medio de vibraes dever ser efectuada de acordo com os seguintes documentos legais e normativos:
Decreto-Lei n. 46/2006, de 24 de Fevereiro;
ISO 5349-1:2001 - Mechanical vibration Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration.
Part 1 General requirements;
ISO 5349-2:2001 - Mechanical vibration Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration.
Part 2 Practical guidance for measurement at the workplace;
NP ISO 2631-1:2007 - Vibraes Mecnicas e Choque. Avaliao da Exposio do corpo Inteiro a Vibraes.
Parte 1 Requisitos Gerais;
EU Guide to good practice on Whole-Body Vibration, Draft V4.2, Dezembro 2005;
EU Guide to good practice on Hand-Arm Vibration, Draft V7.7, Junho 2006.
Para a realizao dos ensaios de medio das vibraes transmitidas ao corpo humano, devero ser utilizados os seguintes
principais equipamentos:
Vibrmetro e calibrador vibraes associado;
Acelermetro triaxial mo brao;
Adaptador de assento, com acelermetro triaxial incorporado;
Anenmetro e termohigrmetro
Estes equipamentos devero cumprir todos os requisitos aplicveis constantes dos documentos de referncia mencionados.
FIGURA 33
Acelermetro
FIGURA 34
Acelermetro para registo das
vibraes transmitidas do assento a
todo o corpo
FIGURA 35
Vibrmetro e acelermetro para
registo das vibraes transmitidas ao
sistema mo-brao
6.3.4 Principais fontes de vibraes na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As principais fontes de vibrao na indstria da Borracha e Matrias Plsticas so originadas no s em alguns equipamentos
directamente ligados ao processo produtivo, mas principalmente em mquinas e ferramentas de utilizao na seco de
ferramentas e moldes, sector de apoio produo neste tipo de indstrias.
089
090
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Sistema Mo-Brao
Mquinas de polir
Grosadoras
Raspadeiras
Rectificadoras
Martelos de montagem
Aparafusadoras
Berbequins
FIGURA 36
Exemplos de equipamentos geradores de vibraes ao sistema Mo-Brao
Sistema Corpo Inteiro
Empilhadores
Porta paletes (Manuais e Stackers)
Misturadoras
FIGURA 37
Exemplo de equipamento gerador de vibraes ao sistema Corpo Inteiro
Na maioria destes equipamentos, os valores registados para as vibraes emitidas so bastantes baixos, correspondendo
tambm a operaes de baixa exposio dos trabalhadores, isto , o tempo em que os operadores esto a operar com estes
equipamentos reduzido.
Verifica-se tambm uma elevada rotatividade quer de operaes como de operadores.
Todos estes factores associados, resultam numa exposio dos operadores a vibraes, a valores abaixo dos valores de aco de
exposio definidos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.3.5 Medidas de preveno e proteco
As aces administrativas tm como objectivo a diminuio do tempo dirio de exposio s vibraes e incluem aces de
organizao do trabalho como o estabelecimento de pausas no trabalho e rotao dos postos de trabalho.
As aces tcnicas tm como objectivo a diminuio da intensidade de vibrao que transmitida ao corpo humano, quer seja
diminuindo a vibrao na sua origem, quer seja evitando sua transmisso at ao corpo.
igualmente importante a aquisio de equipamentos que cumpram os requisitos da marcao CE.
Isolamento de fundaes
O mtodo mais frequente para a implantao de mquinas a construo de um macio de fundao. O isolamento da fundao
a soluo clssica para evitar a transmisso das vibraes e dos rudos emitidos pelos corpos slidos, garantindo, ao mesmo
tempo, uma maior eficcia e segurana da mquina.
A funo do isolamento consiste em:
Proteger a mquina das vibraes provenientes do exterior (isolamento passivo);
Evitar a transmisso das vibraes provenientes da mquina ao pavimento e consequentemente aos trabalhadores
(isolamento activo).
Reduo da vibrao na fonte
Normalmente consegue-se diminuir a intensidade da vibrao na fabricao das ferramentas ou na sua instalao. importante
o projecto ergonmico dos assentos e punhos. Em algumas circunstncias possvel modificar uma mquina para reduzir o seu
nvel de vibrao apenas trocando a posio das partes mveis, modificando os pontos de ancoramento de fixao ou as unies
entre os elementos mveis.
Diminuio da transmisso da energia mecnica
O uso de isolantes de vibrao, tais como molas ou elementos elsticos nos apoios das mquinas, massas de inrcia,
plataformas isoladas do solo, anis absorventes de vibrao nos punhos das ferramentas, assentos montados sobre suportes
elsticos, etc. Apesar de no diminuir a vibrao original, impede que essa se transmita ao corpo, evitando danos sade.
FIGURA 38
Exemplo de isolantes de vibraes a introduzir nos equipamentos.
a) Apoios de borracha
b) Apoios metlicos
a)
b)
091
092
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
No que respeita reduo de transmisso de vibraes provocadas ao sistema mo-brao, dever-se- privilegiar a aquisio
de ferramentas e mquinas portteis dotadas de punhos anti-vibratrios, assegurando ainda a manuteno do seu estado de
conservao.
Verifica-se ainda que a utilizao de mquinas em velocidade de rotao mais reduzida poder induzir a reduo do nvel de
vibraes associadas.
Ao nvel da manuteno, muito importante a substituio das peas gastas, correco de apertos, alinhamento e calibrao de
rgos mecnicos.
Equipamentos de proteco individual
Se no for possvel reduzir a vibrao transmitida ao trabalhador como medida de preveno suplementar, deve-se recorrer ao
uso de equipamentos de proteco individual - EPI (luvas, cintures, botas) que isolam a transmisso de vibraes. Ao
seleccionar estes equipamentos, deve ter-se em considerao a sua eficcia frente ao risco, sensibilizar os trabalhadores sobre
a forma correcta de uso e estabelecer programa de manuteno e substituio dos EPI.
Outras medidas de preveno
conveniente a realizao anual de exames mdicos especficos para conhecer o estado de sade dos trabalhadores expostos s
vibraes e, assim, actuar nos casos de maior susceptibilidade do trabalhador exposto a este agente agressor.
No caso de vibraes contnuas devem ser programadas pausas. A frequncia e a durao dessas pausas vo depender
naturalmente das caractersticas da vibrao e das condies de trabalho.
Deve ainda dar-se formao e informao aos trabalhadores sobre os nveis de vibraes aos quais esto expostos, bem como as
medidas de proteco disponveis.
No quadro 31 sistematizam-se as principais medidas de preveno e proteco dos trabalhadores contra as vibraes.
QUADRO 31
Medidas de preveno e proteco dos trabalhadores contra as vibraes.
Tipo de Medidas
Tcnicas
Medidas
Reduo das vibraes
na origem
Aquisio de equipamentos que cumpram os requisitos da
marcao CE.
Diminuio da
transmisso da energia
mecnica
Montagem em suportes anti-vibratrios (molas,
amortecedores, etc.); utilizao de materiais isolantes
(borracha, cortia).
Reduo da amplitude de
vibrao
Adicionar massas ao sistema vibratrio reduzindo a
frequncia de vibrao.
Utilizao de
equipamentos de
proteco individual
Seleco e utilizao de equipamentos de proteco
individual adequados.
Manuteno
Substituio de peas gastas, apertos, alinhamentos e
calibraes de rgo mecnicos.
Organizacionais
Rotao de postos de
trabalho
Rotao de tarefas com menor exposio a vibraes.
Vigilncia da sade
Exames mdicos
Histria e observao clnica, exames complementares de
diagnstico.
Gerais
Informao e formao
Os trabalhadores expostos devem conhecer os riscos e
meios de os evitar.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.4 CONTAMINANTES QUMICOS
Os produtos qumicos so utilizados em prticamente todas as actividades, pelo que a exposio a contaminantes qumicos no
meio laboral tem contribudo de forma significativa para o aumento da prevalncia de certo tipo de doenas, com destaque para
as doenas respiratrias e o cancro.
Contaminantes qumicos so todas as substncias orgnicas ou inorgnicas, naturais ou sintticas que durante o seu fabrico,
manuseamento, transporte, armazenamento ou uso, podem incorporar-se no ar ambiente, e em quantidades que tenham
probabilidades de provocar danos na sade das pessoas (doenas profissionais) que se expem ou expostas a elas, ou danos
(acidentes) pessoais e materiais, incluindo o ambiente.
A aco nociva de uma exposio a contaminantes qumicos est relacionada no s com as caractersticas do contaminante mas
tambm com o trabalho desenvolvido (durao e tipo) e com as caractersticas do prprio indivduo. Assim, so considerados
determinantes os seguintes factores:
Composio qumica do contaminante, que determina a sua toxicidade;
Capacidade de penetrao do contaminante no organismo e a sua solubilidade no sangue;
Quantidade de substncia presente no ar inalado;
Tempo de exposio e frequncia da exposio ao longo do tempo;
Tipo de trabalho desempenhado pelo trabalhador quanto maior for o esforo dispendido maior o volume de ar inspirado
e, consequentemente, a quantidade de contaminante qumico inalado;
Caractersticas individuais: o gnero, a idade, o estado de sade e a susceptibilidade gentica fazem variar, para igual
exposio, a extenso e/ou tipo de efeitos.
A deteco precoce de uma exposio de risco pode diminuir significativamente a ocorrncia de efeitos adversos na sade dos
trabalhadores expostos.
Os contaminantes qumicos podem apresentar-se no ar ambiente sob as seguintes formas:
FIGURA 39
Contaminantes qumicos no ar
Contaminantes
qumicos no ar
Slidos
Poeiras
Fibras
Fumos
Lquidos
Nevoeiros
Aerossis
Gasosos
Vapores
Gases
No campo dos contaminantes qumicos industriais, as poeiras ocupam um lugar de destaque devido aos efeitos que podem ter na
sade dos trabalhadores.
Para alm dos efeitos para a sade, deve tambm ter-se em conta que as poeiras sujam o ambiente de trabalho, reduzem a
visibilidade por absoro da luz, deterioram as mquinas com reduo do seu rendimento e durao e prejudicam o bem-estar
geral, diminuindo o rendimento de trabalho.
Os vapores so formas gasosas de substncias que, nas condies normais de presso e temperatura, se encontram noutro
estado: lquido ou slido.
093
094
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.4.1 Principais contaminantes qumicos presentes na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
No quadro seguinte so apresentados os principais contaminantes qumicos presentes na Indstria da Borracha e das Matrias
Plsticas e suas fontes.
QUADRO 32
Principais contaminantes qumicos presentes na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
PROCESSO
OPERAO
PRODUTOS QUMICOS
UTILIZADOS
CONTAMINANTES
QUMICOS
Borracha nitrlica
Acrilonitrilo
Indstria da Borracha
Pesagem/Mistura
Pesagem das
matrias-primas
Alimentao dos
misturadores
1,3 Butadieno
Negro de fumo
Poeiras
Resinas
Slica cristalina
Aceleradores
Enxofre
Enxofre
xido de Zinco
Cargas
Vulcanizao
Limpeza das
peas metlicas
Plastificantes
Hidrocarbonetos
Solventes
Hexano
Etanol
Metiletilcetona
Incorporao das
peas metlicas
na borracha
Colas
Tetracloroetileno
Etilbenzeno
Metilisobutilcetona
Xileno
Composto de
chumbo
Acabamento
Rectificao dos
rolos
Poeiras
Indstria das Matrias Plsticas: Espumas de Polietileno
Extruso
Alimentao das
linhas
Talco
Retardador de chama
Poeiras
Respirveis
Poeiras Totais
Ao longo de todo o
processo de extruso
Gs expansor
Propano
n-Butano
Isobutano
Transformao
Corte da espuma
Poeiras
Respirveis
Poeiras Totais
MANUAL DE BOAS PRTICAS
PROCESSO
PRODUTOS QUMICOS
UTILIZADOS
CONTAMINANTES
QUMICOS
Master
Poeiras
Respirveis
OPERAO
Indstria das Matrias Plsticas
Mistura
Pesagem das
matrias-primas
Alimentao dos
misturadores
Extruso
Extruso
Estabilizantes
Pigmentos
Poeiras Totais
Tintas base solvente
Compostos de
chumbo
Primrios
Butanona
Heptano
Tolueno
Impresso
Impresso
Solventes
Acetato de etilo
Diluentes
Acetato de propilo
Aditivos
lcool etlico
Butanona
Ciclohexanona
Fenol
Metiletilcetona
Propanol
Propanona
Tolueno
Tintas
Etanol
Etilacetato
Serigrafia
Tolueno
Serigrafia
Incorporao das
peas metlicas
na borracha
Tintas
Colas
Diluentes
2-butoxietanol
Tetracloroetileno
Coclohexanona
Etilbenzeno
Acetato de
Metilisobutilcetona
butidiglicol
Xileno
2-butoxietanol
Acabamento
Rectificao dos
rolos
Poeiras de
Mistura
hidrocarbonetos
Colas
Acetato de etilo
Butanona
Propanona
095
096
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os compostos de chumbo aparecem com alguma regularidade nestes sectores.
O chumbo absorvido principalmente por via respiratria e, secundariamente, por via digestiva e fixado pelo tecido sseo
devido grande afinidade do chumbo com o mesmo.
No exame fsico, comum encontrar-se mucosas descoradas, palidez da pele, orla azulada nas gengivas e dor palpao
abdominal.
Quando no controlada, a intoxicao evolui para alteraes do sistema nervoso.
O Decreto-Lei n. 274/89, de 21 de Agosto, relativo proteco da sade dos trabalhadores contra os riscos que possam decorrer
da exposio ao chumbo, determina um conjunto de medidas de preveno e controlo que devem ser implementadas no sentido
de reduzir os riscos associados exposio a este contaminante.
6.4.2 Principais efeitos na sade
Os contaminantes qumicos podem provocar danos de forma imediata ou a curto prazo intoxicao aguda, ou provocar uma
doena profissional ao longo do tempo intoxicao crnica.
A maioria dos contaminantes qumicos produz efeitos prejudiciais a partir de certa dose (quantidade) pelo que, na maioria dos
casos, se pode trabalhar em contacto com eles sem que surjam efeitos irreversveis, desde que seja abaixo dessa dose. No
entanto, h certos contaminantes de reconhecido potencial cancergeno que podem provocar o aparecimento de doenas, mesmo
em concentraes muito baixas. Por isso, deve-se evitar o contacto com este tipo de contaminantes e as medidas preventivas
exigidas so mais rigorosas.
No quadro seguinte apresentam-se os efeitos dos contaminantes presentes nos principais processos da Indstria da Borracha e
Matrias Plsticas.
QUADRO 33
Principais efeitos dos contaminantes presentes nos principais processos da Indstria da Borracha e Matrias Plsticas.
Contaminante
Efeitos na sade
Acetato de etilo
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Acetato de n-propilo
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Acrilonitrilo
Afeco do sistema nervoso central
Irritao do tracto respiratrio inferior
1,3 Butadieno
Cancro A2
n-Butano
Afeco do sistema nervoso central
Sensibilizao cardaca
2-butoxietanol
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Ciclo-hexanona
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Compostos de chumbo
Afeco do sistema nervoso central e perifrico
Efeitos hematolgicos
Etanol
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Leso do sistema nervoso central
Etilbenzeno
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Contaminante
Efeitos na sade
Heptano
Irritao do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
Hexano
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
Isobutano
Afeco do sistema nervoso central
Sensibilizao cardaca
Metiletilcetona
Irritao do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central e do sistema nervoso
perifrico
Metitisobutilcetona
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Leso renal
xido de Zinco
Febre do soldador
Propano
Afeco do sistema nervoso central
Sensibilizao cardaca
2-Propanol
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
Slica cristalina
Fibrose pulmonar
Cancro do pulmo
Tetracloroetileno
Afeco do sistema nervoso central
Tolueno
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
Xileno
Irritao ocular e do tracto respiratrio superior
Afeco do sistema nervoso central
6.4.3 Avaliao do risco de exposio a contaminantes qumicos
A preveno dos riscos profissionais constitui uma obrigao legal, determinando o artigo 15 da Lei n. 102/2009, de 10 de
Setembro a necessidade de: Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposies aos agentes qumicos, fsicos e biolgicos e
aos factores de risco psicossociais no constituem risco para a segurana e sade do trabalhador.
Por outro lado, o Decreto-Lei n. 290/2001, de 16 de Novembro (que transpe a Directiva Comunitria dos Agentes Qumicos)
prev no seu artigo 4. que o empregador deve avaliar os riscos e verificar a existncia de agentes qumicos perigosos nos locais
de trabalho.
A norma portuguesa NP 1796:2007 fixa os valores limite de exposio para agentes qumicos existentes no ar dos locais de
trabalho, baseando-se nas linhas de orientao da American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
097
098
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os valores limite de exposio (VLE) dizem respeito s concentraes no ar das vrias substncias e representam condies para
as quais se admite que quase todos os trabalhadores podem estar expostos, dia aps dia, sem efeitos adversos.
O processo de avaliao do risco de exposio deve seguir os seguintes passos:
Identificao dos contaminantes qumicos presentes
Anlise dos processos de fabrico, das matrias-primas utilizadas e dos produtos produzidos e identificao dos locais onde exista
libertao de contaminantes qumicos para o ambiente de trabalho.
Identificao e caracterizao dos contaminantes qumicos presentes, nomeadamente, atravs da consulta das fichas de dados
de segurana e fichas toxicolgicas.
Avaliao da exposio dos trabalhadores
Uma vez conhecidos os contaminantes qumicos libertados para o ambiente de trabalho deve-se proceder a avaliao da
exposio dos trabalhadores por estimativa ou de forma quantificada atravs de medies.
Caracterizao do risco por comparao com os valores limite de exposies estabelecidos.
Implementao de medidas correctivas/preventivas.
A Gesto do Risco estuda a informao e resultados produzidos na avaliao do risco e estabelece prioridades, escolhe as
medidas a implementar e os indicadores de acompanhamento.
A Comunicao do Risco visa dar a conhecer a todos os intervenientes o resultado da avaliao do risco e as decises tomadas na
gesto do risco. Esta aco determinante para a adeso informada de todos na utilizao dos meios de controlo / preveno e
na implementao de boas prticas de trabalho.
A Organizao Internacional do Trabalho (OIT) e a Organizao Mundial de Sade (OMS) tendo em considerao as dificuldades,
nomeadamente das PME em proceder a uma avaliao quantificada da exposio, internacionalizaram uma ferramenta
designada por Chemical Control Tool Kit (CCTK).
Esta ferramenta baseada no mtodo Control Banding, publicado pelo Health and Safety Executive, no Reino Unido, que
consiste em avaliar semi-quantitativamente o risco e indicar uma soluo preventiva, com base em estudos previamente feitos e
validados.
Etapas no Control Banding
Primeira etapa
O processo inicia-se com a identificao dos produtos utilizados e a definio do seu grau de toxicidade. Esta informao deve ser
procurada na fichas de dados de segurana dos produtos e nas fichas toxicolgicas.
Com base nestas informaes, os produtos so classificados tendo em conta 5 grupos de risco. Os grupos de A a E, identificam os
riscos associados inalao da substncia. O sexto grupo, o grupo S, identifica os riscos associados ao contacto com a pele e olhos.
Esta etapa alerta ainda para a possibilidade de risco frequentemente desconhecido e constitui um instrumento importante para a
educao e consciencializao das pessoas.
099
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Segunda etapa
Esta etapa consiste na determinao e controlo das quantidades utilizadas. Um controlo das quantidades utilizadas pode
inclusive servir como um indicador de potenciais fugas ou derrames.
Terceira etapa
O passo seguinte determinar a volatilidade (para lquidos) ou o ndice de empoeiramento para cada produto utilizado.
Quarta etapa
Combinando os dados obtidos quanto toxicidade e quanto possibilidade de exposio (que depende da quantidade utilizada e
da capacidade do agente em se propagar pelo ambiente de trabalho) chega-se a uma hierarquia de controlo (1, 2, 3 ou 4) que
permite definir prioridades de interveno, de acordo com o definido na figura abaixo:
FIGURA 40
Hierarquia de controlo
Mais informaes sobre este mtodo, nomeadamente os quadros para classificao dos grupos de risco, das quantidades
utilizadas e da volatilidade, podem ser encontradas no seguinte site:
www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/guide.pdf
099
100
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.4.4 Medidas de preveno e proteco
A situao ideal eliminar dos ambientes de trabalho qualquer agente que possa afectar a sade dos trabalhadores. Quando isso
no for possvel, o objectivo deve ser a reduo mxima do risco.
A cadeia do risco emisso da fonte, propagao atravs do meio e exposio do receptor (trabalhador) deve ser interrompida
de alguma forma. Quanto mais perto da fonte for eliminado o risco melhor, portanto a hierarquia do controlo deve ser, actuar
na(o):
Fonte;
Trajectria do risco (entre a fonte e o receptor);
Receptor do risco (trabalhador).
Na Fonte
As medidas gerais de actuao na fonte baseiam-se em impedir ou reduzir a formao do contaminante em causa, sendo de
salientar:
Substituio de produtos
Por produtos menos txicos. Por exemplo: substituio de tintas de base solvente por tintas de base aquosa; pigmentos
com chumbo por pigmentos de dixido de titnio ou xido de zinco.
Por produtos menos volteis ou menos pulverulentos. Por exemplo: Substituio de produtos em p por produtos
granulados.
Por produtos que possam ser utilizados em menores quantidades e com menos desperdcio.
Substituio/Modificao de processos / equipamentos
Reduo de temperaturas de um processo.
Automatizao dos processos.
Mtodos hmidos.
Instalao de sistemas de controlo
Isolamento (parcial ou total) da fonte emissora.
Sistemas de exausto localizada.
Manuteno preventiva das instalaes e equipamentos
A manuteno adequada contribui para a reduo do risco, por exemplo reduo do risco de fugas, derrames.
A manuteno dos motores contribui para assegurar uma melhor combusto reduzindo assim a formao de monxido
de carbono.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Alguns exemplos de boas prticas:
FIGURA 41
Zona de pesagem das matrias-primas isolada das restantes reas produtivas
FIGURA 42
Sistemas de aspirao
O dispositivo de captao
deve estar localizado de
modo a que o fluxo do
contaminante no atinja a
zona de respirao do
trabalhador
No Meio
Estas medidas visam evitar que o contaminante j gerado se propague pelo ambiente de trabalho e atinja nveis de concentrao
perigosos para a sade dos trabalhadores expostos.
Locais de trabalho adequados
Pavimentos e revestimentos em material que facilite as operaes de limpeza.
Limpeza peridica dos locais e postos de trabalho. Deve utilizar-se a aspirao ou via hmida.
Sinalizao dos riscos, advertindo para os perigos e precaues a adoptar.
reas restritas.
Sistemas de alarme.
Sistema de ventilao adequado
Ventilao geral (no recomendada no caso de controlo do empoeiramento).
Sistema de ventilao ao nvel do pavimento.
101
102
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Alguns exemplos de boas prticas:
FIGURA 433
Sistema de varrimento do isobutano ao nvel do pavimento
No Receptor
As medidas preventivas no receptor baseiam-se na proteco do trabalhador de forma a que o contaminante no penetre no seu
organismo.
Formao / Treino do trabalhador
Informar / Formar os trabalhadores sobre os riscos associados exposio a contaminantes qumicos e o modo de os
controlar.
Alterao de prticas de trabalho
Embalagens fechadas e bem rotuladas.
Localizao do trabalhador.
No comer ou beber no local de trabalho.
Higiene pessoal e das roupas de trabalho.
Utilizao de equipamento de proteco individual
Uso de mscara se os contaminantes no puderem ser reduzidos a nveis considerados inofensivos.
Uso de luvas e fatos prprios no caso de utilizao de substncias com grande poder de penetrao cutnea.
Estes equipamentos devem ser certificados e os filtros devem ser os adequados para proteco contra o contaminante
presente.
Medidas organizacionais
Rotatividade dos trabalhadores.
Rastreio para deteco atempada de situaes de alterao da sade dos trabalhadores
Vigilncia do estado de sade
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.5 AMBIENTE TRMICO
O ambiente trmico definido como o conjunto das variveis trmicas do posto de trabalho que influenciam o organismo do
trabalhador.
O ser humano homeotrmico, ou seja, para sobreviver necessita de manter a temperatura interna do organismo (crebro,
corao e rgos do abdmen) aproximadamente constante (370,8 C). Este facto obriga a que o fluxo de calor produzido e
recebido pelo organismo seja sensivelmente igual ao fluxo de calor cedido pelo organismo ao ambiente envolvente.
Assim se o calor que penetra e/ou gerado no interior do nosso corpo for superior ao calor que conseguimos dissipar, o corpo
aquece, levando, no limite, morte por hipertermia. Se, pelo contrrio, o calor que penetra e/ou gerado no interior do nosso
corpo for inferior ao calor que estamos a dissipar o corpo arrefece levando, no limite, morte por hipotermia.
A gerao de calor depende da nossa actividade, enquanto que a absoro ou dissipao de calor depende do tipo de roupa que
trazemos vestida e de um conjunto de variveis ambientais, nomeadamente:
Temperatura do ar;
Temperatura das superfcies que nos rodeiam;
Velocidade do ar;
Humidade relativa.
6.5.1 Efeitos na sade
O estudo do ambiente trmico nos locais de trabalho deve atender necessidade de obteno de condies aceitveis em termos
de sade e conforto e ser adequado ao organismo humano, em funo do processo produtivo, dos mtodos de trabalho utilizados
e da carga fsica a que os trabalhadores esto sujeitos.
Em ambientes trmicos quentes ou frios, a Homeotermia assegurada custa de certas reaces fisiolgicas, a diferentes
nveis, para se conseguir uma sensao de conforto trmico.
FIGURA 44
Estudo do ambiente trmico
O corpo humano dispe de um sistema termo-regulador bastante eficiente, que compreende trs mecanismos:
Os vasos sanguneos (em particular os capilares) desempenham o papel de serpentinas de arrefecimento ou de
aquecimento do sangue. O corpo reage aos efeitos da alta temperatura aumentando o ritmo cardaco e dilatando os
capilares;
Segregao de suor (a evaporao do suor produz um arrefecimento);
Termognese - desencadeia-se quando se d um arrefecimento do corpo e consiste numa intensificao das reaces
nos msculos e em alguns outros rgos.
103
104
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Um ambiente trmico desajustado pode dar origem a desconforto e mal-estar psicolgico, absentismo elevado, reduo da
produtividade, aumento da frequncia de acidentes e a efeitos fisiolgicos:
Temperaturas elevadas
A exposio a temperaturas elevadas, principalmente no perodo estival provvel, nas Indstrias da Borracha e das Matrias
Plsticas.
Quando o calor cedido pelo organismo ao meio ambiente, inferior ao calor recebido ou produzido pelo metabolismo total
(metabolismo basal + metabolismo de trabalho), o organismo tende a aumentar a sua temperatura, e para evitar esta hipertermia
(aumento da temperatura do corpo), pe em marcha outros mecanismos entre os quais podemos citar:
Vaso-dilatao sangunea: aumento das trocas de calor;
Activao (abertura) das glndulas sudorparas: aumento do intercmbio de calor por troca do estado de sudor de
lquido a vapor;
Aumento da circulao sangunea perifrica. Pode chegar a 2,6 l/min/m2;
Troca electroltica de "suor". A perda de NaCl pode chegar a 15 g/ litro.
As principais patologias resultantes da exposio do ser humano a temperaturas elevadas so as descritas no quadro seguinte:
QUADRO 34
Principais patologias resultatntes da exposio do ser humano a temperaturas elevadas
DESIGNAO
Choque trmico
DESCRIO
CONSEQUNCIAS
Subida contnua da temperatura (mecanismos de
dissipao insuficientes)
Convulses e alucinaes
Coma (42C a 45 C)
Morte
Colapso trmico
Aumento acentuado da presso arterial
(incremento do fluxo sanguneo)
Vertigens; tonturas
Transpirao intensa
Dores fortes de cabea
Perda excessiva de gua (taxa de sudao muito
elevada)
Desidratao
Diminuio da capacidade
mental
Diminuio da destreza
Aumento do tempo de reaco
Desmineralizao
Perda no compensada de sais (ingesto no
compensada de gua)
Cibras (fadiga trmica)
A longo prazo, os efeitos da exposio ao calor excessivo podem causar maior susceptibilidade a outras doenas, decrscimo do
desempenho individual e da capacidade de execuo, maior incidncia de doenas cardiovasculares e de perturbaes
gastrointestinais.
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas as temperaturas baixas no so provveis; no entanto, de seguida enumeramse os efeitos para a sade resultantes da exposio a baixas temperaturas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Temperaturas baixas
Quando o calor cedido ao meio ambiente, superior ao calor recebido ou produzido por meio do metabolismo basal ou de
trabalho, devido actividade fsica que se est a exercer o organismo tende a arrefecer-se para evitar esta hipotermia (descida
da temperatura do corpo), pe em marcha mltiplos mecanismos, entre os quais podemos indicar:
Vasoconstrio sangunea: diminuir a cedncia de calor ao exterior;
Desactivao (fecho) das glndulas sudorparas;
Diminuio da circulao sangunea perifrica;
Tremores: produo de calor (transformao qumica em mecnica/trmica);
Autofagia das gorduras armazenadas: transformao qumica de lpidos (gorduras armazenadas) a glcidos de
metabolizao directa;
As consequncias da Hipotermia podero ser:
Mal-estar geral;
Diminuio da destreza manual;
Reduo da sensibilidade tctil;
Anquilosamento das articulaes;
Comportamento extravagante (hipotermia do sangue que rega o crebro);
Congelamento dos membros: as suas extremidades so as mais afectadas;
Frieiras;
P das trincheiras;
A morte produz-se quando a temperatura interior inferior a 28 C por falha cardaca.
105
106
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.5.2 Caracterizao do ambiente trmico
Os riscos relacionados com o ambiente trmico resultam da dificuldade do corpo manter a temperatura normal (homeotermia),
atravs de ganhos ou perdas de calor para o ambiente, conforme se ilustra de forma esquemtica na figura seguinte:
A avaliao do ambiente trmico deve contemplar duas situaes:
FIGURA 45
Mecanismos de troca de calor entre o seu humano e o ambiente
O conforto trmico, no qual analisada a influncia do ambiente de trabalho e do tipo de tarefa executada no bem-estar
do trabalhador. Reporta-se aos locais de trabalho onde se verifique a exposio a ambientes trmicos moderados e de
forma a obter condies de conforto aceitveis para 90% ou mais dos seus ocupantes.
O stresse trmico, ocasionado pela exposio do corpo humano a temperaturas extremas, podendo causar graves
alteraes fisiolgicas. Pode ser encontrado em locais de trabalho onde se verifique a exposio a ambientes
extremamente quentes ou frios, nos quais se avalia o efeito do calor ou do frio nos trabalhadores, durante perodos
representativos da sua actividade.
Conforto trmico
A determinao do conforto trmico em ambientes trmicos moderados realizada atravs da norma ISO 7730: 2005, a qual
define aquela sensao subjectiva como "that condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment" o
estado de alma que expressa satisfao com o ambiente trmico.
O conforto trmico medido atravs dos ndices PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied).
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O PMV um ndice que prev o valor mdio de votos de um grande grupo de pessoas, na escala de sensao trmica de 7 pontos,
baseado no balano trmico do corpo humano, obtido quando a produo de calor interno no corpo igual perda de calor para o
ambiente.
O PMV uma previso do valor mdio dos votos trmicos de um grande grupo de pessoas expostas ao mesmo ambiente. Mas os
votos individuais esto espalhados volta deste valor mdio e til conseguir prever o nmero de pessoas que se sintam
desconfortavelmente com calor ou frio.
QUADRO 35
Escala de sensao trmica
Valor
Descrio
+3
Quente
+2
Tpido
+1
Ligeiramente tpido
Neutro
-1
Ligeiramente fresco
-2
Fresco
-3
Frio
O PPD um ndice que estabelece uma previso quantitativa da percentagem de pessoas termicamente insatisfeitas. Para efeitos
de Padro Internacional, as pessoas termicamente insatisfeitas so aquelas que votam quente, tpido, fresco ou frio na escala de
sensao trmica.
Qualquer um destes ndices calculado com base em medies de temperatura, humidade relativa, velocidade do ar, calor
radiante e em dados sobre o vesturio dos trabalhadores presentes no local e no metabolismo correspondente sua actividade.
A metodologia de clculo a seguinte:
Quantificao de parmetros individuais e ambientais;
Determinao da acumulao energtica do corpo;
Determinao do PMV escala calor / frio;
Determinao do PPD insatisfao.
O metabolismo de trabalho estimado atravs de tabelas de actividade e/ou tarefas, de acordo com as metodologias previstas na
norma ISO 8996:2004 Ergonomics of the thermal environment Determination of metabolic rate.
Para a estimativa do isolamento do vesturio so utilizadas as tabelas do Anexo C da norma ISO 7730:2005.
De acordo com a norma ISO 7730: 2005, um ambiente trmico apresenta condies de conforto quando no mais do que 10% dos
seus ocupantes se sintam desconfortveis.
Stresse trmico
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas provvel a ocorrncia de situaes de stresse trmico, devido s
temperaturas elevadas frequentemente presentes no ambiente de trabalho.
107
108
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Quando uma pessoa exposta a um ambiente demasiado quente ou quando a sua actividade fsica muito intensa, sofrer, numa
primeira fase, um aumento do fluxo sanguneo nos vasos superficiais. Este aumento, facilitado pelo aumento do ritmo cardaco e
pela vasodilatao, potencia as trocas de calor entre o interior do nosso corpo e o ambiente. No entanto, em presena de
condies trmicas extremas, este mecanismo pode no ser suficiente para dissipar todo o calor necessrio, sendo activadas as
glndulas sudorparas, as quais iro conduzir ao aumento da taxa de transpirao. Quando este mecanismo de regulao da
temperatura interna do corpo tambm se esgota, a temperatura sobe, podendo, em casos extremos, atingir valores fatais.
Sempre que se suspeite da possibilidade de exposio a ambientes que potenciam o stress trmico, dever-se- proceder a uma
avaliao do nvel em causa. Como a medio directa das consequncias fisiolgicas do stress trmico (vasodilatao, aumento
do ritmo cardaco, aumento da taxa de sudao, aumento da temperatura corporal) no , na maior parte dos casos, possvel,
necessrio proceder a uma avaliao indirecta, recorrendo ao clculo de um ndice de stress trmico.
Um dos ndices mais utilizados o WBGT (temperaturas de bolbo hmido e de globo), estabelecido na norma ISO 7243: 1989 e
que integra a influncia combinada das 4 variveis ambientais com influncia sobre o balano trmico do nosso corpo
temperatura e velocidade do ar, humidade relativa e temperatura das superfcies que nos rodeiam (temperatura radiante).
QUADRO 36
ndices de stresse trmico e respectivos equipamentos de medida
Indicador
Equipamento de medida
Temperatura do ar
Termmetro
Humidade relativa
Psicrmetro ou higrmetro
Velocidade do ar
Anemmetro
Temperatura radiante
Termmetro de globo
Se o ndice WBGT de um determinado local for superior ao valor de referncia, ento ser necessrio reduzir o tempo de
permanncia dos trabalhadores nesse local ou, alternativamente, implementar medidas no sentido de reduzir o nvel de stress
trmico do local.
A criao de condies que permitam a reduo do ndice WBGT exige uma caracterizao detalhada do ambiente trmico do
local em questo. Caso contrrio, corre-se o risco de intervir num sentido que no o mais adequado (por exemplo, instalar um
sistema de climatizao/ventilao para baixar a temperatura do ar no interior de uma nave industrial quando a origem do
stress trmico est relacionada com elevadas temperaturas de superfcie)
QUADRO 37
Valores mximos recomendados do ndice WBGT
Valor mximo do ndice WBGT (ISO 7243)
Tipo de actividade
Trabalhador aclimatizado
Trabalhador no aclimatizado
Descanso
33
32
Trabalho manual leve
30
29
Trabalho braal moderado
28
26
Ar parado
Ar em movimento
Ar parado
Ar em movimento
Actividade fsica intensa
25
26
22
23
Actividade fsica muito intensa
23
25
18
20
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.5.3 Medidas de preveno e proteco
Quando expostos a ambientes trmicos desfavorveis, a concentrao e a capacidade fsica dos trabalhadores so afectadas, o
que naturalmente ir comprometer a produtividade da empresa e, no menos importante, ir criar condies favorveis
ocorrncia de acidentes de trabalho.
Os riscos associados a ambientes trmicos desfavorveis (temperaturas elevadas e temperaturas baixas) devem ser controlados,
atravs de medidas de natureza diversa, conforme se descreve no quadro seguinte:
QUADRO 38
Medidas de controlo do ambiente trmico temperaturas elevadas
Temperaturas elevadas
Uso de ventilao geral e climatizao;
Uso de exaustores em postos de elevada libertao de calor, com renovao de 30 m3/hora
por pessoa; nomeadamente na vulcanizao, injeco, extruso;
A instalao de refrigeradores para o ar renovado;
A utilizao de ventoinhas (estas devem ser colocadas de forma a no interferir com a
eficincia de qualquer sistema de controlo de qualquer contaminante existente);
Medidas construtivas
A utilizao de ecrs protectores contra energia radiante (ex: mquinas de extruso e
vulcanizao);
A utilizao de equipamento (tais como ferramentas) que permita reduzir a carga de calor
metablico;
Uso de chamins (hottes) aspiradoras, evacuando o ar quente por conveco natural;
Proteco de paredes opacas (tectos em particular);
Proteco das superfcies envidraadas.
Automatizao das tarefas fisicamente mais pesadas;
Introduo de um perodo de preparao prvia (aclimatizao), normalmente
de 2 semanas;
Limitao do tempo de exposio;
Rotao peridica do pessoal exposto;
Organizao de turnos de menor durao;
Medidas organizacionais
Transferncia de algumas tarefas para perodos mais frescos do dia;
Introduo de pausas para recuperao em local fresco;
Disponibilizao de gua potvel em abundncia (12 15C), nunca permitir a ingesto de
gua gelada pois inibe a sede e pode contribuir para o aparecimento de irritao das vias
respiratrias;
Proporcionar a reposio de electrlitos, principalmente de sdio;
Proibio de ingesto de bebidas alcolicas;
Sensibilizao dos trabalhadores para evitarem ingerir caf e alimentos gordos.
Medidas de proteco
individual
Uso de vesturio adequado, bem ventilado, flexvel e com elevado grau de reflexo.
O vesturio deve proteger integralmente o corpo dos trabalhadores, evitar uso de
camisolas com mangas curtas, pois existem em vrios postos de trabalho superfcies
quentes, susceptveis de provocar queimaduras;
Uso de luvas, culos e viseiras reflectoras, aventais.
109
110
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Para alm das medidas descritas anteriormente muito importante a empresa considerar as caractersticas individuais dos
trabalhadores, nomeadamente:
Idade acima de 45 anos - capacidade de sudorese menor; maior demora para alcanar a temperatura normal aps
cessada a exposio, portanto menor capacidade de adaptao;
Obesidade - menor capacidade de perda de calor por evaporao e acumulao maior de calor do metabolismo (tecido
adiposo como isolante trmico);
Doenas do sistema circulatrio - a insuficincia cardaca (mesmo compensada) por incapacidade de compensar as
necessidades do esforo e da vasodilatao perifrica necessrias ao ambiente de calor;
Doenas do aparelho respiratrio - como asma, rinites, faringites, bronquites crnicas, pioram nos ambientes de calor
devido a desidratao das vias respiratrias;
Doenas renais - so pioradas pela diminuio da diurese induzida nos ambientes quentes;
Doenas psicossomticas - (tais como: lcera, epilepsia, alcoolismo, etc) so pioradas pelo desconforto provocado pelos
ambientes quentes.
Doenas oculares - portadores de cataratas e conjuntivites de repetio;
Outras doenas - Dermatites, hipertireoidismo, etc.
No quadro seguinte, descrevem-se as medidas de controlo de ambiente trmico temperaturas baixas, que devem ser tidas em
considerao.
QUADRO 39
Medidas de preveno e proteco
Temperaturas baixas
Aumentar o grau de isolamento trmico dos telhados e restantes elementos construtivos;
Instalar aquecedores distribudos pelos postos de trabalho, evitando a sua concentrao
em locais particulares;
Medidas construtivas
Instalar cabinas climatizadas, para que os trabalhadores se possam aquecer gradualmente
at temperatura ambiente;
A manuteno dos equipamentos de aquecimento dever ser programada e efectuada em
prazos que permitam um eficiente funcionamento dos mesmos.
Limitao do tempo de exposio;
Rotao peridica do pessoal exposto;
Medidas organizacionais
Organizao de turnos de menor durao;
Introduo de pausas para recuperao em local aquecido;
Disponibilizao de bebidas quentes.
Medidas de proteco
individual
Uso de vesturio protector adequado.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.5.4 Ambiente trmico na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Na indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, as principais situaes de ambiente trmico adversas a considerar esto
sobretudo relacionadas com as tarefas desenvolvidas e so influenciadas pela estao do ano. Assim, no perodo de Vero so de
destacar, a ttulo de exemplo, devido s temperaturas elevadas, as operaes seguintes:
Vulcanizao
FIGURA 46
Vulcanizao da borracha
Prensagem
FIGURA 47
Prensagem da borracha
Extruso
Durante o processo de extruso de termoplsticos, o polmero fundido dentro de um cilindro e posteriormente arrefecido numa
calandra. Este processo , normalmente, contnuo, sendo usado para a produo de perfis, filmes plsticos, folhas plsticas, etc.
um processo que requer temperaturas muito elevadas.
111
112
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 48
Extruso de plsticos
Injeco
Este processo consiste na injeco do material fundido no interior de um molde adquirindo a geometria do molde aps a
solidificao no seu interior.
FIGURA 49
Mquina de injeco de plsticos
Na estao de Inverno, e em especial nas regies mais frias, as condies que podero ser desfavorveis esto relacionadas com
as operaes de armazenagem, nomeadamente da necessidade dos armazns manterem as portas abertas para a movimentao
de cargas.
Particular ateno deve ser dada ocorrncia de correntes de ar potencialmente perigosas para os trabalhadores expostos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.6 RADIAES
A radiao um processo de propagao de energia no espao atravs de ondas e a partir de uma fonte emissora. De acordo com
a sua capacidade de interagir com a matria, podem ser radiaes ionizantes e no ionizantes.
Na tabela seguinte apresenta-se a caracterizao destes dois tipos de radiao segundo a sua energia e exemplos mais
conhecidos de cada tipo.
QUADRO 40
Caracterizao das radiaes
Forma de radiao
Energia
Exemplos
Radiaes ionizantes
As que possuem energia suficiente para
ionizar os tomos e molculas com as
quais interagem
Radiaes
electromagnticas
Raios X
Radiaes
corpusculares
Raios Alfa
Raios Gama
Raios Beta
Neutres
Protes
Radiaes no
ionizantes
As que no possuem energia suficiente
para ionizar os tomos e as molculas
com as quais interagem
Luz visvel
Infravermelhos
Ultravioletas
Microondas de aquecimento
Microondas de radiotelecomunicaes
Corrente elctrica
Os tipos de radiao so caracterizados nos pontos seguintes, focando aqueles que tm aplicao potencial na Indstria da Borracha
e das Matrias Plsticas, os seus possveis efeitos negativos para a sade e as medidas de preveno e de controlo mais adequadas.
6.6.1 Radiaes ionizantes
As radiaes ionizantes so as que possuem energia suficiente para ionizar os tomos e molculas com os quais interagem,
existindo radiaes corpusculares (raios alfa , beta , neutres e protes) e radiaes electromagnticas (raios X e gama).
Sendo a matria constituda por tomos, podemos dizer que estes tm carga inica nula quando esto no seu estado neutro.
No caso contrrio, quando esto no estado ionizado, apresentam uma carga elctrica positiva ou negativa.
Sendo assim, as radiaes ao interagirem com a matria podem ter como efeito a criao de uma carga elctrica, o que altera o
estado de equilbrio em que esta se encontrava.
Quanto aos efeitos das radiaes ionizantes, estes classificam-se como:
somticos, se aparecem no indivduo exposto;
hereditrios, se afectarem os descendentes.
As principais consequncias das radiaes ionizantes so ao nvel da alterao da estrutura molecular das clulas, alterando a
composio dos genes ou rompendo os cromossomas e a desintegrao das clulas vivas. As radiaes ionizantes so cumulativas e
no existe um nvel incuo. Quanto maior for a dose, maiores sero as alteraes biolgicas produzidas e mais cedo aparecero.
113
114
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os sistemas e rgos mais sensveis s radiaes ionizantes so a pele, intestino delgado, medula ssea, tiride, testculo, ovrio e
cristalino, pelo que o mdico, ao instituir o protocolo de vigilncia, poder requisitar exames especficos a cargo da entidade patronal.
Como norma geral, nenhuma pessoa com menos de 18 anos e mulheres grvidas ou em perodo de lactao devem exercer
funes que as exponham profissionalmente a radiaes.
Os trabalhadores expostos a radiaes ionizantes devero ter formao contnua especfica, de forma a cumprirem
cuidadosamente todos os procedimentos de segurana; devero ainda ser informados acerca dos nveis de radiao a que se
encontram sujeitos, bem como do resultado dos seus exames de vigilncia de sade.
A vigilncia de sade fundamental para os trabalhadores expostos s radiaes ionizantes, quer nos exames de admisso e
peridicos, quer nos ocasionais, em particular em caso de exposio acidental. Os registos clnicos sero mantidos por um
perodo mnimo de 30 anos.
Limites de dose de radiaes ionizantes
Em Portugal, os limites de dose esto estabelecidos pelo Decreto Regulamentar n. 9/90 de 19 de Abril, prevendo-se que sejam
brevemente actualizados segundo a Directiva 96/29/EURATOM do Conselho, de 13 de Maio.
De acordo com o Decreto Regulamentar n. 9/90, temos os seguintes limites (entre outros):
Para pessoas profissionalmente expostas, o limite de equivalente de dose eficaz de 50 mSv/ano.
Para membros do pblico o limite de equivalente de dose eficaz de 5 mSv/ano.
A nova Directiva 96/29/EURATOM reformulou os limites de dose em termos da dose efectiva, quantidade que leva em conta no s
o tipo de radiao em causa, mas tambm a diferente radiossensitividade dos vrios rgos, passando estes a ser:
Para pessoas profissionalmente expostas, o limite de dose efectiva de 100 mSv para um perodo de 5 anos consecutivos,
desde que em cada ano no sejam excedidos os 50 mSv.
Para membros do pblico o limite de dose efectiva de 1 mSv/ano, podendo ser atingidos valores superiores desde que a
mdia em 5 anos no exceda 1 mSv/ano.
Licenciamento de fontes de radiao ionizante
A Direco-Geral da Sade a entidade responsvel pelo licenciamento no mbito da proteco radiolgica de
equipamentos/instalaes produtores ou utilizadores de radiaes ionizantes, conforme a legislao em vigor
(Decreto-Lei n. 165/2002 de 17 de Julho, Decreto Regulamentar n. 9/90 de 19 de Abril).
O processo de licenciamento iniciado junto da Direco-Geral da Sade pelo requerente, com o pedido dos formulrios
correspondentes, que devero ser preenchidos e devolvidos Direco-Geral da Sade.
No decorrer do processo de licenciamento, ser solicitada a uma entidade externa uma avaliao/verificao das condies de
segurana radiolgica da instalao, sendo este um elemento-chave na deciso final sobre o licenciamento.
Tanto as licenas de funcionamento como as autorizaes de prtica so vlidas por um perodo de 5 anos. Findo este perodo,
dever ser solicitada a renovao das mesmas Direco-Geral da Sade.
Qualquer alterao nas condies dos equipamentos/instalaes susceptvel de afectar substancialmente o projecto ou as
condies de funcionamento inicialmente declaradas (e.g. mudana de local, troca de equipamentos) obriga ao incio de um novo
processo de licenciamento.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
No caso de baixa de equipamentos, dever ser comunicado o facto Direco-Geral da Sade, acompanhado do original da
licena de funcionamento correspondente.
De acordo com o artigo 8. do Decreto-Lei n. 165/2002, de 17 de Julho, obrigatria a autorizao prvia para a utilizao
industrial de radiaes ionizantes, competindo Direco Geral de Sade conceder a autorizao de prticas de licenciamento de
instalaes e equipamentos.
A entidade licenciada a responsvel pela segurana radiolgica e pela segurana das fontes de radiao e deve apenas efectuar
as actividades permitidas pelas condies e limitaes descritas na licena. A entidade licenciada deve:
Preparar e implementar um programa de proteco radiolgica que inclua o estabelecimento de polticas, procedimentos
e regras para a manuteno da segurana e utilizao de fontes e a proteco dos trabalhadores e outras pessoas;
Indicar um ou mais funcionrios da proteco radiolgica para supervisionar a implementao do programa de proteco
radiolgica e providenciar que estes funcionrios tenham a autoridade e recursos adequados;
Consultar e indicar peritos qualificados se necessrio;
Sempre que o equipamento for transportado para outro local efectuar uma avaliao do local onde ir ser utilizado o
equipamento;
Fornecer aos trabalhadores dosimetria individual e vigilncia mdica apropriada;
Assegurar-se que o equipamento apropriado e tem a adequada manuteno;
Assegurar e manter a informao adequada da monitorizao do local de trabalho;
Manter planos de emergncia para os acidentes e incidentes previsveis;
Tomar medidas para a desactivao ou devoluo ao fornecedor de fontes radioactivas que deixem de ser necessrias;
Verificar se os fornecedores de servios de proteco radiolgica, avaliao de segurana radiolgica, dosimetria individual ou
testes de fuga de fontes, apresentam garantia de qualidade e sempre com a devida autorizao de entidade licenciadora.
A entidade licenciada deve estabelecer controlos fsicos e procedimentos administrativos para a preveno de danos, roubo,
perda ou remoo no autorizada de fontes de radiao. Estes controlos e procedimentos devem tambm impedir a entrada de
pessoas no autorizadas em armazns de fontes de radiao.
Ningum deve ser exposto a doses de radiao acima dos limites estabelecidos pelos regulamentos nacionais. A proteco e
segurana dos trabalhadores e do pblico deve ser de modo a que o valor das doses individuais, o nmero de pessoas expostas e
a probabilidade de exposies potenciais (resultantes de acidentes) so mantidas to abaixo quanto razoavelmente possvel.
A entidade deve indicar pelo menos um responsvel pela proteco radiolgica (RPR), cujas funes e responsabilidade devem
estar definidas e documentadas. O RPR deve ter a autoridade necessria na organizao da entidade licenciada de modo a
assegurar a comunicao efectiva entre os operadores dos equipamentos e a administrao assim como exercer a superviso
efectiva do trabalho de modo a garantir que a entidade cumpre com os requisitos da licena. O RPR deve ter a autoridade para
ordenar a interrupo do trabalho que no esteja a ser realizado de um modo seguro. O estatuto e autoridade do RPR so vitais e
devem ser adequadamente estabelecidos pela administrao da entidade licenciada.
6.6.2 Radiaes no ionizantes
As radiaes no ionizantes so as que no possuem energia suficiente para ionizar os tomos e as molculas com as quais
interagem. Trata-se, em geral, de radiaes trmicas em que uma parte produzida pela fonte natural que o sol, sendo a
maioria emitida por fontes artificiais, lmpadas, fornos, equipamentos laser, etc. As radiaes no ionizantes mais importantes
so os raios ultravioletas, radiao visvel, raios infravermelhos, microondas e frequncia rdio.
115
116
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Todas as ondas electromagnticas tm uma origem comum a movimentao de cargas elctricas. Elas variam em frequncia,
comprimento de onda e nvel energtico, produzindo assim diferentes efeitos fsicos e biolgicos.
Os tipos de radiaes no ionizantes mais comuns so os seguintes:
Radiao ultravioleta - Tem um poder de penetrao relativamente fraco, pelo que os seus efeitos no organismo humano
se restringem essencialmente aos olhos e pele, com inflamao dos tecidos do globo ocular e queimaduras cutneas
respectivamente, podendo ainda causar a fotossensibilizao dos tecidos biolgicos.
Como preveno, recomenda-se o isolamento da fonte em cabines ou com cortinas de cor escura, reduo do tempo de
exposio, proteco da pele com vesturio adequado, luvas ou cremes-barreira, e proteco dos olhos com culos ou viseira
equipados com filtro adequado em funo do tipo de ultravioleta emitido.
Radiao infravermelha Pode ser utilizada em qualquer situao em que se queira promover o aquecimento localizado
de uma superfcie.
perceptvel como uma sensao de aquecimento da pele, podendo causar efeitos negativos no organismo como queimaduras de
pele, aumento persistente da pigmentao cutnea e leses nos olhos.
recomendvel o uso de proteco adequada (vesturio de trabalho e culos e viseiras com filtro para as frequncias relevantes).
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Caracteriza-se pela alta direccionalidade do feixe e pela
elevada energia incidente por unidade de rea.
A utilizao dos lasers pode ter efeitos negativos no organismo humano, nomeadamente a nvel do globo ocular e da pele, dependendo da
gama de comprimento de onda da radiao emitida, podendo causar queimadura da crnea, leso grave da retina ou queimaduras da pele.
As medidas preventivas dependem do comprimento de onda, durao da exposio, potncia do pico e frequncia de repetio e
em particular da aplicao, sendo de referir o evitar de superfcies reflectoras, iluminao ambiente suficiente e homognea
(para limitar a abertura da pupila do olho) e evitar a exposio directa dos olhos em relao ao feixe laser e aos espelhos.
Limites de dose de radiaes no ionizantes
Em Portugal, temos a Lei n. 25/2010 de 30 de Agosto que estabelece as prescries mnimas para proteco dos trabalhadores
contra os riscos para a sade e a segurana devidos exposio, durante o trabalho, a radiaes pticas de fontes artificiais.
As normas agora publicadas so aplicveis a todas as actividades dos sectores privados, cooperativo e social, da Administrao
Pblica central, regional e local, dos institutos pblicos e das demais pessoas colectivas de direito pblico, bem como a
trabalhadores por conta prpria. Atravs da presente lei, que entrou em vigor a 29 de Setembro de 2010, transposta para o
direito interno a Directiva n. 2006/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril relativa a esta matria.
Em actividades susceptveis de apresentar riscos de exposio a radiaes pticas de fontes artificiais, o empregador avalia e, se
necessrio, mede ou calcula os nveis de radiaes pticas a que os trabalhadores possam estar expostos e, sendo caso disso,
identifica e aplica medidas que reduzam a exposio de modo a no exceder os limites aplicveis.
A avaliao de riscos deve ser registada em suporte de papel ou digital e, se a natureza e a dimenso dos riscos relacionados com as
radiaes pticas de fontes artificiais no justificarem uma avaliao mais pormenorizada, conter uma justificao do empregador.
A avaliao de riscos actualizada sempre que haja alteraes significativas que a possam desactualizar ou o resultado da
vigilncia da sade justificar a necessidade de nova avaliao.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Sempre que sejam ultrapassados os valores limite de exposio, a periodicidade mnima da avaliao de riscos de um ano.
6.6.3 Principais fontes
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas no existem riscos considerveis de radiaes; no entanto podemos encontrar
em algumas situaes pontuais equipamentos/processos onde existe este perigo:
Exposio a ultravioletas a (acelerao da polimerizao dos componentes; serigrafia)
FIGURA 50
Maquinas de serigrafia e tomografia
Exposio a laser (soldadura, gravao e marcao de peas)
FIGURA 51
Maquinas de gravao
FIGURA 52
Maquinas de soldar a laser
117
118
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.6.4 Medidas de preveno e proteco
As medidas de preveno e proteco devero ser estabelecidas em funo do grau de risco e do tipo de radiaes. A ttulo de
exemplo, sugerem-se as medidas preconizadas no quadro seguinte:
QUADRO 41
Medidas de preveno e proteco na exposio a radiaes.
Radiao ionizantes
Desenho adequado das instalaes;
Reduo do tempo de exposio;
Delimitao das zonas;
Sinalizao de segurana;
Utilizao de barreiras de proteco entre o trabalhador e a fonte com materiais absorventes das radiaes ionizantes;
Medidas para controlo regular de todos os dispositivos e aparelhos de proteco, com o fim de verificar se o seu estado, localizao e
funcionamento so satisfatrios;
Informao e formao dos trabalhadores;
Utilizao do equipamento de proteco individual adequado;
Organizao da vigilncia fsica e mdica;
Organizao e manuteno de processos e registos adequados.
Radiao ultravioleta e infravermelha
Actuao em primeiro lugar sobre a fonte, mediante projecto adequado da instalao, colocao de cabines ou cortinas em cada posto de
trabalho, sendo preferencial a utilizao de cor escura;
Reduo do tempo de exposio;
Manuteno dos equipamentos;
Proteco da pele atravs de vesturio adequado, luvas ou cremes barreira;
Proteco dos olhos atravs de culos ou viseiras, equipados com filtros adequados em funo do tipo de radiao emitida, no devendo o
trabalhador retirar a proteco mesmo em curtas operaes;
Vigilncia da sade para deteco precoce de alteraes nos rgos alvo;
Formao e informao dos trabalhadores expostos s radiaes ultravioleta e infravermelha de forma a utilizar os procedimentos mais
correctos.
Laser
Dotar os equipamentos de laser com adequados sistemas de ventilao e exausto. Uso imprescindvel do equipamento de proteco
individual (culos com proteco em todo o redor e em conformidade com as frequncias relevantes, vesturio e luvas adequados);
Evitar superfcies reflectoras nas instalaes (uso de acabamentos mate);
Assegurar iluminao suficiente e homognea na instalao de forma a limitar a abertura da pupila do olho
Evitar a exposio directa dos olhos em relao ao feixe laser e aos espelhos;
Vigilncia da sade com especial ateno para as caractersticas e estado da pele e do globo ocular;
Formao e informao dos trabalhadores expostos de modo a minimizar os riscos de exposio.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 53
Formulrio para pedido de licenciamento de instalao de radiologia industrial
119
120
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.7 MOVIMENTAO MANUAL DE CARGAS
Entende-se por movimentao manual de cargas, qualquer operao de deslocamento voluntrio de cargas, com um peso de
pelo menos 3kg, compreendendo as operaes de pega, transporte e descarga de uma carga, efectuada por uma ou vrias
pessoas.
As leses msculo esquelticas encontram-se entre os principais problemas de sade na UE, sendo a movimentao manual de
cargas uma das suas principais causas. A generalidade dos problemas de sade decorrentes da movimentao manual de cargas
resulta de lacunas na concepo e organizao do posto de trabalho e respectivas tarefas. De entre as actividades de maior risco
destacam-se as posturas perigosas, esforos fsicos excessivos, movimentos de rotao do tronco na movimentao de cargas,
pega inapropriada da carga, grandes distncias percorridas com cargas, grandes amplitudes de elevao e/ou abaixamento, bem
como elevada frequncia da movimentao. Os factores idade e sexo so tambm muito relevantes na movimentao manual de
cargas, condicionando o peso unitrio das cargas movimentadas bem como a tonelagem por unidade de tempo.
121
122
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas a movimentao de cargas tem alguma prevalncia em actividades como:
Alimentao de mquinas e equipamentos e remoo de peas transformadas;
Movimentao de moldes para trabalhos de limpeza, manuteno e instalao;
Actividades de acabamento e montagem de peas fabricadas;
Tarefas de embalagem e acondicionamento de embalagens com peas sobre paletes ou meios de armazenagem
intermdia.
6.7.1 Riscos na movimentao manual de cargas
Em 2005, 35% dos trabalhadores da UE estavam expostos aos riscos decorrentes da movimentao manual de cargas durante
pelo menos um quarto do respectivo tempo de trabalho. Na mesma altura, 25% dos trabalhadores na UE queixava-se de dores
lombares, sendo que as dores musculares afectavam uma menor proporo dos trabalhadores. Os principais riscos associados
movimentao manual de cargas so os seguintes:
Dores e leses na regio dorso-lombar (ex.:hrnia discal, rotura de ligamentos, leses musculares e das articulaes);
Problemas de sade nas regies do pescoo e membros superiores decorrentes de esforos estticos;
Problemas de sade nos membros inferiores decorrentes de esforos estticos;
Queda de objectos sobre os ps;
Ferimentos causados por marcha sobre, choque contra, ou pancada por objectos penetrantes;
Choque com objectos;
Queda de objectos;
Entalamento.
O potencial de ocorrncia de acidentes maior nas seguintes actividades:
Carga e descarga de materiais nos equipamentos processuais;
Acabamento de algumas peas de maior dimenso;
Algumas tarefas de manuteno.
Um programa de controlo de risco ao nvel da movimentao manual de cargas dever iniciar-se por uma avaliao de riscos.
Para este efeito, a norma AFNOR 35-109:1989 preconiza uma metodologia adequada, levando em considerao factores como a
idade e sexo da pessoa, a massa da carga, a tonelagem movimentada por unidade de tempo, a distncia de transporte, bem como
as condies de execuo da tarefa. Este referencial normativo, relativamente ao Decreto-Lei n. 300/93 de 25 de Setembro
resolve diversas insuficincias, tornando objectiva a distino entre movimentao ocasional e movimentao frequente, levando
em considerao factores como a idade e sexo da pessoa, e considerando no apenas a massa da carga como tambm a massa
total de todos os objectos transportados por unidade de tempo. A norma tem ainda a vantagem de levar em considerao
diversos factores na organizao da tarefa.
A norma AFNOR 35-109:1989 considera 3 tipos distintos de movimentao manual de cargas:
Movimentao isolada actividade efectuada uma s vez durante a jornada;
Movimentao ocasional actividade repetida uma vez ou mais para um perodo de 5 minutos, relacionado com a
capacidade muscular;
Movimentao repetitiva actividade regular, repetitiva mais que uma vez todos os 5 minutos, durante vrias horas, em
que alm da capacidade muscular acresce a capacidade energtica do trabalhador e a fadiga.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O controlo de riscos decorrente da movimentao manual de cargas efectuado pela imposio de limites aos seguintes
parmetros:
Massa unitria de uma carga manipulada durante um ciclo de trabalho;
Tonelagem, ou seja, a massa total transportada por unidade de tempo.
A norma AFNOR 35-109:1989 considera ainda condies de referncia para e movimentao manual de carga, sendo estas: um
adulto jovem do sexo masculino (18 a 45 anos) sem qualquer contra-indicao mdica para a movimentao de cargas,
transportando nos braos um carga rgida durante um percurso de 10m, com o ponto de pega e deposio da carga a uma altura
adequada sua estatura, e com o ciclo de trabalho a compreender o regresso sem carga ao longo da mesma distncia. A
movimentao de cargas decorre num ambiente trmico neutro, sobre pavimento plano, no escorregadio e sem obstculos. A
pessoa no est sujeita a qualquer outra condicionante. A norma AFNOR 35-109:1989 no aplicvel para os casos em que a
movimentao de cargas se efectua com recurso a escada, em lano de escadas ou plano inclinado.
Deste modo, os valores limite para o peso das cargas a movimentar esto definidos do seguinte modo para movimentaes
isoladas ou ocasionais bem como para as movimentaes repetitivas de cargas.
QUADRO 42
Limites da massa unitria para a movimentao manual de cargas
Massa Un. Mxima [kg]
Sexo e Idade
Movimentao isolada ou
ocasional
Movimentao repetitiva
Homens de 18 a 45 anos
30
25
Homens de 45 a 65 anos
25
20
Mulheres de 18 a 45 anos e Homens
de 15 a 18 anos
15
12,5
Mulheres de 15 a 18 e de 45 a 65 anos
12
10
O controlo de riscos aquando das movimentaes repetitivas de cargas tem de incidir no s sobre a massa unitria como
tambm sobre a tonelagem. Os limites para a tonelagem so apresentados na tabela seguinte:
QUADRO 43
Limitao da tonelagem em funo do sexo e idade para a movimentao manual de cargas repetitiva
Tonelagem mxima
transportada sobre 10m
[kg/min]
Coeficiente de Correco (CC)
Homens de 18 a 45 anos
50
Homens de 45 a 65 anos
40
0,8
Mulheres de 18 a 45 anos e Homens
de 15 a 18 anos
25
0,5
Mulheres de 15 a 18 e de 45 a 65 anos
20
0,4
Sexo e Idade
123
124
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 44
Limitao da tonelagem em funo da distncia de transporte
Tonelagem mxima
transportada [kg/min]
Coeficiente de Correco (CC)
20m
25
0,5
10m
50
4m
100
2m
150
1m
200
Tonelagem mxima
transportada sobre 10m
[kg/min]
Coeficiente de Correco (CC)
Transporte nas condies de referncia
50
Pega com levantamento a partir do solo,
transporte e deposio da carga
25
0,5
Transporte em condies desfavorveis (ex.:
ambiente trmico desfavorvel, presena de
obstculos no percurso, pavimento escorregadio,
etc.)
25
0,5
Distncia
QUADRO 45
Limitao da tonelagem em funo das caractersticas da tarefa
Caractersticas da tarefa
Portanto, para determinar a tonelagem mxima admissvel para uma determinada situao pode-se partir do valor de referncia
(50kg/min) multiplicado pelos coeficientes de correco aplicveis. No mximo podem-se utilizar 3 factores de correco,
os 3 mais penalizantes.
A avaliao de riscos pode ainda ser efectuada com o recurso aos seguintes bacos (um por sexo) para a movimentao manual
de cargas repetitiva efectuada nas condies de referncia. Nestes bacos, a tonelagem apresentada em toneladas por dia.
FIGURA 54
baco masculino
Massa (Kg)
40
30
20
10
10
15
20
Tonelagem diria
(ton/dia)
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 55
baco feminino
Massa (Kg)
20
15
10
2,5
7,5
10
Tonelagem diria
(ton/dia)
Relativamente s mulheres grvidas, purperas e lactantes, de acordo com as disposies da Portaria n. 229/96 de 26 de Junho
e na Lei n. 102/2009 de 10 de Setembro, estas, preferencialmente, no devero efectuar tarefas de movimentao manual de
cargas e, em particular, no devero movimentar cargas que representem risco de leso dorso-lombar. No entanto, caso a
movimentao seja necessria, a sua massa nunca dever exceder os 10kg.
6.7.2 Medidas de preveno e proteco
As medidas de preveno e proteco a adoptar so:
Preferencialmente recorrer a dispositivos e equipamentos mecnicos para a movimentao de cargas, como por exemplo:
auxiliares mecnicos ou pneumticos, porta-paletes, empilhadores, carros de mo, transportadores de tela, plataformas
de elevao de cargas;
FIGURA 56
(a) Porta-paletes para auxlio movimentao manual de cargas. (b) Carro de transporte de rolos
a)
b)
As cargas a movimentar no devero ultrapassar os limites mximos para a massa unitria;
Quando as cargas a movimentar apresentam uma massa superior ao limite mximo admissvel, deve-se
preferencialmente fraccionar a carga, ou, em alternativa, efectuar a movimentao por mais que uma pessoa;
125
126
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Manter limpas e arrumadas as zonas onde decorrem tarefas de movimentao manual de cargas;
Identificar e sinalizar as zonas de passagem;
Formar os trabalhadores de modo que estes adoptem posturas de trabalho adequadas, conforme se ilustra de seguida:
QUADRO 46
Prticas a adoptar na movimentao manual de cargas
Medidas a adoptar
O centro de gravidade do Trabalhador deve estar o mais prximo possvel e por cima do centro
de gravidade da carga.
Adoptar a melhor posio e estabelecer uma distncia entre os ps de modo a enquadrar a
carga.
Baixar-se flectindo os joelhos, mantendo o dorso o mais prximo possvel da posio vertical
Segurar o objecto com firmeza;
Utilizar a fora das pernas para se levantar mantendo as costas na posio vertical;
Fazer trabalhar os braos em traco simples, isto , estendidos. Devem suster a carga e
no levant-la;
A elevao da carga deve ser lenta e controlada.
Quando a carga pesada ou muito volumosa a movimentao da carga deve ser feita por mais
que um Trabalhador.
O Trabalhador deve aproveitar o corpo para empurrar os objectos a transportar, por forma a
reduzir o esforo das pernas e braos.
Durante as actividades de movimentao manual de cargas no se devem efectuar movimentos de toro na coluna ou
movimentos de flexo excessiva do tronco.
FIGURA 57
Plataforma que garante um plano de trabalho a altura constante, tornando desnecessrios os movimentos de flexo do tronco na
movimentao manual de cargas tarefa de embalagem
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A utilizao de luvas de proteco mecnica e calado de segurana dotado de biqueira de ao so fundamentais para a
minimizao de acidentes de trabalho decorrentes de tarefas de movimentao manual de cargas,
A entidade empregadora deve disponibilizar instrues de trabalho sobre as prticas correctas na movimentao manual
de cargas e afixar folhetos explicativos e de sensibilizao em locais adequados.
Quando a movimentao executada por uma equipa, deve ser designado um responsvel pela coordenao da tarefa. Esta
pessoa dever ter as seguintes atribuies:
Avaliar o peso da carga para determinar o nmero de trabalhadores necessrios;
Prever o conjunto das operaes;
Explicar a operao;
Colocar os trabalhadores numa boa posio de trabalho;
Repartir os trabalhadores por ordem de estatura, o mais baixo frente.
Os locais para acondicionamento das cargas movimentadas manualmente devem estar organizados por forma a minimizar o
esforo das pessoas envolvidas na movimentao, de acordo com os seguintes critrios:
Nvel inferior Objectos leves;
Nvel intermedirio (80 a 110 cm) peas de 10 a 25 kg;
Nvel superior peas com menos de 12 kg, quando necessrio dever recorrer-se utilizao de escadas.
6.8 MOVIMENTAO MECNICA DE CARGAS
A movimentao de cargas est presente em diversos momentos dos processos produtivos da Indstria da Borracha e das
Matrias Plsticas, quer seja pela movimentao de matrias primas, materiais em curso de fabrico, no armazenamento, no
aprovisionamento, na expedio e na manuteno.
Os equipamentos de movimentao mecnica de cargas de utilizao mais difundida na Indstria da Borracha e das Matrias
Plsticas so:
Empilhadores;
Empilhadores elctricos de condutor apeado ou com o condutor transportado;
Porta-paletes manuais e elctricos;
Pontes rolantes;
Manipuladores;
Robots;
Sistemas transportadores contnuos por tapete;
Outros carros de transporte especficos.
127
128
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 58
Manipulador industrial
A racionalizao do trabalho passa muitas vezes pela optimizao da movimentao de cargas, aplicando-se a movimentao
mecnica ou automtica de cargas. Deste modo aumentam-se as quantidades transportadas e diminuem-se os tempos de
deslocao, minimiza-se o nmero de pessoas envolvidas bem como as consequncias negativas para a sade e segurana dos
trabalhadores. Deste modo, fundamental seleccionar correctamente o mtodo e equipamento de transporte e movimentao
mais adequado a determinado contexto de trabalho. A seleco do meio de transporte ou movimentao de uma carga depende
de diversos factores, nomeadamente:
As caractersticas da carga (volume, peso, forma, ) e respectivo acondicionamento (palete, saco, granel, );
As operaes efectuadas (carga/descarga de camies, transporte em curso-de-fabrico, condies de armazenamento, );
Frequncia da movimentao para um determinado perodo de tempo;
Distncias a percorrer bem como a altura de carga/descarga;
Critrios econmicos custo do meio de transporte (custo do ciclo-de-vida: investimento inicial, amortizaes,
manuteno, explorao), custo salarial do manobrador.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
As figuras seguintes podem auxiliar na seleco do meio de transporte ou movimentao:
FIGURA 59
Seleco do equipamento de movimentao de carga de acordo com o volume a transportar e frequncia do transporte.
FIGURA 60
Seleco do equipamento de movimentao de carga de acordo com as caractersticas da carga a transportar e o modelo de
organizao da produo.
Na figura anterior, por linhas de fabrico entende-se processos em que as vrias etapas produtivas esto fortemente interligadas,
normalmente por sistemas contnuos de movimentao. Em processos organizados por ilhas de produto, as etapas produtivas
esto estruturadas em torno de pequenas unidades (clulas de fabrico) com vrias equipamentos transformadores dispostos
muito prximos uns dos outros. Nos processos industriais organizados por ilhas funcionais, as mquinas do mesmo tipo
(ex.: mquinas de injeco) esto todas dispostas num mesmo espao, prximas umas das outras. J nos processos estruturados
por postos de trabalho isolados, as operaes esto centradas em torno de determinada tarefa especfica, em que cada posto de
trabalho funciona de forma muito autnoma relativamente a todos os outros.
129
130
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os acidentes que envolvem ou resultam dos equipamentos de movimentao de cargas, particularmente empilhadores, podem
ter consequncias particularmente graves. Deste modo, os processos de fabrico devero estar estruturados e organizados de
modo a minimizar a movimentao de cargas. Alm dos benefcios evidentes em matria de SST, pela reduo significativa dos
riscos associados movimentao mecnica de cargas, as empresas obtm tambm benefcios do ponto de vista da
produtividade e da flexibilidade. Estes benefcios resultam da reduo do parque de equipamentos e da concomitante reduo de
mo-de-obra e consumo de combustvel que lhe esto associados, bem como pela reduo do tempo de escoamento dos
produtos no processo produtivo, permitindo s empresas uma melhor e mais clere capacidade de resposta aos seus clientes.
6.8.1 Prticas gerais de preveno e proteco
Os principais elementos a ter em conta na organizao da movimentao mecnica de cargas, no tocante ao equipamento, so:
A conformidade do equipamento, que deve estar dotado de marcao CE e a respectiva declarao CE de conformidade;
O equipamento dever ter indicado, de forma bem visvel, a capacidade mxima de utilizao (CMU) para as diversas
configuraes de trabalho que este poder assumir;
Aquando da aquisio do equipamento, este dever vir acompanhado de um manual de instrues redigido em Portugus;
O equipamento dever estar equipado com limitador de carga;
O equipamento dever estar dotado de sinalizao acstica e visual, devendo esta ser mantida em bom estado de
funcionamento;
O equipamento dever ser mantido em bom estado de conservao, pelo cumprimento de um plano de manuteno
preventiva, conforme as recomendaes do fabricante;
No incio de cada jornada de trabalho ou turno, o equipamento dever ser objecto de Inspeces Antes-de-Utilizao, para
identificar e corrigir eventuais anomalias. Estas inspeces so visuais e, devero ser simples de efectuar e ficar registadas;
O equipamento dever ser sujeito a verificaes peridicas por pessoa competente. O objectivo assegurar a manuteno
do estado de conformidade do equipamento.
Relativamente ao manobrador de equipamentos de movimentao mecnica de cargas, este deve ter:
Aptido fsica adequada funo;
Formao especfica.
Ao nvel da organizao da movimentao mecnica de cargas deve-se observar:
O adequado dimensionamento, sinalizao, visibilidade e estado de conservao das vias de circulao. As vias de
circulao devero ter um pavimento com resistncia adequada, plano e isento de irregularidades;
Devero existir locais especficos para o estacionamento dos equipamentos de movimentao de cargas;
Os postos de trabalho e as tarefas devero estar organizadas para limitar a exposio dos colaboradores a carros
automotores de movimento de cargas (CAMC) ou por objectos movimentados por meios mecnicos;
Instituir regras e prticas adequadas para a movimentao mecnica de cargas;
Formar a populao da empresa para os riscos associados movimentao mecnica de cargas, regras e
comportamentos para a preveno de acidentes.
A empresa deve estabelecer regras de segurana para a movimentao mecnica de cargas. Apresenta-se de seguida um
exemplo de uma instruo de trabalho para este efeito.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 61
Sinalizao horizontal de separao de vias para pessoas e equipamentos de movimentao mecnica de cargas
QUADRO 47
Instruo de trabalho para a utilizao de CAMCs.
Instruo de Trabalho - Carros automotores de movimentao de cargas
Riscos Ocupacionais
Os principais riscos so:
Capotamento.
Atropelamento.
Queda de objectos.
Coliso.
Prticas de Segurana
Apenas para utilizao por pessoa autorizada.
Conduzir sempre com o cinto de segurana.
Circular sempre a velocidade moderada.
Durante a circulao, os garfos/p devem estar posicionados
prximo do solo.
As cargas movimentadas nunca devero exceder a capacidade
mxima de utilizao do equipamento.
Os movimentos devem ser executados de modo suave.
Ao subir/descer rampas, os garfos devem estar sempre a apontar
para o ponto mais alto.
Ter sempre ateno aos pees e outros equipamentos.
Nunca efectuar o transporte de pessoas.
Nunca utilizar o equipamento como meio de acesso a pontos altos
excepto se o equipamento estiver dotado com dispositivo
especfico para o efeito, sendo a coordenao da manobra
assegurada por quem est a ser elevado
Nunca passar com a carga por cima de pessoas.
No brincar com o equipamento.
Sempre que abandone o equipamento, este deve ficar travado e
desligado.
Cumprir com as instrues de manuteno do equipamento.
131
132
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.8.2 Empilhadores
Os empilhadores so equipamentos de utilizao muito difundida na Indstria da Borracha e Matrias Plsticas. A flexibilidade
destes equipamentos faz com que estes sejam utilizados em tarefas como o transporte de paletes de produto acabado,
carregamento de camies para expedio, etc..
Para limitar os riscos para pessoas e patrimnio introduzidos por estes equipamentos devem-se adoptar as seguintes prticas:
O empilhador dever estar dotado de dispositivo FOPS e ROPS;
O manobrador do empilhador dever utilizar o cinto de segurana ou estar protegido por barra metlica lateral;
Preferencialmente, o empilhador dever estar dotado de limitador de velocidade;
Os manobradores do empilhador devem ter especial cuidado nos cruzamentos, passagens de altura limitada, desnveis no
pavimento. Estas zonas devem ser sinalizadas ou eventualmente, proceder-se colocao de espelhos;
Preferencialmente, os empilhadores a utilizar no interior de naves industriais e armazns devero ser elctricos;
As vias de circulao devero ter largura suficiente: largura do empilhador + 1 metro se a circulao for feita num sentido;
largura de 2 empilhadores + 1,40 metro se a circulao for feita em 2 sentidos;
As cargas devero ser sempre movimentadas com os garfos posicionados a cerca de 20 cm do solo;
No movimentar cargas suportadas apenas num garfo;
Na descida de rampas, o empilhador, com carga, dever ser manobrado em marcha-atrs, com a torre reclinada para trs;
Os locais para recarga de baterias, uma vez que comportam o risco de incndio ou exploso e, de projeco de
substncias corrosivas, devero ter ventilao suficiente, ter uma bacia de reteno de derrames; o pavimento envolvente
dever ser em resina resistente a cido, prolongando-se a proteco pela parede adjacente at um metro de altura; ter
nas proximidades um lava-olhos e chuveiro de emergncia; a instalao elctrica dever ser anti-deflagrante.
FIGURA 62
Empilhador lateral dotado de dispositivo FOPS/ROPS
MANUAL DE BOAS PRTICAS
De seguida apresenta-se um modelo para criar um registo para as Inspeces Antes-de-Utilizao. Este registo dever ser
preenchido pelo manobrador do empilhador, antes de cada jornada de trabalho.
FIGURA 63
Registo para Inspeco antes-de-utilizao para empilhadores
Empilhadores Inspeco antes de utilizao
Veculo N..: __________
Semana a comear em: _______________
Inspeccionar
1.
Verificar a bateria fixa? limpa?
2.
Verificar depsito LPG fixao do depsito em bom estado? *
3.
Verificar leo do motor nvel OK? *
4.
Verificar gua nvel OK?
5.
Verificar abastecimento de combustvel nvel OK? *
6.
Verificar garfos sem fissuras evidentes?
7.
Verificar correntes sem defeitos evidentes?
8.
Verificar os pneus sem desgaste excessivo?
9.
Verificar os pneus insuflao OK?
10.
Verificar aparncia global danos visveis?
11.
Testar controlos de elevao e translao funcionamento OK?
12.
Testar traves funcionamento OK?
13.
Testar a buzina funcionamento OK?
14.
Testar a direco sem folga excessiva OK?
15.
Testar as luzes funcionamento OK?
16.
Verificar sinalizao de segurana visual e acstica funcionamento/ OK?
17.
Outras observaes (escrever no verso)
Assinar com as iniciais em cada dia
Itens a inspeccionar identificadas com * no se aplicam a todos os empilhadores. Marcar () se OK ou marcar () se
no OK e colocar os detalhes no verso da folha. Reportar todos os problemas ao seu superior hierrquico. Parar o
veculo se o problema for grave.
6.8.3 Empilhadores (com o condutor apeado ou condutor transportado) e porta-paletes
Os empilhadores e porta-paletes elctricos de condutor apeado tm uma utilizao muito difundida na Indstria da Borracha e
das Matrias Plsticas.
133
134
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 64
Empilhador elctrico de condutor apeado
Devero ser assegurados os seguintes requisitos:
O manobrador do porta-paletes dever adoptar posturas correctas (na sua movimentao) de modo a evitar esforos
desnecessrios ou que potenciem leses msculo-esquelticas;
Os manobradores dos empilhadores elctricos de condutor apeado e porta-paletes devem ter especial cuidado nos
cruzamentos e com eventuais desnveis no pavimento. Estas zonas devem ser sinalizadas ou eventualmente, proceder-se
colocao de espelhos.
6.8.4 Pontes rolantes
Em muitas empresas empregam-se pontes rolantes para fazer o transporte nomeadamente dos moldes.
Os trabalhos de manuteno de pontes rolantes devem ser executados por profissionais especializados, e antes de qualquer
servio desta natureza o equipamento deve ser desligado de fontes de energia. Adicionalmente dever ser instalada sinalizao
de alerta no quadro de energia e de comando.
Os pontos principais a verificar na manuteno so os seguintes:
Sistema de basculamento / elevao;
Cabos e acessrios;
Carris e roldanas;
Lubrificao geral;
Sistema de travagem;
Componentes elctricos e de comando;
Utilizar correctamente os seguintes EPI (consoante a tarefa): capacete; luvas; culos; protectores auriculares; botas com
biqueira de ao.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Antes do incio da jornada de trabalho, os operadores de pontes rolantes devero realizar uma inspeco visual do equipamento,
devendo ser observados os seguintes pontos:
Estado de conservao dos cabos e correntes;
Verificar sinais de corroso da estrutura;
Verificar eventuais fissuras ou empenos;
Inspeccionar eventuais sinais de desgaste anormal;
Testar o estado das botoneiras de comando e o seu funcionamento;
Analisar o circuito elctrico e verificar o isolamento dos fios condutores;
Testar o sistema de travagem;
Testar a capacidade de carga dos equipamentos e o dispositivo contra arranques intempestivos.
FIGURA 65
Ponte rolante
Como medidas de preveno de risco para a utilizao destes equipamentos deve-se:
Antes de levantar a carga, verificar sempre se os cabos ou correntes no esto cruzados e verificar que os comandos
esto em ponto morto antes de ligar o interruptor;
Assegurar que, antes de qualquer deslocao, ningum se encontra na zona de movimentao da carga e que no h
ferramentas ou obstculos a obstruir os carris;
No permitir a presena de pessoas na rea adjacente movimentao das cargas;
No posicionar as mos / ps debaixo da carga;
Nunca utilizar a ponte para transporte e movimentao de pessoas;
Nunca esticar repentinamente cabos ou correntes. Evitar fazer movimentos bruscos e manobrar as cargas suavemente;
terminantemente proibido ultrapassar a capacidade mxima de carga estabelecida no equipamento ou manobrar cargas
mal acondicionadas ou mal equilibradas;
Dever evitar-se o entalamento de correntes / cabos ao descer a carga;
importante que os operadores de gruas, prticos e pontes rolantes tenham conhecimentos relativamente ao peso e ao
centro de gravidade das cargas a serem suspensas;
No utilizar a ponte rolante para o transporte de tambores e recipientes sob-presso;
No abandonar os comandos de movimentao de cargas deixando as cargas suspensas;
135
136
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
No levantar obliquamente ou balancear a carga (excepto em situaes de absoluta necessidade) e sob a responsabilidade
do chefe de manobra;
Os ganchos de sustentao da carga devem estar dotados de patilhas de segurana que evitam a queda da carga numa
situao de balanceamento inadvertido.
Todas as anomalias observadas, na inspeco ou durante as diferentes operaes, devero ser comunicadas imediatamente
chefia e interrompidos os trabalhos.
6.8.5 Transportadores contnuos por tela e rolos
Os transportadores por tela, cintas e rolos so importantes nas linhas e sistemas automatizados de fabrico na Indstria da
Borracha e das Matrias Plsticas. Como vantagem destes sistemas destaca-se o seu contributo para a minimizao da
movimentao manual de cargas, possibilidade de armazenamento de curto-prazo das peas e produtos, possibilitando a
interligao entre equipamentos produtivos.
FIGURA 63
a) Transportadores contnuos por tela e rolos
b) Sistema de transportador por rolos
a)
b)
No entanto, a utilizao destes equipamentos requer a adopo de vrias medidas preventivas:
Garantir que a instalao dos transportadores feita correctamente e que esto fixos de modo solidrio ao pavimento;
Assegurar que todos os sistemas de transmisso e rgos mveis perigosos esto dotados de proteco e que os
transportadores tm sistema de paragem de emergncia;
Demarcao no pavimento da rea relativa ao sistema de transportadores;
Assegurar o adequado estado de conservao e funcionamento do equipamento.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.8.6 Robots pneumticos
Outros equipamentos de movimentao mecnica de cargas utilizado na Indstria da Borracha e dos Plsticos so os robot
pneumticos, usados em associao s mquinas de injeco para retirar as peas dos moldes.
FIGURA 67
Robot pneumtico
A utilizao destes equipamentos requer a adopo de vrias medidas preventivas:
Assegurar a existncia de resguardos bloqueadores em toda a rea de aco do robot de modo a impedir o contacto com
os trabalhadores. Em operaes de manuteno deve-se assegurar o bloqueio de equipamento de forma a impedir o seu
funcionamento intempestivo;
Demarcao no pavimento da rea relativa aco do robot;
Assegurar o adequado estado de conservao e funcionamento do equipamento.
6.9 ARMAZENAMENTO
Considerando a actividade de armazenagem e o espao fsico a ela consignado como de grande importncia para qualquer
empresa, ela integra-se num sistema global.
Poder-se- afirmar que a segurana da armazenagem depende de alguns factores a seguir enumerados:
Construo do edifcio: resistncia ao fogo, localizao; disposio do edifcio;
Propriedades fsico-qumicas das mercadorias;
Tcnicas de armazenagem;
Meios de combate a incndios.
Os materiais so normalmente armazenados a granel (materiais lquidos, pulverulentos ou granulados), no interior de caixas ou
sobre paletes.
137
138
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
No primeiro caso, e pela especificidade que cada caso particular pode envolver, dir-se- apenas que os produtos lquidos so
sempre armazenados em tanques ou depsitos de vrias formas e composio e os produtos pulverulentos ou granulados so
normalmente armazenados em silos, tolvas ou sob a forma de pilhas limitadas por baias.
No segundo caso, usam-se normalmente estantes (fixas e mveis) para materiais de pequenas dimenses em caixas, ou
armrios de gavetas e grades para materiais pesados em caixas, sacos ou soltos sobre paletes.
Podem considerar-se ainda algumas formas especiais de armazenagem, como sejam chapas, tubos e perfis longos, por exemplo.
Como forma de armazenagem pretende-se conseguir:
Uma fcil identificao dos materais;
Um rpido acesso e disponibilidade dos materiais;
Uma utilizao racional do espao (quer em rea quer em altura).
De forma a ser possvel efectuar um melhor aproveitamento dos espaos existentes, deveremos ter em conta os seguintes aspectos:
Espao vertical: a utilizao de mezanino, porta-paletes e mltiplos pisos nas seces de estantes so formas de
melhorar o aproveitamento do espao vertical; recomenda-se somente que a altura mxima seja limitada pela iluminao,
redes de sprinklers ou proximidade do telhado, sendo que este ltimo factor pode aumentar significativamente a
temperatura de armazenagem, devido radiao trmica.
FIGURA 68
Armazm de uma empresa da Indstria das Matrias Plsticas em que h utilizao de mezanine, para aproveitamento de espao
vertical, com a devida proteco lateral de segurana.
Espao horizontal: normalmente, o factor de maior consumo de espao horizontal a necessidade de corredores, assim,
o seu dimensionamento deve ser criteriosamente estudado.
Como regra geral, as reas para acesso de empilhadores devem ter o comprimento total deste (inclusiv a extenso dos
garfos), acrescido de uma distncia de cerca de 30 a 50 cm, variando em funo da capacidade de manobra (raio de giro)
do equipamento. O ideal que ele se possa posicionar para a tarefa numa nica manobra.
Para estantes normais, a largura ideal de corredores situa-se entre os 80 cm e 1 m.
Distribuio de pilares: tendo em vista que estes representam normalmente problemas irremediveis, devem servir como
aliados, definindo limites de corredores ou marcos para linhas de estantes.
Ambientes controlados: a necessidade de manter os itens armazenados neste tipo de ambiente obriga a que as condies
sejam mantidas dentro desses padres de forma ininterrupta.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.9.1 Regras bsicas de segurana
As regras bsicas de segurana de armazenagem so:
O peso do material a ser depositado no deve ser superior resistncia do piso;
As pilhas devem ficar afastadas pelo menos 50 cm das paredes a fim de no forar a estrutura do edifcio, permitir uma
ventilao adequada e facilitar um eventual combate a incndio;
A armazenagem dos materiais no deve prejudicar a ventilao, a iluminao e o trnsito de pessoas e viaturas;
A disposio das pilhas no deve dificultar o acesso aos meios de combate a incndio e s sadas de emergncia;
Devem ser removidos quaisquer pregos, arames e cintas partidas que se projectam para fora, constituindo perigos;
Ao depositar materais no devem ser deixadas salincias fora do alinhamento;
Quando a armazenagem for manual, empilhar apenas at 2 metros de altura. Sendo mecnica, no se deve armazenar a
uma altura que possa causar a instabilidade da pilha.
As instalaes de armazenagem devem:
Ser concebidas de acordo com a natureza dos produtos a armazenar, dos equipamentos de trabalho necessrios para a
movimentao de cargas e dos riscos inerentes (incndio, exploso, intoxicao, queda, choques, etc.);
Ter em conta que os produtos a armazenar podem ser matrias-primas, produtos intermdios, produtos finais, ou
resduos, tornando necessrio a demarcao e/ou separao destas zonas relativamente s zonas sociais e de produo;
Ser convenientemente iluminados e ventilados;
Possuir a instalao elctrica em bom estado.
O armazenamento em estante muito utilizado, sendo que a sua utilizao acarreta grandes benefcios possibilitando o
armazenamento em altura, rentabilizando a utilizao da rea disponvel. Algumas das boas prticas a observar na utilizao de
estantes so:
As estantes devero estar adequadamente fixas ao solo e apresentar suficiente estabilidade estrutural;
Nas estantes dever estar perfeitamente visvel a respectiva capacidade mxima e os locais de armazenamento da estante
devero preferencialmente estar identificados por cdigos matriciais;
Se nas estantes forem armazenados artigos sobre paletes de dimenso normalizada, as estantes devero estar dotadas
de batente no lado oposto aquele onde se efectuam as operaes de carga e descarga;
Para melhorar as condies de segurana decorrente da circulao de CAMCs (Carros Automotores de Movimentao de
Cargas), as estantes devero estar protegidas nos pilares de fixao e ao longo da largura da estante;
As estantes podero estar dotadas de sistema de rolos por gravidade e que facilitam a implementao do sistema FIFO
(First In First Out), alm de possibilitarem uma melhoria na circulao de CAMCs;
Os objectos de grande dimenso e leves, ou objectos de pequena dimenso agrupados e fixos solidariamente por filme
plstico, tambm leves, devero ser armazenados preferencialmente na parte superior das estantes;
Os objectos pesados e os objectos soltos devero ser preferencialmente colocados nos nveis mais baixos das estantes.
Os objectos soltos devero ser, sempre que possvel, agrupados de modo solidrio por filme plstico, cintas ou outro
mtodo que assegure a coeso da carga;
139
140
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Assegurar sempre espao suficiente entre a parte superior dos objectos na estante e a prateleira que lhe imediatamente
superior;
A iluminao do espao de armazenamento deve ser colocada preferencialmente a meia distncia entre racks
consecutivas;
Nos armazns onde se verifique a circulao de equipamentos e pessoas, as vias devero estar adequadamente
identificadas, segregando as reas de circulao das reas de armazenamento.
FIGURA 69
Armazenamento em estante Boas Prticas
A sensibilizao dos trabalhadores para o cumprimento das boas prticas de armazenamento fundamental para assegurar
adequadas condies de segurana nestas actividades.
6.9.2 Armazenagem na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As condies de armazenagem de matrias-primas e subsidirias da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas dependem
do sub-sector e da estruturao das operaes da empresa. Por exemplo, no armazenamento de borracha (matria-prima) e
respectivos aditivos, devem estar devidamente protegidos do calor excessivo e da incidncia de luz directa; no armazenamento de
rolos de filmes deveremos garantir a estabilidade dos mesmos. Deve ainda estar contemplado suficiente espao livre para a
manobra dos equipamentos de movimentao de cargas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 70
Armazenagem de matrias-primas na Indstria da Borracha: aditivos Ms Prticas
FIGURA 71
Armazenagem em altura de matrias-primas na Indstria da Borracha: aditivos - Boas Prticas
FIGURA 72
Armazenagem de moldes na Indstria das Matrias Plsticas - Boas Prticas
141
142
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Em diversas empresas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas temos ainda armazenamento de artigos em curso de
fabrico. Os produtos finais so normalmente armazenados em estantes.
FIGURA 73
Armazenagem de produto acabado
6.10 SUBSTNCIAS OU MISTURAS PERIGOSAS
6.10.1 Identificao das substncias qumicas utilizadas
As substncias e preparaes perigosas classificam-se, segundo a Unio Europeia, pelas suas propriedades:
Fsico-qumicas (explosivas, comburentes, inflamveis, facilmente inflamveis, extremamente inflamveis);
Toxicolgicas (txicas, muito txicas, nocivas, corrosivas, irritantes, sensibilizantes, carcinognicas, mutagnicas ou
txicas para a reproduo);
Perigosas para o ambiente.
Segundo as suas propriedades fsico-qumicas, as substncias e preparaes perigosas podem ser classificadas em:
Explosivas
Substncias e preparaes slidas, lquidas, pastosas ou gelatinosas que podem reagir exotermicamente e
com rpida libertao de gases, mesmo sem a interveno do oxignio do ar, e que, em determinadas
condies de ensaio, detonam, deflagram rapidamente ou, sob o efeito do calor, explodem em caso de
confinamento parcial.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Oxidantes
Substncias e preparaes que, em contacto com outras substncias, especialmente com substncias
inflamveis, apresentam uma reaco fortemente exotrmica.
Extremamente inflamveis
Substncias e preparaes lquidas cujo ponto de inflamao inferior a 0C e cujo ponto de ebulio inferior
a 35C e substncias e preparaes gasosas que, temperatura e presses normais, so inflamveis ao ar.
Facilmente inflamveis
Substncias e preparaes que:
Podem aquecer at ao ponto de inflamao em contacto com o ar, a uma temperatura normal sem o
emprego de energia;
No estado slido podem inflamar facilmente, por breve contacto com uma fonte de inflamao, e que
continuam a arder ou a consumir-se aps a retirada da fonte de inflamao;
No estado lquido tm um ponto de inflamao inferior a 21C mas no so extremamente inflamveis;
No estado gasoso so inflamveis, presso normal;
Em contacto com a gua ou ar hmido, libertam gases extremamente inflamveis em quantidades perigosas.
Inflamveis
Substncias e preparaes lquidas cujo ponto de inflamao igual ou superior a 21C e inferior a 55C.
Segundo as suas propriedades toxicolgicas, as substncias e preparaes perigosas esto classificadas em:
Muito txicas
Substncias e preparaes que, quando inaladas, ingeridas ou absorvidas atravs da pele, mesmo em muito
pequena quantidade, podem causar a morte ou riscos de afeces agudas ou crnicas
143
144
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Txicas
Substncias e preparaes que, quando inaladas, ingeridas ou absorvidas atravs da pele, mesmo em pequena
quantidade, podem causar a morte ou riscos de afeces agudas e crnicas.
Nocivas
Substncias e preparaes que, quando inaladas, ingeridas ou absorvidas atravs da pele, podem causar a
morte ou riscos de afeces agudas e crnicas.
Corrosivas
Substncias e preparaes que, em contacto com os tecidos vivos, podem exercer sobre eles uma aco
destrutiva.
Irritantes
Substncias e preparaes no corrosivas que, em contacto directo, prolongado ou repetido, com a pele ou
com as mucosas, podem provocar uma reaco inflamatria.
Sensibilizantes
Substncias e preparaes que, por inalao ou penetrao cutnea, podem causar uma reaco de hipersensibilizao tal, que
uma exposio posterior substncia ou preparao produza efeitos nefastos caractersticos.
Carcinognicas
Substncias e preparaes que, por inalao, ingesto ou penetrao cutnea, podem provocar o cancro ou aumentar a sua
incidncia.
Mutagnicas
Substncias e preparaes que, por inalao, ingesto ou penetrao cutnea, podem produzir defeitos genticos hereditrios ou
aumentar a sua frequncia.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Txicas para a reproduo
Substncias e preparaes que, por inalao, ingesto ou penetrao cutnea, podem causar ou aumentar a frequncia de
efeitos prejudiciais no hereditrios na progenitura ou atentar s funes ou capacidades reprodutoras masculinas ou femininas.
As substncias e preparaes perigosas classificadas como perigosas para o ambiente so:
Perigosas para o meio ambiente
Substncias e preparaes que, se presentes no ambiente, representam ou podem representar um risco
imediato ou diferido para um ou mais compartimentos do ambiente.
145
146
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O Regulamento (CE) N. 1272/2008, tambm referido como Regulamento CLP (do Ingls, Classification, Labelling and Packaging)
que entrou em vigor em 20 de Janeiro de 2009, prev dar cumprimento s disposies da ONU, mas tambm a incluso no direito
comunitrio dos critrios do GHS (Global Harmonized System) sobre classificao e rotulagem de substncias e misturas
perigosas. O objectivo implementar um sistema nico escala global para a classificao e etiquetagem de produtos perigosos,
a partir dos sistemas existentes. A nova rotulagem a seguinte, segundo as propriedades fsico-qumicas dos produtos:
GHS 01
Explosivos instveis;
Explosivos da diviso 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
Substncias e misturas auto-reactivas, tipo A;
Perxidos orgnicos, tipo A.
GHS 02
Gases inflamveis, categoria 1;
Aerossois inflamveis, categoria 1, 2;
Lquidos inflamveis, categoria 1, 2, 3;
Matrias slidas inflamveis, categoria 1, 2;
Substncias e misturas auto-reactivas, tipo C, D, E, F;
Lquidos pirofricos, categoria 1;
Matrias slidas pirofricas, categoria 1;
Substncias e misturas susceptveis de auto-aquecimento, categoria 1, 2;
Substncias e misturas que em contacto com a gua libertam gases inflamveis,
categoria 1, 2, 3;
Perxidos orgnicos, tipo C, D, E, F.
Substncias e misturas auto-reactivas, tipo B;
Perxidos orgnicos, tipo B.
GHS 03
Gases comburentes, categoria 1;
Lquidos comburentes, categoria 1, 2, 3;
Matrias slidas comburentes, categoria 1, 2, 3.
GHS 04
Gases sob presso:
Gases comprimidos;
Gases liquefeitos;
Gases liquefeitos refrigerados;
Gases dissolvidos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Segundo o Regulamento CLP, de acordo com as propriedades toxicolgicas, as substncias e misturas perigosas esto
classificadas do seguinte modo:
GHS 05
Substncias e misturas corrosivas para metais, categoria 1;
Corroso/irritao cutnea, categoria 1A, 1B, 1C;
Leses oculares graves/irritao ocular, categoria 1.
GHS 06
Toxicidade aguda, categoria 1, 2, 3.
GHS 07
Toxicidade aguda, categoria 4;
Corroso/irritao cutnea, categoria 2;
Leses oculares graves/irritao ocular, categoria 2;
Sensibilizao cutnea, categoria 1;
Toxicidade para rgos-alvo especficos exposio nica, categoria 3.
GHS 08
Sensibilizante respiratrio, categoria 1;
Mutagenicidade sobre as clulas germinativas, categoria 1A, 1B, 2;
Carcinogenicidade, categoria 1A, 1B, 2;
Toxicidade reprodutiva, categoria 1A, 1B, 2;
Toxicidade para rgos-alvo especficos exposio nica, categoria 1, 2;
Toxicidade para rgos-alvo especficos exposio repetida, categoria 1, 2;
Perigosidade por aspirao, categoria 1.
Segundo o Regulamento CLP, de acordo com as propriedades de perigosidade para o ambiente, as substncias e misturas so
classificadas do seguinte modo:
GHS 09
Perigosidade para o meio aqutico perigo agudo, categoria 1;
Perigosidade para o meio aqutico perigo crnico, categoria 1, 2.
147
148
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
H ainda substncias perigosas mas que no esto identificadas com nenhum pictograma:
Sem pictograma
Explosivos, diviso 1.5, 1.6;
Gases inflamveis, categoria 2;
Substncias e misturas auto-reactivas, tipo G;
Perxidos orgnicos, tipo G;
Toxicidade reprodutiva, categoria suplementar: efeitos sobre ou via aleitamento;
Perigosidade para o meio aqutico perigo crnico, categoria 3, 4.
A rotulagem das embalagens dos produtos qumicos perigosos fundamental para a correcta identificao do produto mas,
tambm, para a comunicao dos riscos que a sua utilizao comporta e das medidas de precauo a adoptar. A rotulagem
regulamentar dos recipientes e embalagens estende-se tambm s pequenas quantidades fraccionadas a partir das embalagens
de origem. O rtulo deve estar sempre bem legvel e em bom estado de conservao.
FIGURA 74
Rotulo regulamentar para efeitos de utilizao
De acordo com o Regulamento CLP, a nova rotulagem de produtos qumicos perigosos ter a seguinte configurao:
FIGURA 75
Rtulo de acordo com o GHS
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Relativamente aos papis no mbito do CLP e respectivas obrigaes podemos ter:
QUADRO 48
Papis e obrigaes no mbito do CLP
Descrio
Fabrica ou extrai uma substncia
dentro da Comunidade
O seu papel do CLP
Fabricante
Obrigaes
Classificar, rotular e embalar as
substncias e misturas
Actualizar o rtulo aps qualquer
alterao C&R
Responsvel pela introduo fsica
nos territrios da Comunidade
Importador
Utiliza uma substncia, estreme ou
contida numa mistura, no exerccio
das suas actividades industriais ou
profissionais
Utilizador a Jusante
(inclui o formulador/re-importador)
Classificar (caso altere a
composio da substncia ou
mistura que coloca no mercado),
rotular e embalar
Apenas armazena e coloca no
mercado uma substncia, estreme
ou contida numa mistura, para
utilizao por terceiros
Distribuidor
Rotular e embalar
(inclui o Retalhista)
Pode adoptar a classificao
anteriormente derivada por outro
agente da cadeia de abastecimento,
a partir dos elementos p. ex. de uma
FDS que lhe tenha sido fornecida
Faz ou procede montagem de um
artigo na Comunidade
Produtor de artigos
Classificar, rotular e embalar caso
produza e coloque no mercado um
artigo explosivo
Classificar, tambm, as substncias
que no so colocadas no mercado
mas que esto sujeitas a registo ou
notificao, em conformidade com
REACH
149
150
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Relativamente aos marcos mais relevantes para a aplicao do Regulamento CLP para a classificao, rotulagem e embalagem
de substncias e misturas perigosas so respectivamente:
FIGURA 76
Marcos para a aplicao do GHS para substncias perigosas
*
**
Possibilidade de tambm mencionar a classificao segundo o novo sistema na Ficha de Dados de Segurana.
Disposies do regulamento de classificao, rotulagem e embalagem que possibilitam a aplicao das regras de classificao, rotulagem
e embalagem do novo regulamento antes de 1 de Dezembro de 2010.
***
Disposies do regulamento de classificao, rotulagem e embalagem que possibilitam a dispensa, at 1 de Dezembro de 2012, da
re-etiquetagem e da re-embalagem conforme o novo sistema, para as substncias classificadas, etiquetadas e embaladas segundo o
sistema pr-existente que foram colocadas no mercado antes de 1 de Dezembro de 2010.
FIGURA 77
Marcos para a aplicao do GHS para misturas perigosas
*
**
Possibilidade de tambm mencionar a classificao segundo o novo sistema na Ficha de Dados de Segurana.
Disposies do regulamento de classificao, rotulagem e embalagem que possibilitam a aplicao das regras de classificao, rotulagem
e embalagem do novo regulamento antes de 1 de Dezembro de 2015.
***
Disposies do regulamento de classificao, rotulagem e embalagem que possibilitam a dispensa, at 1 de Junho de 2017, da
re-etiquetagem e da re-embalagem conforme o novo sistema, para as misturas classificadas, etiquetadas e embaladas segundo o sistema
pr-existente que foram colocadas no mercado antes de 1 de Junho de 2015.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
No mbito da preveno dos riscos decorrentes da utilizao de produtos qumicos perigosos, o primeiro passo deve passar pela
seleco criteriosa dos produtos qumicos a utilizar. Para uma determinada utilizao deve-se dar preferncia ao produto que
introduz o menor risco para os utilizadores e patrimnio. Para os sectores da borracha e das matrias plsticas, os produtos
qumicos perigosos mais utilizados so:
Tintas e impresso
Adesivos
Resinas
Isocianatos
Alm da correcta rotulagem dos produtos qumicos perigosos, um outro aspecto muito importante na aquisio de produtos
qumicos perigosos prende-se com a entrega da Ficha de Dados de Segurana do produto pelo fabricante. A empresa dever
ainda manter actualizada uma listagem de todos os produtos qumicos utilizados, indicando os locais onde esses produtos so
utilizados, a respectiva classificao quanto perigosidade e as quantidades consumidas, com base anual.
ainda muito importante proibir a utilizao de vasilhame inadequado (garrafas de gua, cerveja, vasilhame de outros produtos
qumicos, etc.) como recipientes de produtos qumicos perigosos. O incumprimento desta prtica pode resultar em acidentes graves.
Normalmente, o acondicionamento dos gases comprimidos efectuado em garrafas de gs transportveis. As garrafas tm
identificado na ogiva o fabricante, o proprietrio, o gs presente no seu interior, a presso de trabalho e a data da prova
hidrulica. O gs contido no interior identificado pela cor da ogiva, conforme se ilustra no quadro seguinte:
QUADRO 49
Identificao de gases comprimidos na ogiva das garrafas transportveis
Cor
Perigosidade
Gs especfico
Amarelo
Txico e/ou corrosivo
Vrios
Vermelho
Inflamvel
Vrios
Azul claro
Comburente
Vrios
Verde claro
Inerte
Vrios
Marrom
Inflamvel
Acetileno
Branco
Comburente
Oxignio
Verde escuro
Inerte
rgon
Preto
Inerte
Nitrognio
Cinzento
Inerte
Dixido de Carbono
Branco e Preto
Comburente
Ar ou Ar Sinttico
Branco e Cinzento
Comburente
Oxignio e Dixido
Carbono
Ogiva
151
152
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As garrafas devero ainda estar identificadas com rotulagem de preveno e duas marcaes N, diametralmente opostas, em
cor distinta das cores utilizadas para identificar os gases contidos na garrafa. A rotulagem de preveno destas garrafas contm
os pictogramas de perigosidade, sob a forma de losango, a identificao do contedo, nome e endereo do fabricante, a meno
de perigos e os conselhos de prudncia a seguir.
FIGURA 78
Garrafas de gs comprimido
6.10.2 Registo, avaliao, autorizao e restrio das substncias qumicas (REACH)
O registo, avaliao, autorizao e restrio das substncias qumicas, vulgarmente designado por REACH, tem como objectivo
detectar as propriedades das substncias qumicas de forma mais rpida e mais precisa. O REACH aplica-se a todas as
substncias qumicas fabricadas, importadas, colocadas no mercado ou utilizadas na Comunidade Europeia, quer
individualmente, em misturas ou como componentes de produtos.
O objectivo principal do REACH demonstrar e comunicar aos utilizadores de substncias qumicas como podem utiliz-las sem
se exporem a riscos inaceitveis. Este Regulamento entrou em vigor em 1 de Junho de 2007, sendo a sua data de entrada em
operacionalidade 1 de Junho de 2008.
As empresas que fabricam e importam produtos qumicos tero de avaliar os riscos decorrentes da sua utilizao e devem tomar
as medidas necessrias para gerir todos aqueles que identificarem.
Todos os produtos qumicos produzidos ou importados em quantidades superiores a uma tonelada tm de ser registados na
Agncia Europeia de Produtos Qumicos.
As empresas que produzam as substncias chamadas CMR (cancergenas, mutagnicas e txicas para a reproduo) calculadas entre 2500 e 3000 - s tero autorizao de uso se forem desenvolvidos planos de substituio. Se as alternativas no
existirem, os produtores tero de propor planos de investigao e de desenvolvimento.
O registo requer dos fabricantes e importadores de produtos qumicos a obteno de toda a informao relevante das suas
substncias e a utilizao desses dados na posterior manipulao dessas substncias de forma segura.
Ter de ser constitudo um processo de registo relativamente a todas as substncias qumicas que sejam fabricadas na UE ou
importadas, em quantidades superiores a 1 ton/ano (assim como sobre o respectivo fabricante/importador), que ser enviado
para a nova Agncia Europeia de Produtos Qumicos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Para produtos perigosos (para o homem ou para o ambiente) e/ou de grande volume, o registo deve ser efectuado nos primeiros
trs anos e meio (a contar da data da entrada em vigor do REACH); para todas as outras substncias, os prazos para registo
situam-se entre os trs anos e meio e os onze anos.
O pr-registo devia ter ocorrido de 1 de Junho a 1 de Dezembro de 2008, iniciando-se o perodo de Registo, para as substncias
que no constem de nenhum inventrio e no sejam pr-registadas, em 1 de Junho de 2008.
Para as substncias de integrao progressiva, os prazos, sendo mais alargados, estendem-se, de acordo com a gama de
tonelagem em causa:
QUADRO 50
Prazo para o registo de substncias qumicas, em funo da tonelagem que seja fabricada na UE ou importada.
Substncia qumica
Tonelagem
Prazo
Genrica
1 000 Ton/ano
CMR cat 1 e 2
1 Ton/ano
R50/R53
100 Ton/ano
Genrica
100 Ton/ano e < 1 000 Ton/ano
1 de Junho de 2013
Genrica
1 Ton/ano e < 100 Ton/ano
1 de Junho de 2018
1 de Dezembro de 2010
O Regulamento CLP ser uma ferramenta muito til para implementar os requisitos exigidos pelo Regulamento REACH.
6.10.3 Fichas de dados de segurana
A ficha de dados de segurana (FDS), designada internacionalmente por MSDS (Material Safety Data Sheet), deve ser elaborada de
acordo com o Anexo II do Regulamento REACH, enquadrada pelas exigncias que constam do Regulamento GHS. A ficha de
dados de segurana elaborada de acordo com a Directiva 2001/58/CE, que foi revogada pelo REACH, poder continuar a ser
utilizada at que uma nova verso seja elaborada ou at que novos dados compilados ao abrigo do REACH se tornem disponveis,
ou ainda de acordo com os marcos definidos pelo Regulamento CLP. Deste modo, para as substncias e misturas perigosas, a
partir impreterivelmente de 1 de Dezembro de 2010 e 1 de Junho de 2015 respectivamente, os fornecedores tero de entregar as
FDS de acordo com o Regulamento CLP.
A ficha de dados de segurana deve estar disponvel, preferencialmente afixada junto s reas de armazenagem e nos locais de
utilizao. A FDS apresenta a caracterizao de um determinado produto qumico, permite conhecer a composio da Substncia
ou Mistura e a utilizao a que se destina.
Devem ser preferencialmente utilizadas fichas sntese de dados de segurana do produto, com uma ou no mximo duas pginas
de extenso, criadas a partir das fichas de dados de segurana. Deste modo simplifica-se a consulta durante a utilizao dos
produtos qumicos.
Em anexo apresentado um exemplo de uma ficha sntese de dados de segurana.
6.10.4 Armazenagem e utilizao de produtos qumicos
As actividades de armazenagem e utilizao de produtos qumicos devem estar enquadradas por medidas de preveno e
proteco dos riscos profissionais. A armazenagem de produtos qumicos, nas empresas na Indstria da Borracha e das Matrias
Plsticas, normalmente efectuado em espaos dedicados para esse efeito, no cumprindo em grande parte das vezes com as
regras de segurana.
153
154
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Como boa prtica, recomenda-se que a armazenagem de produtos qumicos (designadamente dos perigosos), seja efectuada
num espao dedicado que dever obedecer aos seguintes principais requisitos:
Estar separado dos locais de trabalho por compartimentao corta-fogo adequada;
Identificao e sinalizao de segurana nos seus acessos.
FIGURA 79
Sinalizao de armazm de produtos qumicos perigosos.
As quantidades armazenadas devero restringir-se ao mnimo, por forma a limitar o risco para pessoas e patrimnio,
reduzindo tambm o capital investido em stocks;
Os produtos qumicos devero estar organizados por famlias, devendo cada famlia de produtos qumicos estar segregada
de outras que lhe sejam incompatveis;
O pavimento deve ser impermevel, resistente aos produtos armazenados e dotado de vala para que eventuais derrames
sejam encaminhados para bacia de reteno;
Quando existam produtos qumicos volteis, o armazm dever estar equipado com sistema de ventilao adequado,
dotado de filtro, de forma a evitar a acumulao de vapores no interior;
Os produtos qumicos inflamveis devero preferencialmente ser colocados em local para o seu armazenamento
exclusivo;
O armazm dever ainda estar dotado de ligaes terra para as operaes de trasfega de lquidos inflamveis;
O sistema de iluminao, bem como todo o equipamento elctrico, deve ser do tipo antideflagrante. Equipamento para
combate a incndios (cujas especificaes dependem do tipo e quantidades de reagentes armazenados) e para proteco
pessoal deve estar disposio de todos quantos trabalham no armazm; todas as pessoas devem conhecer a sua
localizao e o modo de o utilizar em casos de emergncia.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 80
Matriz de compatibilidades entre famlias de produtos qumicos (C compatvel; I incompatvel; o no armazenar em conjunto,
excepto se adoptadas medidas de segurana)
As embalagens dos produtos qumicos devero estar sempre em bom estado de conservao, devendo tambm estar
colocadas sobre tinas de reteno de dimenso adequada, de modo a conter eficazmente potenciais derrames. Estas tinas
devero ostentar o(s) pictograma(s) relativo(s) perigosidade dos produtos qumicos em questo. As tinas devero
tambm ser objecto de verificao peridica de forma a assegurar que estas no apresentam fugas, no esto danificadas
e que mantm uma adequada resistncia mecnica.
155
156
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 81
Armazenamento de produtos qumicos em estante, sobre tinas de reteno. Pavimento do armazm impermevel e resistente aos
produtos qumicos armazenados.
O armazm ou rea de armazenagem dever estar dotado de lava-olhos e chuveiro de emergncia.
FIGURA 82
Lava-olhos e chuveiro de emergncia
O armazm deve ser um local fresco, bem iluminado, com ptima ventilao e isolado por paredes prova de fogo.
essencial que todas as zonas do armazm sejam de fcil acesso e todas as passagens devem ser mantidas desobstrudas;
Deve existir um ficheiro de referncia, em que se indiquem as propriedades potencialmente perigosas de cada produto, o
modo de eliminar os seus resduos e quais os primeiros-socorros a serem prestados em caso de acidente;
A boa organizao indispensvel num armazm. No basta colocar as substncias por ordem alfabtica; h que ter em
conta, a natureza potencialmente perigosa de cada uma delas, e reagentes incompatveis no podem ser armazenados
conjuntamente;
O armazm dever estar dotado de materiais absorventes e material de limpeza, para o controlo de eventuais derrames.
O acesso aos armazns de produtos qumicos dever ser controlado e limitado a um nmero mnimo de colaboradores da
empresa. Estas pessoas devero ter formao adequada sobre as prticas correctas a seguir;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
No armazm, devero existir cpias das Fichas de Dados de Segurana dos produtos qumicos, em local acessvel.
Podero tambm ser utilizadas Fichas Sntese de Segurana do produto. Devero tambm estar disponveis outras
informaes, afixadas em quadro informativo, por exemplo, contendo elementos como a matriz de incompatibilidades
entre famlias de produtos qumicos perigosos.
Quando o armazenamento de produtos qumicos efectuado em armrio,
O armrio dever ser de construo robusta e adequada e, ser dotado de ventilao;
O armrio dever estar identificado e apresentar sinalizao adequada de aviso e proibio;
As embalagens dos produtos qumicos devero ser acondicionadas sobre tinas de reteno.
FIGURA 83
Armrio em posto de trabalho com armazenamento de produtos lquidos Inflamveis
Relativamente utilizao de produtos qumicos nos postos de trabalho deve-se observar os seguintes requisitos:
As quantidades de produtos qumicos presentes nos locais de trabalho devem estar limitadas s necessidades para o
turno ou horrio de trabalho;
Os processos de utilizao de produtos qumicos que gerem vapores, poeiras, neblinas e gases devero ser dotados de
sistema de exausto, preferencialmente com o envolvimento total da fonte;
Sempre que necessrio, os utilizadores devero estar adequadamente protegidos com equipamentos de proteco
individual, nomeadamente luvas e mscara de proteco adequada;
Os recipientes para pequenas quantidades de lquidos inflamveis, para utilizao nos postos de trabalho, devem ser
adequados a esta finalidade;
Os locais de trabalho onde se verifique a possibilidade de derrame de produtos qumicos devero estar dotados de
materiais absorventes e material de limpeza, para o controlo de eventuais derrames;
No que diz respeito recolha de resduos, devero existir contentores em nmero suficiente, distribudos pelas
instalaes. Deve garantir-se a recolha selectiva dos resduos perigosos, sendo os resduos retirados regularmente do
local de trabalho de modo a no constiturem perigo para a segurana e sade dos trabalhadores;
As embalagens vazias tambm devem ser armazenadas convenientemente at ao momento da sua recolha para
expedio;
157
158
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.11 RISCOS ELCTRICOS
6.11.1 Acidentes de origem elctrica
De todas as formas de energia utilizadas actualmente, a electricidade , com toda a certeza, a que tem maior nmero de
aplicaes. Sendo uma forma de energia indispensvel a qualquer empresa (iluminao, alimentao de mquinas e
equipamentos, etc.) constitui por este facto, um risco para os trabalhadores, para os equipamentos e instalaes. As
consequncias dos acidentes de origem elctrica podem ser muito graves, quer ao nvel material (incndios, exploses), quer ao
nvel pessoal, podendo mesmo levar morte do trabalhador.
6.11.2 Efeitos da corrente elctrica
Os efeitos da corrente elctrica no corpo humano podem incluir:
Tetanizao - Forte contraco muscular que impede a pessoa de largar a zona de contacto com a corrente;
Paragem respiratria - Dificuldade ou impossibilidade de respirar devido contraco dos msculos relacionados com a
funo respiratria ou paralisia dos centros nervosos que os comandam;
Fibrilao ventricular -A sobreposio de uma corrente externa corrente fisiolgica normal, provoca a contraco
desordenada das fibras do msculo cardaco principalmente dos ventrculos. a principal causa de morte;
Queimaduras -Dependendo da tenso, da intensidade e do tempo de passagem da corrente as queimaduras variam entre a
marca elctrica (pequena leso) e a electrotrmica cujas consequncias podem ser profundas e graves.
A extenso das consequncias da corrente elctrica depende de vrios factores, destacando-se a tenso, a intensidade, o tempo de
exposio, percurso da corrente no corpo, resistncia do corpo, nvel de frequncia, isolamento do corpo e tipo de contacto.
A imagem seguinte relaciona o tempo de passagem e a intensidade da corrente e as possveis consequncias.
FIGURA 84
Relao da intensidade, tempo de passagem de corrente e as consequncias no corpo humano.
Zona 1 limiar da sensibilidade habitualmente no causa
qualquer reaco passagem da corrente elctrica no
corpo humano.
Zona 2 habitualmente no causa efeitos fisiopatolgicos perigosos no corpo humano
Zona 3 possibilidade de efeitos fisiopatolgicos no mortais,
habitualmente reversveis, com possibilidade de fibrilao auricular e paragens temporrias do corao
(sem fibrilao ventricular); a probabilidade de morte
inferior a 50%.
Zona 4 probabilidade de fibrilao ventricular, paragens cardacas e respiratrias, bem como de queimaduras
graves; a probabilidade de morte e superior a 50%.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.11.3 Proteco das pessoas
As medidas de preveno a adoptar esto estabelecidas no Regulamento de Segurana de Instalaes de Utilizao de Energia
Elctrica, devendo ser consideradas duas reas de actuao para proteco das pessoas contra os perigos que as instalaes
elctricas podem apresentar, assim classificadas:
Proteco contra contactos directos;
Proteco contra contactos indirectos.
Proteco contra contactos directos
Os principais acidentes associados a contactos directos podem ocorrer nas situaes ilustradas nas figuras seguintes:
FIGURA 85
Contacto entre uma parte activa e um elemento condutor ligado terra
Muito frequentemente ocorrem contactos entre uma parte activa, sob
tenso (por exemplo, um fio condutor) e um elemento condutor ligado
terra.
FIGURA 86
Contacto entre uma parte activa sob tenso e uma outra parte activa sob tenso diferente
Frequentemente ocorrem contactos entre uma parte activa sob tenso e uma
outra parte activa (por exemplo, outro fio condutor), sob tenso diferente.
A proteco contra contactos directos poder, em regra, considerar-se realizada desde que sejam observadas as prescries no
Regulamento, ou pela adopo de diversas disposies, nomeadamente:
Isolamento ou afastamento das partes activas;
Colocao de anteparos;
Uso de tenso reduzida de segurana tenso de contacto no superior a 50V em qualquer massa ou elemento condutor
externo instalao elctrica que no possa ser empunhada ou, 25 V caso se verifique a possibilidade desta ser
empunhada, no caso de corrente contnua. Para corrente alterna, o valor da tenso duplica.
159
160
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Proteco contra contactos indirectos
Os principais acidentes associados a contactos indirectos podem ocorrer nas situaes indicadas nas figuras seguintes:
FIGURA 87
Contacto entre uma massa acidentalmente sob tenso e um elemento condutor ligado terra
Relativamente frequente, ocorre o contacto entre uma massa acidentalmente sob
tenso, por exemplo, a carapaa metlica de um equipamento elctrico, e um
elemento condutor ligado terra.
FIGURA 88
Contacto entre duas massas que acidentalmente esto sob tenso e essa tenso diferente
Muito raramente, ocorre o contacto entre duas massas que acidentalmente esto
sob tenso e essa tenso diferente.
A proteco contra contactos indirectos deve ser realizada por um dos seguintes sistemas:
Ligao directa das massas terra e emprego de um aparelho de proteco, de corte automtico, associado (neste caso,
todas as massas da instalao devem estar ligadas terra por meio de condutores de proteco directamente ou atravs
do condutor geral);
Ligao directa das massas ao neutro e emprego de um aparelho de proteco, de corte automtico associado;
Emprego de um aparelho de proteco, de corte automtico, sensvel tenso de defeito.
6.11.4 Enquadramento legal
Segundo o Regulamento Geral de Segurana e Higiene no Trabalho (RGSHT), o estabelecimento e a explorao das instalaes
elctricas devem obedecer s disposies regulamentares em vigor.
A Portaria n. 987/93, de 6 de Outubro de 1993, que define a regulamentao das prescries mnimas de segurana e sade nos
locais de trabalho estabelece que a instalao elctrica no pode comportar risco de incndio ou de exploso e deve assegurar
que a sua utilizao no constitua factor de risco para os trabalhadores, por contacto directo ou indirecto. A concepo, a
realizao e o material da instalao elctrica devem respeitar as determinaes constantes da legislao especfica aplicvel,
nomeadamente o Decreto-Lei n.226/2005 de 28 de Dezembro e a Portaria n. 949-A/2006 de 11 de Setembro.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.11.5 Posto de transformao
Um posto de transformao (PT) uma instalao elctrica especial que transforma os nveis de tenso da rede para a tenso de
utilizao, a uma dada potncia. O abastecimento de energia empresa a partir da rede elctrica pode ser efectuada em:
Alta tenso;
Mdia tenso;
Baixa tenso.
A generalidade das empresas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas recebe a energia da rede elctrica em mdia tensa.
Os postos de transformao, podem ser basicamente de dois tipos:
Areos: no caso dos postos de transformao ligados na rede area em mdia tenso, sendo o transformador instalado
num apoio da linha de distribuio mdia tenso e o quadro geral de baixa tenso na base desse apoio, num armrio
dimensionado para o efeito;
Em cabine: no caso de todo o equipamento estar instalado dentro de uma cabine que pode assumir uma das seguintes
variantes:
cabine alta (torre);
cabine baixa em edifcio prprio;
cabine baixa integrada em edifcio;
cabine metlica (monobloco);
cabine pr-fabricada;
cabine subterrnea.
FIGURA 89
Posto de transformao em cabine pr-fabricada
161
162
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 90
Posto de transformao em cabine metlica (monobloco)
FIGURA 91
Posto de transformao em cabine alta (torre)
FIGURA 92
Posto de transformao areo
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Do ponto de vista da segurana, os postos de transformao de alvenaria baixa devero:
Ser construdos em materiais da classe de reaco ao fogo A1 (M0) e garantir uma resistncia ao fogo mnima de EI 90 (CF 90);
O acesso ao PT dever ser preferencialmente efectuado a partir do exterior dos edifcios;
Se o PT tiver acesso a partir do interior do edifcio, a porta dever ter uma resistncia ao fogo EI 60 (CF 60). A porta dever
ser metlica, ter sempre abertura para o exterior do PT e estar dotada de sinalizao de aviso (com dimenses mnimas
de 12 cm x 20 cm) de perigo de electrocusso com indicao de Perigo de Morte. A porta do PT dever estar fechada
chave e o seu acesso dever ser limitado a pessoas com formao tcnica adequada, ou na companhia destas;
O transformador dever estar protegido contra contactos directos por rede metlica, com altura de 2 m, com os
painis/porta de rede com abertura para o exterior da cela. O sistema de fecho dos painis/porta deve estar dotado de
dispositivo de encravamento que impede a abertura da porta enquanto o seccionador e o interruptor-seccionador esto
fechados;
O PT dever estar dotado de extintor de 5 kg de anidrido carbnico (CO2);
No interior do PT devero estar presentes: um estrado isolador, um par de luvas isolantes que garanta proteco
adequada, vara de comando para corte do abastecimento de energia a partir da rede, instrues regulamentares para
prestao de primeiros socorros e uma fonte de luz de emergncia;
Dever tambm estar presente um registo com os valores medidos das terras de proteco (as terras de proteco
devero ter uma resistncia mxima de 20 );
De modo a garantir as melhores condies de funcionamento dos postos de transformao, apresenta-se de forma
sucinta as principais obrigaes:
De acordo com a legislao em vigor, todos os clientes alimentados a partir de um Posto de Transformao privado, devem ter
um Tcnico Responsvel pela Explorao das instalaes elctricas.
Inspeces de instalaes elctricas
O Tcnico Responsvel pela Explorao dever inspeccionar as instalaes elctricas com a frequncia exigida pelas
caractersticas de explorao, no mnimo duas vezes por ano, a fim de proceder s verificaes, ensaios e medies
regulamentares e elaborar o relatrio referido no artigo 14., devendo estas inspeces obrigatrias serem feitas, uma, durante
os meses de Vero e, outra, durante os meses de Inverno.
O relatrio referido no nmero anterior ser enviado, anualmente, aos respectivos servios externos da Direco Geral de
Energia. Artigo 20. do Decreto Lei n. 517/80 de 31 de Outubro.
Verificao dos elctrodos de terra
Os exploradores de postos e subestaes devero verificar uma vez por ano, durante os meses, de Junho, Julho, Agosto ou
Setembro, as resistncias de terra de todos os elctrodos de terra que lhes pertenam. Os resultados obtidos devero ser
anotados num registo especial que possa ser consultado, em qualquer ocasio, pela fiscalizao do Governo.
Limpeza, conservao e reparao das instalaes
A limpeza das instalaes dever efectuar-se com a frequncia necessria para impedir a acumulao de poeiras e sujidades,
especialmente sobre os isoladores e aparelhos.
Quaisquer trabalhos de limpeza, conservao e reparao s podero ser executados por pessoal especialmente encarregado e
conhecedor desses servios ou por pessoal trabalhando sob sua direco.
163
164
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Artigos 60. e 103. do Regulamento de Segurana de Subestaes e Postos de Transformao e de Seccionamento, aprovado pelo
Decreto n. 42 895/60 de 31 de Maro alterado pelos, Decreto Regulamentar n. 14/77, de 18 de Fevereiro, e Decreto Regulamentar n.
56/85 de 06 de Setembro.
Manuteno preventiva sistemtica
A manuteno preventiva sistemtica contempla a realizao de dois tipos de aces para os postos de transformao;
QUADRO 51
Manuteno preventiva sistemtica
Inspeco
Observao visual do estado da instalao
Termoviso sobre todas as ligaes elctricas existentes
Medio das resistncias dos elctrodos de terra:
-terra de servio
-terra de proteco
Verificao dos sistemas de proteco
Manuteno integrada
FIGURA 93
Transformador protegido
FIGURA 94
Instrues de primeiros socorros
Observao visual do estado da instalao
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.11.6 Quadros elctricos
Os quadros elctricos tm como funo receber e distribuir a energia elctrica e so destinados a comandar, controlar e
proteger instalaes elctricas. Os quadros elctricos devero cumprir com os seguintes requisitos:
O acesso dever ser fcil e estar permanentemente desobstrudo;
As portas so consideradas proteces contra contactos directos com elementos sob tenso devendo portanto estar
fechadas chave e dotadas de sinalizao de aviso de perigo de electrocusso;
Devero ser apenas acedidos por pessoa competente;
Equipados com um disjuntor diferencial para proteco das pessoas;
Dotados de disjuntor magnetotrmico para proteco da instalao contra curto-circuitos e sobreaquecimentos;
Os aparelhos montados nos quadros devem estar devidamente identificados com etiquetas ou esquemas que permitam
conhecer as funes a que se destinam ou os circuitos a que pertencem;
Dotados de um ligador de massa, devidamente identificado, ao qual sero ligados os condutores de proteco da
instalao e a massa do quadro. Como a proteco das pessoas contra contactos indirectos feita habitualmente por
ligao terra associada a um aparelho de proteco, o ligador de massa designado por ligador de terra;
Possuir uma chapa de caractersticas, de forma clara, com as indicaes da tenso de servio e a natureza e frequncia
da corrente para que foram construdos, excepto no caso de quadros de baixa tenso.
FIGURA 95
Quadro elctrico identificado
FIGURA 96
Quadro elctrico obstrudo
165
166
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 97
Quadro elctrico no identificado
FIGURA 98
Quadro elctrico sem porta e sem identificao dos dispositivos de corte
6.11.7 Outras infra-estruturas
As instalaes de utilizao devem ser concebidas de forma a permitir desempenhar, com eficincia e em boas condies de
segurana, os fins a que se destinam. As instalaes de utilizao devem estar convenientemente estruturadas e subdivididas, de
modo a limitar a ocorrncia de eventuais perturbaes e facilitar a pesquisa e reparao de avarias.
Nas instalaes exteriores, sempre que seja perigoso tocar nos dispositivos, estes devem estar colocados a 6 m do solo e
estarem dotados de vedao, com a altura mnima de 1,80 m e provida de porta fechada chave. As instalaes interiores,
nomeadamente os condutores e canalizaes devero cumprir com os seguintes requisitos:
Os condutores dotados de isolamento devem estar identificados por meio de colorao da superfcie exterior do respectivo
isolamento. Para os condutores nus a colorao deve ser efectuada por meio de pintura, enfitamento ou revestimento
equivalente. Os condutores devero estar isentos de emendas;
As tomadas e as fichas devem ser concebidas de forma a no ser possvel o contacto directo com partes activas antes, durante e
depois da insero da tomada. Nos locais onde se verifique a possibilidade de contacto com a gua, as infraestruturas elctricas
devero ser estanques, e assegurar uma proteco adequada;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas h frequentemente locais de elevado risco de incndio ou exploso com
origem elctrica, como sejam: locais para recarga de baterias, armazm de produtos qumicos, caldeiras. Nestes locais a
instalao elctrica dever ser do tipo antideflagrante;
As canalizaes devero ser posicionadas de modo a garantir uma adequada explorao e conservao. Estas devero ainda ser
de fcil localizao e identificao. As canalizaes elctricas no devem ser instaladas a menos de 3 cm de canalizaes no
elctricas.
FIGURA 99
Canalizaes elctricas
FIGURA 100
Canalizaes elctricas com grande acumulao de sujidade
6.11.8 Instalaes
Os materiais a empregar devem ter caractersticas adequadas s condies de alimentao, de ambiente e de utilizao. Os
invlucros das canalizaes e dos aparelhos devero ser sempre de material isolante.
Os condutores, tubos, quadros, aparelhos e outros elementos das instalaes, assim como os materiais que as constituem,
devero obedecer s disposies das Regras Tcnicas, assim como s especificaes e normas aplicveis.
As instalaes de utilizao devem estar protegidas por aparelhos cuja actuao automtica, oportuna e segura impea, que os
valores caractersticos de corrente ou da tenso da instalao ultrapassem os limites de segurana da prpria instalao.
167
168
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As instalaes de utilizao devem estar devidamente protegidas contra sobre intensidades. A proteco contra sobrecargas deve
ser estabelecida de modo a impedir que sejam ultrapassadas as intensidades de corrente mxima admissveis nas canalizaes e
nos aparelhos. A proteco contra curto-circuitos deve ser estabelecida de forma a garantir que a durao do curto-circuito seja
limitada a um tempo suficientemente curto para no alterar de forma permanente as caractersticas das canalizaes e dos
aparelhos. As instalaes de utilizao devem ser concebidas de forma a permitir desempenhar, com eficincia e em boas
condies de segurana, os fins a que se destinam. As instalaes de utilizao devem ser convenientemente subdivididas, de
forma a limitar os efeitos de eventuais perturbaes e a facilitar a pesquisa e reparao de avarias.
Os aparelhos de corte devem poder ligar e desligar a potncia aparente de corte nominal tenso e factor de potncia nominais,
em boas condies de segurana e no nmero de vezes adequado s condies normais de servio.
6.11.9 Ferramentas e mquinas elctricas
As ferramentas elctricas manuais so pouco utilizadas na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas. No entanto, em
operaes de manuteno so usualmente utilizadas ferramentas elctricas, tipo berbequins, rebarbadoras e esmeris. Estes
equipamentos devero cumprir com vrios requisitos relativos segurana elctrica:
O interruptor deve accionar o equipamento apenas enquanto actuado voluntariamente (dispositivo homem-morto)
portanto, dever estar localizado de modo a evitar a entrada em servio intempestivo da ferramenta, quando esta no
esteja a ser utilizada;
Os cabos de alimentao dos equipamentos portteis ou as extenses devem ser de bainha dupla;
A carcaa dos equipamentos deve ser de duplo isolamento.
Relativamente utilizao das ferramentas elctricas importante que sejam adoptadas as seguintes prticas:
Quando a ferramenta para trabalhar em locais com atmosferas explosivas, verificar se a ferramenta anti-deflagrante e
se a sua categoria (ou seja, a marcao) adequada ao risco presente no local (de acordo com a classificao das reas
perigosas em zonas).;
Antes de utilizar um equipamento ou ferramenta elctrica, confirmar que esta se encontra em boas condies; Quando
ocorrer uma avaria no equipamento elctrico, desligar imediatamente a alimentao e/ou retirar a ficha da tomada;
Assegurar o bom estado do cabo no ponto da ligao ao aparelho e na ligao ficha (zonas de desgaste);
Verificar regularmente o bom estado das fichas e do isolamento dos condutores;
Evitar ter cabos espalhados pelo cho;
Durante a utilizao evitar que o cabo fique esmagado em esquinas ou sob objectos;
Quando fora de uso, o equipamento dever estar arrumado em local prprio.
De forma a garantir o adequado funcionamento de instalaes e equipamentos, estes devero estar sujeitos a verificaes
regulares, nomeadamente:
Uma vez por ano, durante o perodo compreendido entre o incio de Junho at final de Setembro, as resistncias de terra
de todos os elctrodos de terra, sendo que o seu valor nunca dever exceder os 20 ;
De cinco em cinco anos, dever ser efectuada a medio da terra de proteco, para os casos em que se verifique a
existncia de elctrodos de grande extenso em que a resistncia de terra normalmente no ultrapasse 1 ;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
De 4 em 4 anos, dever ser verificado o bom estado de conservao, dimensionamento e funcionamento dos materiais
elctricos fixos e instalaes, em particular, as proteces contra contactos directos e contactos indirectos, e proteces
contra curto-circuito e sobreaquecimento;
Os materiais elctricos no fixos, como extenses, cabos de ligao de equipamentos, devero ser verificados com uma
periodicidade mxima semestral.
A resistncia das tomadas de terra, a qual dever ser sempre inferior a 100 ;
Semestralmente, os equipamentos de proteco individual devero ser verificados em funo da utilizao, e pelo
utilizador, antes de cada utilizao, relativamente a defeitos visveis.
Estas verificaes devero ser efectuadas por pessoa competente e devero ficar anotadas em registo adequado.
6.12 SEGURANA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
Actualmente, nas actividades produtivas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, a importncia das mquinas cada
vez mais relevante.
A crescente sofisticao dos bens de equipamento das empresas dever ser acompanhada pelo aumento dos nveis de segurana
das mquinas e de controlo dos riscos dos trabalhadores que as operam. De facto, as potenciais consequncias do trabalho com
uma mquina no segura ou operada incorrectamente so completamente antagnicas dos objectivos que presidiram sua
aquisio o aumento dos nveis de produtividade e qualidade - sendo de destacar:
Acidentes;
Aumento dos prmios de seguros;
Danos nas mquinas;
Horas de trabalho perdidas;
Incumprimento dos prazos de entrega por paragem de mquinas;
Formao de novos trabalhadores;
Repercusses negativas para a imagem laboral e social da empresa.
A eliminao ou minimizao da ocorrncia de situaes que potenciem a concretizao destas consequncias passa pela
aplicao, por parte das empresas, de adequadas medidas de segurana e, neste contexto, por uma particular ateno na
aquisio, funcionamento e manuteno das mquinas.
Nesta fase, poder-se-, ento, equacionar: que riscos existem na utilizao de equipamentos de trabalho? Embora com carcter
no exclusivo, podero ser citados os seguintes fenmenos perigosos:
Utilizao de equipamentos no adequados para um trabalho especfico;
Inexistncia de proteco no acesso a rgos mveis;
Accionamento inadvertido ou involuntrio dos comandos das mquinas;
Entrada em funcionamento de forma intempestiva dos equipamentos.
169
170
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Antes do desenvolvimento deste tema, convir apresentar algumas definies:
Equipamento de trabalho Toda e qualquer mquina, aparelho, ferramenta ou instalao utilizado pelo trabalhador para o
trabalho, onde se incluem: ferramentas portteis (berbequins, rebarbadoras, serras de disco, etc.); equipamento e acessrios de
elevao de cargas (plataformas elevatrias, porta-paletes, empilhadores, pontes rolantes, cintas, estropos, cabos de ao, etc.);
mquinas-ferramenta, prensas, mquinas de injeco, etc.
Utilizao de um equipamento de trabalho Qualquer actividade em que o trabalhador contacte com um equipamento de
trabalho, nomeadamente a colocao em servio ou, fora dele, o uso, o transporte, a reparao, a transformao, a manuteno
e a conservao, incluindo a limpeza.
Zona perigosa Qualquer zona dentro ou em torno de um equipamento de trabalho onde a presena de um trabalhador exposto o
submeta a riscos para a sua segurana ou sade.
Trabalhador exposto Qualquer trabalhador que se encontre, totalmente ou em parte, numa zona perigosa.
Segurana de uma mquina Aptido de uma mquina para desempenhar a sua funo, para ser transportada, instalada,
afinada, sujeita a manuteno, desmantelada, e posta de parte em sucata, nas condies normais de utilizao especificadas no
manual de instrues, ou inclusive aqum destas, sem causar uma leso ou dano para a sade.
A preveno dos riscos de exposio ao funcionamento de mquinas pode considerar-se como o conjunto de medidas tendentes a:
Evitar ou reduzir o maior nmero possvel de fenmenos perigosos, seleccionando convenientemente determinadas
caractersticas de concepo;
Limitar a exposio de pessoas aos fenmenos perigosos, inevitveis ou que no possam ser suficientemente reduzidos a
montante. Esta condio pode-se conseguir, nomeadamente, reduzindo a necessidade de interveno do operador em
zonas perigosas e provindo a mquina de protectores e/ou dispositivos de proteco.
Para conhecimento e melhor compreenso dos requisitos legais, na figura seguinte apresentado um fluxograma da legislao
aplicvel segurana de mquinas e equipamentos de trabalho.
FIGURA 101
Fluxograma da legislao aplicvel segurana de mquinas e equipamentos de trabalho
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.12.1 Mquinas novas e mquinas usadas
O Decreto-Lei n. 103/2008, de 24 de Junho, i.e., Directiva Mquinas, estabelece as regras a que deve obedecer a colocao no
mercado e a entrada em servio das mquinas, bem como a colocao no mercado das quase-mquinas. Este Decreto-Lei
revogou, a partir de 29 de Dezembro de 2009, o Decreto-Lei n. 320/2001, de 12 de Dezembro.
A filosofia de base do Decreto-Lei n. 103/2008, de 24 de Junho, que transpe para a ordem jurdica interna a Directiva
n. 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa s mquinas, assenta na concepo e fabrico de
mquinas intrinsecamente seguras, atendendo a todas as etapas da vida til da mquina. Este Decreto-Lei tem tambm o
propsito de harmonizar as vrias legislaes dos estados-membros existentes neste domnio.
A Directiva n. 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, altera a Directiva n. 95/16/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativa aproximao das legislaes dos Estados membros respeitantes aos
ascensores.
De acordo com o Decreto-Lei n. 103/2008, de 24 de Junho, definida como mquina:
Conjunto, equipado ou destinado a ser equipado com um sistema de accionamento diferente da fora humana ou animal
directamente aplicada, composto por peas ou componentes ligados entre si, dos quais pelo menos um mvel, reunidos
de forma solidria com vista a uma aplicao definida;
Conjunto de peas ou de componentes ligados entre si, dos quais pelo menos um mvel, reunidos de forma solidria
com vista a elevarem cargas, cuja nica fonte de energia a fora humana aplicada directamente;
Conjunto de mquinas que, para a obteno de um mesmo resultado, esto dispostas e so comandadas de modo a serem
solidrias no seu funcionamento;
Um equipamento intermutvel que altera a funo de uma mquina, que colocado no mercado com a finalidade de ser
montado pelo prprio operador, por exemplo: numa mquina ou conjunto de mquinas, como tambm num tractor, desde
que esse equipamento no constitua uma pea sobressalente nem uma ferramenta.
Como quase-mquinas entende-se o conjunto que quase constitui uma mquina, mas que no pode assegurar, por si s, uma
aplicao especfica, como o caso de um sistema de accionamento e que se destina a ser exclusivamente incorporada ou
montada noutras mquinas ou noutras quasemquinas ou equipamentos com vista constituio de uma mquina qual
aplicvel este Decreto-Lei;
Como componente de segurana abrangido pelo mesmo Decreto-Lei considerado qualquer equipamento que no seja
intermutvel e que se coloque no mercado com o objectivo de assegurar, atravs da sua utilizao, uma funo de segurana, e
cuja avaria ou mau funcionamento ponha em causa a segurana ou a sade das pessoas expostas, no sendo, no entanto,
indispensvel para o funcionamento da mquina ou que pode ser substitudo por outros componentes que garantam o
funcionamento da mquina;
O fabricante s poder colocar no mercado e em servio, mquinas que cumpram os requisitos essenciais de segurana e sade,
previstos na Directiva Mquinas para os riscos aplicveis s mquinas. No sendo possvel cumprir com todos os requisitos
legais, nomeadamente por motivos de evoluo da tcnica, o fabricante dever adoptar medidas que garantam as condies de
segurana para as utilizaes razoavelmente previsveis dos equipamentos.
De salientar que, a partir do momento em que o empregador altera uma mquina, passa a ter obrigaes em relao s medidas
de proteco da prpria mquina e no apenas pela sua utilizao. Aquando da aquisio de mquinas novas, o empregador
dever garantir que estas cumprem os requisitos aplicveis do Decreto-Lei n. 103/2008, de 24 de Junho, e com os requisitos
estabelecidos por outras directivas pelos quais a mquina esteja abrangida.
171
172
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O fabricante dos equipamentos ou o seu mandatrio, so responsveis por assegurar a conformidade com as disposies deste
diploma para as mquinas colocadas no mercado a partir de 1995.
Presuno de conformidade presumem-se conformes as mquinas munidas da marcao CE e acompanhadas da declarao
CE de conformidade e os componentes de segurana acompanhados da declarao CE de conformidade.
Exigncias essenciais de segurana e de sade relativas concepo e construo de mquinas e de componentes de
segurana:
Requisitos essenciais de segurana e de sade:
Princpios de integrao de segurana, materiais e produtos, iluminao, concepo da mquina com vista ao seu
manuseamento, ergonomia e posto de trabalho.
Sistemas de Comando;
Medidas de proteco contra os riscos mecnicos;
Caractersticas exigidas para os protectores e os dispositivos de proteco;
Medidas de proteco contra outros riscos;
Energia elctrica, electricidade esttica, outras energias, erros de montagem, temperaturas extremas, incndio, exploso,
rudo, vibraes, radiaes, radiaes exteriores, equipamentos laser, emisses de poeiras, gases, aprisionamento, queda;
Manuteno;
Indicaes.
Dispositivos de informao;
Dispositivos de alerta;
Dispositivos sobre riscos residuais;
Marcao;
Manual de instrues (com as informaes constantes do diploma).
Exigncias essenciais de segurana e de sade adicionais
Para determinadas categorias de mquinas;
Para limitar os riscos especficos devidos mobilidade das mquinas;
Para limitar os riscos especficos devidos a operaes de elevao;
Para as mquinas destinadas a serem utilizadas em trabalhos subterrneos;
Para limitar os riscos especficos decorrentes da elevao ou da deslocao de pessoas.
A conformidade atestada pela declarao CE de conformidade elaborada pelo organismo notificado.
Avaliao da conformidade A conformidade das mquinas atestada pelo fabricante ou pelo seu mandatrio, mediante
emisso da declarao CE de conformidade para cada mquina e aposio da marcao CE;
A conformidade dos componentes de segurana, atestada pelo fabricante ou pelo mandatrio, estabelecido na
Comunidade, mediante emisso da declarao CE de conformidade para cada componente de segurana;
Os procedimentos para atestar a conformidade so diferentes para as mquinas constantes ou no do Anexo IV do
diploma.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Esto abrangidas pelo Anexo IV do diploma, as mquinas de moldar plstico e/ou borracha.
Mquinas no abrangidas pelo anexo IV do diploma
Procedimentos de avaliao de conformidade:
Constituio do processo tcnico de fabrico, sendo a conformidade atestada pela declarao CE de conformidade elaborada pelo
fabricante, ou pelo seu mandatrio, e pela aposio da marcao CE.
Mquinas abrangidas pelo anexo IV do diploma
Procedimentos de avaliao de conformidade:
Se a mquina for fabricada sem respeitar as normas harmonizadas aplicveis ou respeitando-as em parte, ou na ausncia
das normas, o fabricante ou o seu mandatrio, devem submeter o modelo da mquina ao exame CE de tipo e controlo
interno de fabrico;
Se a mquina for fabricada de acordo com as normas harmonizadas, o fabricante ou o seu mandatrio devem:
Constituir o processo tcnico de fabrico e envi-lo a um organismo notificado, que acusar a recepo deste processo o
mais rapidamente possvel e o conservar;
Ou apresentar o processo tcnico de fabrico ao organismo notificado que se limitar a verificar que as normas
harmonizadas foram correctamente aplicadas e emitir um certificado de adequao do processo;
Ou submeter o modelo da mquina ao exame CE de tipo.
Nesse sentido, o empregador deve exigir, como presuno da conformidade:
Declarao CE de conformidade;
Manual de instrues em portugus;
Efectuar a marcao CE na mquina.
A declarao CE de conformidade dever conter a seguinte informao:
Identificao do fabricante;
Identificao da mquina;
Directivas e normas aplicveis;
Data e nome do responsvel;
Para as mquinas indicadas no Anexo IV do Decreto-Lei n. 103/2008, de 24 de Junho, tal como para os componentes de
segurana a listados, devero tambm ser identificados o Organismo Notificado e o Certificado CE de Tipo;
A marcao CE de conformidade deve estar bem visvel e com o grafismo adequado, para atestar a conformidade para
com as directivas e normas aplicveis.
O manual de instrues, que obrigatoriamente dever estar redigido em lngua portuguesa, um documento de importncia
fundamental para a correcta compreenso e operao segura da mquina, englobando:
173
174
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Informaes gerais;
Caractersticas gerais da mquina;
Instrues de transporte, movimentao, embalamento e de armazenamento da mquina;
Instrues para instalao e colocao da mquina em servio;
Instrues de utilizao, regulao e afinao da mquina;
Instrues de manuteno e reparao da mquina;
Instrues relativas colocao fora de servio e ao desmantelamento da mquina;
Desenhos e esquemas.
A ausncia de acidentes produzidos por uma mquina que no disponha dos meios de proteco adequados, no significa que as
partes ou elementos desta mquina, no sejam perigosos.
Medidas de preveno e proteco
Apesar das iniciativas encetadas pelos fabricantes que visam a integrao da segurana, a utilizao de mquinas comporta
sempre determinados riscos para os respectivos utilizadores.
Esses riscos so apresentados seguidamente, conforme a terminologia de riscos presente na norma EN 12001 - parte1):
1. Esmagamento
2. Corte por cisalhamento
3. Golpe ou decepamento
4. Agarramento ou enrolamento
5. Arrastamento ou aprisionamento
6. Choque ou impacto
15. Elctricos (contacto directo, indirecto ou com a electricidade
esttica)
16. Biolgicos (vrus, bactrias, fungos ou parasitas)
17. Desrespeito dos princpios ergonmicos (sobrecarga e sobre
esforos, posturas de trabalho)
18. Psicossociais (monotonia, sobrecarga de trabalho e/ou de
horrio e stress)
19. Incndio e/ou exploso
20. Contacto com superfcies ou lquidos com temperaturas
extremas (quentes ou frias)
7. Perfurao ou picadela
21. Trmicos
8. Abraso ou frico
22. Exposio ao rudo
9. Ejeco de fludo a alta presso
23. Exposio a contaminantes qumicos (fumos, poeiras,
nvoas, gases e vapores)
10. Queda de pessoas e/ou objectos
24. Exposio a radiaes (ionizantes e/ou no ionizantes)
11. Entalamentos
25. Vibraes
12. Golpes e cortes
26. Ambientes hiperbricos
13. Choques com ou contra
27. Combinao de vrios riscos
14. Projeco de partculas, materiais e objectos
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Para fazer face aos riscos decorrentes da utilizao de mquinas e equipamentos, os fabricantes podem adoptar as seguintes
medidas de controlo de risco:
Preveno intrnseca pela considerao de factores geomtricos e aspectos fsicos, pela concepo da mquina
considerando a normalizao aplicvel, cdigos de boas prticas, concepo e regras de clculo e dimensionamento, pela
aplicao do princpio de aco mecnica positiva de um componente sobre outro, pela proviso de estabilidade adequada,
considerao de regras de manutibilidade, pela observncia dos princpios ergonmicos, pela preveno de riscos
elctricos, hidrulicos e pneumticos, pela aplicao de medidas de segurana intrnseca aos sistemas de controlo e
minimizao da probabilidade de falha das funes de segurana e, pela minimizao da exposio ao risco pela melhoria
da fiabilidade do equipamento, pela automatizao das operaes de alimentao e descarga da mquina e pela
localizao dos pontos de manuteno fora das zonas perigosas da mquina;
Proteco que pode ser conseguida por:
Protectores que podem ser: protectores fixos, protectores mveis, protectores ajustveis, protectores com dispositivo
de encravamento, protectores com dispositivo de bloqueio, protectores com comando de arranque;
Dispositivos de proteco:
- Dispositivos sensores de deteco mecnica, como so por exemplo as barras de presso dos transfers, ou
deteco no mecnica, como so as clulas fotoelctricas aplicadas rea de actuao de uma paletizadora
automtica;
- Dispositivos de comando a 2 mos (comandos bimanuais), frequentes em prensas manuais ou semi-automticas;
- Dispositivos de comando de aco continuada, utilizado em rebarbadoras ou serra manuais;
- Dispositivos de comando por movimento limitado;
Estrutura de proteco contra o risco de queda de objectos;
Estrutura de proteco contra o risco de viragem;
Precaues suplementares dispositivos de paragem de emergncia, abordagens para o bloqueio e dissipao de energia,
pela proviso de meios acessveis e seguros para o manuseamento de equipamentos e dos rgos mais pesados e
volumosos e, pela adopo de medidas para o acesso seguro mquina;
Informao para a utilizao dispositivos de sinalizao e aviso, por marcaes, pictogramas e avisos escritos e,
documentos que acompanham a mquina, nomeadamente o manual de instrues.
No entanto, os utilizadores de uma mquina ou equipamento tambm podero adoptar as seguintes medidas de controlo de risco:
Proteco utilizao de equipamentos de proteco individual;
Informao para a utilizao mensagens que podem consistir em textos, palavras, pictogramas, sinais, smbolos ou
diagramas, utilizados separadamente ou associados entre si. Alguns exemplos: sinalizao, formao, procedimentos de
trabalho, superviso e sistemas de autorizao de trabalho.
Para as mquinas em utilizao adquiridas usadas ou provenientes da Unio Europeia, o Decreto-Lei n. 214/95, de 18 de Agosto,
e a Portaria n. 172/2000, de 23 de Maro, estabelecem as suas condies de utilizao e comercializao.
175
176
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O cedente (proprietrio da mquina usada) ou fabricante so responsveis por assegurar que a mquina comercializada nas
condies de comercializao definidas. O empregador responsvel por assegurar que a utilizao efectuada de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n. 50/2005, de 25 de Fevereiro, referente utilizao dos equipamentos de trabalho pelos trabalhadores.
Aquando da sua comercializao, as mquinas que, pela sua complexidade e caractersticas, revistam especial perigosidade
devem ser acompanhadas, quando colocadas no mercado por comerciantes no exerccio da sua actividade comercial, dos
seguintes documentos em lngua portuguesa:
Manual de instrues elaborado pelo fabricante ou cedente;
Certificado, emitido por um organismo competente notificado, comprovativo de que a mquina usada no apresenta
qualquer risco para a segurana e sade do utilizador;
Declarao do cedente, contendo o seu nome, endereo e identificao profissional e o nome e endereo do organismo
certificador.
As mquinas atrs referidas so definidas na Portaria n. 172/2000, de 23 de Maro:
Equipamentos de elevao e/ou de movimentao:
Pontes rolantes;
Empilhadores;
Plataformas elevatrias;
Dumpers articulados;
Escavadoras;
Retroescavadoras;
Ps carregadoras;
Multicarregadoras telescpicas;
Plataformas elevatrias;
Prticos.
Outras mquinas:
Mquinas de cortar com ferramenta motorizada, rotativa, em forma de lmina circular de ao, denteada ou no, com
carga e/ou descarga manual;
Mquinas de cortar com ferramenta motorizada, rotativa, em forma de lmina sem-fim de ao, denteada ou no, com
carga e/ou descarga manual;
Trituradores de desperdcios;
Caixas de recolha de lixos domsticos de carga manual e comportando um mecanismo de compresso;
Dispositivos de proteco e veios de transmisso com cardam amovveis.
Normas harmonizadas segundo a Directiva de Mquinas 2006/42/EC
A Comisso Europeia publicou, no passado dia 18 de Dezembro de 2009, no seu boletim C309/29, a lista de normas harmonizadas
para a nova Directiva Mquinas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Com esta publicao, pouco antes da data de entrada da Directiva, no dia 29 de Dezembro 2009, uma grande quantidade de
normas foram publicadas.
6.12.2 Equipamentos de trabalho
Ao colocar um equipamento disponvel para o trabalho, o empregador deve garantir que todas as medidas organizacionais do
trabalho, de preveno e de formao do seu operador, esto asseguradas.
O Decreto-Lei n. 50/2005, de 25 de Fevereiro, que transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2001/45/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, i.e., Directiva Equipamentos de Trabalho, estabelece as prescries mnimas
de segurana e de sade para a utilizao, pelos trabalhadores, de equipamentos de trabalho e revoga o Decreto-Lei n. 82/99, de
16 de Maro.
Com este diploma visa-se regular o princpio da avaliao e controlo dos riscos associados utilizao de qualquer equipamento
de trabalho. Esta legislao vai no sentido de garantir que os equipamentos de trabalho cumprem com as exigncias tcnicas em
matria de segurana e proteco da sade, no s pelos requisitos impostos pela Directiva Mquinas, mas tambm devido ao
facto de os custos de execuo serem mais baixos e a instalao mais simples durante a fase de concepo.
Equipamento de trabalho: qualquer mquina, aparelho, ferramenta ou instalao utilizado no trabalho.
O responsvel por assegurar o cumprimento do disposto na Directiva Equipamentos de Trabalho o empregador/entidade
patronal, o qual, alm de outros aspectos, deve assegurar o recondicionamento do equipamento sempre que necessrio.
De acordo com o previsto neste diploma, para assegurar a segurana e a sade dos trabalhadores na utilizao de equipamentos
de trabalho, a entidade patronal deve:
Assegurar que os equipamentos de trabalho so adequados ou convenientemente adaptados ao trabalho a efectuar e
garantem a segurana e a sade dos trabalhadores durante a sua utilizao;
Atender, na escolha dos equipamentos, aos riscos existentes para a segurana e a sade dos trabalhadores, bem como
aos novos riscos resultantes da sua utilizao;
Tomar em considerao os postos de trabalho e a posio dos trabalhadores durante a utilizao dos equipamentos de
trabalho, bem como os princpios ergonmicos;
Quando os procedimentos previstos nas alneas anteriores no permitam assegurar eficazmente a segurana ou a sade
dos trabalhadores na utilizao dos equipamentos de trabalho, tomar as medidas adequadas para minimizar os riscos
existentes;
Assegurar a manuteno adequada dos equipamentos de trabalho durante o seu perodo de utilizao, de modo que os
mesmos respeitem os requisitos mnimos de segurana e no provoquem riscos para a sade dos trabalhadores.
Relativamente utilizao de mquinas e equipamentos de trabalho, o Regulamento Geral de Segurana e Higiene do Trabalho
para os Estabelecimentos Industriais estabelece os seguintes requisitos gerais:
Ocupao do pavimento
Nos locais de trabalho, os intervalos entre mquinas, instalaes ou materiais devem ter uma largura mnima de 0,6 m;
Os pavimentos no devem ser ocupados por mquinas, materiais ou mercadorias que possam constituir qualquer risco
para os trabalhadores. Quando no existam razes de ordem tcnica que no permitam a eliminao do risco acima
referido, devem os objectos susceptveis de o ocasionarem ser adequadamente sinalizados;
177
178
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Em redor de cada mquina, ou de cada elemento de produo, deve ser reservado um espao suficiente, devidamente
assinalado, para assegurar o seu funcionamento normal e permitir as afinaes e reparaes correntes, assim como o
empilhamento dos produtos brutos em curso de fabricao ou acabados.
Proteco e segurana das mquinas
Os elementos mveis de motores e rgos de transmisso, assim como todas as partes perigosas das mquinas que as
accionem, devem estar convenientemente protegidos por dispositivos de segurana, a menos que a sua construo e
localizao sejam de molde a impedir o seu contacto com pessoas ou objectos;
As mquinas antigas, construdas e instaladas sem dispositivos de segurana eficientes, devem ser modificadas ou
protegidas sempre que o risco existente o justifique;
Os protectores e os resguardos devem ser concebidos, construdos e utilizados de modo a assegurar uma proteco eficaz
que interdite o acesso zona perigosa durante as operaes; no causar embarao ao operador, nem prejudicar a
produo; funcionar automaticamente ou com um mnimo de esforo; estar bem adaptados mquina e ao trabalho a
executar, fazendo, de preferncia, parte daquela; permitir a lubrificao, a inspeco, a afinao e a reparao da
mquina;
Todos os protectores devem ser solidamente fixados mquina, pavimento, parede ou tecto e manter-se aplicados
enquanto a mquina estiver em servio;
No deve ser retirado ou tornado ineficaz um mecanismo protector ou dispositivo de segurana de uma mquina, a no
ser que se pretenda executar imediatamente uma reparao ou regulao de mquina, protector, mecanismo ou
dispositivo de segurana. Logo que a reparao ou regulao esteja concluda, os protectores, mecanismos ou dispositivos
de segurana devem ser imediatamente repostos.
Limpeza e lubrificao
As operaes de limpeza, lubrificao e outras, no podem ser feitas com rgos ou elementos de mquinas em
movimento, a menos que seja imposto por particulares exigncias tcnicas, caso em que devem ser utilizados meios
apropriados que evitem qualquer acidente. Esta proibio deve estar assinalada por aviso bem visvel.
Reparaes de mquinas
As avarias ou deficincias das mquinas, protectores, mecanismos ou diapositivos de proteco, devem ser
imediatamente denunciados pelo operador ou por qualquer outro pessoal do estabelecimento, e, quando tal acontea,
deve ser cortada a fora motriz, encravado o dispositivo de comando e colocado na mquina, um aviso bem visvel,
proibindo a sua utilizao at que a regulao ou reparao necessrias, tenham terminado e a mquina esteja de novo
em condies de funcionamento.
Ferramentas manuais e portteis a motor
As ferramentas manuais devem ser de boa qualidade e apropriadas ao trabalho para que so destinadas, no devendo ser
utilizadas para fins diferentes daqueles para que esto projectadas;
As ferramentas manuais no devem ficar abandonadas sobre pavimentos, passagens, escadas ou outros locais onde se
trabalhe ou circule, nem colocadas em lugares elevados em relao ao pavimento sem a devida proteco;
As ferramentas portteis a motor no devem apresentar qualquer salincia nas partes no protegidas que tenham movimento
circular ou alternativo, devendo ser periodicamente inspeccionadas, de acordo com a frequncia da sua utilizao;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Os trabalhadores que utilizem ferramentas portteis a motor devem usar, quando sujeitos projeco de partculas e
poeiras, culos, viseiras, mscaras e outros equipamentos de proteco individual.
Tal como j foi referido, o responsvel por assegurar o cumprimento do disposto na Directiva Equipamentos de Trabalho o
empregador/entidade patronal. Para tal, a entidade patronal deve assegurar verificaes iniciais, peridicas e de carcter
excepcional aos equipamentos, assegurando que renem condies mnimas de segurana.
As verificaes devem ser realizadas por pessoa competente.
Verificao Exame detalhado feito por pessoa competente, destinado a obter uma concluso fivel no que respeita segurana
de um equipamento de trabalho.
Pessoa competente Pessoa, individual ou colectiva, com conhecimentos tericos e prticos e experincia no tipo de
equipamento a verificar, adequados deteco de defeitos ou deficincias e avaliao da sua importncia em relao
segurana na utilizao do referido equipamento.
Verificaes Iniciais Devem ser executadas sempre que a segurana do equipamento de trabalho depender das suas condies
de instalao. Deve proceder-se sua execuo aps montagem ou instalao do equipamento de trabalho em novo local.
Verificaes Peridicas Devem ser executadas sempre que o equipamento de trabalho possa estar sujeito a influncias que
possam provocar deterioraes susceptveis de causar risco.
Verificaes Extraordinrias Devem ser executadas sempre que ocorram acontecimentos excepcionais, como transformaes,
acidentes, fenmenos naturais, paragens prolongadas, etc.
fundamental que as verificaes sejam executadas de modo criterioso, detectando atempadamente a degradao das
condies de segurana.
Os resultados destas verificaes devem estar disponveis sob a forma de relatrio, no qual constem as seguintes informaes:
a) Identificao do equipamento;
b) Identificao do operador;
c) Tipo de verificao;
d) Local e data da sua realizao;
e) Prazo estipulado para reparar as deficincias detectadas (se necessrio);
f) Identificao da pessoa competente que realizou a verificao.
O empregador deve conservar os relatrios das verificaes efectuadas nos dois anos anteriores e coloc-los disposio das
autoridades competentes. Todo o equipamento de trabalho utilizado fora da empresa deve ser acompanhado de uma cpia do
ltimo relatrio.
Requisitos mnimos
Para os equipamentos de trabalho adquiridos antes de 1995, ou para os adquiridos posteriormente mas para os quais o
empregador no dispe de Declarao de Conformidade CE do fabricante nem do manual ou outra informao tcnica, o
empregador deve recondicion-los para cumprirem os requisitos mnimos.
Seguidamente apresenta-se um quadro resumo dos requisitos mnimos de segurana dos equipamentos de trabalho.
179
180
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 52
Requisitos mnimos de segurana dos equipamentos de trabalho
Componente/aspecto do
equipamento de trabalho
Requisito de segurana
Sistemas de comando
Devem ser claramente visveis e identificveis, colocados fora das zonas perigosas,
seguros e escolhidos tendo em conta as falhas, perturbaes e limitaes previsveis na
utilizao para que foram projectados.
Arranque do equipamento
O equipamento de trabalho deve estar provido de um sistema de comando de modo que
seja necessria uma aco voluntria sobre um comando com essa finalidade para que
possam ser postos em funcionamento, arrancar aps uma paragem, qualquer que seja a
origem desta, sofrer uma modificao importante das condies de funcionamento,
nomeadamente, velocidade ou presso.
Paragem do equipamento
O equipamento de trabalho deve estar provido de um sistema de comando que permita a
sua paragem geral em condies de segurana, bem como de um dispositivo de
paragem de emergncia, se for necessrio, em funo dos perigos inerentes ao
equipamento e ao tempo normal de paragem.
Os postos de trabalho devem dispor de um sistema de comando que permita, em funo
dos riscos existentes, parar todo ou parte do equipamento de trabalho de forma que o
mesmo fique em situao de segurana, devendo a ordem de paragem ter prioridade
sobre as ordens de arranque.
A alimentao de energia dos accionadores do equipamento de trabalho deve ser
interrompida sempre que se verifique a paragem do mesmo ou dos seus elementos
perigosos.
Estabilidade e rotura
Os equipamentos de trabalho e os respectivos elementos devem ser estabilizados por
fixao ou por outros meios, sempre que a segurana ou a sade dos trabalhadores
o justifique.
Devem ser tomadas medidas adequadas se existirem riscos de estilhaamento
ou de rotura de elementos de um equipamento, susceptveis de pr em perigo
a segurana ou a sade dos trabalhadores.
Projeces e emanaes
O equipamento de trabalho que provoque riscos devido a quedas ou projeces de
objectos, deve dispor de dispositivos de segurana adequados.
O equipamento de trabalho que provoque riscos devido a emanaes de gases, vapores
ou lquidos ou a emisso de poeiras deve dispor de dispositivos de reteno ou extraco
eficazes, instalados na proximidade da respectiva fonte.
Riscos de contacto
mecnico
Os elementos mveis de um equipamento de trabalho que possam causar acidentes por
contacto mecnico, devem dispor de protectores que impeam o acesso s zonas
perigosas ou de dispositivos que interrompam o movimento dos elementos mveis antes
do acesso a essas zonas.
Os protectores e os dispositivos de proteco devem ser de construo robusta, no
devem ocasionar riscos suplementares, no devem poder ser facilmente neutralizados
ou tornados inoperantes, devem estar situados a uma distncia suficiente da zona
perigosa, no devem limitar a observao do ciclo de trabalho mais do que o necessrio,
devem permitir, se possvel, sem a sua desmontagem, as intervenes necessrias
colocao ou substituio de elementos do equipamento, bem como a sua manuteno,
possibilitando o acesso apenas ao sector em que esta deve ser realizada.
Iluminao e temperatura
As zonas e pontos de trabalho ou de manuteno dos equipamentos de trabalho, devem
estar convenientemente iluminados em funo dos trabalhos a realizar.
As partes de um equipamento de trabalho que atinjam temperaturas elevadas ou muito
baixas devem, se necessrio, dispor de uma proteco contra os riscos de contacto ou
de proximidade por parte dos trabalhadores.
Dispositivos de alerta
Os dispositivos de alerta do equipamento de trabalho devem poder ser ouvidos
e compreendidos facilmente e sem ambiguidades.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Componente/aspecto do
equipamento de trabalho
Manuteno do
equipamento
Requisito de segurana
As operaes de manuteno devem poder efectuar-se com o equipamento de trabalho
parado ou, no sendo possvel, devem poder ser tomadas medidas de proteco
adequadas execuo dessas operaes ou estas devem poder ser efectuadas fora
das reas perigosas.
Se o equipamento de trabalho dispuser de livrete de manuteno, este deve estar
actualizado.
Para efectuar as operaes de produo, regulao e manuteno dos equipamentos de
trabalho, os trabalhadores devem ter acesso a todos os locais necessrios e
permanecer neles em segurana.
Riscos elctricos, de
incndio e de exploso
Os equipamentos de trabalho devem proteger os trabalhadores expostos contra os
riscos de contacto directo ou indirecto com a electricidade, contra os riscos de incndio,
exploso, sobreaquecimento, libertao de gases, poeiras, lquidos, vapores ou outras
substncias por eles produzidas ou neles utilizadas ou armazenadas.
Fontes de energia
Os equipamentos de trabalho devem dispor de dispositivos claramente identificveis,
que permitam isol-los de cada uma das suas fontes externas de energia e, em caso de
reconexo, esta deve ser feita sem risco para os trabalhadores.
Sinalizao de segurana
Os equipamentos de trabalho devem estar devidamente sinalizados com avisos ou outra
sinalizao indispensvel, para garantir a segurana dos trabalhadores.
Requisitos complementares
dos equipamentos mveis
Equipamentos que transportem trabalhadores em riscos de capotamento;
Transmisso de energia;
Risco de capotamento de empilhadores;
Equipamentos mveis automotores.
Requisitos complementares
dos equipamentos de
elevao de cargas
Instalao;
Sinalizao e marcao;
Equipamentos de elevao ou transporte de trabalhadores.
Treino e formao dos trabalhadores
O empregador deve prestar aos trabalhadores e seus representantes para a segurana e sade no trabalho, a informao
adequada sobre os equipamentos de trabalho utilizados.
A informao deve ser facilmente compreensvel, escrita, se necessrio, e conter, no mnimo, indicaes relativas a:
Condies de utilizao dos equipamentos;
Situaes anormais previsveis;
Concluses a retirar da experincia eventualmente adquirida com a utilizao dos equipamentos;
Riscos para os trabalhadores decorrentes de equipamentos de trabalho existentes no ambiente de trabalho, ou de
alteraes nos mesmos que possam afectar os trabalhadores, ainda que no os utilizem directamente.
Para que o trabalhador possa adoptar um comportamento seguro, ele deve estar consciente dos riscos da sua actividade e das
consequncias das ms prticas de trabalho.
181
182
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Para cada tarefa/posto de trabalho dever-se-:
Identificar as condies de perigo;
Estimar e avaliar os riscos associados;
Integrar medidas de proteco;
Informar e avisar os utilizadores sobre os riscos residuais.
Por outra parte, necessrio garantir que todos os trabalhadores adquirem os conhecimentos necessrios para a correcta e
segura utilizao dos equipamentos. Esse conhecimento assegurado atravs das seguintes formas:
Formao dada pela entidade patronal sobre a utilizao dos equipamentos, atravs de cursos especficos. Para
equipamentos de elevada complexidade e com risco elevado, a formao deve ser ministrada por empresas
especializadas;
Informao disponibilizada pelos manuais de utilizao e manuteno;
Instrues sobre procedimentos seguros de trabalho;
Informao quanto aos riscos associados ao trabalho com equipamentos.
Os trabalhadores mais jovens e/ou inexperientes na empresa, independentemente do seu potencial, devero ser objecto de uma maior
vigilncia inicial na operao de equipamentos de trabalho, dada a sua maior propenso a acidentes e exposio a riscos elevados.
Consulta dos trabalhadores
O empregador deve consultar por escrito, previamente e em tempo til, os representantes dos trabalhadores ou, na sua falta, os
trabalhadores, sobre a aplicao do presente diploma pelo menos duas vezes por ano.
Regras de utilizao dos equipamentos de trabalho
As regras de utilizao de equipamentos de trabalho so aplicveis sempre que exista risco nos equipamentos de trabalho
considerados. A fim de proteger a segurana dos operadores e de outros trabalhadores, os equipamentos de trabalho devem:
Ser instalados, dispostos e utilizados de modo a reduzir os riscos;
Ter um espao livre suficiente entre os seus elementos mveis e os elementos fixos ou mveis do meio circundante;
Ser montados e desmontados com segurana e de acordo com as instrues do fabricante;
Estar protegidos por dispositivos ou medidas adequados contra os efeitos dos raios, nos casos em que possam ser
atingidos durante a sua utilizao;
Assegurar que a energia ou qualquer substncia utilizada ou produzida possa ser movimentada ou evacuada com
segurana;
Ser utilizados apenas em operaes ou em condies para as quais sejam apropriados.
O diploma estabelece ainda, regras para utilizao de equipamentos de trabalho mveis, equipamentos de trabalho de elevao
de cargas, elevao de cargas no guiadas e organizao do trabalho na elevao de cargas. Esto definidas tambm, regras
para utilizao de equipamentos de trabalho destinados a trabalhos em altura.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.12.3 Manuteno
A funo da manuteno a de assegurar a disponibilidade dos equipamentos e instalaes, em segurana, mas nas melhores
condies de custo e de qualidade. Para tal, a manuteno recorre a um conjunto diversificado de tarefas, de que so exemplos:
Lubrificao;
Limpeza;
Afinao;
Inspeco;
Reparao;
Ensaio;
Substituio;
Modificao;
Calibrao;
Controlo de condies;
Reviso geral;
Etc.
Os objectivos da manuteno devem ser definidos tomando como referncia os objectivos e a estratgia da empresa, sem
esquecer os custos envolvidos e tendo em conta aspectos, tais como:
A obrigao de criar condies para a segurana das pessoas, a conservao do patrimnio, a manuteno dos postos de
trabalho e a continuidade da empresa;
O processo capaz de dar resposta adequada empresa e aos trabalhadores.
A manuteno preventiva um meio extremamente eficaz para minimizao de riscos e preveno de acidentes de trabalho.
Assim, deve ter-se em conta os seguintes factores:
As avarias ou deficincias detectadas em mquinas, protectores ou dispositivo de proteco, devem ser comunicadas de
imediato s chefias;
Operaes de limpeza, lubrificao ou outras intervenes nas mquinas, no podem ser executadas com os rgos ou
elementos de mquinas em movimento. Estes trabalhos devem ser executados por pessoal autorizado e formado;
Sinalizar os locais ou mquinas que estejam a sofrer intervenes de manuteno, com etiqueta bem visvel
EM MANUTENO.
Os riscos intrnsecos funo manuteno, para alm do manuseamento de ferramentas elctricas e manuais, dizem tambm
respeito forma como essa manuteno realizada.
importante a existncia de um plano de manuteno, no s para sistemas e equipamentos atribudos prpria manuteno,
mas tambm para todos os outros, tanto mais, quanto da sua execuo possam resultar riscos.
Assim, um plano eficaz de manuteno pode tambm prevenir vrios riscos aos utilizadores das mquinas. No entanto, os
trabalhadores da manuteno, esto sujeitos a vrios riscos, resultantes do acesso a determinadas reas das mquinas
normalmente no acessveis aos operadores.
183
184
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As medidas de controlo dos riscos decorrentes das actividades de manuteno devem contemplar, nomeadamente:
Elaborao de um plano eficaz de manuteno.
Elaborao de um procedimento a adoptar aquando da manuteno, afinao ou reparao das mquinas. Este
procedimento deve estabelecer um conjunto de boas prticas que garantam que o controlo sobre a mquina ou instalao
est somente na dependncia de quem executa essa operao. O seu objectivo ser o de desenvolver um programa com
os requisitos mnimos para o controlo de todas as fontes de energia, sempre que os operadores se deparem com uma
situao de manuteno ou equipamento em servio onde possa surgir o risco de:
Arranque intempestivo da mquina ou instalao;
Libertao sbita de energia acumulada no equipamento que possa ocasionar leses e/ou ferimentos.
Este programa tambm deve cobrir as condies normais de operao, sempre que os operadores tenham forosamente que
remover qualquer guarda ou sistema de proteco. As situaes de by-pass aos sistemas de segurana esto tambm
includas, assim como a exposio total ou parcial do corpo s zonas designadas de perigo. Este programa designado Lockout /
Tagout (Bloqueio e Etiquetagem).
Um programa de bloqueio e etiquetagem ser eficaz somente se todos os passos forem seguidos no sentido de:
Identificar todas as fontes de energia presentes;
Isolar todas as fontes de energia presentes;
Libertar a energia acumulada em todas as fontes de energia presentes;
Testar para verificar se todas as fontes de energia presentes esto isoladas.
O lockout (bloqueio) um mtodo de bloqueio do equipamento, de forma que este no entre em movimento, colocando os
trabalhadores abrangidos em riscos de acidentes. Consiste na colocao do dispositivo de bloqueio (lock) num dispositivo de
isolamento de energia, com o objectivo de garantir que o equipamento sob controlo no possa ser operado ou entre em operao
at que o dispositivo de bloqueio seja removido.
O bloqueio realizado atravs de qualquer dispositivo (tais como cadeados) que "trave" o dispositivo de isolamento de energia
(dispositivo mecnico que previne, fisicamente, a transmisso ou a libertao de energia, tais como: interruptor geral elctrico tipo
seccionador, vlvulas, blocos de segurana e qualquer outro dispositivo similar usado para bloquear ou isolar a energia) em posio
desligada ou numa posio segura (a qual significa que est desactivado, tendo sido cortada ou isolada a fonte de energia de risco).
FIGURA 102
Exemplos de dispositivos de bloqueio de energia aos equipamentos
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O tagout (etiquetagem) consiste na colocao de uma etiqueta de aviso (tag) no dispositivo de isolamento de energia do
equipamento, para indicar ou alertar que o dispositivo de isolamento de energia e o equipamento sob controlo no podem ser
operados ou abertos sem antes haver uma actuao intencional por parte do trabalhador que os colocou.
FIGURA 103
Exemplos de etiquetagem de segurana para dispositivos de isolamento de energia de equipamentos
Apenas os trabalhadores devidamente habilitados e qualificados (trabalhadores autorizados) podem aplicar procedimentos de
lockout / tagout aos equipamentos e/ou sistemas.
Apenas o trabalhador autorizado que aplicou o dispositivo individual de lockout / tagout o pode remover.
Passos especficos devero ser tomados antes, durante e depois de serem aplicados os dispositivos de lockout / tagout. Os passos
para a aplicao dos procedimentos especficos de lockout / tagout devero ser escritos para cada sistema e/ou equipamento.
Um trabalhador autorizado desliga todas as fontes de energia de um sistema e/ou equipamento antes de proceder a qualquer
interveno no mesmo;
Um fecho especial (lock) e uma etiqueta de aviso (tag) so aplicados ao dispositivo que desliga cada fonte de energia e ao
mesmo tempo no permite a ligao das mesmas sem a remoo desses mesmos fecho e etiqueta;
Os trabalhadores autorizados devem informar os restantes empregados, sempre que se apliquem procedimentos de bloqueio
e etiquetagem a qualquer sistema e/ou equipamento.
O tagout (etiquetagem), s por si, apenas um procedimento de aviso, no oferecendo, por isso, segurana, pois no est associado a
qualquer dispositivo de bloqueio. Desta forma, s pode ser aplicado se todas as medidas tiverem sido tomadas no sentido de eliminar
o risco (por exemplo: remoo dos corta-circuitos fusveis).
6.12.4 Mquinas e equipamentos de maior perigosidade na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas apresenta um complexo e diversificado parque de mquinas e equipamentos
necessrios ao desenvolvimento dos diversos processos produtivos, variveis de empresa para empresa, mas tendo uma grande
diversidade de riscos associados.
Alguns exemplos: mquinas de injeco; mquinas de impresso; complexadoras; rebobinadoras; saqueiras; mquinas de lavar
tinteiros com destilador; mquinas doseadoras de tintas; caldeiras de fluido trmico; compressores de ar comprimido e respectivos
secadores e recipientes de ar comprimido; empilhadores; pontes rolantes; guinchos de elevao; etc.
Os riscos associados a estas mquinas e equipamentos esto sintetizados no quadro seguinte, bem como as principais medidas de
preveno necessrias ao controlo dos mesmos:
185
186
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 53
Riscos e medidas de preveno em mquinas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Mecnicos (corte,
decepamento,
arrastamento, )
Segurana
Adequao do
Equipamento
Choque ou impacto,
Organizao do
trabalho
Incndio e/ou exploso
Riscos
Preveno
Elctricos
Exposio ao rudo
EPI
Exposio a vibraes
Exposio a poeiras
Sade
Exposio a COV compostos orgnicos
volteis
Formao
QUADRO 54
Metodologia de controlo dos riscos em mquinas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Planeamento
Definio do plano de inspeco e
ensaio
Responsabilidade (pessoa
competente...)
Inspeco
Equipamento disponvel e
operacional
Inspeco visual
ensaio funcional
1. Fase
simulao de falhas
ensaios elctricos
Documentao
Metodologia
instrues, esquemas...
plano/registo de manuteno
Resultados
Relatrio tcnico
apreciao geral
no conformidades comuns
2. Fase
Plano de Aco
Aco correctivas
definio de solues
introduo de alteraes
Plano de gesto de inspeces
peridicas
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 104
Estudo exemplificativo: mquina de injeco de plsticos
6.13 EQUIPAMENTOS SOB PRESSO
Aos equipamentos destinados a conter um fluido (lquido, gs ou vapor) a presso diferente da atmosfrica, dada a designao de
"Equipamentos Sob Presso (ESP). So, assim, referenciados nesta designao os recipientes, tubagens, acessrios de segurana,
acessrios sob presso e, quando necessrio, os equipamentos abrangero os componentes ligados s partes sob presso, tais como
flanges, tubuladuras, acoplamentos, apoios e orelhas de elevao.
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, so considerados ESP diversos tipos de equipamentos, incluindo, entre outros:
Reservatrios de ar comprimido;
Geradores de vapor;
Caldeiras;
Tubagens;
Vlvulas de seccionamento.
187
188
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A utilizao e operao de ESP envolvem geralmente diversos riscos e obedecem a regulamentaes muito estritas e especficas.
6.13.1 Processo de registo e licenciamento
O Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho aprova o novo Regulamento de Instalao, de Funcionamento, de Reparao e de Alterao
de Equipamentos sob Presso, revogando o Decreto-Lei n. 97/2000, de 25 de Maio.
Com a publicao deste novo regulamento existe uma clara distino entre dois grupos de fluidos que podero estar contidos num
ESP, variando o mbito de aplicabilidade do mesmo, consoante o grupo especfico e condies fsicas diversas como presso, volume,
temperatura ou estado.
Fluidos do grupo 1
Os fluidos perigosos, considerando-se como tal as substncias e misturas perigosas na acepo do Regulamento (CE) n.
1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativo classificao, rotulagem e embalagem de
substncias e misturas classificados como: Explosivos; Extremamente inflamveis; Facilmente inflamveis; Inflamveis
(temperatura mxima admissvel superior ao ponto de fasca); Muito txicos , Txicos; Comburentes;
Fluidos do grupo 2
Inclui todos os fluidos no referidos no grupo 1.
Em termos de obrigaes aplicveis aos ESP abrangidos pelo novo Regulamento, mantm-se a necessidade de obteno de registo,
autorizao prvia, autorizao de funcionamento, bem como a realizao de inspeces iniciais, intercalares e peridicas por
organismos de inspeco.
Esto abrangidos pelo referido Regulamento:
Todos os ESP, projectados e construdos de acordo com o Decreto -Lei n. 211/99, de 14 de Junho, e com o Decreto -Lei
n. 103/92, de 30 de Maio;
Todos os ESP usados, importados ou no, construdos de acordo com a legislao em vigor data da sua construo;
Todas as instrues tcnicas complementares (ITC) que definam, entre outros critrios, os relacionados com o projecto e a
construo de determinadas famlias de equipamentos.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Excluem-se do mbito de aplicao:
ESP destinados a:
Conter gases, gases liquefeitos e
vapores do grupo 1
PS 2 bar
Conter lquidos do grupo 1
PS 4 bar
PS x V 1000 bar/l
PS x V 10 000 bar/l
Conter gases, gases liquefeitos e
vapores do grupo 2
PS 4 bar
Conter lquidos do grupo 2
PS 10 bar
PS x V 3 000 bar/l
PS x V 20 000 bar/l
TS 80 C
Para geradores de vapor de gua sobreaquecida:
PS 0,5 bar
PS x V 200 bar/l
TS 110 C
P til mx. 400 kW
Para geradores de gua quente:
PS x V 10 000 bar/l
PS 2 bar
Para caldeiras de leo trmico:
PS x V 500 bar/l
TS 125 C
Para tubagens:
Destinadas a gases, gases liquefeitos
e vapores do grupo 1
PS 4 bar
PS x DN 2 000 bar/l
DN 32
Destinadas a lquidos do grupo 1
PS 4 bar
PS x DN 2 000 bar
DN 50 bar
Destinadas a gases, gases liquefeitos
e vapores do grupo 2
PS 4 bar
PS x DN 5 000 bar
DN 100 bar
Destinadas a lquidos do grupo 2
Os pedidos de registo e de licenciamento so apresentados pelo proprietrio do ESP ou pelo seu utilizador e podem ser instrudos
simultaneamente.
A tramitao dos procedimentos previstos no presente Regulamento realizada de forma desmaterializada, nomeadamente atravs
do Portal da Empresa (www.portaldaempresa.pt), logo que estejam em funcionamento os respectivos sistemas de informao, os
quais, de forma integrada e entre outras funcionalidades, permitiro por exemplo: a submisso electrnica de pedidos de registo, de
autorizao, de aprovao, de comunicaes e de documentos.
189
190
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Uma vez que data de publicao do presente manual, ainda no se encontram disponveis as referidas ferramentas
electrnicas, seguidamente, so apenas apresentados os trmites para o registo e licenciamento de um ESP de acordo com
descrito no D.L. n. 90/2010 de 22/07.
Registo do ESP
O proprietrio, ao adquirir um ESP, deve requerer Direco Regional de
Economia (DRE) o respectivo registo.
Pedido de Registo DRE com a
apresentao de Requerimento e
Pagamento de Taxa
Na DRE, o proprietrio dever:
apresentar um Requerimento (de acordo com o Anexo I do DL 90/2010 de
22/07);
efectuar o pagamento da taxa devida.
ESP usado?
Se o ESP for usado, alm do referido nos itens anteriores, devero ser
ainda apresentados os seguintes documentos:
Sim
No
Apresentao dos documentos
listados no artigo 4 do
DL 90/2010 de 22/07
No
Documento de aprovao da construo com indicao da norma ou
cdigo de construo;
Relatrio de um organismo de inspeco (OI) sobre os rgos de
segurana e de controlo;
Relatrio de um OI sobre o estado de conservao do ESP e a sua aptido
DRE analisa o pedido
para o servio, tendo em conta o nvel de segurana definido no D.L. n.
211/99, de 14/06, acompanhado de reclculo, quando o estado de
conservao e a idade do equipamento o exijam;
Fotografias da placa de caractersticas e do ESP;
Pedido conforme?
Sim
DRE fornece:
n. de registo;
Placa de Registo
Comprovativo de posse do ESP.
A DRE procede anlise do pedido e encontrando-se conforme
comunicado ao requerente no prazo de 15 dias o nmero de registo do
ESP que unvoco, mantendo-se durante toda a sua vida til, sendo
igualmente fornecida uma placa de registo.
A placa de registo deve ser afixada de modo permanente no ESP, ou numa
estrutura solidria com ele, em local bem visvel, de modo a que a data da
prova de presso, ou de outros ensaios equivalentes eventualmente
previstos na ITC aplicvel, possa ser marcada e visualizada em qualquer
ocasio.
Na placa de registo s podem ser marcadas as provas de presso
efectuadas ao abrigo de processos de aprovao ou de renovao da
autorizao de instalao de ESP.
Sempre que a placa se apresente totalmente preenchida, o proprietrio ou
utilizador deve solicitar uma nova placa respectiva DRE, que a fornece
de forma gratuita.
Licenciamento do ESP
O licenciamento dos ESP abrangidos pelo Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho compreende os seguintes actos:
a) Autorizao prvia de instalao;
b) Autorizao de funcionamento, bem como a sua renovao.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Autorizao prvia de instalao (API)
Na DRE, o proprietrio dever:
apresentar um Requerimento (de acordo com o Anexo II
do Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho;
Pedido de API DRE com a
apresentao de Requerimento e
Pagamento de Taxa
efectuar o pagamento da taxa devida.
A DRE procede anlise do pedido de autorizao prvia
de instalao e, encontrando -se o mesmo conforme,
comunica ao requerente a deciso, no prazo de 45 dias.
No
DRE analisa o pedido
Caso a DRE considere necessria a realizao de vistoria
instalao, a mesma gratuita e deve ser realizada no
decurso do prazo referido no nmero anterior.
Pedido conforme?
Sim
Necessita de vistoria?
No
Autorizao de Instalao
Sim
Vistoria
Entende -se por vistoria a verificao pela DRE da
conformidade da instalao com o disposto no DL 90/2010
de 22/7, quer aquando do pedido de autorizao prvia,
quer do pedido de aprovao ou de renovao de
instalao e de autorizao de funcionamento, como
tambm no decurso do perodo de validade do certificado
emitido de autorizao de funcionamento.
Sempre que um ESP mude de local de instalao deve ser
requerida nova autorizao prvia de instalao.
O proprietrio do ESP, ou o utilizador, pode sempre
efectuar pedido de informao prvia DRE relativa
respectiva instalao.
A instalao do ESP fica dispensada de autorizao prvia nos seguintes casos:
a) ESP destinados a conter fluidos do grupo 1 e com PS V inferior ou igual a 10 000 bar por litro;
b) ESP destinados a conter fluidos do grupo 2 e com PS V inferior ou igual a 15 000 bar por litro;
c) ESP no fixos, que so aqueles que pela natureza da sua utilizao no esto instalados de um modo permanente;
d) Tubagens.
Por motivos de segurana e tendo em vista garantir a proteco das pessoas, dos bens e do ambiente, aquando da utilizao do
ESP, ou dos conjuntos de ESP, podem as ITC estabelecer que os ESP identificados no presente artigo, fiquem sujeitos a
autorizao prvia de instalao.
191
192
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Autorizao de funcionamento de ESP (AF)
Na DRE, o proprietrio dever:
apresentar um Requerimento (de acordo com o Anexo III
Pedido de AF DRE com a
apresentao de Requerimento e
Pagamento de Taxa
do DL 90/2010 de 22/07);
efectuar o pagamento da taxa devida.
A DRE procede anlise do pedido de autorizao de
funcionamento e, encontrando-se o mesmo conforme,
comunica ao requerente a deciso, no prazo de 45 dias,
sendo, em caso favorvel, igualmente remetido o
certificado de autorizao de funcionamento.
No
DRE analisa o pedido
Por motivos de segurana, caso a DRE considere
necessria a realizao de vistoria instalao, a mesma
gratuita e deve ser realizada no decurso do prazo referido
anteriormente.
Pedido conforme?
Sim
Necessita de vistoria?
Sim
Vistoria
No
Sempre que um ESP mude de local de instalao deve ser
requerida nova autorizao de funcionamento.
A autorizao de funcionamento implica a aprovao da
respectiva instalao.
Certificado de Autorizao de
Funcionamento
Os certificados so emitidos pelo prazo de cinco anos,
salvo indicao em contrrio prevista na respectiva ITC,
podendo em resultado da inspeco e, por motivos de
segurana, ser menor se as condies especficas do ESP
e da instalao assim o determinarem.
declarada a caducidade dos certificados pela DRE
sempre que se verifique a no conformidade da instalao
com o certificado emitido.
Renovao da autorizao do funcionamento do ESP e averbamentos
Aprovao da Instalao e
Autorizao de Funcionamento
(AIAF)
Prazo caducar?
Renovao da Autorizao de
Funcionamento (RAF)
Sim
No
Necessita de vistoria?
Sim
No
Alterao de
titularidade ou ESP fora de
servio?
Sim
Retirada de
servio de forma definitiva
Sim
Averbamento
Cancelamento do Processo:
- Remeter a placa de registo DRE;
- Abate do ESP
Vistoria
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Renovao da autorizao do funcionamento do ESP
O pedido de renovao da autorizao do funcionamento do ESP deve ser efectuado de acordo com o disposto para o pedido de
autorizao de funcionamento (descrito anteriormente) at ao limite de 60 dias antes do termo do prazo constante do certificado.
Decorridos mais de dois anos sobre a colocao do ESP fora de servio, a entrada em funcionamento do mesmo, est sujeita a
pedido de renovao da autorizao do funcionamento do equipamento.
Averbamentos
Devem ser comunicados DRE, para promoo do respectivo averbamento, no prazo de 60 dias, as seguintes situaes:
a) Alterao da designao social ou da mudana da titularidade do ESP;
b) Colocao de um ESP fora de servio, quando tal implique que o mesmo esteja desligado da rede de distribuio do fluido e
despressurizado;
c) Retirada de servio de forma definitiva do ESP.
O disposto na alnea c) do nmero anterior origina, o cancelamento do processo, devendo ser remetida DRE a placa de registo,
no podendo o processo ser reaberto nem o equipamento voltar a ser utilizado.
Funes dos organismos de inspeco
Para efeitos de instruo dos pedidos de licenciamento nas DRE, os proprietrios de ESP devem solicitar aos Organismos de
Inspeco (OI), acreditados pelo Instituto Portugus de Acreditao, I. P. (IPAC, I. P.), no mbito do Sistema Portugus da
Qualidade, a realizao de inspeces e de ensaios e a aprovao de projectos de reparaes e de alteraes.
Inspeces aos ESP
Inspeco Inicial
Destinada a verificar as condies da instalao e o estado de
segurana do equipamento, para efeitos de emisso do certificado
de autorizao de funcionamento.
Inspeco Intercalar
Destinada a verificar as condies de segurana e de
funcionamento do ESP, bem como os rgos de segurana e
controlo, realizada de acordo com a periodicidade definida
na ITC aplicvel.
Inspeco Peridica
Destinada a comprovar que as condies em que foi autorizado o
funcionamento se mantm e a analisar o estado de segurana do
equipamento, para efeitos de renovao da autorizao de
funcionamento do ESP.
193
194
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Ensaios e verificaes
Consideram-se ensaios e verificaes:
O ensaio de presso
A verificao e o ensaio dos rgos de segurana e controlo
O ensaio de estanquidade
Os ensaios no destrutivos (END)
Os referidos ensaios de verificaes devero ser efectuados pelos OI de acordo com o disposto nos artigos 22, 23,24 e 25 do
Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho.
O OI deve recorrer a entidades acreditadas pelo IPAC, I. P., ou por este reconhecidas, sempre que necessite de subcontratar a
realizao de ensaios e de verificaes.
Aprovao de projectos de reparaes e alteraes nos ESP
As reparaes e as alteraes de um ESP dependem, salvo indicao em contrrio prevista na ITC, de aprovao prvia do
respectivo projecto por um OI.
O projecto de reparao ou alterao do ESP dever ser instrudo pela entidade reparadora de acordo com o artigo 18. e 19. do
Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho.
6.13.2 Instalao de um equipamento sob presso
A instalao de um ESP deve ser concebida de modo a salvaguardar a segurana de pessoas e de bens, nomeadamente locais
habitados ou pblicos confinantes e instalaes laborais do proprietrio ou de terceiros.
As regras tcnicas relativas instalao, ao funcionamento, reparao e alterao a aplicar a equipamentos da mesma
famlia so fixadas em Instrues Tcnicas Complementares (ITC), aprovadas por despacho do membro do Governo responsvel
pela rea da economia.
Enquanto as ITC aplicveis a uma determinada famlia de equipamentos no forem aprovadas aplicam -se genericamente as
disposies do Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho e as orientaes tcnicas das DRE.
Reservatrios de ar comprimido
Os recipientes de ar comprimido (RAC) so classificados em diferentes classes de perigo, consoante a sua energia potencial e o
risco associado instalao e funcionamento, tendo em conta a definio de diferentes graus de exigncia:
QUADRO 55
Classificao dos recipientes de ar comprimido (RAC)
PS.V [bar.l]
Classe de perigo
PS.V
30.000
15.000 PS.V < 30.000
3.000 PS.V < 15.000
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A ITC publicada no Despacho n. 1859/2003 (2. srie) define as regras tcnicas aplicveis a recipientes sob presso de ar
comprimido. Os quadros seguintes apresentam uma lista de verificao de acordo com os requisitos definidos na referida ITC.
QUADRO 56
Requisitos relativos instalao e funcionamento de reservatrios de ar comprimido
Requisito
Cumpre
A instalao do RAC dever ser feita em local isolado, suficientemente amplo, com
arejamento, iluminao adequada e dispondo de acessos fceis, rpidos e seguros.
Relativamente a vias pblicas e prdios circunvizinhos, a instalao do RAC far-se- de
acordo com as prescries de distncias de segurana a terceiros.
Classe de perigo
Distncia (m)
15
10
Estas distncias podero ser reduzidas at 20% dos valores indicados desde que exista uma
barreira de entreposio, por exemplo, uma parede em beto armado com a espessura
mnima de 15 cm.
As barreiras de entreposio aqui consideradas devem ter dimenses tais que desalinhem
qualquer ponto da superfcie do RAC das reas a proteger.
No permitida a instalao de um RAC no interior de um edifcio com p-direito inferior a 2 m.
A instalao deve ser efectuada de modo a ser possvel a inspeco do RAC em toda a sua
superfcie exterior, assegurando uma distncia mnima de 600 mm a paredes, tectos e
outros objectos.
A distncia da parte inferior do RAC ao solo no poder ser inferior a 300 mm.
A colocao de tubagens, cabos elctricos ou quaisquer outros elementos necessrios
instalao no pode impedir o livre acesso ao RAC.
Relativamente aos RAC das classes de perigo A e B, deve ser garantida a restrio de
acesso rea da sua instalao do exterior para o interior. As portas devem abrir para o
exterior sem necessidade de qualquer chave.
O local onde se encontra instalado o RAC deve ter condies de acesso adequadas e
apresentar-se limpo. No podem existir nesse local quaisquer produtos armazenados,
nomeadamente produtos combustveis, inflamveis ou corrosivos.
Os RAC devem ostentar a inscrio Perigo! Equipamento sob presso, em letras negras sobre
fundo amarelo, de tamanho legvel a 5 m. Esta inscrio deve constar no corpo do RAC e nas
portas de acesso aos locais da instalao, quando estas forem dedicadas a este fim exclusivo.
Equipamentos de segurana, tais como vlvulas de segurana, manmetros e todo o tipo de
aparelhos de controlo, devem ser instalados e localizados de modo a no poderem ser
facilmente tornados inoperantes por quaisquer meios, incluindo os ambientais.
A placa de registo e a identificao, bem como o manmetro, devem ser colocados no RAC de
forma que sejam legveis e acessveis para efeitos de inspeco.
Se o RAC se encontrar instalado sobre estrutura elevada, esta deve ter meios de acesso e de
preveno de quedas.
O sistema de purga de condensados deve permitir que estes sejam conduzidos para esgoto
em condies adequadas sua natureza.
No cumpre
195
196
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Na instalao de RAC com compressores acoplados, devem ser consideradas as vibraes
introduzidas pelo funcionamento destes.
Devem ser consideradas as condies de ancoragem ou fixao ao solo do RAC, por forma a
garantir os graus de liberdade adequados.
As tubagens de distribuio devem ser identificadas com a colorao azul-claro, tal como
indicado na norma portuguesa NP 182. recomendvel que o RAC apresente a mesma
colorao.
Sempre que o RAC se encontre prximo da passagem de veculos ou movimentao de
mquinas, de tal forma que apresente um risco sua integridade, deve ser colocada proteco
adequada, fixa ao solo e/ou s paredes, na rea em torno do permetro do RAC e afastada deste
no mnimo 600 mm, sem limitar o acesso ao RAC.
De acordo com os requisitos relativos instalao e funcionamento de Reservatrios de Ar Comprimido apresentados nas
tabelas anteriores seguem-se algumas ilustraes com exemplos de Boas e Ms Prticas.
Boas Prticas
FIGURA 105
Boa prtica
O RAC est pintado de azul-claro, com indicao de perigo e chapa de registo da Direco Regional de Economia.
Ms Prticas
FIGURA 106
M prtica
O RAC est pintado de vermelho, sem indicao de perigo e no est licenciado.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Devem montar-se purgadores, em locais apropriados, para a evacuao dos lquidos provenientes de condensao e do leo que possa
acumular-se em qualquer troo das tubagens e canalizaes, comportando cada conduta de purga, pelo menos, uma vlvula.
A purga dos condensados no deve ser descarregada directamente no meio natural (solo ou gua), pois uma gua oleosa. Os
condensados devem ser tratados como gua residual ou como resduo perigoso por entidade licenciada para a gesto de resduos
perigosos (ver lista de operadores de resduos autorizados em www.apambiente.pt).
As figuras seguintes, ilustram ms prticas e boas prticas de gesto dos condensados.
Ms Prticas
FIGURA 107
Purga de condensados para solo
Boas Prticas
FIGURA 108
Armazenagem de condensados
As tubagens e canalizaes devem ser inspeccionadas frequentemente em intervalos regulares, substituindo-se as vlvulas e
acessrios que apresentem fugas e os troos de condutas que tenham sofrido corroso.
Geradores de vapor
Os geradores de vapor esto abrangidos pela ITC publicada no Despacho n. 22 332/2001 (2. srie), de 30 de Outubro.
197
198
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os requisitos relativos esto discriminados nas listas de verificao apresentadas nos quadros seguintes:
QUADRO 57
Requisitos relativos instalao e funcionamento de geradores de vapor
Requisito
Cumpre
No cumpre
Cumpre
No cumpre
Cumpre
No cumpre
Instrues de funcionamento, nomeadamente dos queimadores, facilmente acessveis, em
lngua portuguesa.
Certificado de aprovao de instalao e autorizao de funcionamento.
Registo de ocorrncias.
A aprovao da instalao depende de uma inspeco tcnica e de uma prova de presso, a
efectuar ambas por um organismo de inspeco, e eventualmente de uma vistoria, a realizar
pela DRE.
A renovao da autorizao de funcionamento deve ser feita de 5 em 5 anos e depende de
uma inspeco tcnica e de uma prova de presso, sem prejuzo de eventual vistoria pela
DRE.
Inspeco intercalar: o equipamento deve ser submetido a uma inspeco tcnica ao fim de
cada perodo de dois anos e meio.
QUADRO 58
Requisitos relativos s condies gerais da instalao de geradores de vapor
Requisito
Gerador de vapor instalado em casa prpria, com acesso reservado ao fogueiro e devidamente
sinalizado
Deve dispor, no mnimo, de um extintor da classe B e de um balde de areia.
QUADRO 59
Requisitos relativos s distncias de segurana.
Requisito
proibido instalar geradores dentro, por cima ou por baixo de reas frequentadas por
pessoas.
A distncia mnima dos geradores a espaos de uso pblico, residncias ou instalaes fabris
anexas de 10 m.
Esta distncia pressupe a existncia de uma divisria incombustvel, contnua e de
resistncia adequada.
A altura da divisria deve ser tal que, cota de 2 m e a 10 m de distncia do gerador, este no
seja visualizado. Para locais fabris, a distncia pode ser reduzida para 3 m.
Se a divisria for de resistncia ligeira, as distncias mnimas passam, respectivamente, para
20 m e 6 m.
Caso a parede seja em beto com espessura de 30 cm ou alvenaria com espessura de 60 cm,
as distncias anteriores so reduzidas para 6 m e 2 m.
As dimenses das paredes de proteco devem ser tais que desalinhem qualquer ponto da
superfcie do gerador relativamente s reas a proteger, no podendo ter menos do que 2 m
de altura.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Requisito
Cumpre
No cumpre
Cumpre
No cumpre
Devem ficar a pelo menos 60 m das reas a proteger, s podendo ter portas de acesso a
locais fabris.
Os geradores no podem ser sobrepostos e devem ser instalados de modo a que as condies
de queima, limpeza e conduo sejam seguras.
Os aparelhos de controlo e os sistemas de queima devem ser visualizados em simultneo
de um nico local.
Os acessos devem ser seguros. As escadas, caso existam, devem ser fixas.
A rea envolvente deve ser desimpedida, devendo haver, no mnimo, uma distncia de 60 cm
a paredes ou outros equipamentos.
QUADRO 60
Requisitos relativos s caractersticas da casa das caldeiras
Requisito
A casa deve dispor de duas sadas em sentidos opostos, com portas a abrir para o exterior.
Uma das sadas deve comunicar com espaos cobertos.
Os materiais devem ser incombustveis, no podendo haver comunicao directa com locais
interiores onde existam produtos explosivos / facilmente inflamveis.
O ponto mais alto do ESP, cobertura tem de ser, no mnimo, de 1,5 m.
No caso das caldeiras no autorizada a armazenagem de combustveis, salvo algumas
excepes.
Para a ventilao devem existir aberturas junto ao solo com, pelo menos, 0,05 m2 por cada 300
kW de potncia de entrada e com um mnimo de 0,25 m2. Na parte superior da casa devem
existir aberturas com, pelo menos, metade da rea anteriormente indicada.
A cobertura deve ser de construo leve.
A instalao elctrica deve ter grau de proteco adequado e os equipamentos devem estar
ligados terra. Deve existir um quadro de corte geral omnipolar junto de uma das entradas
da casa.
A descarga das vlvulas de segurana deve ser conduzida para o exterior, para locais
inacessveis ou para depsitos onde no ocorram contrapresses.
Fotocpias dos certificados de aprovao de instalao e autorizao de funcionamento devem
estar afixadas em local adequado.
199
200
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 61
Requisitos relativos aos equipamentos e acessrios dos geradores de vapor
Requisito
Indicador de presso: O gerador de vapor deve ter no mnimo um manmetro, graduado
aproximadamente para o dobro da PS e nunca menos de vez e meia essa presso, sendo a PS
marcada a trao encarnado e podendo a presso efectiva de trabalho ser marcada a azul.
O manmetro deve ter pelo menos 100 mm de dimetro, ter um sifo ou acessrio e ser
colocado em local de fcil observao. Perto de cada manmetro deve haver uma vlvula de
trs vias com tubuladura com aba circular de 40 mm de dimetro.
Indicador de nvel directo: O gerador de vapor de nvel definido deve ser equipado com dois
indicadores de nvel independentes. Se forem usados tubos de vidro, estes devem estar
protegidos. A cada indicador deve corresponder um conjunto de trs vlvulas.
Os nveis de mnimo e de mximo devem estar claramente marcados nos indicadores ou junto
destes. A marcao do nvel mnimo deve ficar 50 mm acima do extremo inferior do indicador.
O nvel de gua mnimo deve ficar, pelo menos, 60 mm acima das superfcies banhadas por
gases capazes de produzir aquecimento.
Vlvulas de purga e drenagem: Os geradores devem dispor de, pelo menos, uma vlvula de
drenagem e de uma vlvula de purga de ar que poder ter outra funo. Devem ter, pelo
menos, uma vlvula de purga de fundo, podendo servir tambm como vlvula de drenagem.
Nos geradores de vapor de nvel definido, aconselhvel uma vlvula de escumao para
retirar as impurezas superficiais.
Circuito de alimentao de gua: A tubagem de alimentao de gua deve dispor, pelo menos,
de uma vlvula de reteno e de uma vlvula de corte.
A bomba de alimentao ou sistema equivalente deve ter um dbito, pelo menos, igual a 1,25
vezes a vaporizao mxima.
Vlvulas de sada e de entrada: Todas as sadas e entradas no gerador devem possuir uma
vlvula de corte, devendo o troo do tubo ser o menor possvel.
Portas ou tampas de visita: O gerador deve ser equipado com portas ou tampas de visita que
permitam uma eficiente inspeco e limpeza interior. O gerador de tubos de fumo deve ter, pelo
menos, uma porta de acesso prximo da geratriz inferior. O tubular, a cmara de gases e a
fornalha devem dispor de portas ou tampas de acesso de resistncia, isolamento e vedao
adequados.
Portas de exploso: Sempre que houver combusto, deve haver uma porta de exploso (de
preferncia na primeira passagem dos gases), de modo a eliminar eventuais sobrepresses.
Limitadores: O gerador de vapor automtico de nvel definido deve possuir, no mnimo, um
limitador de nvel de gua e um outro de presso, que evite que a PS seja ultrapassada.
Controladores: Todo o gerador de vapor deve ter um controlador de nvel e, se for automtico,
pelo menos um controlador de presso.
rgos de proteco para geradores de vapor: Consideram-se essenciais a vlvula de
segurana; manmetro com sifo; tubuladura para ligao do manmetro padro; vlvula
de reteno e vlvula de corte na alimentao; vlvulas de passagem nas sadas;
indicadores de nvel; portas de acesso aos tubulares e fornalha; porta de visita; porta de
exploso; e vlvula de purga.
Cumpre
No cumpre
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 62
Requisitos relativos aos rgos de proteco contra o excesso de presso
Requisito
Cumpre
No cumpre
Cumpre
No cumpre
Os geradores de vapor de superfcie de aquecimento superior a 50 m2 devem ter, pelo menos,
duas vlvulas de segurana. A capacidade de descarga do conjunto das vlvulas no deve ser
inferior produo mxima de vapor ou potncia trmica mxima do equipamento.
As vlvulas de segurana devem garantir que em nenhum caso a sobrepresso seja superior a
10% da PS, sendo recomendvel que a presso de servio no ultrapasse 95% da PS, com a
diferena mnima de 0,1 bar.
As vlvulas de segurana devem ser ajustadas para a PS e ensaiadas de 5 em 5 anos e sempre
que apresentem indcios de mau funcionamento.
So aceitveis vlvulas de mola ou contrapeso rgido, desde que a posio de peso ou mola seja
perfeitamente definida e selvel; haja mecanismo que permita o accionamento manual; no
existam vlvulas intermdias; o dimetro interior no seja inferior a 15 mm.
QUADRO 63
Requisitos relativos s fontes energticas dos geradores de vapor
Requisito
S autorizado usar gs em queimadores automticos.
Em nenhum caso a regulao do sistema de queima pode debitar uma potncia superior
carga trmica mxima prevista no projecto do gerador. O sistema deve arrancar regulado
para o mnimo.
O caudal dos gases quentes, para alimentao de caldeiras de recuperao, deve poder ser
desviado por um sistema seguro, cuja posio seja visualizvel e com encravamentos
adequados.
proibida a existncia de tomadas de abastecimento de combustveis lquidos ou gasosos na
casa das caldeiras.
Na chamin deve existir um indicador de temperatura perto da sada do gerador, bem como
uma picagem de 8 mm de dimetro, para introduo de uma sonda de anlise de gases.
A instalao da rede de gs e a montagem dos equipamentos de queima, nomeadamente a
rampa de gs, devem respeitar a legislao aplicvel e a sua implantao em nenhum caso
deve limitar a conduo e manuteno do gerador. Os tubos de gs devem ficar a uma cota de
2 m do gerador.
Sistemas hidrulicos e pneumticos de potncia
Na sua generalidade, as empresas da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas possuem sistemas pneumticos de
potncia, de que so exemplo os compressores para produo de ar comprimido.
201
202
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Os principais requisitos de segurana aplicveis aos sistemas hidrulicos e pneumticos de potncia esto discriminados nas
listas de verificao apresentadas nos quadros seguintes:
QUADRO 64
Requisitos comuns para os sistemas hidrulicos e pneumticos de potncia
Componente ou sistema
Requisitos
Fluido
O sistema deve estar dotado de filtros, drenos e secadores, de modo a separar do ar as
partculas slidas, lquidas e gasosas prejudiciais;
Os fluidos utilizados, como por exemplo os lubrificantes, devem ser compatveis com todos
os componentes do sistema, elastmeros, tubagens e mangueiras.
Cilindros
O curso dos cilindros dever estar protegido contra colises, arranhes e lquidos corrosivos;
Os fins-de-curso, se existentes, devem ser regulveis;
Os componentes montados sobre os cilindros devero estar fixos de modo a que no
adquiram folgas por efeito de choques ou vibraes.
Vlvulas
As vlvulas empregues devem ter uma estanquicidade adequada, bem como a devida
resistncia s solicitaes mecnicas e ambientais previsveis.
Tubagens, unies e
condutas de fluidos
As redes de tubagens devem ser concebidas de modo a no servirem de apoio a outras
intervenes nas instalaes e devero estar adequadamente fixadas;
As tubagens no devero estar sujeitas a qualquer tipo de carga externa;
As unies rpidas devem confinar a presso do fluido, para evitar a possibilidade de
potenciais acidentes ao desacoplar o adaptador.
Gases comprimidos
Os gases comprimidos so utilizados principalmente no abastecimento aos geradores de vapor e aos equipamentos de queima,
sistemas de refrigerao, processo produtivo (Ar comprimido, Vapor, Amonaco (NH3), Dixido de Carbono liquefeito (CO2), processos
de embalagem (misturas de N2 / CO2), alimentao de mquinas (ar comprimido) laboratrio e na manuteno, geralmente em
operaes de soldadura e corte, sendo as quantidades utilizadas, neste ltimo caso, e regra geral, bastante reduzidas.
Como combustvel para os geradores de vapor e equipamentos de queima normalmente consumido GPL ou gs natural.
Os gases comprimidos utilizados na manuteno so essencialmente o Acetileno (C2H2), Oxignio (O2), Dixido de Carbono (CO2)
e rgon (Ar). Nos laboratrios utilizam-se principalmente, Azoto (N2), Hidrognio (H2), Hlio (He) e dixido de carbono (CO2),
protxido de azoto, Oxignio (O2), Acetileno (C2H2).
Os principais perigos decorrentes da utilizao de gases comprimidos decorrem de:
Presso que pode causar exploses, rupturas e projeces violentas dos reservatrios;
Temperatura varivel que conduz ao aumento de presso e s consequncias da decorrentes;
Caractersticas fsico-qumicas dos gases:
Inflamveis: que podem conduzir a incndios e exploses;
Comburentes: que podem provocar atmosferas localizadas ricas em oxignio e misturas explosivas com gorduras;
Os inertes podem levar formao de uma atmosfera pobre em oxignio.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O armazenamento de garrafas de gases comprimidos ou liquefeitos deve ser feito de acordo com os seguintes requisitos:
Os reservatrios areos devem estar vedados por rede e estar dotado de um porta com abertura para o exterior; devem ter
sistema de arrefecimento por chuveiro. Esta rea deve estar sinalizada com proibio de fumar e foguear;
O armazenamento de garrafas deve ser feito em local prprio, afastado de locais de armazenamento de produtos qumicos
perigosos, particularmente de produtos combustveis e inflamveis; este espao deve ainda estar afastado dos espaos de
movimentao de materiais, veculos e pessoas;
As garrafas devem estar identificadas, quanto ao seu contedo, na ogiva (parte superior) conforme os requisitos
normativos que constam da norma EN 1089-3, tendo gravadas a identificao do fabricante e a data da prova hidrulica.
As garrafas com gases comprimidos devem ser mantidas na vertical durante o armazenamento, transporte e utilizao,
devendo ainda estar fixas a um suporte mediante corrente.
De acordo com o Despacho n. 22 333/2001, de 30 de Outubro, os reservatrios superficiais de GPL devero reunir as seguintes
condies:
Quanto instalao:
Pavimento cimentado com ligeira inclinao para escoamento de eventuais derrames;
Ligao galvnica a elctrodo de terra com valor inferior a 100 e sistema que permita estabelecer ligao
equipotencial com camio cisterna, durante as operaes de trasfega;
Sistema de asperso de gua para reduzir os efeitos da sobrepresso causados por temperaturas elevados; este
sistema pode ser prescindido caso a empresa distribuidora de GPL apresente justificativo de tal dispensa, suportado em
dados tcnicos.
Quanto s inspeces de rotina:
Inspeces de Rotina: verificar a presena de corroso ou danos visveis; os acessrios quanto corroso, danos ou
fugas; funcionamento dos indicadores de nvel, sinalizao e estado de conservao e operacionalidade dos extintores.
Este tipo de inspeco deve ser assegurado pelo proprietrio ou utilizador e com recurso a um procedimento adequado,
com periodicidade definida e por pessoa competente, de modo a assegurar a vigilncia em funcionamento;
Inspeco Intercalar: no deve exceder os 6 anos, e ser efectuada por um Organismo de Inspeco, devendo a empresa
ficar com o respectivo relatrio;
Inspeco Peridica: no deve exceder os 12 anos, e ser efectuada por um Organismo de Inspeco, devendo a empresa
ficar com o respectivo relatrio.
Nas instalaes fixas de distribuio de gases comprimidos, a partir de reservatrio ou ramal exterior empresa, dever haver:
Vlvula de corte geral efectua o seccionamento da alimentao do gs comprimido a toda a instalao;
Vlvula de corte sectorial efectua o seccionamento da alimentao do gs comprimido em cada um dos ramais
principais da instalao;
Vlvula de corte local efectua o seccionamento da alimentao do gs comprimido em cada um dos pontos
consumidores.
203
204
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Geralmente, o gs comprimido est disponvel no ponto consumidor a partir de tomadas. Estas devem estar equipadas com vlvulas
de fecho automtico, do tipo check-lock, de modo a evitar qualquer tipo de fuga do gs comprimido para o ambiente de trabalho.
As vlvulas de segurana devero ser verificadas periodicamente quanto sua operacionalidade e bom funcionamento.
Quando os sistemas de distribuio de gases comprimidos esto dotados de reservatrio, este dever estar equipado com vlvula
de segurana e disco de ruptura, podendo estar tambm dotados com outros indicadores de controlo, como manmetros e
alarmes.
No caso das fugas de gs, esta pode ser identificada por detectores de gs que comunicam a informao para uma central do
sistema automtico de deteco.
Esta instruo de segurana tem por objectivo definir regras de segurana no uso de ar
FIGURA 109
Instruo de segurana - Uso de ar comprimido
O ar comprimido nunca deve ser usado para limpeza de roupas de trabalho, para tirar o p do cabelo ou do corpo.
Nunca se deve usar ar comprimido para limpar feridas: pode atravessar uma grande distncia por baixo da pele, e isso
extremamente perigoso, podendo provocar leses nos rgos internos.
Um jacto de ar comprimido suficientemente forte, proveniente de uma mangueira, poder tirar um olho de sua rbita, romper um
tmpano ou causar hemorragia interna ao penetrar nos poros.
Um jacto de ar comprimido pode penetrar por um corte ou uma escoriao e insuflar a pele (encher de ar). A leso poder ser
fatal se chegar a penetrar num vaso sanguneo, pois pode produzir bolhas de ar que interrompem a circulao sangunea. Essa
leso denomina-se EMBOLIA POR AR.
O ar comprimido muito til, mas como outras coisas teis, perigoso se no for usado com o devido cuidado.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.14 INCNDIOS
O incndio uma reaco de combusto (oxidao - reduo) fortemente exotrmica, que se desenvolve geralmente de forma
descontrolada, quer no tempo quer no espao. Para a ecloso de um fogo necessria a conjugao simultnea de 3 factores
indispensveis:
Combustvel material que arde;
Comburente material em cuja presena o combustvel pode arder (normalmente o ar, que contm cerca de 21% de
oxignio em volume);
Energia de activao energia mnima necessria para se iniciar a reaco, que fornecida pela fonte de inflamao.
Estes 3 factores constituem o que se costuma designar por tringulo do fogo. O desenvolvimento de um fogo est ainda dependente
de um outro factor, a ocorrncia de uma reaco em cadeia, sem a qual no se d a transmisso de calor de umas partculas de
combustvel para as outras. A incluso deste ltimo factor, como constituindo um requisito necessrio ao desenvolvimento de um
fogo, resulta no denominado tetraedro do fogo.
As tcnicas de preveno e combate de incndios fundamentam-se no conhecimento detalhado destes factores. A preveno
consiste em evitar a sua conjugao simultnea. O combate visa a extino de um incndio no qual se procura eliminar um ou mais
daqueles factores.
Os produtos prprios e manifestos da combusto, todos eles susceptveis de provocarem efeitos nefastos na sade e segurana
humanas, so o fumo, a chama, o calor e os gases libertados.
FIGURA 110
Condies necessrias para a ocorrncia de um incndio
FIGURA 111
Produtos da combusto durante a ocorrncia de um incndio
205
206
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A Norma Portuguesa NP EN 2 classifica os fogos em 4 classes, que so definidas em funo da natureza do combustvel (slido,
lquido, gasoso). Esta classificao de grande utilidade no domnio do combate a incndios, visto que possibilita a escolha do
agente extintor mais adequado ao combustvel em presena.
A)
Fogos de combustveis slidos em que existe formao de brasas (madeira, papel, carvo).
B)
Fogos de combustveis lquidos (gasolina, lcool, acetona) ou de slidos liquidificveis (cera, parafina, resinas) que
ardem sem formao de brasas.
C)
Fogos de gases combustveis (butano, propano, hidrognio, acetileno).
D)
Fogos de metais (sdio, potssio, magnsio ltio, titnio, certas ligas, ferro e alumnio)
6.14.1 Preveno de incndios
A preveno, como conjunto de medidas a adoptar tendentes a minimizar a probabilidade de ocorrncia de incndios, afigura-se
como a mais importante e mais eficaz das actividades de segurana, nesta como na generalidade das temticas relevantes em
Segurana e Sade no Trabalho.
Conforme j referido anteriormente, uma aco de preveno de incndios aquela que se destina eliminao de um ou mais
factores do anteriormente referido tetraedro do fogo. Na maioria dos casos, s possvel actuar sobre o combustvel e/ou sobre a
energia de activao. O comburente (oxignio do ar) encontra-se normalmente presente e a reaco em cadeia inerente aos
processos de combusto na maioria dos combustveis.
O Decreto-Lei n. 220/2008, de 12 de Novembro, regulamentado pela Portaria n.1532/2008, de 29 de Dezembro, veio consolidar
num nico diploma, a legislao sobre segurana contra incndio em edifcios (SCIE), apresentando um conjunto amplo de
exigncias tcnicas aplicveis segurana contra incndio, no que se refere concepo geral da arquitectura dos edifcios e
recintos a construir ou remodelar, s disposies construtivas, s instalaes tcnicas e aos sistemas e equipamentos de
segurana.
O diploma engloba as disposies regulamentares de segurana contra incndio aplicveis a todos os edifcios e recintos (com
excepo dos edifcios abrangidos pela Directiva SEVESO II, regulada no nosso Pas pelo Decreto-Lei n. 254/2007, relativo ao
regime de preveno de acidentes graves), distribudos por 12 utilizaes-tipo (sendo a administrativa do tipo III e
industrial/oficinas/armazm do tipo XII), sendo cada uma delas, por seu turno, estratificada por quatro categorias de risco de
incndio. So considerados no apenas os edifcios de utilizao exclusiva, mas tambm os edifcios de ocupao mista.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Neste diploma estabelecem-se as medidas necessrias de auto-proteco e de organizao de segurana contra incndio,
aplicveis quer em edifcios existentes quer em novos. Essas medidas de autoproteco devem ser mantidas e actualizadas
durante todo o tempo de explorao ou utilizao dos edifcios, baseando-se em:
Medidas preventivas - procedimentos de preveno ou planos de preveno, conforme a categoria de risco;
Medidas de interveno em caso de incndio, que tomam a forma de procedimentos de emergncia ou de planos de
emergncia interno, conforme a categoria de risco;
Registos de segurana onde devem constar os relatrios de vistoria ou inspeco, e relao de todas as aces de
manuteno e ocorrncias directa ou indirectamente relacionadas com a SCIE;
Formao em SCIE, sob a forma de aces destinadas a todos os funcionrios e colaboradores das entidades
exploradoras, ou de formao especfica, destinada aos delegados de segurana e outros elementos que lidam com
situaes de maior risco de incndio;
Simulacros, para teste do plano de emergncia interno e treino dos ocupantes com vista a criao de rotinas de
comportamento e aperfeioamento de procedimentos.
O art. 23. do Regime Jurdico da Segurana Contra Incndios em Edifcios, aprovado pelo Decreto-Lei n. 220/2008, de 12 de
Novembro, dispe que a actividade de comercializao, instalao e manuteno de produtos e equipamentos de segurana
feita por entidades registadas na Autoridade Nacional da Proteco Civil, devendo o procedimento de registo ser definido por
portaria, sem prejuzo de outras licenas, autorizaes ou habilitaes previstas na lei para o exerccio de determinada
actividade.
A portaria n. 773/2009, de 21 de Julho, define os diversos requisitos necessrios ao registo nacional das referidas entidades,
incluindo o requisito da capacidade tcnica, pedra basilar da sua competncia, determinando as condies de qualificao
profissional, com base na experincia e formao dos seus tcnicos responsveis. Mais se prev que o registo permita a
identificao das entidades certificadas ao abrigo de um referencial de qualidade especfico para a actividade, auditado por uma
entidade terceira e independente, j que a certificao constitui a garantia da comercializao, a instalao e a manuteno de
produtos e equipamentos de segurana serem executados por entidades especializadas, com instalaes e meios materiais e
humanos adequados ao exerccio da sua actividade.
207
208
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 65
Resumo dos requisitos do regulamento tcnico de segurana contra incndios em edifcios (RTSCIE) e da sua aplicabilidade.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Os edifcios ou recintos devem ser classificados por quatro categorias de riscos (de 1. a 4. categoria de risco, aumentando por
esta ordem a perigosidade), de acordo com os critrios definidos para as diversas utilizaes-tipo.
FIGURA 112
Categorias de risco de incndio aplicveis s 12 utilizaes-tipo de edifcios e recintos
Para o tipo XII Industrial/Armazm, a categoria de risco classifica-se de acordo com o nmero de pisos abaixo do plano de
referncia, as actividades ao ar livre e a carga de incndio dos edifcios. Os critrios tcnicos para determinar a densidade de
carga de incndio modificada, esto definidos no Despacho n. 2074/2009, de 15 de Janeiro de 2009.
FIGURA 113
Critrios para a determinao da classificao de risco das utilizaes-tipo XII Industrial/Armazm
O diploma exige igualmente que todos os locais dos edifcios e dos recintos, com excepo dos espaos interiores de cada fogo, e
das vias horizontais e verticais de evacuao, sejam classificados, de acordo com a natureza do risco, como se pode verificar no
quadro seguinte. Afixados nos locais de risco C, D, E e F devem estar instrues de segurana especificamente destinadas aos
ocupantes desses locais, conforme o definido na Portaria n. 1532/2008.
209
210
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 114
Critrios para a classificao dos locais de riscos de edifcios e recintos.
Assim, os locais dos edifcios dos estabelecimentos industriais so, geralmente, classificados em locais de risco A, quando o
efectivo no exceder 100 pessoas, locais de risco B, quando o efectivo exceder as 100 pessoas e locais de risco C, quando os
locais apresentam riscos agravados de incndio, como sejam:
Oficinas de manuteno e reparao em que sejam utilizadas chamas nuas, aparelhos envolvendo a projeco de fascas
ou elementos incandescentes em contacto com o ar associados presena de materiais facilmente inflamveis;
Laboratrios e oficinas onde sejam produzidos, depositados, armazenados ou manipulados lquidos inflamveis em
quantidade superior a 10 l;
Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, para confeco de alimentos ou sua conservao, com potncia total til
superior a 20 kW;
Arquivos, depsitos, armazns e arrecadaes de produtos ou material diverso com volume superior a 100 m3;
Locais afectos a servios tcnicos em que sejam instalados equipamentos elctricos, electromecnicos ou trmicos com
uma potncia total superior a 70 kW, ou armazenados combustveis;
Outros locais que possuam uma densidade de carga de incndio modificada superior a 1000 MJ/m2 de rea til, associada
presena de materiais facilmente inflamveis e, ainda, que comportem riscos de exploso.
Para alm da classificao de todos os locais do seu edifcio, os estabelecimentos industriais tm ainda de proceder
determinao da sua densidade de carga de incndio modificada mxima, atendendo ao despacho n. 2074/2009, para ser
classificada a categoria de risco de cada edifcio. De um modo geral, pode-se considerar que na Indstria da Borracha e das
Matrias Plsticas, desenvolvem-se as principais actividades, s quais esto associadas as densidades de carga de incndio e
coeficientes adimensionais de activao e que se apresentam no quadro 66.
Considerando que o coeficiente adimensional de activao (Rai) poder assumir os valores de 3,0, 1,5 e 1,0, consoante o risco de
activao relativo actividade seja alto, mdio ou baixo, respectivamente, e o coeficiente adimensional de combustibilidade (Ci)
poder asumir os valores de 1,6, 1,3 e 1,0, consoante o risco seja alto, mdio ou baixo, respectivamente, poder ser calculada a
densidade de carga de incndio modificada do edifcio (q), efectuando a mdia ponderada das densidades de carga de incndio (qs
e/ou qvi), multiplicadas pelos respectivos coeficientes adimensionais de combustibilidade e de activao (e tambm pela altura de
armazenagem - h, no caso das actividades de armazenagem), em funo da percentagem de rea que cada actividade ocupa
relativamente rea total do edifcio.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Exemplo simples:
30% da rea dedicada armazenagem de artigos de matrias sintticas;
A altura da zona de armazenamento cerca de 6 m;
70% da rea corresponde ao fabrico de artigos de matrias sintticas;
O coeficiente adimensional de combustibilidade 1,00 (slidos cujo ponto de inflamao superior a 200 C);
O coeficiente adimensional de activao 1,5 (risco de activao mdio).
O edifcio ter uma densidade de carga de incndio modificada mxima de:
Q = (0,7 x 600 x 1,0 x 1,5) + (0,3 x 800 x 6 x 1,0 x 1,5) = 2 790 MJ/m2
O que significa que ser classificado com 2. categoria.
QUADRO 66
Principais actividades, densidades de carga de incndio e coeficientes adimensionais de activao susceptveis de se desenvolverem
nos edifcios da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas.
Fabricao e reparao
Densidade de
carga de
incndio
(MJ/m2)
Coeficiente
adimensional
de activao
Aparelhos elctricos, reparao
500
Mdio
Aparelhos mecnicos, reparao
400
Baixo
Aparelhos oficinas de reparao
600
Mdio
Armazenamento
Densidade de
carga de
incndio
(MJ/m2)
Coeficiente
adimensional
de activao
Arquivos
1700
Alto
Borracha
28600
Alto
Actividade
Borracha, artigos de
600
Mdio
5000
Alto
Borracha, goma elstica
700
Mdio
1300
Alto
Borracha, goma elstica, artigos
de carto
700
Mdio
2100
Alto
Carto ondulado
800
Alto
1300
Alto
3400
Alto
Diluentes
Electricidade, oficina de
600
Mdio
Embalagens mercadorias
combustveis
600
Mdio
Expedio de artigos sintticos
1000
Alto
Materiais e aparelhos para
canalizaes
200
Baixo
211
212
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Materiais sintticos
2000
Alto
5900
Alto
Materiais sintticos injectadas
500
Mdio
Materiais sintticos, artigos de
600
Mdio
800
Mdio
Materiais sintticos, estampado
400
Baixo
Materiais sintticos, expedio
1000
Alto
Materiais sintticas, soldadura
de peas
700
Mdio
Mecnica de preciso, oficina
200
Baixo
Moldagem de matrias sintticas
400
Baixo
Moldagem de metais
100
Baixo
Oficina de reparao
400
Baixo
Paletes de madeira
1000
Alto
1300
Alto
Pneumticos, pneus de
automveis
700
Mdio
1500
Alto
Produtos qumicos combustveis
300
Alto
1000
Alto
Serralharia
200
Baixo
No que respeita ao factor combustvel, nos estabelecimentos da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, destacam-se os
seguintes aspectos:
As actividades desenvolvidas nesta tipologia de instalaes permitem o desenvolvimento, essencialmente, de incndios
das classes A, B e C;
O combustvel slido encontra-se disperso por toda a unidade fabril, com maior acumulao nas zonas de armazenagem
de matrias-primas, embalagens e de produto acabado, existindo a possibilidade de ocorrncia de um incndio de
propores normais;
No que se refere aos lquidos, destaque para a presena de inmeros produtos qumicos inflamveis, como sejam tintas,
aditivos, corantes, catalisadores, leos, solventes, sprays, lcoois, etc., que muito contribuem para o risco de incndio,
podendo inclusivamente formar uma atmosfera explosiva;
Ao nvel dos gases, destaque para o gs natural e o gs propano, cuja utilizao no muito vulgar neste sector, mas que
podero ser usados em queimadores de estufas, em processos de flamejar ou em quaisquer outros processos,
normalmente associados secagem de tinta.
No que respeita ao factor energia de activao e, considerando as principais tipologias de focos de ignio potenciais,
potencialmente podem ocorrer nas instalaes:
Focos elctricos A existncia de quadros elctricos, cabos elctricos mal acondicionados ou mal dimensionados, fios
descarnados, sobrecargas de tomadas elctricas ou eventuais deficincias dos sistemas de proteco. A considerar ainda
a possibilidade de descargas de electricidade esttica, essencialmente nas operaes de carga das baterias dos
empilhadores e porta-paletes elctricos e tambm de equipamentos electrnicos;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Focos mecnicos Principalmente provenientes da projeco de partculas incandescentes resultantes das operaes de
corte e rebarbagem de materiais metlicos efectuadas nas operaes de manuteno ou sobreaquecimento por frico
mecnica;
Focos trmicos Principalmente devidos ao acto de fumar ou foguear, proveniente do calor que libertado pelo
funcionamento de equipamentos elctricos e hidrulicos, motores de combusto, eventuais chispas resultantes de
soldaduras efectuadas nas operaes de manuteno, radiao solar e condies trmicas;
Focos qumicos Dada a possibilidade dos gases e vapores libertados pelas substncias qumicas volteis passveis de
existirem nas empresas poderem formar atmosferas explosivas ou altamente inflamveis, devido ao armazenamento
conjunto de substncias reactivas (incompatibilidade), reaco de substncias auto-oxidantes, Fermentaes (reaco dos
desperdcios de madeira com humidade) ou combusto espontnea devida a reaces exotrmicas.
Em termos de preveno de incndios, destaca-se a proibio de fumar e/ou foguear em todas as instalaes (salvo em espaos
confinados e dedicados a esse efeito), a proibio de utilizao de telemvel, mquinas fotogrficas e outros equipamentos
electrnicos nos locais mais crticos (de maior concentrao de produtos qumicos), a instalao nos locais de trabalho de
armrios adequados que efectuem um armazenamento seguro de substncias inflamveis e o estado cuidado e atento de toda a
instalao elctrica.
As equipas de manuteno (elctrica e mecnica) devero ter formao especfica nesta temtica, com intuito de no efectuarem
operaes de rebarbagem ou de soldadura em locais onde existam produtos inflamveis ou, caso esta situao seja de todo
inevitvel, que tomem as necessrias e adequadas medidas de proteco (por exemplo, a cobertura de produtos inflamveis com
mantas ignfugas).
Todas as empresas devero instituir procedimentos de preveno que garantam a praticabilidade das vias de evacuao e sadas
de emergncia, o acesso aos meios de alarme e resposta emergncia, vigilncia de instalaes tcnicas, etc., tal como
exigido no novo RSCIE (Plano de Preveno).
De referir ainda que as disposies do SCIE no se aplica a edifcios j existentes, excepo das medidas de autoproteco que
passaram a ser de aplicao obrigatria a partir de 1 de Janeiro de 2010, mesmo para as edificaes j existentes data de
entrada em vigor do referido diploma.
A definio do tipo de medidas de autoproteco a aplicar aos edifcios e recintos, est ento dependente da utilizao-tipo e da
categoria de risco. No quadro seguinte pode-se constatar a definio dessas medidas de acordo com esses critrios.
QUADRO 67
Medidas de autoproteco aplicveis s diversas utilizaes-tipo e classificao de risco.
213
214
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decorre do quadro anterior que os estabelecimentos industriais com menor risco de incndios (1. categoria) tero de ter
registos de segurana e procedimentos de preveno, os estabelecimentos industriais de 2. categoria tero de ter registos de
segurana, plano de preveno, procedimentos de emergncia, Aces de sensibilizao e formao em SCI e devero realizar
simulacros e os estabecimentos industriais de 3. e 4. categoria tero obrigatoriamente de possuir registos de segurana, plano
de preveno, plano de emergncia interno, aces de sensibilizao e formao em SCI e devero realizar simulacros.
Deste modo, para nenhuma categoria de risco de incndo de edifcios industriais bastar ter o plano de emergncia interno, pois
todos tero de ter registos de segurana e procedimentos ou plano de preveno, pelo que para os estabelecimentos de 2., 3. e
4. categorias de risco se recomenda a elaborao de um plano de segurana interno (PSI), que contempla o plano de preveno
mais o plano de emergncia interno, ficando os estabelecimentos de 1. categoria de risco apenas pelos registos de segurana e
pelos procedimentos de preveno.
Para combater eficazmente um incndio, com o mnimo de riscos e desgaste, fundamental agir rapidamente. Isto implica uma
aco de defesa contra o fogo que comporte 3 vectores fundamentais:
Meios de deteco precoce do fogo, que alertem a equipa interna de combate e a corporao de bombeiros mais prxima;
Material e meios de extino apropriados e sempre em perfeitas condies operacionais;
Pessoal instrudo para a adopo e coordenao de medidas de proteco a tomar, bem como para a correcta utilizao
dos meios de extino.
Procedimentos e plano de preveno
A preveno sempre a melhor forma de gerir o risco. Quando se fala em situaes de emergncia os danos podem ser de vrias
naturezas e dimenses e a preveno a melhor forma de os minimizar.
Para todas as categorias de risco necessria a elaborao e implementao de procedimentos de preveno. A partir da
2. categoria de risco necessrio um plano de preveno.
Procedimentos de preveno
Devem ser definidas e cumpridas regras de explorao e de comportamento, que constituem o conjunto de procedimentos de
preveno a adoptar pelos ocupantes, destinados a garantir a manuteno das condies de segurana.
Os procedimentos de explorao e utilizao dos espaos devem garantir permanentemente a:
Acessibilidade dos meios de socorro aos espaos da utilizao-tipo;
Acessibilidade dos veculos de socorro dos bombeiros aos meios de abastecimento de gua, designadamente hidrantes
exteriores;
Praticabilidade dos caminhos de evacuao;
Eficcia da estabilidade ao fogo e dos meios de compartimentao, isolamento e proteco;
Acessibilidade aos meios de alarme e de interveno em caso de emergncia;
Vigilncia dos espaos, em especial os de maior risco de incndio e os que esto normalmente desocupados;
Conservao dos espaos em condies de limpeza e arrumao adequadas;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Segurana na produo, na manipulao e no armazenamento de matrias e substncias perigosas;
Segurana em todos os trabalhos de manuteno, recuperao, beneficiao, alterao ou remodelao de sistemas ou
das instalaes, que impliquem um risco agravado de incndio, introduzam limitaes em sistemas de segurana
instalados ou que possam afectar a evacuao dos ocupantes.
Os procedimentos de explorao e de utilizao das instalaes tcnicas, equipamentos e sistemas, (referidos nos ttulos V instalaes tcnicas e VI - equipamentos e sistemas de segurana) devem incluir as respectivas instrues de funcionamento, os
procedimentos de segurana, a descrio dos comandos e de eventuais alarmes, bem como dos sintomas e indicadores de avaria
que os caracterizam.
Os procedimentos de conservao e de manuteno das instalaes tcnicas, dispositivos, equipamentos e sistemas existentes
devem ser baseados em programas com estipulao de calendrios e listas de testes de verificao peridica (referidos nos
ttulos V e VI).
Nas zonas limtrofes ou interiores de reas florestadas, qualquer edifcio ou zona urbanizada deve permanecer livre de mato com
continuidade horizontal susceptvel de facilitar a propagao de um incndio, a uma distncia de 50 m do edificado.
Plano de preveno
O plano de preveno deve ser constitudo:
Por informaes relativas :
- Identificao da utilizao-tipo;
- Data da sua entrada em funcionamento;
- Identificao do RS (responsvel pela segurana);
- Identificao de eventuais delegados de segurana;
Por plantas, escala de 1:100 ou 1:200 com a representao inequvoca, recorrendo simbologia constante das normas
portuguesas, dos seguintes aspectos:
- Classificao de risco e efectivo previsto para cada local, de acordo com o disposto neste regulamento;
- Vias horizontais e verticais de evacuao, incluindo os eventuais percursos em comunicaes comuns;
- Localizao de todos os dispositivos e equipamentos ligados segurana contra incndio.
Pelos procedimentos de preveno referidos anteriormente.
O plano de preveno e os seus anexos devem ser actualizados sempre que as modificaes ou alteraes efectuadas o
justifiquem e esto sujeitos a verificao durante as inspeces regulares e extraordinrias.
No posto de segurana deve estar disponvel um exemplar do plano de preveno.
Os equipamentos de emergncia devem ser ensaiados com periodicidade especificada para que se mantenha a sua
operacionalidade de forma continuada. A verificao deve incluir:
Sistemas de deteco e alarme;
215
216
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Iluminao e geradores de emergncia;
Vias de evacuao;
Compartimentos corta-fogo;
Vlvulas de seccionamento, interruptores e disjuntores crticos;
Equipamento de combate a incndios;
Equipamento de primeiros socorros (incluindo chuveiros de emergncia, lava-olhos, entre outros);
Sistemas de alerta e comunicao.
Com o objectivo de se garantir a manuteno das condies de segurana das instalaes, devero ser definidos os seguintes
procedimentos de preveno e os respectivos impressos para registo das verificaes a efectuar.
QUADRO 68
Procedimentos de preveno a adoptar
Aco
Responsvel
Periodicidade
Registo
Verificao da acessibilidade dos meios de socorro externos s instalaes
Imp.PSI.01
Praticabilidade dos caminhos de evacuao e sadas de emergncia
Imp.PSI.02
Verificao das condies de acessibilidade, manuteno e conservao dos
extintores
Imp.PSI.03
Verificao do material existente nas caixas de primeiros socorros
Imp.PSI.04
Verificao das condies de acessibilidade, manuteno e conservao das
bocas-de-incndio armadas
Imp.PSI.05
Verificao das condies de acessibilidade, manuteno e conservao das
botoneiras de alarme manuais
Imp.PSI.06
Verificao das condies de operacionalidade dos detectores automticos
de incndio e respectivos sinais sonoros.
Imp.PSI.07
Verificao das condies de conservao e operacionalidade do sistema de
iluminao de emergncia
Imp.PSI.08
Verificao das condies de operacionalidade da central de incndio
Imp.PSI.09
Verificao das condies de conservao, manuteno e visibilidade da
sinalizao de segurana
Imp.PSI.10
Realizar simulacros e elaborar relatrios de avaliao dos exerccios
realizados
Imp.PSI.11
Vigilncia dos espaos de maior risco de incndio que normalmente esto
desocupados
Imp.PSI.12
Verificao das condies de arrumao e limpeza
Imp.PSI.13
Verificao das condies de segurana na armazenagem, incluindo
substncias perigosas
Imp.PSI.14
Registo das verificaes das instalaes tcnicas e de segurana
Imp.PSI.15
Registo das aces de instruo e de formao
Imp.PSI.16
Registo de ocorrncias (falso alarme, anomalias, incidentes)
Imp.PSI.17
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 69
Lista de verificao peridica da acessibilidade aos meios de alarme e de interveno e praticabilidade dos caminhos de evacuao
e sadas de emergncia
Extintor N.
Localizao
Acessvel
No acessvel
Descrever em caso de inacessibilidade
Boca de incndio N.
Localizao
Acessvel
No acessvel
Descrever em caso de inacessibilidade
Sada de Emergncia
Localizao
Desobstruda
Obstruda
Descrever em caso de inacessibilidade
Via de evacuao
Localizao
Desobstruda
Obstruda
Descrever em caso de inacessibilidade
Botoneira de alarme
Localizao
Acessvel
No acessvel
Descrever em caso de inacessibilidade
Corte de energia elctrica
Localizao
Acessvel
No acessvel
Descrever em caso de inacessibilidade
Corte de energia elctrica
Localizao
Acessvel
No acessvel
Descrever em caso de inacessibilidade
Caso o nmero de equipamentos seja muito elevado, pode ser utilizada uma cpia da planta de emergncia com os equipamentos
numerados e colocada em anexo lista de verificao.
Relativamente aos trabalhos de manuteno, recuperao, beneficiao, alterao ou remodelao de sistemas ou das
instalaes, sugere-se a elaborao de um manual para empresas externas prestadoras de servios que contemple todas as
regras de preveno e ou proteco que devero ser adoptadas, incluindo fichas de segurana ou planos para trabalhos com
riscos especiais para cada uma das tipologias das actividades a ser realizadas.
No que respeita s instalaes tcnicas, equipamentos e sistemas, devero ser elaboradas instrues de funcionamento com a
descrio dos principais comandos e de eventuais alarmes, procedimentos de segurana e a descrio dos principais sintomas e
indicadores de avarias que os caracterizam, que devem ser afixadas junto das mesmas. Relativamente sua manuteno e
conservao, dever ser elaborado um plano anual de manuteno com a definio das aces a realizar, responsveis e
respectivas periodicidades de execuo. Sempre que haja lugar a uma qualquer aco correctiva esta dever ser devidamente
registada na ficha do equipamento.
217
218
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Deteco e Alarme
Os sistemas automticos de deteco tm por objectivo descobrir e sinalizar, o mais cedo possvel, o aparecimento de um fogo,
para que possam ser tomadas medidas necessrias num curto espao de tempo. A deteco de incndios uma das mais
importantes medidas de segurana, uma vez que permite detectar precocemente um fogo para de seguida ser pronta e
facilmente extinto.
A deteco e alarme de incndios pode ser dada, de acordo com a importncia das instalaes:
Por pessoal de viglia (servio de incndio ou pessoal especializado de ronda);
Por instalaes de deteco.
As instalaes fixas de deteco de incndios tm inmeras vantagens, das quais se podem destacar:
Deteco rpida de um princpio de incndio, atravs de um alarme preestabelecido;
Localizao do incndio no espao;
Execuo do plano de alarme com ou sem interveno humana;
Realizao de funes auxiliares, como por exemplo, transmitir automaticamente o alarme distncia, disparar uma
eventual instalao de extino fixa, parar mquinas, fechar portas, accionar dispositivos de evacuao de fumos e calor.
Existem vrios tipos de dispositivos, sendo que a aplicabilidade de alguns depende das caractersticas presentes na zona a
proteger.
FIGURA 115
Esquematizao de um sistema automtico de deteco de incndios (SADI) e exemplo de uma central
Alarme
Deteco
Alerta
Comando
equipamentos
Central
Os sistemas de deteco, extino e alarme podem ainda ser classificados de modos distintos:
O modo como definida a situao de alarme;
O modo como se processa o endereamento dessa informao.
No tocante ao modo como definida a situao de alarme, o sistema pode ser:
Digital assim que atingido um determinado valor limite predefinido, o sensor (detector) passa situao de alarme,
transmitindo-o central;
Analgico o valor do parmetro a detectar permanentemente monitorizado.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Os sistemas analgicos so muito mais flexveis e fiveis do que os digitais, permitindo situaes de pr-alarme e de confirmao
de alarme mais eficazes. No entanto, o custo dos sistemas analgicos tambm mais elevado. No tocante ao endereamento da
informao, pode-se classificar os sistemas como:
Enderevel cada detector e boto de alarme possui um endereo que transmitido associado respectiva informao;
Convencional (no enderevel) os detectores e os botes de alarme no dispem de endereo, pelo que informao
de alarme no se pode identificar o dispositivo.
Para a central de sinalizao e comando dever-se- observar os seguintes pontos:
Estar localizada num local permanente vigiado (preferencialmente um posto de segurana), prximo dos acessos
principais do edifcio ou estabelecimento;
A alimentao de energia elctrica da central dever partir de duas fontes distintas (rede de distribuio de energia e
acumulador), de forma a assegurar o abastecimento ininterrupto de energia central.
Na central devem ser assinalados, de forma ptica e acstica especfica, as situaes seguintes:
Alarme incndio (no mnimo, por zona);
Avaria (no mnimo, por zona);
Falha da rede de alimentao de energia elctrica ou dos acumuladores.
As situaes seguintes tambm devero ser sinalizadas de forma ptica:
Alerta aos bombeiros;
Cancelamento do alarme e do alerta;
Colocao fora de servio (por circuito);
Estado da alimentao de energia elctrica (rede ou acumuladores).
Quanto aos detectores, so aparelhos que registam, comparam e medem a presena e variao dos elementos resultantes do
fenmeno do fogo (fumos, calor/temperatura e chamas), podendo ser classificados segundo os seguintes trs parmetros:
QUADRO 70
Detectores de incndio.
Grandeza
Modo de funcionamento
Distribuio espacial
Temperatura
Esttico
Pontual
Fumo
Diferencial ou Velocimtrico
Linear
Chamas
Temperatura e fumo
Multipontual
219
220
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 116
Fases de evoluo de um incndio versus tipo de detector automtico
Detector de
temperatura
Detector de chamas
Detector de fumos (ptico)
Detector de fumos (inicos)
Os detectores de calor so os mais econmicos, mas de deteco mais tardia. Relembrando que um pequeno foco de incndio
pode desencadear uma exploso, caso ocorra numa zona onde estejam colocados recipientes de gases, este tipo de ocorrncia
no seria detectado a tempo.
Os detectores de chama funcionam por reaco energia radiada. Podem ser do tipo de deteco do infravermelho e do
ultravioleta. Em algumas zonas de trabalhos, como por exemplo de soldadura, um detector de chama pode accionar o alarme
erradamente.
Os detectores de fumo, pticos ou inicos so os mais cleres na deteco, mas tambm os que apresentam maior nmero de
falsos alarmes. Podem, no entanto, ser regulados, o que permitiria, de alguma forma, a supresso dos fumos emanados de
algumas operaes, como por exemplo de soldadura e corte. Essa regulao pode ser tanto ao nvel da sensibilidade do detector
como do tempo de resposta.
FIGURA 117
Exemplo de um detector de fumo
De acordo com o Decreto Regulamentar n. 9/90, de 19 de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n. 3/92, de 6 de Maro, que
estabelece a Regulamentao das Normas e Directivas de Proteco contra as Radiaes Ionizantes, parcialmente derrogado
pelo Decreto-Lei n. 165/2002,de 17 de Julho, a importao, produo, utilizao e transporte de materiais radioactivos, bem
como a importao, produo e instalao de equipamento produtor de radiaes para fins cientficos, mdicos ou industriais, e
ainda qualquer outra actividade que envolva produo de radiaes ionizantes, carecem de autorizao prvia da Direco-Geral
de Sade (DGS).
Os detectores inicos de fumo contm substncias radioactivas. Uma vez que existem solues alternativas para o mesmo fim,
devem ser instalados outros tipos de detectores de incndio, que no contenham este tipo de substncias na sua composio.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Por forma a detectar eficaz e precocemente um incndio numa Industria da Borracha e das Matrias Plsticas, como regra, a
melhor opo ser a instalao de um sistema com detectores pticos de fumo.
De acordo com o Regulamento Tcnico de Segurana contra Incndios de Edifcios (RTSCIE), aprovado pela Portaria n.
1532/2008, de 29 de Dezembro, a concepo dos sistemas de alarme podem ter uma das trs configuraes indicadas no quadro
seguinte.
QUADRO 71
Configuraes das instalaes de alarme
Configurao
Componentes e funcionalidade
1
Botes de accionamento de alarme
Detectores automticos
Central de sinalizao e
comando
Temporizaes
Fonte local de alimentao de emergncia
Difuso do alarme
x
x
Total
Parcial
No interior
No exterior
Alerta automtico
Comandos
Proteco
Todos os edifcios industriais, independentemente da sua categoria de risco, devem ser dotados de instalaes de alarme da
configurao 3. A excepo a esta regra so os estabelecimentos de 1. categoria de risco, exclusivamente acima do solo, que
podem ser dotadas de um sistema de alarme da configurao 2.
6.14.2 Combate a incndios
O combate a um incndio tem como objectivo bvio a sua extino. Esta pode ser conseguida por aco sobre um ou mais dos
vrtices que compem o tetraedro do fogo, nomeadamente:
Afastando o combustvel do alcance do fogo ou dividindo-o em focos de incndio mais pequenos e facilmente extinguveis;
Suprindo ou limitando o oxignio, o que pode ser efectuado circunscrevendo o fogo a um espao, impedindo assim o
acesso de oxignio (asfixia), ou cobrindo os focos com substncias incombustveis (areia, espuma, etc.) que impeam o seu
contacto com o ar (abafamento);
Limitando a temperatura, lanando gua sobre o fogo ou outras substncias que absorvam o calor desenvolvido;
Interrompendo a reaco em cadeia, por exemplo por utilizao de hidrocarbonetos halogenados e de certos ps qumicos
secos, que removem radicais livres e impedem a propagao das chamas.
221
222
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Sistemas de extino
A escolha do sistema de extino deve ter em conta os factores presentes na instalao a proteger. Assim temos como principais
condicionantes:
O risco de incndio;
A rea a proteger;
A envolvente da rea a proteger;
O tipo de combustvel;
Quantidade de combustvel presente;
As condies ambientais do espao;
Os tipos de equipamentos presentes;
Grau de ocupao humana.
A anlise destes dados permitir uma escolha mais eficaz dos meios de extino a implementar e a sua disposio no terreno.
Agentes extintores
gua a gua , pela sua disponibilidade, baixo custo, facilidade de aplicao e inofensibilidade para o ser humano, o agente
extintor de aplicao ideal na grande generalidade dos fogos. No , contudo, um meio extintor universal, quer pela pouca
eficcia que apresenta em determinadas situaes, quer mesmo pela contra-indicao em determinadas aplicaes. , por
exemplo, totalmente desaconselhada a sua utilizao em fogos em locais com sistemas elctricos em carga e mesmo em fogos
de classe D, onde pode reagir com o combustvel (no caso do potssio, por exemplo, provoca uma reaco violenta). Tambm em
fogos de combustvel lquido, cujo fogo normalmente de grande intensidade, pode ocorrer a dissociao da gua em hidrognio
e oxignio, fornecendo ao incndio mais combustvel e comburente e provocando uma maior dificuldade no seu controlo. ,
portanto, um meio extintor indicado sobretudo para fogos da classe A.
FIGURA 118
Aplicabilidade do extintor de gua
Espumas este tipo de agente extintor actua de um modo semelhante gua, mas, pelas suas propriedades fsicas, tem maior
eficcia em incndios onde o combustvel lquido. Tambm tem como contra-indicaes os casos j indicados para a gua.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 119
Aplicabilidade do extintor de espuma
Ps Qumicos existem trs tipos de ps qumicos: BC, ABC e D. So assim designados pela capacidade de aplicao nas vrias
classes de fogos.
O p normal, o BC, o bicarbonato de sdio (ou de potssio), cuja eficcia se resume s classes de fogos B e C.
FIGURA 120
Aplicabilidade do extintor de p BC
Os ps polivalentes ABC so de fosfato monoamnico e representam uma evoluo dos ps BC.
FIGURA 121
Aplicabilidade do extintor de p ABC
Existem ainda os ps especiais, D, que actuam quase exclusivamente por sufocamento. Este tipo de ps de composio varivel
(grafite, cloreto de sdio, carbonato de sdio,..) consoante o tipo de metal presente.
FIGURA 122
Aplicabilidade do extintor de p D
223
224
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Gs Inerte O gs utilizado pode ser CO2 (anidrido carbnico) ou N2 (azoto). So dois os mecanismos de extino que ocorrem
atravs deste tipo de ataque ao fogo: por arrefecimento e por sufocamento.
O anidrido carbnico, quando libertado, sofre uma poderosa descompresso, levando quebra abrupta da temperatura. Deste
facto resulta o congelamento de partculas e vapor de gua contido na atmosfera, criando uma nuvem branca, pelo que este tipo
de meio extintor vulgarmente conhecido por neve carbnica. Pode ser utilizado em qualquer tipo de incndio e
particularmente aconselhvel para a extino de incndios em equipamentos elctricos, pois no danifica o material.
No caso do azoto, o arrefecimento no ocorre e pretende-se com a sua utilizao diminuir a quantidade de oxignio na atmosfera.
Tem por isso utilizao em zonas interiores.
Seleco e dimensionamento do agente extintor
O agente extintor deve ser seleccionado segundo a classe de fogos.
QUADRO 72
Seleco do agente extintor segundo a classe do fogo
Classes
de
Fogos
Configurao
gua em jacto gua pulverizada Espuma fsica
P normal
P polivalente
Ps especiais
CO2
Liqudos
Slidos
C
Legenda: Excelente Bom Aceitvel
Classes: A Slidos B Lquidos C Gases
No Conveniente
Inaceitvel
D Metais
De acordo com o RTSCIE, todas as instalaes industriais, independentemente da sua categoria de risco, devem ser equipadas
com extintores devidamente dimensionados e adequadamente distribudos, de forma que:
A distncia a percorrer de qualquer sada de um local de risco para os caminhos de evacuao at ao extintor mais
prximo no exceda 15 m.
Os extintores sejam distribudos de maneira que se disponha de um mnimo de produto extintor equivalente a 18 litros de
gua (produto extintor padro) por 500 m2 ou fraco de rea em que se situem;
Haja, pelo menos, 1 extintor por cada 200 m2 de pavimento do piso ou fraco;
Todos os locais de risco C sejam dotados de extintor;
As cozinhas, para alm de extintores, sejam dotadas de mantas ignfugas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 123
Manta ignfuga
Na ausncia de outro critrio devidamente justificado, devero ser utilizadas as seguintes equivalncias de produtos extintores:
1 kg de p qumico seco equivale a 2 L de gua;
1 kg de CO2 liquefeito corresponde a 1,34 L de gua;
1 Kg de derivados de halogenado corresponde a 3 L de gua.
O combate a incndios em instalaes da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas , normalmente, assegurado por dois
tipos de meios de extino de primeira interveno:
Extintores, cujo agente de extino se deve ajustar tipologia de fogo susceptvel de se desenvolver, designadamente em
funo do tipo de material combustvel presente;
rede de incndio armada (RIA), constituda por um conjunto adequado de bocas-de-incndio, normalizadas e
regularmente distribudas pelos locais de risco a proteger.
Em circunstncias mais exigentes ou especficas, recorre-se aos denominados meios de segunda interveno, tipicamente
constitudos por:
Grupos de motobombas normalizadas;
Hidrantes exteriores (bocas-de-incndio) assentes no solo;
Coluna seca (instalao existente em edifcios altos constituda por uma tubagem vazia, bocas-de-incndio armadas em
cada piso e uma alimentao na fachada dos mesmos ao nvel trreo).
No combate a incndios, hoje amplamente utilizado ainda um outro meio de caractersticas algo distintas as instalaes fixas
de extino. As instalaes automticas tipo sprinklers ou chuveiros so especialmente aconselhveis a grandes espaos de
armazenagem e outras reas onde a vigilncia e/ou a aco humana de deteco e combate esto, por algum motivo,
condicionadas. Estes dispositivos esto ligados a uma rede de gua (ou gua com espumfero) sob presso e esto munidos de
fusvel ou de uma ampola explosiva que rebenta a uma determinada temperatura. Cada chuveiro cobre determinada rea cujo
caudal funo do risco presente. Os sprinklers devem ser seleccionados convenientemente, conforme o tipo de extino que
so capazes de efectuar.
225
226
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 124
Sprinklers com dispositivo de deteco
FIGURA 125
Diversos tipos de sprinklers.
Extintores
Os extintores so meios de combate amplamente utilizados, por constiturem um meio rpido, simples e, se adequadamente
utilizado, eficaz como meio de primeira interveno no combate a incndios. Por este motivo, os extintores devem estar
colocados em locais bem visveis, correctamente assinalados e com uma disponibilidade espacial que permita a sua obteno de
forma clere.
FIGURA 126
Exemplos de colocao de extintores.
A Norma Portuguesa NP 4413:2006 define extintor como Aparelho que contm um agente extintor, o qual pode ser projectado e
dirigido para um fogo por aco de uma presso interna. Esta presso pode ser produzida por prvia compresso ou pela
libertao de um gs auxiliar.
So equipamentos de pequeno porte, que podem ser utilizados por uma pessoa adulta sem condicionalismos fsicos e cuja
utilizao de conhecimento geral. Normalmente so destinados utilizao de pessoas que ocupam o espao onde ocorre a
deflagrao, sejam elas estranhas ou no a esse local. Tm a vantagem adicional de poderem conter quase todos os agentes de
extino normalmente utilizados (gua, espumas, dixido de carbono, ps qumicos, halons), com excepo para a areia, o que
lhes confere uma ampla gama de utilizao.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Por outro lado, e no obstante a j referida simplicidade de utilizao, carecem de cuidados e modos especficos de utilizao,
verificao e manuteno. As regras bsicas para a adequada utilizao devem, em conformidade com as normas aplicveis,
constar do rtulo do extintor e as operaes de manuteno e, eventualmente, recarga devem ser asseguradas por servios
tcnicos especializados. boa prtica afixar junto dos extintores mais alguma informao simples, relacionada com a sua
utilizao e o combate s chamas.
FIGURA 127
Boa prtica ao afixar junto dos extintores informao relativa sua utilizao e ao combate s chamas
De acordo com o RTSCIE, os extintores no devem estar obstrudos nem ocultos, devem estar devidamente sinalizados e devem
ser colocados em suporte prprio de modo a que o seu manpulo fique a uma altura no superior a 1,2 m do pavimento e
localizados preferencialmente:
Nas comunicaes horizontais ou, em alternativa, no interior das cmaras corta-fogo, quando existam;
No interior dos grandes espaos e junto s suas sadas.
FIGURA 128
Localizao e sinalizao de extintores
227
228
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Devem ser observadas as regras tcnicas estabelecidas na norma NP 4413:2006 no que refere inspeco, manuteno e
recarga dos extintores.
A inspeco uma operao rpida pela qual se verifica se um extintor est ou no operacional e destina-se a dar uma razovel
segurana de que o extintor est completamente carregado e operacional. efectuada pelo utilizador e a sua periodicidade
dever ser, no mximo, trimestral. Aspectos a verificar:
O extintor est no local adequado e com a data de manuteno vlida;
O selo no est violado;
A etiqueta de manuteno se encontra legvel e em bom estado de conservao;
O estado externo geral do extintor se encontra em bom estado de conservao;
O extintor no tem o acesso obstrudo, est visvel e sinalizado;
As instrues de manuseamento em lngua portuguesa de acordo com a NP EN 3-7, esto visveis, legveis e no
apresentam danos;
A presso est correcta, caso exista manmetro.
FIGURA 129
Exemplo de uma lista de verificao para inspeco peridica de extintores
A manuteno a reviso do extintor, sendo uma operao detalhada e efectuada por entidades especializadas. Permite verificar
que o extintor actua com eficincia e segurana e por vezes origina a sua reparao ou substituio. Deve ser efectuada
anualmente.
Caso no se verifiquem algumas das conformidades anteriores deve promover-se a tomada de medidas correctivas adequadas.
Quando as circunstncias o requeiram, as inspeces devem realizar-se com maior frequncia.
Das intervenes realizadas dever ser efectuado e mantido um registo, sendo considerados registos de segurana para a
regulamentao de segurana contra incndios em edifcios. A recarga tambm uma operao efectuada por entidades
credenciadas para o efeito, que substituem ou reabastecem o agente extintor e/ou o gs propulsor.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 73
Manuteno e vida til mxima dos extintores segundo a norma NP 4413:2006
Tipo agente extintor
Manuteno (anexoB) (1)
gua, base de gua e
espuma
P qumico
1 ano
Manuteno adicional (2)
recarga (4) anexo C)
Ensaio de
presso
Vida til do
extintor
Aos 5, 10 e 15 anos
20 anos
Aos 5, 10 e 15 anos
20 anos
3)
20 anos
Todos os 10 anos
10 anos
30 anos
Halon
CO2
A manuteno deve ser efectuada a intervalos de 12 meses. admissvel uma tolerncia de quatro semanas, antes ou depois deste intervalo.
A substituio das peas no respeita estes intervalos sendo substitudas sempre que necessrio
(3)
A ttulo informativo, ver anexo G
(4)
Caso o tempo de vida til do agente extintor tenha sido excedido, ou o seu estado assim o aconselhe.
(1)
(2)
O xito da utilizao do extintor porttil depende dos seguintes factores:
Estar bem localizado, visvel e em boas condies de funcionamento;
Conter o agente extintor adequado ao tipo de fogo;
Ser utilizado na fase inicial do combate ao incndio;
O operador estar bem treinado.
Os extintores so classificados quanto ao:
Tipo de agente extintor;
sua mobilidade;
Modo de funcionamento;
eficcia de extino;
Quanto mobilidade podem ser:
Portteis;
Manuais, cujo peso igual ou inferior a 20 Kg;
Dorsais, cujo peso igual ou inferior a 30 Kg;
Mveis (sobre rodas);
Puxados manualmente;
Rebocveis.
229
230
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 130
Exemplos de extintores. A Porttil; B Transportvel
Quanto ao modo de funcionamento podem ser:
Presso permanente;
Presso no permanente.
FIGURA 131
Exemplos de extintores. A De presso permanente; B De presso no permanente
Redes de incndio armadas
A utilizao-tipo XII de 2. categoria ou superior deve ser servida com redes de incndio armadas (no se aplica s instalaes j
existentes), guarnecidas com bocas-de-incndio do tipo carretel, devidamente distribudas e sinalizadas.
A rede de incndio armada (RIA) um sistema hidrulico destinado interveno pelos ocupantes de um edifcio. A RIA
constituda por:
Bocas de incndio armadas, ou seja, os meios necessrios actuao imediata;
Condutas;
Fonte de abastecimento e pressurizao;
E ainda possui equipamentos de medio e controlo (se no existirem equipamentos de medio e controlo instalados na
RIA, dever existir, pelo menos, um manmetro que possa ser colocado em qualquer boca de incndio ou noutros pontos
da rede para controlo da presso, em repouso e em diversas situaes de funcionamento da instalao).
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A RIA uma instalao hidrulica mantida permanentemente em carga, pelo que, se trata assim de uma coluna hmida. Existem
colunas hmidas cujas bocas-de-incndio no esto equipadas, no podendo assim ser classificadas como uma RIA.
Bocas de incndio armadas
Uma boca de incndio armada (BIA) um equipamento da RIA que permite a aplicao de gua para combate a um incndio.
Existem BIA com trs dimetros: 25 mm, 45 mm e 70 mm.
FIGURA 132
Exemplo de um armrio com uma boca-de-incndio armada de 25 mm
Porm, as de 70 mm de dimetro, no esto normalizadas e so muito raras, podendo apenas encontrar-se em certas
instalaes industriais de elevado risco de incndio (indstria qumica, de papel, etc.).
Uma boca de incndio armada constituda, em regra, por um lano de mangueira com 20 m de comprimento, no mnimo,
guarnecido com agulheta e ligado canalizao da RIA por uma vlvula de controlo. Deve dispor ainda de meios de suporte da
mangueira e da agulheta, bem como de proteco do conjunto. A agulheta dever possuir, no mnimo, trs posies (fechada,
jacto e pulverizada, com abertura do cone de gua superior a 90) e, no caso de cobrir reas com elevada carga de incndio,
dever tambm permitir a existncia de uma cortina de proteco dos utilizadores.
As bocas de incndio com dimetro de 25 mm esto normalizadas (NP EN 671-1) e so equipadas com uma mangueira semirgida enrolada em carretel, designando-se normalmente por carretel de incndio.
FIGURA 133
Carretel de incndio
231
232
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Dadas as suas caractersticas, os carretis de incndio so de mais fcil utilizao do que os restantes tipos de bocas de incndio
armadas, uma vez que:
Podem operar sem que toda a mangueira seja desenrolada;
A progresso (extenso da mangueira at ao seu comprimento mximo) relativamente fcil dado que o seu peso
reduzido;
A reaco da agulheta baixa, pois o caudal tambm baixo, o que facilita a manobra da agulheta mesmo por uma nica
pessoa.
Os inconvenientes:
O caudal relativamente baixo (100 a 150 L/min) pelo que s devem ser instalados em locais com carga de incndio baixa;
O alcance tambm relativamente baixo na posio de jacto entre 15 e 18 m, para uma presso de 5 bar;
A sua mangueira no se interliga facilmente com as utilizadas pelos bombeiros.
Os carretis de incndio armados devem possuir as caractersticas definidas na Norma Portuguesa NP EN 671-1 e so equipados
com o seguinte material:
Armrio (opcional);
Boca de incndio normalizada ( = 25 mm) com vlvula de manobra (fecho manual);
Lano de mangueira semi-rgida ( = 25 mm) e respectivas unies, com uma delas ligada conduta de alimentao. O
seu comprimento mximo de 30 m;
Uma agulheta de trs posies ( = 25 mm) ligada na outra unio;
Tambor de alimentao axial para enrolamento de mangueira;
Orientador da mangueira (opcional).
O tambor roda em torno de um eixo, podendo ser fixo (rodando num s plano) ou mvel, rodando em vrios planos (suportado por
brao, alimentao ou porta giratrios). O dimetro interior mnimo do tambor deve ser de 200 mm e dispor de abas laterais de
proteco e encaminhamento da mangueira cujo dimetro mximo de 880 mm.
As bocas de incndio armadas de 45 mm tambm esto normalizadas (NP EN 671-2) e possuem um lano de mangueira flexvel
de 45 mm que pode estar enrolada ou acamada. Tradicionalmente as bocas de incndio armadas de 45 mm (figura 134) so
conhecidas pela designao tipo teatro.
FIGURA 134
Exemplo de bocas de incndio armadas tipo teatro
MANUAL DE BOAS PRTICAS
As suas principais caractersticas funcionais so as seguintes:
necessrio desenrolar a totalidade da mangueira e garantir que no ficam dobras antes de se abrir a gua. Assim,
recomenda-se a presena de uma pessoa para alm das necessrias operao da agulheta;
O caudal a considerar da ordem dos 200 a 300 L/min para as mangueiras de 45 mm e de 350 a 750 L/min para as
magueiras de 70 mm;
A reaco da agulheta elevada, pelo que exige duas pessoas para a sua operao;
As mangueiras tm tendncia a danificar-se mais rapidamente do que as dos carreteis de incndio, em especial quando
esto montadas na forma acamada.
Aspectos relevantes na concepo e dimensionamento de uma RIA:
Escolha do tipo de BIA;
Distribuio das BIA;
Localizao das BIA;
Dimensionamento da canalizaes da rede;
Escolha e dimensionamento do tipo de alimentao da RIA.
Assim, quanto ao tipo de BIA, estas podem-se classificar em:
Carretel;
Tipo teatro.
A escolha depende do tipo de risco dos espaos a proteger e da capacidade de interveno dos respectivos ocupantes, tendo por
base as caractersticas funcionais dos tipos de BIA.
O risco dos espaos a proteger determinante face capacidade dos ocupantes, j que estes podero, sempre, frequentar
aces de formao e treino para os habilitar a intervir com os meios mais adequados ao risco.
No que se refere distribuio das BIA, esta deve ser efectuada em funo do risco e do tipo de ocupao, segundo o RTSCIE:
O comprimento das mangueiras utilizadas permita atingir, no mnimo, por uma agulheta, uma distncia no superior
a 5 m de todos os pontos do espao a proteger;
A distncia entre as bocas no seja superior ao dobro do comprimento das mangueiras utilizadas;
Exista uma boca-de-incndio nos caminhos horizontais de evacuao junto sada para os caminhos verticais, a uma
distncia inferior a 3 m do respectivo vo de transio;
Exista uma boca-de-incndio junto sada de locais que possam receber mais de 200 pessoas.
233
234
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 135
Exemplo de distribuio das BIA com as coberturas possveis de cada uma delas (mangueira com 20 m)
Quanto sua localizao, deve atender-se ao seguinte:
Devem situar-se no edifcio, preferencialmente no interior, to perto quanto possvel dos acessos aos espaos a proteger;
O acesso deve ser deixado sempre desimpedido de qualquer obstculo que prejudique a sua manobra e a utilizao da
mangueira, sendo usual garantir uma rea livre mnima de 1m centrada na BIA, no sentido da sua utilizao;
As BIA tipo teatro devem ficar a uma altura do solo compreendida entre 1,0 m e 1,5 m;
As BIA tipo carretel podem estar localizadas a qualquer altura, mas a sua vlvula de manobra e a agulheta devem ficar a
uma altura do solo no superior a 1,5 m;
No devem ser colocadas nas caixas de escada e suas antecmaras, sendo aceitvel a colocao em antecmaras ou
patamares, se no constiturem obstculo circulao de pessoas em evacuao.
No que respeita s regras gerais de dimensionamento das canalizaes da RIA, deve atender-se ao seguinte:
Dever garantir uma presso de pelo menos 2,5 bar nas BIA tipo carretel e, pelo menos 4 bar, nas tipo teatro, no ponto de
cota mais elevada ou na BIA que for considerada em posio mais desfavorvel;
O caudal a considerar nesta medio ser o correspondente ao funcionamento simultneo de metade das bocas de
incndio da RIA, com um mximo de quatro;
Os valores mnimos dos dimetros das canalizaes gerais da RIA devero ser:
50 mm, para uma ou duas BIA tipo teatro;
70 mm, para trs a seis BIA tipo teatro;
100 mm, para mais de seis BIA tipo teatro.
O material das canalizaes vista da RIA no pode ser plstico;
Quando na RIA existirem desnveis acentuados, devem instalar-se vlvulas de reteno;
A canalizao da RIA deve ser em anel, em especial se o nmero de BIA for igual ou superior a quatro;
Os caudais de referncia normalmente adoptados so da ordem de:
9 a 15 m/h (150 a 250 L/min), para uma BIA tipo teatro;
4,8 a 7,5 m/h (80 a 125 L/min), para uma BIA tipo carretel.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O abastecimento de gua para o servio de incndio depende de vrios factores:
Risco de incndio a proteger, nomeadamente a carga de incndio existente;
O tipo de instalao hidrulica existente: RIA, hidrantes exteriores, sistema de sprinklers, etc;
O nmero de dispositivos da instalao previstos para actuar em simultneo e caudal nominal;
A autonomia necessria (definida em funo da durao prevista para as operaes de extino);
Capacidade da rede pblica de abastecimento de gua.
6.15 ORGANIZAO DA EMERGNCIA
Os acidentes e situaes de emergncia so sempre eventos inesperados, nos quais a falta de conhecimentos/formao aliada
escalada de acontecimentos e perda de controlo, impede a resposta imediata imprescindvel por forma a impedir a evoluo das
suas dimenses. Torna-se imperioso uma atitude pr-activa, na previso das falhas possveis e suas consequncias, a fim de
dotar a instalao de meios materiais e organizar e treinar os meios humanos disponveis, por forma a dar uma resposta eficaz e
to rpida quanto possvel.
A organizao deve identificar o potencial de ocorrncia de acidentes e situaes de emergncia, e ser capaz de reagir de modo a
prevenir e minimizar os efeitos que lhes possam estar associados.
Segundo as Normas NP 4397/2008 e OHSAS 18001:2008 (Sistemas de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho (SST)
Requisitos), a organizao deve estabelecer, implementar e manter um ou mais procedimentos para:
a) Identificar as potenciais situaes de emergncia;
b) Responder s situaes de emergncia identificadas.
A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e prevenir ou mitigar as consequncias adversas para a SST
associadas. Ao planear a resposta a emergncias, a organizao deve tomar em conta as necessidades das partes interessadas
relevantes, por exemplo, servios de emergncia e vizinhana.
6.15.1 Procedimentos em caso de emergncia e plano de emergncia interno
O plano de emergncia interno deve apresentar as seguintes caractersticas:
Simplicidade - Ao ser elaborado de forma simples e concisa, ser bem compreendido, evitando confuses e erros por
parte dos intervenientes.
Preciso - Deve ser claro na atribuio de funes e responsabilidades em emergncia;
Adequao - O plano tem de estar adequado organizao e aos meios humanos e materiais disponveis;
Flexibilidade - Um plano no pode ser rgido, devendo permitir a sua adaptao a situaes diferentes dos cenrios
inicialmente previstos;
Dinamismo - um documento dinmico, sendo alterado sempre que pertinente.
De acordo com o regulamento SCIE (DL n. 220/2008 e Portaria n. 1532/2008) no que respeita s medidas de auto-proteco,
necessrio elaborar procedimentos em caso de emergncia (categoria de risco 2) ou plano de emergncia interno (categorias de
risco 3 e 4).
235
236
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Procedimentos em caso de emergncia
Os procedimentos e as tcnicas de actuao em caso de emergncia, devem contemplar no mnimo:
Os procedimentos de alarme, a cumprir em caso de deteco ou percepo de um incndio;
Os procedimentos de alerta;
Os procedimentos a adoptar para garantir a evacuao rpida e segura dos espaos em risco;
As tcnicas de utilizao dos meios de primeira interveno e de outros meios de actuao em caso de incndio que
sirvam os espaos da utilizao-tipo;
Os procedimentos de recepo e encaminhamento dos bombeiros.
Plano de emergncia interno
So objectivos do plano de emergncia interno:
Sistematizar a evacuao dos ocupantes que se encontrem em risco,
Limitar a propagao e as consequncias dos incndios, recorrendo a meios prprios.
O plano de emergncia interno deve ser constitudo por:
Pela definio da organizao a adoptar em caso de emergncia;
Pela indicao das entidades internas e externas a contactar em situao de emergncia;
Pelo plano de actuao;
Pelo plano de evacuao;
Por um anexo com as instrues de segurana;
Por um anexo com as plantas de emergncia, podendo ser acompanhadas por esquemas de emergncia
O plano de emergncia interno e os seus anexos devem ser actualizados sempre que as modificaes ou alteraes efectuadas o
justifiquem.
No posto de segurana deve estar disponvel um exemplar do plano de emergncia interno.
Plano de actuao
O plano de actuao deve contemplar a organizao das operaes a desencadear por delegados e agentes de segurana em
caso de ocorrncia de uma situao perigosa e os procedimentos a observar, abrangendo:
O conhecimento prvio dos riscos presentes nos espaos afectos utilizao-tipo, nomeadamente nos locais de risco C, D e F;
Os procedimentos a adoptar em caso de deteco ou percepo de um alarme de incndio;
A planificao da difuso dos alarmes restritos e geral e a transmisso do alerta;
A coordenao das operaes previstas no plano de evacuao;
A activao dos meios de primeira interveno que sirvam os espaos da utilizao-tipo, apropriados a cada
circunstncia, incluindo as tcnicas de utilizao desses meios;
A execuo da manobra dos dispositivos de segurana, designadamente de corte da alimentao de energia elctrica e
de combustveis, de fecho de portas resistentes ao fogo e das instalaes de controlo de fumo;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A prestao de primeiros socorros;
A proteco de locais de risco e de pontos nevrlgicos da utilizao-tipo;
O acolhimento, informao, orientao e apoio dos bombeiros;
A reposio das condies de segurana aps uma situao de emergncia.
O primeiro passo para a elaborao de procedimentos e planos de preveno e actuao eficientes e eficazes a identificao
perigos/riscos, isto a identificao de potenciais situaes de emergncia. As situaes de emergncia mais comuns por causa,
so as seguintes:
Naturais
Tecnolgicas
Raio
Incndio
Inundaes
Exploso
Ventos/Tempestades
Colapso de edifcio
Sismos
Derrame de lquidos inflamveis
Sociais
Derrame ou fuga de substncias txicas
Exposio a radiaes ionizantes
Ameaa de bomba
Emergncia mdica (acidente de trabalho ou doena sbita)
Sequestro/Assalto
Greves
Os riscos podem ainda dividir-se em riscos de origem interna e riscos de origem externa.
Deve ser efectuada uma identificao o mais aprofundada possvel tendo em conta no s a anlise emprica com base nas
componentes materiais do trabalho (instalaes, equipamentos, materiais) mas tambm a anlise de situaes passadas na
empresa ou em empresas anlogas.
Outro aspecto muito importante na fase de planeamento a caracterizao das instalaes, equipamentos, materiais, recursos
humanos, meios de preveno e reaco.
Instalaes
Caractersticas construtivas, incluindo resistncia ao fogo dos
elementos;
Vias de evacuao e sadas de emergncia;
Vias de acesso aos meios de preveno e reaco;
Vias de acesso para os meios externos (Bombeiros, INEM, ANPC);
Locais para ponto de encontro;
Envolvente (zona industrial, zona urbana, rea florestal, curso de
gua) importante identificar tambm de que forma pode ser
afectada em funo de cada cenrio de emergncia e quais as
entidades a ser contactadas;
237
238
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Meios de preveno e reaco
Sistemas de deteco;
Sistemas de alarme e alerta;
Sistemas de extino automticos;
Sistemas de desenfumagem e selagem/compartimentao;
Sinalizao e iluminao de emergncia;
Kits para reaco a derrames, bacias e reservatrios de
conteno de derrames e sistemas de drenagem;
Meios de primeiros socorros (chuveiros e lava-olhos de
emergncia, macas, caixas de primeiros socorros);
Equipamentos de proteco respiratria e fatos de proteco;
Meios de primeira interveno (extintores, bocas de incndio com
mangueira semi-rgida tipo carretel);
Meios de segunda interveno (bocas de incndio com mangueira
flexvel tipo teatro, marcos de incndio) A rede de incndio
armada deve estar perfeitamente caracterizada quanto presso,
caudal instantneo, disponibilidade de gua;
Corte de energia elctrica, gs, ar comprimido, ar condicionado (e
outros fluidos) (Vlvulas de seccionamento, interruptores e
disjuntores crticos).
Pontos nevrlgicos (pontos especiais a proteger, que podem ser
necessrios interveno alm dos meios acima referidos)
Central de bombagem da rede de incndio;
Gerador de emergncia (ou outras fontes de energia de
emergncia);
UPS;
Centrais de comando;
Posto de segurana;
Zonas de refgio.
Pontos crticos (com risco acrescido de incndio)
Zonas/pontos de armazenagem/transporte/manuseamento de
produtos inflamveis, explosivos e/ou txicos e nocivos;
Caldeiras, compressores, postos de transformao;
PRM (posto de reduo e monitorizao de gs natural);
Redes e reservatrios de gs combustvel;
Equipamentos produtivos de maior risco (por questes elctricas,
trmicas, dos produtos utilizados, etc);
Silos de armazenamento.
Recursos humanos
N. de pessoas;
Distribuio por horrio de funcionamento e por local de trabalho;
Locais de concentrao de pessoas (p.e. refeitrio);
Controlo de entradas de terceiros;
Pessoas com necessidades especiais.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A organizao em situao de emergncia deve contemplar:
Os organogramas hierrquicos e funcionais do servio de segurana contra Incndios cobrindo as vrias fases do
desenvolvimento de uma situao de emergncia, nomeadamente as actividades descritas nos planos de actuao e de
evacuao;
A identificao dos delegados e agentes de segurana componentes das vrias equipas de interveno, respectivas
misses e responsabilidades, a concretizar em situaes de emergncia.
Plano de evacuao
O plano de evacuao deve contemplar as instrues e os procedimentos, a observar por todo o pessoal relativos articulao
das operaes destinadas a garantir a evacuao ordenada, total ou parcial, dos espaos considerados em risco pelo RS e
abranger:
O encaminhamento rpido e seguro dos ocupantes desses espaos para o exterior ou para uma zona segura, mediante
referenciao de vias de evacuao, zonas de refgio e pontos de encontro;
O auxlio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade, de forma a assegurar que ningum fique bloqueado;
A confirmao da evacuao total dos espaos e garantia de que ningum a eles regressa.
A elaborao do plano de evacuao deve basear-se na recolha e anlise das seguintes informaes:
Inventrio dos riscos potenciais (incndio, fuga de gs, alerta de bomba, sismo, etc);
Recenseamento das pessoas a ser evacuadas, suas caractersticas e localizao;
Percurso e dimensionamento das vias de comunicao horizontais e verticais;
Programao, em funo das diversas eventualidades, da evacuao das diversas zonas do estabelecimento;
Escolha dos itinerrios que melhor se adaptem a cada caso;
Determinao do nmero de pessoas necessrio para enquadrar a evacuao dos ocupantes;
Compatibilidade das solues encontradas com os meios existentes.
Plantas de emergncia
As plantas de emergncia, a elaborar para cada piso da utilizao-tipo, quer em edifcios quer em recintos, devem:
Ser afixadas em posies estratgicas junto aos acessos principais do piso a que se referem;
Ser afixadas nos locais de risco D e E e nas zonas de refgio.
As plantas de emergncia devem conter, em relao a cada piso:
As vias de evacuao e a localizao das respectivas sadas;
A implantao dos extintores, bocas-de-incndio e outros a utilizar em caso de incndio (botoneiras de alarme, por
exemplo);
A localizao dos quadros elctricos, vlvulas de corte de gs, vlvulas de manobra da rede de combate a incndios e
outras informaes complementares julgadas convenientes;
Instrues gerais de segurana
239
240
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 136
Simbologia a aplicar em plantas de emergncia (NP 4386)
Instrues de segurana
Independentemente da categoria de risco, devem ser elaboradas e afixadas instrues de segurana especificamente destinadas
aos ocupantes dos locais de risco C, D, E e F.
As instrues de segurana a que se refere o nmero anterior devem:
Conter os procedimentos de preveno e os procedimentos em caso de emergncia aplicveis ao espao em questo;
Ser afixadas em locais visveis, designadamente na face interior das portas de acesso aos locais a que se referem;
Nos locais de risco D e E, ser acompanhadas de uma planta de emergncia simplificada, onde constem as vias de
evacuao que servem esses locais, bem como os meios de alarme e os de primeira interveno.
Quando numa dada utilizao-tipo no for exigvel, nos termos do presente regulamento, procedimentos ou plano de emergncia
interno, devem ser afixadas, nos mesmos locais, instrues de segurana simplificadas, incluindo:
Procedimentos de alarme, a cumprir em caso de deteco ou percepo de um incndio;
Procedimentos de alerta;
Tcnicas de utilizao dos meios de primeira interveno e de outros meios de actuao em caso de incndio que
sirvam os espaos da utilizao-tipo.
Devem ainda existir instrues gerais de segurana nas plantas de emergncia.
As instrues de segurana podem incluir:
Instrues gerais de segurana, destinadas totalidade dos ocupantes do estabelecimento;
Instrues particulares de segurana, respeitantes segurana dos locais que apresentam riscos particulares;
Instrues especiais de segurana, abrangendo apenas pessoal encarregado de promover o alerta, coordenar a evacuao
do edifcio e executar as operaes destinadas a circunscrever o sinistro at chegada dos meios de socorro, i.e. as
equipas de apoio, interveno, evacuao e primeiros socorros.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Instrues gerais de segurana contra riscos de incndio:
As instrues gerais de segurana contra riscos de incndio, devem conter as aces a adoptar pelas pessoas em geral, como
por exemplo: dar o alarme e o alerta (se for o caso), instrues para desocupao do posto de trabalho, utilizao de extintores
(se estiver previsto), evacuao em segurana, e devem ser afixadas em pontos estratgicos do estabelecimento em particular
junto das entradas, de forma a proporcionar uma ampla divulgao.
Estas instrues devem ainda ser afixadas conjuntamente com as plantas de emergncia.
Instrues particulares de segurana contra riscos de incndio.
Estas instrues destinam-se aos locais que apresentam riscos particulares como por exemplo:
Posto de transformao;
Caldeiras;
Oficinas de manuteno ou de reparao;
Locais de armazenamento de matrias perigosas.
Para alm das proibies de fumar ou foguear, estas instrues devem definir de forma pormenorizada os procedimentos a
adoptar em caso de emergncia;
As instrues particulares de segurana para alm de constarem no plano de emergncia devem ser afixadas junto da porta de
acesso aos respectivos locais.
Instrues especiais de segurana contra riscos de incndio:
Estas instrues, que abrangem apenas o pessoal designado para executar as tarefas definidas no plano de emergncia, devem indicar
quais as aces especficas de cada interveniente na estrutura de emergncia e incidem especialmente sobre os seguintes pontos:
Reconhecimento, alarme, alerta (devem estar previamente estabelecidos os procedimentos de alarme internos em funo
da situao e o alerta e contacto com as entidades externas);
Operaes de apoio (podem incluir o reconhecimento, alarme e alerta, o corte de electricidade e gs, o arranque das
fontes de energia de emergncia, a manuteno e fornecimento equipa de interveno dos meios de combate a incndio,
a proteco dos pontos nevrlgicos e crticos, preparao das vias de acesso dos socorros exteriores e encaminhamento
dos bombeiros para a zona sinistrada entre outros);
Operaes de interveno (incluem a actuao propriamente dita: utilizao de meios de combate a incndio, utilizao
dos meios de reaco a derrames, conteno de fugas, manuteno da integridade do edifcio, entre outros);
Operaes de evacuao (incluem a organizao e orientao da evacuao e controlo das pessoas, incluindo visitantes);
Operaes de primeiros socorros (incluem a recepo e o socorro mdico imediato aos sinistrados);
Relaes externas (inclui o contacto com entidades competentes (p.e. ANPC, ARH), responsveis de empresas vizinhas,
imprensa);
Rescaldo (inclui as operaes ps-emergncia para assegurar a reposio das condies normais de funcionamento e
confirmao da segurana das instalaes);
Avaliao e anlise (inclui a anlise das causas da emergncia e avaliao da actuao e dos danos e a definio de
estratgias de actuao, da necessidade de reviso de procedimentos e/ou meios).
241
242
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A formao e treino dos intervenientes de extrema importncia para o sucesso da actuao.
A manuteno adequada dos meios e a realizao de verificaes peridicas determinante para assegurar a sua
operacionalidade.
FIGURA 137
Instruo de segurana (resposta a situao de Incndio)
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.15.2 Organizao de segurana
Para concretizao das medidas de autoproteco, o responsvel de segurana estabelece a organizao necessria, recorrendo
a funcionrios, trabalhadores e colaboradores das entidades exploradoras dos espaos ou a terceiros.
Durante os perodos de funcionamento das utilizaes-tipo deve ser assegurada a presena simultnea do seguinte nmero
mnimo de elementos da equipa de segurana:
QUADRO 74
Nmero mnimo de elementos na SSI de acordo com a categoria de risco da empresa
Utilizao-tipo
Categorias de risco
Nmero mnimo de elementos da equipa
1a
Um
2a
Trs
3a
Cinco.
4a
Oito
XII
Durante os perodos de funcionamento, o posto de segurana deve ser mantido ocupado, em permanncia, no mnimo por um
agente de segurana.
Nas situaes em que seja exigvel a existncia de um plano de emergncia interno, deve ser implementado um Servio de
Segurana contra Incndio (SSI), constitudo por um delegado de segurana com as funes de chefe de equipa e pelo nmero de
elementos adequado dimenso da utilizao-tipo e categoria de risco, com a configurao mnima indicada acima.
O SSI deve ser constitudo, por iniciativa do RS, por pessoas de reconhecida competncia em matria de SCIE, de acordo com
padres de certificao para os vrios perfis funcionais a integrar.
Na definio da organizao (estrutura) de emergncia, deve-se ter em conta as capacidades (conhecimentos, experincia,
caractersticas fsicas e comportamentais) de cada pessoa na formao das equipas, os meios e as aces a desenvolver de forma a
assegurar meios humanos suficientes e adequados para as desenvolver. Um exemplo de estrutura de emergncia a seguinte:
FIGURA 138
Exemplo de estrutura de emergncia
Posto de segurana
Delegado de
segurana
Responsvel relaes
externas e rescaldo
Equipa de apoio
Chefe da equipa de
actuao e evacuao
Equipa de primeiros
socorros
Equipa inverveno
Equipa de evacuao
De salientar que, independentemente da categoria de risco deve ser estabelecida a organizao de segurana necessria.
243
244
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.15.3 Formao em segurana contra incndio
Devem possuir formao no domnio da segurana contra incndio:
Os funcionrios e colaboradores das entidades exploradoras dos espaos afectos s utilizaes-tipo;
Todos as pessoas que exeram actividades profissionais por perodos superiores a 30 dias por ano nos espaos afectos
s utilizaes-tipo;
Todos os elementos com atribuies previstas nas actividades de autoproteco.
As aces de formao, a definir em programa estabelecido por cada RS, podero consistir em:
Sensibilizao para a segurana contra incndio, constantes de sesses informativas que devem cobrir o universo dos
destinatrios referidos no ponto acima, com o objectivo de:
- Familiarizao com os espaos da utilizao-tipo e identificao dos respectivos riscos de incndio;
- Cumprimento dos procedimentos genricos de preveno contra incndios ou, caso exista, do plano de preveno;
- Cumprimento dos procedimentos de alarme;
- Cumprimento dos procedimentos gerais de actuao em caso de emergncia, nomeadamente dos de evacuao;
- Instruo de tcnicas bsicas de utilizao dos meios de primeira interveno, nomeadamente os extintores portteis;
Formao especfica destinada aos elementos que, na sua actividade profissional normal, lidam com situaes de maior
risco de incndio, nomeadamente os que a exercem em locais de risco C, D ou F;
Formao especfica para os elementos que possuem atribuies especiais de actuao em caso de emergncia,
nomeadamente para:
- A emisso do alerta;
- A evacuao;
- A utilizao dos comandos de meios de actuao em caso de incndio e de segunda interveno, que sirvam os
espaos da utilizao-tipo;
- A recepo e o encaminhamento dos bombeiros;
- A direco das operaes de emergncia;
- Outras actividades previstas no plano de emergncia interno, quando exista.
6.15.4 Registos de segurana
O RS deve garantir a existncia de registos de segurana, destinados inscrio de ocorrncias relevantes e guarda de
relatrios relacionados com a segurana contra incndio, devendo compreender, designadamente:
Os relatrios de vistoria e de inspeco ou fiscalizao de condies de segurana realizadas por entidades externas,
nomeadamente pelas autoridades competentes;
Informao sobre as anomalias observadas nas operaes de verificao, conservao ou manuteno das instalaes
tcnicas, dos sistemas e dos equipamentos de segurana, incluindo a sua descrio, impacte, datas da sua deteco e
durao da respectiva reparao;
A relao de todas as aces de manuteno efectuadas em instalaes tcnicas, dos sistemas e dos equipamentos de
segurana, com indicao do elemento intervencionado, tipo e motivo de aco efectuada, data e responsvel;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A descrio sumria das modificaes, alteraes e trabalhos perigosos efectuados nos espaos da utilizao- tipo,
com indicao das datas de seu incio e finalizao;
Os relatrios de ocorrncias, directa ou indirectamente relacionados com a segurana contra incndio, tais como
alarmes intempestivos ou falsos, princpios de incndio ou actuao de equipas de interveno da utilizao-tipo;
Cpia dos relatrios de interveno dos bombeiros, em incndios ou outras emergncias na entidade;
Relatrios sucintos das aces de formao e dos simulacros, com meno dos aspectos mais relevantes.
Os registos de segurana devem ser arquivados perodo de 10 anos.
A Organizao deve analisar e rever periodicamente o seu estado de prontido para emergncias, bem como os procedimentos e
planos de resposta, particularmente, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes de emergncia. Devem ser testados
periodicamente os procedimentos, no modo e na extenso em que tal se mostre praticvel.
6.15.5 Simulacros
Nas utilizaes-tipo que possuam plano de emergncia interno devem ser realizados exerccios com os objectivos de teste do
referido plano e de treino dos ocupantes, com destaque para as equipas de actuao e evacuao, com vista criao de rotinas
de comportamento e de actuao, bem como ao aperfeioamento dos procedimentos em causa.
Na realizao dos simulacros:
Devem ser observados os seguintes perodos mximos entre exerccios:
Utilizao-tipo
Categorias de risco
2.a ,3.a
Perodo mximos entre exerccios
Dois anos
XII
4.a
Um ano
Os exerccios devem ser devidamente planeados, executados e avaliados, com a colaborao eventual do corpo de
bombeiros em cuja rea de actuao prpria se situe a utilizao-tipo e de coordenadores ou de delegados da proteco
civil;
A execuo dos simulacros deve ser acompanhada por observadores que colaboraro na avaliao dos mesmos, tarefa
que pode ser desenvolvida pelas entidades referidas na alnea anterior;
Deve ser sempre dada informao prvia aos ocupantes da realizao de exerccios, podendo no ser rigorosamente
estabelecida a data e ou hora programadas.
Os exerccios prticos devem ter como objectivo testar a eficcia das fases mais crticas dos planos de emergncia e testar a
integridade do processo do planeamento da emergncia. Os resultados dos exerccios devem ser avaliados e implementadas as
mudanas que se mostrem necessrias.
A realizao de simulacros permite alm de testar os meios, treinar as pessoas para reaco s situaes de emergncia. Os
exerccios devem ser realizados de acordo com uma programao predeterminada. Cada simulacro deve ser adequadamente
planeado e definidos os resultados esperados (por exemplo: tempos de actuao) para que se possa no final proceder avaliao
da eficcia da actuao face ao previsto deve ser mantido um registo dos exerccios realizados, da avaliao quer da prpria
organizao do simulacro em si, quer da actuao durante o mesmo, das aces recomendadas e acompanhamento da sua
implementao
245
246
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 139
Exemplo de programa anual de simulacros.
6.15.6 Plano de segurana interno
Para as UT das 3. e 4. categorias que devem possuir plano de preveno, plano de emergncia interno e registos de segurana,
estes elementos constituem o plano de segurana interno (segundo o DL n. 220/2008).
Segundo o Decreto-Lei n. 220/2008 (artigo 34.):
Para efeitos de apreciao das medidas de autoproteco a implementar o processo enviado ANPC (Autoridade
Nacional de Proteco Civil), por via electrnica, nos seguintes prazos:
At aos 30 dias anteriores entrada em utilizao, no caso de obras de construo nova, alterao, ampliao ou
mudana de uso;
No prazo mximo de um ano, aps a data de entrada em vigor do Decreto-Lei n. 220/2008 (entrada em vigor no dia
1/1/2009) para o caso de edifcios e recintos existentes quela data, ou seja at 1/1/2010.
Seguidamente apresentam-se alguns aspectos relevantes para a organizao da emergncia relacionados com as condies
gerais de equipamentos e sistemas de segurana e de evacuao de acordo com a Portaria n. 1532/2008.
6.15.7 Sinalizao e iluminao de emergncia
Sistema de iluminao e sinalizao de emergncia - Para facilitar a evacuao dos edifcios, instala-se sinaltica colocada em
blocos autnomos de iluminao, que mesmo em caso de corte da energia elctrica permanece por bastante tempo acesa. Este
sistema de iluminao de emergncia permite, para alm de orientar a sada das pessoas, iluminar os caminhos de evacuao,
reduzindo assim o pnico das pessoas.
Iluminao de emergncia
Os espaos de edifcios e recintos para alm de possurem iluminao normal, devem tambm ser dotados de um sistema
de iluminao de emergncia de segurana e, em alguns casos, de um sistema de iluminao de substituio.
A iluminao de emergncia compreende a:
Iluminao de ambiente, destinada a iluminar os locais de permanncia habitual de pessoas, evitando situaes de
pnico;
Iluminao de balizagem ou circulao, com o objectivo de facilitar a visibilidade no encaminhamento seguro das
pessoas at uma zona de segurana e, ainda, possibilitar a execuo das manobras respeitantes segurana e
interveno dos meios de socorro.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A autonomia de funcionamento da iluminao de ambiente e de balizagem ou circulao deve ser a adequada ao tempo de
evacuao dos espaos que serve, com um mnimo de 15 minutos.
Nos locais de risco B, C devem ser instalados aparelhos de iluminao de ambiente.
6.15.8 Vias de evacuao e sadas de emergncia
Condies gerais de evacuao - Critrios de segurana
Os espaos interiores dos edifcios devem ser organizados para permitir que, em caso de incndio, os ocupantes possam
alcanar um local seguro no exterior pelos seus prprios meios, de modo fcil, rpido e seguro:
Os edifcios devem dispor de sadas, em nmero e largura suficientes, convenientemente distribudas e devidamente
sinalizadas;
As vias de evacuao devem ter largura adequada e, quando necessrio, ser protegidas contra o fogo, o fumo e os gases
de combusto;
As distncias a percorrer devem ser limitadas.
As portas de locais de risco C devem abrir no sentido da sada.
Nmero de sadas
O critrio geral para clculo do nmero mnimo de sadas que servem um local de um edifcio ou recinto coberto em
funo do seu efectivo, :
Efectivo
Nmero mnimo de sadas
1 a 50
Uma
51 a 1500
Uma por 500 pessoas ou fraco
1501 a 3000
Uma por 500 pessoas ou fraco
Mais de 3000
Nmero condicionado pelas distncias a percorrer no
local, com um mnimo de seis
No so consideradas para o nmero de sadas utilizveis em caso de incndio, as que forem dotadas de:
Portas giratrias ou de deslizamento lateral no motorizadas;
Portas motorizadas e obstculos de controlo de acesso excepto se, em caso de falta de energia ou de falha no sistema
de comando, abrirem automaticamente por deslizamento lateral, recolha ou rotao, libertando o vo respectivo em
toda a sua largura, ou poderem ser abertas por presso manual no sentido da evacuao por rotao, segundo um
ngulo no inferior a 90.
247
248
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Distncias a percorrer nos locais
Distncia mxima a percorrer nos locais de permanncia em edifcios at ser atingida a sada mais prxima, para o
exterior ou para uma via de evacuao protegida (situao geral):
15 m nos pontos em impasse;
30 m nos pontos com acesso a sadas distintas.
Distncia mnima a percorrer nos caminhos de evacuao dos locais (UT XII):
Categorias de risco
Categorias de risco
Ponto com alternativa de fuga
1.a
25 m
80 m
2.a
25 m
60 m
3.a e 4.a
15 m
40 m
FIGURA 141
Sada de emergncia com abertura no sentido da sada, barra anti-pnico, bloco autnomo de sinalizao - Exemplo de boa prtica
6.15.9 Primeiros socorros
A Lei n. 102/2009, de 10 de Setembro estabelece que o empregador deve estabelecer em matria de primeiros socorros, de
combate a incndios e de evacuao as medidas que devem ser adoptadas e a identificao dos trabalhadores responsveis pela
sua aplicao, bem como assegurar os contactos necessrios com as entidades externas competentes para realizar aquelas
operaes e as de emergncia mdica.
De acordo com a Recomendao da Direco Geral de Sade Sade Ocupacional - relativa aos Primeiros Socorros no Local de
Trabalho no que diz respeito ao contedo da mala/caixa/armrio de primeiros socorros, de 19 de Outubro de 2009, compete aos
servios de sade ocupacional/segurana e sade no trabalho (SO/SST) a deciso sobre o contedo da mesma, bem como o seu
nmero e respectiva localizao, devendo ser equacionados critrios relativos ao nmero de trabalhadores, disperso dos
trabalhadores, rea da empresa, tipo de actividade e factores de risco profissional.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A Equipa de SO/SST deve promover nessa deciso, o enquadramento dos trabalhadores com o curso de primeiros socorros. Junto
da caixa de primeiros socorros devero existir procedimentos escritos relativos actuao a prestar nas situaes de acidente
mais comuns. A localizao da mala/caixa/armrio de primeiros socorros deve ser conhecida pela maioria dos trabalhadores e
estar devidamente sinalizada e em local acessvel.
O contedo da mala/caixa/armrio de primeiros socorros deve estar devidamente listado e ser revisto periodicamente, com
especial ateno para as datas de validade de alguns componentes.
Salvaguardando o anteriormente mencionado, o contedo mnimo de uma mala/caixa/armrio de primeiros socorros dever
consistir em:
Compressas de diferentes dimenses;
Pensos rpidos;
Fita adesiva;
Ligadura no elstica;
Soluo anti-sptica;
lcool;
Soro fisiolgico;
Tesoura de pontas rombas;
Pina;
Luvas descartveis.
Alerta-se ainda que, para alm do contedo anteriormente referido, seria desejvel que os locais de trabalho dispusessem de
uma manta trmica e de um saco trmico para gelo.
FIGURA 141
Controlo do contedo das caixas de 1os socorros - Exemplo de boa e m prtica
6.15.10 Consideraes adicionais para a Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As situaes de emergncia mais frequentes so: incndios, exploses e derrames.
Incndio e Exploses
As causas de incndios e exploses podem ser diversas: falhas elctricas; ignio de materiais combustveis/inflamveis (vapores
de produtos qumicos inflamveis, poeiras combustveis, matrias-primas e produtos finais combustveis) por aquecimento,
electricidade esttica, etc.
249
250
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Dois dos problemas mais crticos resultantes de exploses e incndios na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas so:
A libertao de fumos txicos (que afectam muitas vezes no s a empresa como tambm a envolvente externa), e
A durao e dimenso do incndio (os materiais, o plstico e a borracha, em especial a borracha, entram em combusto
lenta e continuam a arder mesmo depois de utilizados os meios internos e muitas vezes aps uma primeira fase de
interveno de meios externos). A acumulao de elevadas quantidades de materiais combustveis, juntamente com
produtos qumicos inflamveis e txicos, origina incndios e exploses de elevada dimenso, durao e criticidade.
As medidas a implementar passam por:
Preveno:
Implementao das medidas de utilizao e manuteno de equipamentos de trabalho, de instalaes elctricas, de redes de
distribuio de gs, utilizao e armazenamento de substncias perigosas, armazenamento de materiais, proteco contra
atmosferas explosivas, entre outras que foram sendo descritas ao longo deste manual.
Actuao
Existncia de meios de deteco e extino automticos, e rpida interveno dos meios internos e externos;
Existncia de cortes remotos manuais e/ou automticos de fontes de energia e fluidos que possam alimentar ou agravar o
incndio;
Existncia de fontes de energia de emergncia para funcionamento dos meios de emergncia;
Existncia de compartimentao corta-fogo nas vias de evacuao e zonas de refgio;
Conhecimento prvio das instalaes e dos riscos por parte dos meios externos;
Existncia de meios suficientes (p.e. no caso de utilizao de gua: presso e caudal suficientes e disponibilidade de gua
em quantidade suficiente);
Instalaes de desenfumagem;
Sistemas de compartimentao, isolamento e obturao (de instalaes e equipamentos, incluindo por exemplo sistemas
de ventilao e ar condicionado);
Proteco (instalaes prprias e equipamentos adequados) dos materiais inflamveis, explosivos e combustveis, bem
como dos que so passveis de libertar gases txicos em situaes de incndio;
Meios de arrefecimento e abafamento;
Utilizao de equipamentos de proteco adequada para as equipas de interveno: aparelhos de respirao autnomos e
fatos anti-fogo em material ignfugo (incluindo proteco da cabea e face, das mos e dos ps).
FIGURA 142
Aparelhos de respirao autnomos e fatos anti-fogo
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Derrames
Dada a quantidade e diversidade de produtos qumicos, os derrames destas substncias/misturas so uma das situaes de
emergncia para a qual a organizao deve estar preparada, quer com procedimentos e meios para prevenir, quer para reagir.
As medidas a implementar podero ser:
Preveno da ocorrncia
Para prevenir a ocorrncia de derrames, devem ser criadas rotinas de verificao peridica do estado de conservao e
funcionamento de reservatrios, embalagens, equipamentos, tubagens, vlvulas, unies roscadas das tubagens, e assegurada
formao adequada aos trabalhadores que manuseiam as substncias/misturas perigosas que podem dar origem a derrames.
Prevenir/minimizar os riscos para o homem e o ambiente
Para conter os derrames e reduzir o risco para o homem e o ambiente, devem ser construdas/instaladas bacias de reteno de
derrames nos locais de armazenamento.
importante analisar a incompatibilidade e reactividade de cada substncia/mistura ao planear e definir os procedimentos e
condies para o seu armazenamento e manuseamento.
Os locais de armazenagem, podem ser construdos de forma a serem eles prprios uma bacia de reteno, com pavimento
impermevel, com decaimento e drenagem para um reservatrio, desde que os produtos acondicionados no local sejam todos
compatveis e no reajam adversamente entre si.
necessrio assegurar uma limpeza atempada e eficaz dos sistemas de reteno, para que a acumulao dos derrames no se
transforme num risco agravado.
Reagir Capacidade de resposta
Para reagir a um derrame, a organizao deve ter definidos procedimentos com identificao dos meios, aces e responsveis
pela actuao.
Os meios a disponibilizar devem ser definidos tendo em conta as informaes constantes das fichas de dados de segurana dos
produtos e devem ser adequados para conter e absorver o derrame e limpar/lavar o pavimento, conforme aplicvel . So
necessrios equipamentos de proteco individual adequados aos riscos, normalmente: luvas, culos, botas de proteco contra
riscos qumicos e mscaras de proteco contra poeiras ou gases/vapores.
Em caso de derrames de maior dimenso, devem estar definidos os procedimentos e responsabilidades para contactar as
entidades externas, como os Bombeiros, a Proteco Civil, Ministrio do Ambiente, entre outras, e devem ser preparadas e
prestadas todas as informaes relevantes para uma actuao eficaz e segura.
251
252
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 143
Instruo de Segurana
6.16 ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
6.16.1 Fundamentos ATEX
Uma exploso uma reaco sbita de oxidao ou de decomposio que envolve um aumento de temperatura, presso ou ambos.
A Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, particularmente em alguns subsectores, do ponto de vista histrico, muito
vulnervel ocorrncia de exploses. Na origem deste fenmeno esto atmosferas explosivas (ATEX). Estas resultam da presena de:
Poeiras em suspenso no transporte, armazenamento e descarga de materiais em estado pulvreo, empregues na
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, como: materiais reciclados, negro de fumo, a generalidade das matrias
plsticas em estado pulvreo, ou seja, sob a forma de partculas com um dimetro inferior a 500m, e muito
particularmente, 300m. As matrias plsticas so frequentemente manipuladas sob a forma de granulados com 2 a 3mm
de dimetro, sendo pouco susceptveis de gerar poeiras. Refere-se tambm que as poeiras dos polmeros utilizados com
maior frequncia apresentam caractersticas de explosividade que colocam estes materiais entre os menos perigosos;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Gases ou vapores inflamveis, por exemplo os vapores de solventes orgnicos que na Indstria da Borracha e das
Matrias Plsticas se encontram nas seces de serigrafia ou outras actividades similares, hidrognio em postos de
recarga de baterias de CAMC (carros automotores de movimentao de cargas) pouco ventilados, gs natural, fuelleo ou
outro combustvel utilizado na alimentao de caldeiras, vapores inflamveis nas unidades de lavagem de peas com
solventes na manuteno e nos armazns de produtos inflamveis;
O Decreto-Lei n. 236/2003 de 30 de Setembro de 2003 transpe para a ordem jurdica interna a Directiva 1999/92/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro que estabelece as prescries mnimas destinadas a promover a
melhoria de proteco de segurana e sade dos trabalhadores susceptveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas
explosivas. De acordo com o diploma, entende-se por:
Atmosfera explosiva: uma mistura com o ar, em condies atmosfricas, de substncias inflamveis, sob a forma de
gases, vapores, nvoas ou poeiras, na qual, aps a ignio, a combusto se propague a toda a mistura;
rea perigosa: uma rea na qual se pode formar uma atmosfera explosiva em concentraes que exijam a adopo de
medidas de preveno especiais a fim de garantir a segurana e a sade dos trabalhadores abrangidos;
rea no perigosa: uma rea em que no provvel a formao de atmosferas explosivas em concentraes que exijam a
adopo de medidas preventivas especiais.
A exploso um tipo particular de combusto sendo portanto necessria a presena simultnea dos elementos constituintes do
triangulo do fogo. No caso especfico das exploses envolvendo poeiras combustveis, alm desses elementos necessria a
presena de mais outros trs, constituindo-se o hexgono da exploso, conforme se ilustra de seguida.
QUADRO 75
Condies necessrias para a ocorrncia de uma exploso
Gases, vapores e nvoas
Tringulo da exploso
Poeiras
Hexgono da exploso
Tanto para as misturas com o ar de gases, vapores ou nvoas como com a suspenso de poeiras no ar, para que ocorra uma
exploso necessrio que a concentrao de combustvel esteja no domnio de explosividade, conforme se ilustra de seguida.
253
254
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 144
Domnio de explosividade de uma mistura combustvel-ar
100% de combustvel
0% de ar
Mistura rica em
combustvel
LSE
Domnio de
explosividade
LIE
Mistura pobre em
combustvel
0% de combustvel
100% de ar
O domnio da explosividade limitado inferiormente por uma concentrao mnima de combustvel no ar, abaixo da qual no
vivel a ocorrncia de uma exploso; esta designada por Limite Inferior de Explosividade LIE. A concentrao mxima de
uma mistura combustvel-ar que pode estar na origem de uma exploso designada por Limite Superior de Explosividade
LSE. Para os gases e vapores ambos os limites LIE e LSE esto bem definidos para determinadas condies operativas de
presso e temperatura. Por exemplo para o gs natural, o LIE aproximadamente 5%, muito idntico ao LIE do metano. J para
as poeiras, estas tm um LIE bem definido, enquanto que o LSE dificilmente possvel de precisar. Por exemplo para o ABS, o
LIE 25g/m3.
De acordo com a norma EN 1127-1:1997, as fontes de energia que podem estar na origem da ignio de uma atmosfera explosiva
so classificadas do seguinte modo:
Superfcies, chama e gases quentes (incluindo partculas incandescentes);
Fascas produzidas mecanicamente;
Instalaes elctricas;
Correntes elctricas de fuga, proteco catdica contra a corroso (em nodos em alumnio ou magnsio);
Electricidade esttica;
Raios (resultantes de fenmenos atmosfricos);
Ondas electromagnticas de radiofrequncia entre 100kHz e 31012Hz;
Ondas electromagnticos entre 300GHz e 31015Hz;
Radiao ionizante;
Ultra-sons;
Compresso adiabtica e ondas de choque;
Reaces exotrmicas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, as principais fontes de ignio de uma exploso, envolvendo produtos sob a
forma pulverulenta, resultam de: arcos elctricos, curto-circuitos, pontos ou superfcies quentes, descargas electrostticas,
trovoada, frico e atrito mecnico, assim como incndios.
As substncias combustveis em estado pulvreo so caracterizadas, em matria de segurana contra exploses, por uma
propriedade fundamental, a temperatura de inflamao. A temperatura de inflamao a temperatura mnima de uma superfcie
quente que promove a inflamao da mistura mais inflamvel de poeiras com o ar ou de um depsito de poeiras, respectivamente
para poeiras em suspenso ou depsitos de poeiras. Quando se trata de produtos no estado lquido, a temperatura de inflamao
a temperatura mnima a partir da qual se libertam vapores em quantidade suficiente que, quando em contacto com uma fonte
de ignio efectiva, entram em combusto.
Uma fonte de ignio efectiva tem uma energia igual ou superior energia mnima que tem de ser fornecida a determinada
substncia combustvel para promover a sua ignio. No quadro seguinte apresenta-se a temperatura mnima de inflamao, a
concentrao mnima de exploso, a Energia Mnima de Inflamao por arco elctrico (EMI) para alguns produtos utilizados na
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas.
QUADRO 76
Caractersticas de alguns materiais face a exploses
Temperatura Mnima de inflamao (0C)
Depsitos
Suspenso
Concentrao Mnima de
Exploso (suspenso)
(g/m3)
Borracha crua
350
25
50
Co-plmento
de Estirenobutadieno
440
25
35
Policarbonato
710
25
25
Polietileno
280
450
20
30
Poliestireno
(latex)
500
500
20
15
Polipropileno
420
20
30
400
660
Chama em presena de
superfcie quente
Melamina
formadeido
810
85
320
Negro de fumo
730
Resina epoxy
540
20
15
Poeiras
PVC
Energia Mnima de
Inflamao (suspenso)
(mJ)
Alguns locais existentes em unidades fabris na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas em que se podem identificar
atmosferas explosivas so apresentados no quadro seguinte:
255
256
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 77
Exemplos de actividades e locais em que potencialmente podero existir atmosferas explosivas
ATEX Locais e actividades (exemplos)
Seces de serigrafia e outras actividades similares em que se empregam tintas e produtos base de solventes
orgnicos;
Postos de recarga de baterias de CAMC;
Armazns com produtos qumicos inflamveis;
Postos de armazenamento e abastecimento de gases inflamveis (propano, butano, entre outros);
As condutas de transporte gs natural, nafta ou outro combustvel e a(s) prpria(s) caldeira(s);
Postos de lavagem de peas, na reas da manuteno, em que se utilizam produtos base de solventes orgnicos.
6.16.2 Avaliao do risco de exploso
da responsabilidade do empregador, a definio e aplicao de medidas de carcter tcnico e organizativo, que previnam a
formao de atmosferas explosivas ou, na sua impossibilidade, evitem a sua deflagrao. Complementarmente, devem ser
aplicadas medidas de proteco para, na eventualidade de ocorrncia de uma exploso, os danos resultantes sejam minimizados.
O risco de exploso deve ser avaliado nas reas dedicadas serigrafia e outras tcnicas de pintura em que h o recurso a
produtos inflamveis, instalaes de armazenamento de lquidos ou gases comprimidos ou liquefeitos combustveis e nas infra-estruturas e de transporte e combusto desses combustveis. Outras reas que devem ser objecto de avaliao incluem postos
de recarga de baterias de CAMC, postos de lavagem de peas na manuteno com recurso a lquidos inflamveis. tambm
importante avaliar todas as instalaes e dispositivos empregues no transporte, armazenamento e descarga de produtos
granulados ou em estado pulvreo.
A avaliao de riscos dever ser efectuada para cada processo de trabalho ou de fabrico, bem como para cada estado de
funcionamento de uma instalao, e considerando as alteraes nas condies de funcionamento. particularmente importante
considerar os seguintes estados de funcionamento:
Condies de funcionamento normais, incluindo trabalhos de manuteno;
Operaes de arranque/paragem;
Mau funcionamento e falhas previsveis;
Uma m utilizao razoavelmente previsvel.
Para a avaliao do risco de exploso devem ser considerados os seguintes elementos:
Os equipamentos de trabalho utilizados;
As caractersticas de construo;
As substncias utilizadas;
As condies de trabalho e especificidades dos processos;
As possveis interaces entre estes elementos, bem como as interaces com o ambiente de trabalho circundante.
Na avaliao dos riscos de exploso tambm devem ser considerados os locais que estejam ou possam estar ligados s reas
perigosas atravs de aberturas ou passagens.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O fluxograma da figura seguinte apresenta o processo de avaliao dos riscos de exploso com base em sete perguntas.
FIGURA 145
Processo de avaliao do risco de exploso
Esto presentes
substncias inflamveis?
Sim
No
Podem formar-se atmosferas explosivas por
disperso suficiente no ar?
No so necessrias medidas
de proteco
Sim
Onde podem formar-se
atmosferas explosivas?
No
Podem formar-se atmosferas
explosivas perigosas?
No so necessrias medidas
de proteco
Sim
Tomar medidas
de proteco
contra exploses
Prevenir, na medida do possvel, a formao
de atmosferas explosivas perigosas!
Sim
Formao de atmosferas explosivas
perigosas prevenida de forma vivel?
No so necessrias medidas
complementares!
No
Tomar
medidas de proteco
complementares!
Em que zonas podem classificar-se os locais
com atmosferas explosivas perigosas?
Evitar fontes de ignio nos locais com
atmosferas explosivas perigosas, de acordo
com a classificao em zonas!
Sim
A ignio de atmosferas explosivas perigosas
evitada de forma vivel?
No
Tomar
medidas de proteco
complementares!
Limitar os efeitos nocivos de uma exploso
atravs de medidas de concepo
e organizacionais!
No so necessrias medidas
complementares!
257
258
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Um dos principais contributos da avaliao de riscos a classificao das zonas em que existe risco de exploso. A entidade
empregadora dever definir as zonas, conforme se apresenta de seguida.
QUADRO 78
Classificao por zonas de acordo com a durao e frequncia de ocorrncia de ATEX
Gases, vapores e nvoas
Poeiras
Zona 0
Zona 20
rea onde existe permanentemente ou durante longos
perodos de tempo ou com frequncia, uma atmosfera
explosiva constituda por uma mistura com o ar de
substncias inflamveis, sob a forma de gs, vapor ou
nvoa.
rea onde existe permanentemente ou durante longos
perodos de tempo ou com frequncia, uma atmosfera
explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira
combustvel.
Zona 1
Zona 21
rea onde provvel, em condies normais de
funcionamento, a formao ocasional de uma atmosfera
explosiva constituda por uma mistura com o ar de
substncias inflamveis, sob a forma de gs, vapor ou
nvoa.
rea onde provvel, em condies normais de
funcionamento, a formao ocasional de uma atmosfera
explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira
combustvel.
Zona 2
Zona 22
rea onde no provvel, em condies normais de
funcionamento, a formao de uma atmosfera explosiva
constituda por uma mistura com o ar de substncias
inflamveis, sob a forma de gs, vapor ou nvoa, ou onde
essa formao, caso se verifique, seja de curta durao.
rea onde no provvel, em condies normais de
funcionamento, a formao de uma atmosfera explosiva
sob a forma de uma nuvem de poeira combustvel, ou onde
essa formao, caso se verifique, seja de curta durao.
A delimitao de zonas dever ser feita em volume e no num plano, devendo-se considerar os seguintes factores:
O volume e geometria da instalao;
A geometria das seces (presena ou no de paredes de separao, seces com grande p-direito);
Ventilao existente.
Nas figuras seguintes apresenta-se a classificao por zonas das reas perigosas de dois tipos de actividade presente na
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, impresso por serigrafia e triturao de plsticos para reutilizao no processo.
FIGURA 146
Classificao por zonas num equipamento de serigrafia.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 147
Classificao por zonas numa trituradora de plstico
6.16.3 Medidas de preveno e proteco do risco de exploso
A preveno do risco de exploso pode ser concretizada pela implementao das seguintes medidas tcnicas:
Preveno:
Evitando a formao de atmosferas explosivas, preferencialmente mantendo a concentrao de uma matria inflamvel
abaixo do respectivo limite inferior de explosividade;
Controlo das potenciais fontes de ignio (e utilizao de equipamentos com o nvel de proteco adequado para
funcionamento em ATEX);
Proteco
Limitar os efeitos da exploso a um nvel aceitvel pela adopo de medidas na fase de construo e instalao dos
equipamentos.
Complementarmente, o empregador dever implementar medidas organizacionais que, por um lado, reduzam o risco de incndio
e exploso, e, por outro, garantam a eficcia das medidas tcnicas. Estas medidas integram procedimentos de trabalho,
verificaes, formao aos trabalhadores e sinalizao das reas perigosas.
Preveno de exploso por aco sobre os produtos
Na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, as iniciativas de controlo de risco, para efeitos de preveno de exploses so
principalmente as seguintes:
259
260
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 79
ATEX: Medidas Preventivas
Gases, vapores e nvoas
Poeiras
Para as actividades de serigrafia e outras tcnicas similares,
substituir produtos inflamveis por outros no combustveis ou
outros menos perigosos.
Esta tcnica tambm a recomendada para as unidades de
lavagem de peas na manuteno.
O armazenamento dos produtos inflamveis empregues em
operaes de pintura ou manuteno deve ser efectuado em local
prprio, separado de outras reas e com acesso restrito, ou
armrio adequado.
Os silos de armazenamento de materiais, os trituradores de
plstico, os locais de preparao e mistura de produtos
combustveis devem estar em reas separadas das restantes
actividades.
Os espaos dedicados s operaes de pintura, recarga de
baterias, limpeza de peas na manuteno com produtos
inflamveis, as caldeiras devem estar em compartimentos
prprios e separados de outras actividades.
Na impossibilidade de substituio dos produtos perigosos, dotar
os equipamentos de pintura e secagem, as unidades de lavagem
de peas na manuteno e as unidades de recarga de baterias de
CAMC de ventilao adequada. Os armazns de qumicos
perigosos tambm devem ser adequadamente ventilados.
Minimizar a possibilidade de emisso de poeiras em actividades
como a descarga de sacos/big-bags de matria-prima ou material
reciclado pela reduo da altura de queda dos produtos.
O recurso ao capotamento dos equipamentos tambm muito
importante.
Uma adequada ventilao pode ser conseguida por ventilao
natural, mas frequente o recurso a sistemas de ventilao
forada. A ventilao deve ser feita por exausto,
preferencialmente em local prximo da fonte de emisso. Os
dispositivos de captao devem assegurar uma depresso de
25Pa e uma velocidade mnima de escoamento do ar atravs das
hottes de 0,30m/s.
Complementarmente, a implementao de sistemas de aspirao
tambm desejvel. prefervel instalar vrias unidades de
despoeiramento mais pequenas do que haver apenas uma
unidade central de despoeiramento maior.
Minimizar os locais onde se possam acumular poeiras ou, em
alternativa, dot-los de acessos seguros e implementar rotinas de
limpeza regulares. A limpeza deve ser efectuada por aspirao e,
limitar o recurso sopragem com ar comprimido.
Pode-se recorrer inertizao dos silos de armazenamento de
matrias plsticas e borracha, no entanto esta muito onerosa e
a sua aplicao prtica reduzida.
A tcnica de inertizao consiste na reduo do teor de oxignio pela introduo de um gs inerte, dixido de carbono (CO2) ou
azoto (N2), numa atmosfera com poeiras em suspenso ou em que est presente uma fase gasosa inflamvel. Deste modo
previne-se a ignio da atmosfera explosiva. portanto necessrio conhecer a concentrao mnima de oxignio que pode levar
exploso das poeiras de determinado material pulvreo ou de uma fase gasosa inflamvel, e reduzir a concentrao do oxignio
abaixo desse limiar, ou seja, abaixo da concentrao limite de oxignio (CLO). Esta tcnica passvel de ser utilizada em
instalaes ou equipamentos fechados, no entanto a sua aplicao prtica onerosa.
QUADRO 80
Concentrao mnima de oxignio (% de volume) abaixo da qual no possvel a inflamao dos materiais em estado pulvreo.
Matria
N2
CO2
Borracha
11
15
Policarbonato
11
15
Polietileno
12
Poliestireno
10
14
Resina epoxy
12
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.16.4 Preveno de exploso por controlo das fontes de ignio
As iniciativas de controlo de risco para prevenir exploses por actuao sobre potenciais fontes de ignio passam por:
Arcos elctricos e aquecimento com origem em material elctrico. Os arcos elctricos resultam da extra-corrente de ruptura e
extra-corrente de estabelecimento nos circuitos elctricos. Este fenmeno tambm relevante quando se trabalha com muito
baixa tenso de segurana (apesar de oferecer proteco contra a electrizao, no oferece proteco contra o risco de
exploso). A este nvel importante a utilizao de material elctrico adequado zona de risco de exploso;
O aquecimento dos equipamentos elctricos resultante do efeito de Joule, condio particularmente importante quando
da ocorrncia de sobre-intensidade ou curto-circuito. Para limitar o aquecimento dos materiais elctricos importante o
adequado dimensionamento da instalao bem como a aplicao de um plano de manuteno eficaz;
Descargas electrostticas na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas resultam do transporte pneumtico de
produtos granulados ou pulverulentos, as operaes de descarga de materiais a partir de camies para silos, ou a partir
de sacos e big-bags. As medidas de preveno passam por dotar os equipamentos, embalagens e produtos com ligaes
terra e ligaes equipotenciais;
Os fenmenos atmosfricos podem estar na origem de ignies de atmosferas explosivas. Para este efeito desejvel que
as instalaes estejam dotadas de pra-raios;
Superfcies quentes que na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas podem estar presentes em equipamentos
como fornos/estufas de secagem de tinta, motores elctricos, alguns rgos de mquinas, entre outros. A temperatura
destas superfcies no devero ultrapassar 80% da temperatura de auto-inflamao (expressa em C) para gases ou
vapores.
As medidas de preveno passam pela instalao de equipamentos cujas temperaturas das superfcies exteriores no se
constituam fonte de ignio de uma atmosfera explosiva. Para alguns equipamentos este tipo de medida tambm promove
a eficincia energtica;
Fascas de origem mecnica que resultam de frico e choques mecnicos em equipamentos de movimentao de cargas,
sistemas de transmisso (ex.: por correias), impactos relativos queda de objectos ou certas operaes de fabrico e
movimentao de cargas. As medidas de preveno passam pelo utilizao de equipamentos concebidos para trabalhar
em atmosferas explosivas, a utilizao de ferramentas anti-fasca (massas metlicas em cobre, ligas de cobre, nquel,
alumnio e suas ligas, etc.) ou, pesquisa de um outro modo operatrio alternativo;
Chamas e fogos nus resultantes de operaes como soldadura, corte, rebarbagem, etc., operaes que devero estar
enquadradas por autorizaes de trabalho com fogos nus. Tambm para efeito de aquecimento ambiente dever estar
interdita a utilizao de equipamentos de aquecimento com chama ou por resistncia elctrica, bem como dever estar
instituda a interdio de fumar.
6.16.5 Aparelhos para utilizao em atmosferas explosivas
Nos locais onde h risco de exploso, a presena de equipamentos nesses locais devem ser reduzida ao mnimo indispensvel,
particularmente equipamentos elctricos. O Decreto-Lei n. 112/96 de 5 de Agosto prev a classificao dos equipamentos para
utilizao em locais em atmosferas explosivas em 2 grupos:
Grupo I aparelhos destinados a trabalhos subterrneos em minas e s respectivas instalaes de superfcie susceptveis
de serem postas em perigo pelo grisu e ou por poeiras combustveis;
Grupo II aparelhos a utilizar noutros locais susceptveis de serem postos em perigo por atmosferas explosivas.
No mbito das aplicaes existentes na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, os equipamentos utilizados enquadramse no Grupo II. Os equipamentos so ainda classificados por categorias conforme se ilustra no quadro seguinte.
261
262
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 81
Categoria dos equipamentos a utilizar em reas com ATEX
Categoria
Aplicao
Concebidos para funcionar em Zona 0
ou Zona 20.
Concebidos para
funcionar em Zona 1 ou
Zona 21.
Concebidos para
funcionar em Zona 2 ou
Zona 22.
Critrios
Asseguram um muito alto nvel de
proteco para funcionamento de
acordo com os parmetros
operacionais definidos.
Asseguram um nvel alto
de proteco para
condies de
funcionamento de acordo
com os parmetros
operacionais definidos.
Asseguram um nvel de
proteco normal para
condies de
funcionamento de acordo
com os parmetros
operacionais definidos.
Requisitos
Devem assegurar o nvel de
proteco necessrio mesmo em
caso de avaria rara do equipamento.
Devem estar dotados de um segundo
meio de proteco que assegure o
nvel de proteco necessrio em
caso de avaria. O nvel de proteco
necessrio tambm ser assegurado
em caso de ocorrncia simultnea de
duas avarias independentes.
Devem assegurar o nvel
de proteco necessrio
mesmo em caso de mau
funcionamento frequente
ou avaria do
equipamento que seja
normalmente
considerada.
Devem assegurar um
nvel de proteco
necessrio para as
condies normais de
funcionamento.
Observaes
Tambm aplicveis s Zona 1 e
Zona 2.
Tambm aplicveis
Zona 2.
A marcao dos equipamentos conforme definida na Portaria n. 341/97 de 21 de Maio dever apresentar a seguinte estrutura:
Nome e endereo do fabricante;
Marcao CE;
Designao da srie ou do tipo;
Nmero de srie, caso exista;
Ano de fabrico;
Marcao especfica de proteco contra exploses;
Grupo do aparelho;
Categoria do aparelho;
Letra G para atmosferas explosivas devidas presena de gases, vapores ou nvoas, ou, letra D para atmosferas
explosivas devidas presena de poeiras;
Outras indicaes necessrias indispensveis utilizao em segurana desses aparelhos.
FIGURA 148
Marcaes de aparelhos para utilizao em atmosferas explosivas
UK PROD LTD
PROD HOUSE
MIDDLESEX
TWXX XXX
U.K.
TYPE: WIDGET52
SERIAL NO./YR: 345CD/ 05
II 1D c 95 C
MODE .: 1234AB
SERIAL NO.: ZY654
YEAR: 2005
II 1D c 95
0C Ta +40C
CERTIFICATE NO.: NBXX 05.345367
EXCELLENT ENGINEERING LTD.
101 XXXX RD
COVENTRY
CVXX 5XX
U.K.
Cert Nr.: NBXX 05.345367
MANUAL DE BOAS PRTICAS
O modo de proteco dos aparelhos est enquadrado por documentos normativos, conforme se apresenta no quadro seguinte:
QUADRO 82
Modo de proteco dos aparelhos para utilizao em atmosferas explosivas
Modo de proteco para gases, vapores e nvoas (EN 50014)
Modo de proteco para poeiras (famlia de normas EN 61241)
o proteco por imerso em leo
tD proteco por invlucro
p proteco por pressurizao
pD proteco por pressurizao
q proteco por enchimento
iD aparelho de segurana intrnseca
d proteco por invlucro anti-deflagrante
mD proteco por encapsulamento
e proteco por segurana aumentada
ia ou ib proteco por segurana intrnseca
m proteco por encapsulamento
6.16.6 Medidas de proteco para limitar os efeitos de exploses
As iniciativas de proteco contra exploses destinam-se a limitar os efeitos das exploses. De seguida apresentam-se algumas
das solues possveis com maior aplicabilidade na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas:
QUADRO 83
Medidas de proteco contra os efeitos de exploses
Tipologia das medidas
Gases, vapores e nvoas
Poeiras
Medidas construtivas dos
equipamentos e sistemas
Equipar as reas perigosas com
detectores com alarme e, se possvel,
sistemas de corte de alimentao do
produto (ex.: rede de gs natural,
propano, etc.)
Os silos de matrias plsticas podem
ser construdos por forma a resistir
velocidade mxima de crescimento da
presso da exploso.
Alvio da presso de exploso
Os espaos dos edifcios onde h risco
de exploso devem estar dotados de
dispositivos de ruptura frgil,
colocados de tal forma que, em caso
de exploso, o alvio da presso seja
direccionado para reas no perigosas
(nunca para locais de trabalho !).
O alvio da presso de exploso em
silos concretizada pela aplicao de
painis de ruptura frgil que
direccionam a energia da exploso
para rea no perigosa.
Sistemas de isolamento da exploso
Nas condutas de aspirao de fases
gasosas inflamveis pela aplicao de
vlvulas de fecho rpido ou sistema
para-chamas.
Nas condutas de transporte
pneumtico ou aspirao de poeiras
pela aplicao de vlvulas de fecho
rpido ou condutas de venteio.
Proteco contra os efeitos de
exploses por afastamento e
confinamento
Pela separao fsica e afastamento
dos processos que libertam fases
gasosas inflamveis perigosas das
restantes actividades da empresa.
Pela separao fsica e afastamento
dos processos que geram ou libertam
poeiras combustveis perigosas das
restantes actividades da empresa.
Extino de exploso
Nas condutas de aspirao de fases
gasosas inflamveis por aplicao de
agente extintor quando da
identificao de uma exploso em fase
incipiente. O agente extintor utilizado
normalmente o p qumico.
Nas condutas de transporte
pneumtico ou aspirao de poeiras
combustveis por aplicao de agente
extintor quando da identificao de
uma exploso em fase incipiente. Este
tipo de soluo tambm aplicvel
aos silos
263
264
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 149
(a) Dispositivo de venteio
(b) Superfcie de ruptura frgil
a)
b)
FIGURA 150
(a) Princpio de funcionamento de vlvula Ventex
(b) Princpio de funcionamento de vlvula de fecho rpido por guilhotina
a)
FIGURA 151
Funcionamento de sistema de extino de exploses em silo
b)
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 152
Funcionamento de sistema de extino de exploses em conduta
Detector de
presso
Vlvula de
isolamento
de fecho
rpido
Frente de
chama
6.16.7 Medidas organizacionais
De entre as medidas organizacionais, aquelas que so mais importantes no controlo do risco de exploso, para a prtica
industrial, na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas, so:
Elaborao e divulgao de um manual de proteco contra exploses;
Formao regular aos trabalhadores;
Utilizao de EPI anti-esttico;
Verificao e manuteno dos equipamentos e instalaes;
A formalizao de procedimentos de trabalho e, nomeadamente, a implementao de Autorizaes de Trabalho para
intervenes perigosas;
Superviso dos trabalhadores;
Delimitao das zonas com risco de exploso por:
Marcao;
Sinalizao da zona perigosa.
FIGURA 153
Sinalizao a aplicar s reas com ATEX
265
266
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
6.16.8 Manual de proteco contra exploses
Constitui-se obrigao do empregador assegurar a elaborao e a actualizao de um manual de proteco contra exploses.
Do contedo do manual devem constar os seguintes aspectos:
Implementar prticas adequadas e seguras para as actividades de concepo, utilizao e manuteno dos locais e
equipamentos de trabalho, incluindo os sistemas de alarme;
Identificao e avaliao dos riscos de exploso;
Classificao das reas perigosas em zonas conforme referido anteriormente;
Definio de um programa para a aplicao e implementao de medidas tcnicas e organizacionais para controlo do
risco de exploso.
Sempre que se verifiquem modificaes, ampliaes ou transformaes importantes no local de trabalho, nos equipamentos ou na
organizao do trabalho, o manual dever estar objecto de actualizao. Na elaborao do manual, as avaliaes de risco de exploso
podero ser combinadas com documentos ou relatrios equivalentes que resultem do cumprimento de outras disposies legais.
A ttulo de sntese, refere-se que o controlo do risco de exploso deve ser efectuado com recurso a diversas tcnicas,
contemplando medidas preventivas, de proteco e organizacionais, de modo a assegurar a integral e eficaz segurana dos
colaboradores e patrimnio da empresa.
7. SINALIZAO DE SEGURANA
A sinalizao de segurana e sade deve ser usada nos locais de trabalho para prevenir os riscos profissionais, identificando os
equipamentos de segurana e as tubagens para o transporte de lquidos e gases, delimitando reas perigosas, advertindo para os
riscos existentes, em suma, tendo por objectivo a proteco da sade dos trabalhadores.
O Decreto-Lei n. 141/95, transps para a ordem jurdica interna a Directiva 92/58/CEE, relativa s prescries mnimas para a
sinalizao de segurana e sade do trabalho.
Este Decreto-Lei foi posteriormente regulamentado pela Portaria n. 1456-A/95, que estabelece as prescries mnimas de
colocao e utilizao da sinalizao de segurana e sade do trabalho.
A Lei n.113/99 veio alterar o citado Decreto-Lei, na parte que diz respeito s contra-ordenaes.
Entende-se por sinalizao de segurana e sade a sinalizao relacionada com um objecto, uma actividade ou uma situao
determinada, que fornece uma indicao ou uma prescrio relativa segurana e/ou sade no trabalho.
A sua primeira finalidade a de chamar a ateno, de forma rpida e inteligvel, para situaes, objectos ou actividades que
possam originar riscos ou que os comportem.
Esta sinalizao efectua-se normalmente atravs de uma placa, de uma cor, de um sinal luminoso, de um sinal acstico, de uma
comunicao verbal ou de um sinal gestual.
Os processos de identificao de perigos e avaliao de riscos nem sempre permitem ao empregador evitar ou diminuir de modo
suficiente os riscos. neste contexto que surge a necessidade de garantir a existncia de sinalizao de segurana e sade nos
locais de trabalho.
A instalao de sinalizao de segurana e sade deve ser sempre precedida por uma correcta avaliao dos riscos existentes na empresa.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A sinalizao de segurana e emergncia pode ser permanente ou acidental.
A sinalizao deve ser permanente para:
Proibies;
Avisos e obrigaes;
Localizao e identificao dos meios de salvamento e de socorro;
Localizao e a identificao do material e equipamento de combate a incndios;
Indicao de risco de choque contra obstculos e a queda de pessoas;
Rotulagens de recipientes e tubagens;
Marcao de vias de circulao.
Tm carcter acidental, devendo a sua utilizao ser restringida ao tempo estritamente necessrio, a sinalizao de
acontecimentos perigosos, a chamada de pessoas (bombeiros, pessoal de sade, etc.), evacuao de emergncia, orientao de
manobras.
De seguida referem-se alguns princpios a ter em considerao na implementao de sinalizao de segurana e sade nos locais
de trabalho:
O empregador deve garantir que a acessibilidade e a clareza da mensagem da sinalizao de segurana e sade do trabalho
no sejam afectadas pelo nmero insuficiente, pela localizao inadequada, pelo mau estado de conservao ou deficiente
funcionamento dos seus dispositivos ou pela presena de outra sinalizao;
No caso de se encontrarem ao servio trabalhadores com capacidades auditivas ou visuais diminudas, ou quando o uso de
equipamentos de proteco individual implique a diminuio dessas capacidades, devem ser tomadas medidas de
segurana suplementares que tenham em conta essas especificidades;
A colocao e utilizao da sinalizao de segurana e sade do trabalho implica:
Evitar a afixao de um nmero excessivo de placas na proximidade umas das outras;
No utilizar simultaneamente dois sinais luminosos que possam ser confundidos;
No utilizar um sinal luminoso na proximidade de outra fonte luminosa pouco ntida;
No utilizar dois sinais sonoros ao mesmo tempo;
No utilizar um sinal sonoro, quando o rudo de fundo (ambiente) for intenso.
7.1 FORMAS DE SINALIZAO
Como j atrs referido, existem vrias formas de sinalizao que se complementam entre si
Sinais coloridos (pictogramas ou luminosos) Assinalam perigos ou do indicaes;
Sinais luminosos;
Sinais acsticos Habitualmente para assinalar situaes de alarme, evacuao e aviso;
Comunicao verbal;
Sinais gestuais Quando a comunicao oral no seja possvel ou deficiente e destinam-se a transmitir as indicaes
necessrias a uma determinada tarefa ou aco.
267
268
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
7.1.1 Sinais Coloridos
Sinalizao por Placas
O sistema de sinalizao atravs de placas de segurana baseia-se em 3 factores: a cor, a forma e o pictograma nele inscrito.
As cores dos sinais tm um significado prprio, de acordo com a informao que pretendem transmitir e conforme o quadro seguinte:
FIGURA 154
Formas e cores da sinalizao de segurana
Antes de se aplicar a sinalizao de segurana, os trabalhadores e os seus representantes para a segurana e sade no trabalho
devem ser consultados, ter acesso informao e formao sobre as medidas relativas sinalizao de segurana e de sade no
trabalho utilizada.
fundamental que a entidade empregadora se certifique de que todos os trabalhadores compreendem o significado da
sinalizao. Alguns dos sinais implicam a adopo de novos comportamentos gerais e especficos. Enquanto instrumento
facilitador da aprendizagem, a formao pode contribuir para a transmisso dos conhecimentos, competncias e, at, mudana
de atitudes face ao risco no local de trabalho.
De acordo com a legislao vigente, o empregador est obrigado a sinalizar, de um modo bem visvel, os locais de trabalho, devendo
os sinais existentes ter as dimenses adequadas, para que, em funo da distncia, possam ser devidamente observados.
As placas de sinalizao devero ser em material rgido e fotoluminescente.
Na figura 122 est exemplificada a forma como os sinais devem ser dimensionados para a sua correcta visualizao, segundo a
UNE 81-501-81 e tendo em conta a distncia a que so observados.
FIGURA 155
Tamanho das placas de sinalizao em funo da distncia de observao
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 84
Caractersticas da sinalizao por placas de segurana
Classe de sinais
Perigo
Caractersticas
Funo
Forma triangular;
Alertar para situaes,
produtos ou
substncias, cuja
presena envolve
perigos.
Pictograma negro sobre fundo amarelo, margem negra (a cor amarela
deve cobrir pelo menos 50% da superfcie da placa).
Proibio
Forma circular;
Pictograma sobre fundo branco:
- Margem vermelha
- Faixa vermelha diagonal descendente da esquerda para a direita, a
45 em relao horizontal
Obrigao
Forma circular;
Pictograma branco sobre fundo azul, (a cor azul deve cobrir pelo menos
50% da superfcie da placa).
Salvamento/Emergncia
Forma rectangular ou quadrada;
Pictograma branco ou amarelo sobre fundo verde (a cor verde deve cobrir
pelo menos 50% da superfcie da placa).
Combate a incndios
Forma rectangular ou quadrada;
- Pictograma branco ou amarelo sobre fundo vermelho (a cor vermelha
deve cobrir pelo menos 50% da superfcie da placa).
Informao
Forma quadrada ou rectangular;
Pictograma branco sobre fundo azul:
Margem branca a cor azul deve cobrir pelo menos 50% da superfcie
da placa.
Etiquetas
Forma losangular ou quadrada a 45;
Pictograma ou smbolo preto.
Rtulos
Forma quadrangular;
Pictograma ou smbolo a negro sobre fundo cor de laranja.
Proibir um
comportamento ou
aco
Impor um
comportamento ou
aco
Dar indicao sobre o
acesso a sadas de
emergncia ou a meios
de salvamento e
socorro
Dar indicao sobre a
localizao dos meios e
equipamentos de
combate a incndios.
Dar indicaes
diversas, no
relacionadas com a
segurana.
Fornecer informao
sobre os produtos
contidos num recipiente
ou embalagem.
Fornecer informao
sobre os produtos
contidos num recipiente
ou embalagem ou
envolvidos num
processo.
Sinalizao de obstculos, zonas perigosas e vias de circulao
A correcta utilizao das cores um meio eficaz para alertar as pessoas sobre determinadas situaes.
Com a utilizao conjunta de duas cores altamente contrastantes, consegue-se diferentes nveis de ateno por parte dos
utilizadores de um determinado local.
269
270
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 156
Exemplos de faixas avisadoras de situaes perigosas
Por exemplo, para se alertar sobre um obstculo, podemos (e devemos) utilizar uma faixa colorida com duas cores pintadas na
diagonal, conforme figura abaixo:
Este tipo de sinalizao normalmente utilizado para indicar desnveis de piso (degraus e rampas); situaes de queda com
desnvel (colocadas em barreiras mveis ou em patamares de baixo desnvel sem outro tipo de proteco); junto a/ou em
equipamentos que potencialmente podem causar danos fsicos; para circundar uma rea que, temporariamente, no deve ser
acedida; etc.
do conhecimento geral que o ser humano reage inconscientemente cor vermelha como indicao de proibio ou perigo
(provavelmente pelo facto de os metais a altas temperaturas adquirirem essa cor).
As cores amarelo-vivo e amarelo-alaranjado comeam a ser intuitivamente interpretadas como sinal de perigo.
atravs destas cores que se assinalam algumas delimitaes de espaos seguros. So tambm as cores com que normalmente
se pintam os equipamentos que envolvem riscos acrescidos em termos de segurana (veja-se, p.ex., as mquinas de
movimentao de cargas, nomeadamente os empilhadores).
A sinalizao dos riscos de choques contra obstculos, de quedas de objectos e/ou de pessoas deve ser feita por meio de faixas
de cor amarela em alternncia com a cor negra (ou vermelhas e brancas) e do respectivo sinal. As dimenses destas faixas
devem ter em conta as dimenses do obstculo ou do local perigoso assinalado.
As vias devero ser marcadas, de ambos os lados, com um trao contnuo amarela, tendo em conta a cor do piso e o desgaste da cor.
Tambm na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas utilizada esta cor para assinalar situaes perigosas ou como aviso
sobre limites de segurana.
A marcao de caminhos dentro de uma instalao industrial deve seguir este princpio, seja para afastar os utilizadores das
zonas perigosas ou para delimitar as zonas de circulao.
So bons exemplos da utilizao dessas cores os exemplos das figuras seguintes.
FIGURA 157
Demarcao de zonas de circulao
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 158
Demarcao de zonas perigosas
Sinalizao de tubagens e recipientes
A sinalizao de recipientes e tubagens feita, com carcter permanente, sob a forma de pictogramas impressos sobre fundo
colorido conforme a Portaria n. 1152/97, e de acordo com
a NP 182:1966.
Os recipientes utilizados no trabalho que contenham substncias ou preparaes perigosas devem exibir a rotulagem prevista na lei.
Esta sinalizao deve ser colocada nas seguintes condies: no(s) lado(s) visvel (eis), - sob a forma rgida, autocolante ou pintada.
As caractersticas intrnsecas relativas aos sinais, aplicam-se se tambm rotulagem.
Em caso de armazenagem de diversas substncias, preparaes ou produtos perigosos, necessrio afixar o sinal relativo a
perigos vrios.
A rotulagem ou os sinais sero afixados, conforme o caso, na proximidade do local de armazenagem ou na porta de entrada
desse mesmo local.
As tubagens rgidas tambm devem ser devidamente sinalizados, permitindo uma fcil identificao dos seus contedos e das
suas caractersticas principais, sendo de extrema utilidade, sobretudo, quando coexistem diversas tubagens prximas. Nestas
condies, a informao decorrente desta sinalizao de particular importncia em situaes de fugas, derrames e incndios,
assim como quotidianamente, nas operaes normais de servio e de manuteno.
De acordo com a norma atrs referida, os fluidos contidos em tubagens so identificados por cores:
Cor de fundo - Nas instalaes em que se considera suficiente a simples identificao da natureza geral do fluido. Deve ser
aplicada em toda a extenso da canalizao ou em anis com comprimentos iguais a 4- vezes o dimetro exterior da canalizao,
incluindo o forro (quando existir), e nunca inferiores a 150 mm, e distanciados de 6 m no mximo.
Cores adicionais - Nas instalaes onde de grande importncia a identificao, tanto quanto possvel completa, da natureza e
das caractersticas do fluido canalizado. Deve ser aplicada junto dos receptores, dos aparelhos de regulao e de comando, das
unies dos ramais, das paredes e de quaisquer outros pontos em que possa ser necessria ou na extremidade mais visvel, para
tubos com menos de 2 m de extenso, podendo a restante extenso receber a cor da parede do compartimento em que se
271
272
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
encontra, em toda a extenso da canalizao ou em anis com comprimentos iguais a 4 vezes o dimetro exterior da canalizao,
incluindo o forro (quando existir), e nunca inferiores a 150 mm, e distanciados de 6 m no mximo. A NP-182: 1966 reserva o
emprego de cores adicionais, de acordo com a NP 522, apenas para os seguintes casos:
Vermelho de segurana, para indicar que o fluido se destina ao combate de incndios;
Amarelo, entre duas orlas verticais em preto, para identificao de fluido perigoso;
Azul auxiliar de segurana, em combinao com o verde de fundo, a aplicar nas canalizaes de transporte de gua doce,
potvel ou no.
QUADRO 86
Cores de sinalizao das tubagens
Fludo
Cor de fundo
gua
Verde
gua para combate a incndios
Vermelho
Ar comprimido
Azul claro
Gases (combustveis e incombustveis)
Amarelo/ocre
Para alm das informaes anteriormente referidas, e quando considerado necessrio, a sinalizao nas tubagens deve indicar
qual o sentido do movimento do fluido no seu interior, atravs de setas pintadas a branco ou a preto, bem como o nome ou
frmula qumica do fluido, assim como quaisquer outras indicaes complementares respeitantes ao fluido, nomeadamente,
presso, temperatura, concentrao.
FIGURA 159
Exemplo de sinalizao de fluidos
7.1.2 Sinais luminosos
A luz emitida no deve ter em conta as condies de utilizao, deve ter uma cor uniforme de acordo com os diferentes
significados gerais das cores em segurana e garantir um contraste nem excessivo nem insuficiente.
Para graus mais elevados de perigo deve utilizar-se sinais intermitentes, para garantir a percepo da mensagem e serem
inconfundveis com outros sinais intermitentes ou contnuos.
Este tipo de sinal pode substituir ou complementar um sinal acstico, desde que utilize o mesmo cdigo de sinal.
Os equipamentos dotados destes sinais devem ter uma manuteno cuidada e informao sobre o local onde se encontra a
lmpada suplementar.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
As sinalizaes cujo funcionamento necessite de uma fonte de energia elctrica devem ter garantida a sua alimentao mesmo
quando haja corte de corrente. (Art. 4. Port 1456- A/95).
Como exemplo de boas prticas da utilizao de sinais luminosos, apresenta-se a figura 127.
FIGURA 160
Exemplo de sinalizao luminosa
Sinal Luminoso
7.1.3 Sinais acsticos
Sinal acstico o sinal sonoro codificado, emitido e difundido por um dispositivo especfico, sem recurso voz, humana ou sinttica.
Utilizam-se sinais acsticos quando o rudo ambiental no permite a utilizao da comunicao verbal.
Relativamente aos sinais acsticos, devem ter-se em considerao alguns aspectos, nomeadamente:
Ter um nvel sonoro superior ao do rudo ambiente, sem ser excessivo ou doloroso;
Ser facilmente reconhecido, atravs da durao, da separao de impulsos e grupos de impulsos e diferenciveis de
outros sinais sonoros e rudos ambientais;
Com frequncia varivel, deve indicar um perigo mais elevado ou uma maior urgncia;
O som de um sinal de evacuao deve ser sempre contnuo e estvel em frequncia.
De qualquer forma, as sinalizaes cujo funcionamento necessite de uma fonte de energia elctrica devem ter garantida a sua
alimentao mesmo quando haja corte de corrente. (Art. 4. Port 1456- A/95).
7.1.4 Comunicao verbal
A maioria dos animais utiliza a sonoridade produzida pelo prprio organismo para se comunicar com os outros seres da sua espcie.
O ser humano no excepo e aperfeioou essa tcnica atravs daquilo que denominamos por linguagem.
com base nesse princpio que, em termos de segurana, podemos utilizar essa forma de expresso para comunicarmos com
terceiros sobre as mais diversas situaes: orientar manobras que envolvem perigos diversos; avisar sobre situaes perigosas, etc.
No entanto, a comunicao verbal est condicionada pelo ambiente envolvente, j que no caso de ser ruidoso essa forma de
comunicao pode estar em causa e ser impossvel transmitir uma determinada mensagem.
Deve transmitir textos curtos, grupos de palavras ou palavras isoladas a um ou mais interlocutores e pressupe aptido verbal do
emissor.
273
274
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O emissor deve estar sempre consciente da perfeita percepo da mensagem por parte do receptor.
7.1.5 Sinais gestuais
Sendo esta a forma privilegiada de comunicao entre seres humanos que se encontram em locais onde a propagao sonora da
voz est comprometida, foi desenvolvida uma codificao que relaciona um determinado movimento corporal com a mensagem
que se pretende transmitir.
No caso da comunicao verbal complementar sinais gestuais deve-se empregar palavras como, por exemplo, INICIAR ou
COMEAR, STOP, FIM, SUBIR, DESCER, AVANAR, RECUAR, ESQUERDA, DIREITA, PERIGO ou DEPRESSA.
O sinaleiro deve estar situado de forma a poder seguir visualmente as manobras, sem ser por elas ameaado.
O sinaleiro no deve estar em simultneo encarregue de outras tarefas.
O receptor dos sinais gestuais deve poder reconhecer facilmente o responsvel pela emisso desses sinais atravs do casaco, do
bon, de mangas, braadeiras ou bandeirolas de cores vivas e de preferncia exclusivas da sua funo.
Nos quadros apresentados a seguir, exemplificam-se os gestos adequados a cada uma das mensagens tipificadas.
QUADRO 86
Gestos de carcter geral
Significado
Descrio
Incio
Ambos os braos abertos horizontalmente, palmas das mos
voltadas para a frente
Ateno
Comando Assumido
Stop
Ilustrao
Brao direito levantado, palma da mo direita para a frente
Interrupo
Fim do movimento
Fim
Mos juntas ao nvel do peito
das operaes
QUADRO 87
Gestos para movimentos verticais
Significado
Descrio
Subir
Brao direito estendido para cima, com a palma da mo virada
para a frente, descrevendo um crculo lentamente.
Descer
Brao direito estendido para baixo, com a palma da mo virada
para dentro, descrevendo um crculo lentamente.
Distncia vertical
Mos colocadas de modo a indicar a distncia.
Ilustrao
MANUAL DE BOAS PRTICAS
QUADRO 88
Gestos para movimentos horizontais
Significado
Descrio
Avanar
Ambos os braos dobrados, palmas das mos voltadas para
dentro; os antebraos fazem movimentos lentos em direco ao
corpo.
Recuar
Ambos os braos dobrados, palmas das mos voltadas para fora;
os antebraos fazem movimentos lentos afastando-se do corpo.
Para a direita
Brao direito estendido mais ou menos horizontalmente, com a
palma da mo direita voltada para baixo, fazendo pequenos
movimentos lentos na direco pretendida.
relativamente ao
sinaleiro
Para a esquerda
relativamente ao
sinaleiro
Brao esquerdo estendido mais ou menos horizontalmente, com a
palma da mo esquerda voltada para baixo, fazendo pequenos
movimentos lentos na direco pretendida.
Distncia
Mos colocadas de modo a indicar a distncia.
Ilustrao
horizontal
QUADRO 89
Gestos complementares
Significado
Descrio
Perigo
Ambos os braos estendidos para cima com as palmas das mos
voltadas para a frente.
stop ou paragem de
emergncia
Movimento rpido
Os gestos codificados que comandam os movimentos so
executados com rapidez.
Movimento lento
Os gestos codificados que comandam os movimentos so
executados muito lentamente.
Ilustrao
8. EQUIPAMENTOS DE PROTECO INDIVIDUAL
Entende-se por equipamento de proteco individual (EPI), todo e qualquer dispositivo que tenha por objectivo proteger uma
pessoa contra um ou vrios riscos que possam ameaar a sua sade e segurana.
A Lei n. 102/2009 de 10 de Setembro, indica claramente a prioridade da proteco colectiva sobre a proteco individual, sendo
que as medidas de carcter construtivo sobrepem-se s medidas de carcter organizativo e estas s de proteco individual.
Os equipamentos de proteco individual (EPI) devem ser encarados como um complemento proteco, sendo a sua utilizao,
uma medida de preveno de ltima prioridade, jamais substituindo as medidas e equipamentos de proteco colectiva (EPC).
275
276
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Quer isto dizer que a eliminao do risco na origem e o seu isolamento so as abordagens de controlo de risco a desenvolver e
se, porventura no se concretizarem, h que proceder ao afastamento do homem da exposio a riscos significativos. Para esse
efeito, torna-se imprescindvel o recurso s medidas de proteco individual.
No entanto, estes equipamentos exigem do trabalhador um sobresforo no desempenho das suas funes, quer pelo peso, quer
ainda pelo desconforto geral que podem provocar, entre outros efeitos, que dificultam o desempenho das actividades. Como tal,
devem ser utilizados apenas na impossibilidade de adopo das outras medidas prioritrias.
Os equipamentos de proteco individual (EPI) so, portanto, a ltima tcnica a ser empregue na proteco contra riscos
significativos. Nesta problemtica, proteger significa: to pouco quanto possvel, mas tanto quanto necessrio.
Os EPI devem obedecer aos seguintes requisitos: serem cmodos, robustos, leves e adaptveis.
8.1 PROCEDIMENTO DE SELECO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECO INDIVIDUAL
O principal objectivo de um procedimento de seleco de equipamento de proteco individual definir o modo de actuao para,
na sequncia da avaliao dos riscos associados s actividades e processos da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas,
seleccionar os EPI adequados. Consequentemente, consideram-se agentes activos em todo este processo, o servio de SST,
chefias, trabalhadores e subcontratados e/ou empresas externas.
No figura seguinte, apresenta-se o fluxograma com os procedimentos de seleco dos equipamentos de proteco individual (EPI).
FIGURA 128
Fluxograma do procedimento de seleco de equipamentos de proteco individual
1. Identificao do Perigo
1. Identificao
do perigo
A identificao de fonte ou situao com potencial para o dano, em termos de leses ou
ferimentos para o corpo humano ou danos para a sade, perdas para o patrimnio,
para o ambiente do local de trabalho, ou que seja uma combinao destes factores.
2. Risco Residual
2. Risco residual
3. Seleco do EPI
Quando as medidas de proteco colectiva no se revelam totalmente eficazes,
significa que ainda persiste um determinado risco residual, que dever ser minimizado
atravs da proteco individual.
3. Seleco do EPI
Aconselha-se a utilizao de uma lista de controlo tipo check-list que analise os
possveis factores de risco para cada situao, no se focando apenas na tarefa mas
tambm no ambiente de trabalho, para apurar as caractersticas a que os mesmos
equipamentos devem obedecer.Esta lista varia de acordo com os diferentes EPI, j que
os riscos a proteger sero sempre diferentes. A utilizao de um equipamento ou de
uma combinao de EPI, embora proteja o trabalhador, tambm contempla alguns
problemas. Por isso mesmo, na hora de escolher o EPI apropriado, no s h que ter
em conta o nvel de segurana necessrio, mas tambm a comodidade de quem o vai
utilizar. A seleco dever basear-se no estudo e avaliao dos riscos presentes no
local de trabalho. Este estudo deve considerar a durao da exposio, a caracterstica
do risco, a sua frequncia e gravidade, as condies existentes no trabalho e o seu
ambiente, o tipo de danos possveis para o trabalhador e a sua constituio fsica.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
4. Aquisio de EPI
Com base na lista de controlo e seleco de EPI faz-se a aquisio do equipamento,
devendo verificar-se se as caractersticas dos mesmos satisfazem os requisitos da
norma aplicvel. Em particular, deve controlar-se se cumprem os requisitos seguintes:
Marcao CE;
4. Aquisio do EPI
Declarao de conformidade do fabricante, comprovativa da conformidade do
equipamento com as exigncias de segurana legalmente estipuladas para o seu
fabrico e comercializao;
Manual de instrues, normalmente sob a forma de folheto informativo em
Portugus.
5. Formao
5. Formao do
trabalhador
Antes de se proceder distribuio do equipamento dever proceder-se formao do
trabalhador em matria de utilizao do EPI em causa. Poder-se- ainda aproveitar
esta oportunidade para se assumir e concretizar o direito que assiste ao trabalhador de
ser consultado a propsito desta matria.
6. Distribuio do EPI
6. Distribuio do EPI
7. Sinalizao
S se consideram aptos para uso os equipamentos de proteco individual que se
encontrem em perfeitas condies e possam assegurar plenamente a funo
protectora prevista.
Na definio dos EPI que cada trabalhador dever utilizar, devero distinguir-se os de
uso permanente e os de uso temporrio. Os primeiros destinam-se a ser utilizados
durante a realizao de trabalhos de rotina para os quais se tenham identificado
perigos e avaliado riscos de que resulte a indicao dessa medida de proteco
individual. Os segundos destinam-se a ser utilizados em trabalhos eventuais para os
quais se tenha determinado a obrigatoriedade da sua utilizao, ainda que em
trabalhos no rotineiros.
A distribuio de EPI deve ser sempre acompanhada do preenchimento da lista de
distribuio de EPI cujo modelo se apresenta na figura 162. Perante uma situao de
reposio dever ser preenchida a Lista de Reposio de EPI cujo modelo se apresenta
na figura 163.
7. Sinalizao
8. Verificao
e controlo
Sinalizar correctamente os locais onde existem riscos que obriguem ao uso de EPI.
8. Verificao e Controlo
Atravs de inspeces informais e formais ao local de trabalho, garantir que o EPI
utilizado, mantido regularmente limpo e armazenado no fim da sua utilizao. Na
figura 164 apresenta-se um modelo de Ficha de Controlo de EPI.
9. Desempenho Reforo positivo/negativo
9. Desempenho
reforo
A organizao poder estabelecer um sistema de incentivos que promova uma
verdadeira cultura de segurana por parte dos seus trabalhadores. O mtodo mais
usual para o desenvolver ser atravs da Avaliao do Desempenho, na qual um dos
factores a pontuar ser precisamente o cumprimento pontual das obrigaes e deveres
em matria de Segurana e Sade do Trabalho.
Por outro lado, a organizao poder estabelecer um quadro sancionatrio para as
infraces disciplinares em matria de segurana e sade do trabalho (com consulta
ao gabinete jurdico da empresa), equacionando diversos tipos de sanes, como, por
exemplo:
1. - Repreenso verbal;
2. - Um dia de suspenso com perda de antiguidade e retribuio;
3. - Trs dias de suspenso com perda de antiguidade e retribuio;
4. - Procedimento disciplinar com vista ao despedimento por justa causa, segundo
legislao vigente.
277
278
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
O Decreto-Lei n. 348/93, de 1 de Outubro, transpe para a ordem jurdica nacional a Directiva n. 89/656/CEE, do Conselho, de 30
de Novembro, relativa s prescries mnimas de segurana e sade dos trabalhadores na utilizao de EPI.
A descrio tcnica destes equipamentos, bem como das actividades e sectores de actividade para os quais aqueles podem ser
necessrios, objecto da Portaria n. 988/93, de 6 de Outubro.
8.2 ENQUADRAMENTO DOS EPI NA REALIDADE DA INDSTRIA DA BORRACHA E DAS MATRIAS PLSTICAS
Apresentam-se de seguida exemplos que relacionam as actividades desenvolvidas na Indstria da Borracha e das Matrias
Plsticas com os seus riscos e respectivos EPI a utilizar.
Indstria da Borracha
Produo de artigos de borracha
Tipo de risco
Armazenagem de produtos
qumicos
Exposio a poeiras
EPI a utilizar
Uso de Mscara
Armazenagem de matrias-primas
Uso de vesturio
Quedas a diferentes nveis
Entalamentos
Esmagamentos
Choques de e contra
Mistura
Fabrico de colas
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Uso de Mscara
Uso de luvas
Uso de Mscara
Uso de luvas
Exposio a poeiras e
contaminantes qumicos
Exposio a substncias qumicas
(vapores e partculas)
Entalamentos
Esmagamentos
Uso de calado
de proteco
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Produo de artigos de borracha
Tipo de risco
Extruso e calandragem
Exposio a nveis elevados de rudo
EPI a utilizar
Cortes
Manuteno
Uso de
protectores
auditivos
Uso de luvas
Uso de
protectores
auditivos
Uso de luvas
Exposio a nveis elevados de rudo
Entalamentos
Quedas a diferentes nveis
Queimaduras
Cortes
Choques de e contra
Contactos elctricos
Projeco de partculas
Uso de calado
de proteco
Uso de culos
Choques de e contra
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Recauchutagem
Tipo de risco
EPI a utilizar
Recepo
Entalamentos
Armazenagem e expedio
Quedas a diferentes nveis
Entalamentos
Esmagamentos
Esmagamentos
Inspeco
Reparao
Quedas a diferentes nveis
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Entalamentos
Esmagamentos
Quedas a diferentes nveis
Exposio a vibraes
Projeco de partculas
Uso de culos
279
280
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Recauchutagem
Tipo de risco
Grosagem
Exposio a nveis elevados de rudo
EPI a utilizar
Exposio elevada a poeiras
Raspagem
Exposio a vibraes
Projeco de partculas
Uso de
protectores
auditivos
Uso de culos
Uso de mscara
Encolagem
Exposio a substncias qumicas
(vapores e partculas)
Exposio a nveis elevados de rudo
Uso de
protectores
auditivos
Vulcanizao
Uso de mscara
Exposio a vapores
Exposio a temperaturas elevadas
Exposio a partes quentes
Exposio ao rudo
Uso de mscara
Uso de luvas
Uso de protectores auditivos
Seco de corte e embalagem
Cortes
Entalamentos
Uso de luvas
Acabamento e inspeco final
Cortes
Entalamentos
Exposio a poeiras e partculas
Uso de Mscara
Uso de luvas
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Recauchutagem
Tipo de risco
Manuteno
Exposio a nveis elevados de rudo
EPI a utilizar
Entalamentos
Quedas a diferentes nveis
Queimaduras
Cortes
Uso de
protectores
auditivos
Uso de luvas
Uso de culos
Uso de calado
de proteco
Choques de e contra
Contactos elctricos
Projeco de partculas
Armazenagem e expedio
Quedas a diferentes nveis
Entalamentos
Esmagamentos
Choques de e contra
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Indstria das Matrias Plsticas
Peas plsticas por injeco para a
indstria automvel
Armazenagem de matria-prima e
componentes
Tipo de risco
EPI a utilizar
Choques de e contra
Queda de objectos
Queda ao mesmo nvel
Uso de calado
e proteco
Produo - escolha e embalagem
Choques de e contra
Queda de objectos
Queda ao mesmo nvel
Queimaduras (peas quentes)
Manuteno:
Exposio a nveis elevados de rudo
- mudana de moldes;
Entalamentos
- limpeza de moldes com
jacto de areia
Quedas a diferentes nveis
Queimaduras
Cortes
Uso de luvas
Uso de
protectores
auditivos
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Choques de e contra
Contactos elctricos
Projeco de partculas
Uso de calado
de proteco
Uso de culos
281
282
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Peas plsticas por injeco para a
indstria automvel
Tipo de risco
Injeco
Exposio a nveis elevados de rudo
EPI a utilizar
Queimaduras
Escolha e acabamento
Uso de protectores
auditivos
Uso de luvas
Uso de mscara
Uso de luvas
Exposio a contaminantes
qumicos
Cortes
Armazenagem e expedio
Quedas a diferentes nveis
Choques de e contra
Queda de objectos
Queda ao mesmo nvel
Manuteno
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Exposio a nveis elevados de rudo
Entalamentos
Quedas a diferentes nveis
Queimaduras
Cortes
Uso de protectores
auditivos
Uso de luvas
Choques de e contra
Contactos elctricos
Projeco de partculas
Uso de calado
de proteco
Uso de culos
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Produo de embalagens flexveis
Tipo de risco
Armazm de matrias-primas
Choques com ou contra
EPI a utilizar
Queda de objectos
Entalamentos
Atropelamento
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Golpes e cortes
Armazm de produtos qumicos
Queda de objectos
Manuseamento de substncias
perigosas
Entalamentos
Uso de culos
Preparao de tintas
Exposio a agentes qumicos
Manuseamento de substncias
perigosas
Entalamentos
Golpes e cortes
Uso de protectores
auditivos
Uso de luvas
Exposio a nveis elevados de rudo
Lavagem de tinteiros
Riscos elctricos
Impresso
Exposio a agentes qumicos
Manuseamento de substncias
perigosas
Cilindros
Uso de calado
Uso de culos
Uso de mscara
Uso de luvas
Uso de protectores
auditivos
Uso de luvas
Entalamentos
Golpes e cortes
Exposio a nveis elevados de rudo
283
284
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Complexagem
Queda de pessoas e/ou objectos
Riscos elctricos
Manuseamento de substncias
perigosas
Entalamentos
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Golpes e cortes
Uso de culos
Corte/ saqueiras
Riscos elctricos
Entalamentos
Golpes e cortes
Corte de mandris
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Uso de luvas
Uso de calado
de proteco
Riscos elctricos
Entalamentos
Golpes e cortes
Exposio a nveis elevados de rudo
Uso de protectores
auditivos
Embalagem/ armazm de produto
acabado/ expedio
Choques com ou contra
Queda de pessoas e/ou objectos
Entalamentos
Golpes e cortes
Uso de luvas
Queda em altura
Manuteno
Uso de calado
de proteco
Exposio a nveis elevados de rudo
Entalamentos
Quedas a diferentes nveis
Queimaduras
Cortes
Uso de protectores
auditivos
Uso de luvas
Choques de e contra
Contactos elctricos
Projeco de partculas
Uso de calado
de proteco
Uso de culos
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 162
Exemplo de lista de distribuio de equipamento de proteco individual
Nome
Nmero:
Data de admisso
Data de transferncia/
demisso
Lista de tamanhos
T-Shirt
Shirt/plo
Casaco
Cala
Sapato/bota
P: Permanente T: Temporrio
Equipamento de Proteco Individual
Tipo de
utilizao
P
Capacete
Quant.
Valor
()
Durao
prevista
3 anos
Botas de proteco com palmilha e biqueira de ao
612 meses
Botas de PVC com palmilha e biqueira de ao
612 meses
culos de proteco contra impactos
1 ano
Protectores auriculares de encaixe no capacete
3 anos
Protectores auriculares descartveis
Varivel
Mscara de filtros fsicos
Varivel
Mscara de filtros para gases
Varivel
Luvas de proteco mecnica
Varivel
Luvas de proteco qumica e microbiolgica
Varivel
Bon (reforado)
1 ano
T-shirt
1 ano
Plo
1 ano
S-Shirt
2 anos
Camisa
2 anos
Colete
3 anos
Parka
3 anos
Casaco
3 anos
Cala simples
3 anos
Cala com faixas reflectoras
3 anos
Fato impermevel simples
3 anos
Fato impermevel com faixas reflectoras
3 anos
Colete com faixas reflectoras
3 anos
Outros
Data
Rubrica
285
286
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Declarao
Eu, abaixo-assinado, declaro que recebi os Equipamentos de Proteco Individual acima mencionados
comprometendo-me a utiliz-los correctamente de acordo com as instrues recebidas e apenas para os fins para
que os mesmos foram previstos, a conserv-los e a mant-los em bom estado, e a participar todas as avarias ou
deficincias de que tenha conhecimento.
Data:
Assinatura:
FIGURA 163
Exemplo de lista de reposio de equipamento de proteco individual
Equipamento de proteco individual:
(1)
Quant.
Valor
()
Motivo da
reposio (1)
Indicar motivo da reposio: A Acidente; D Danificado; I Inadequado; T Tempo de uso; O Outro.
Observaes:
Data
Rubrica
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 164
Modelo de ficha de controlo de EPI
Modelo orientativo de ficha de controlo de EPI
Dados do trabalhador
Nome
N. registo
Idade
Tarefa
Antiguidade
no posto
Dados tcnicos do equipamento
Marca:
Modelo:
N. de srie:
Fornecedor/distribuidor:
Dados relativos ao uso do equipamento
Condies de uso:
Vida til do equipamento (aproximada):
Dados relativos manuteno do EPI
Descrio/operao
Prazo
Responsvel
1.
2.
3.
4.
Controlo de manuteno
Descrio da operao realizada
Data/rubrica
Empresa responsvel
287
288
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
8.3 BOAS PRTICAS NA UTILIZAO DE EPI
Ao usar o equipamento de proteco individual os trabalhadores da Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas devem
respeitar algumas regras prticas:
Antes de utilizar o EPI, o trabalhador dever verificar sempre o seu estado de conservao e limpeza e respectivos prazos
de validade;
Se o EPI apresentar alguma deficincia que altere as suas caractersticas protectoras, dever a sua utilizao ser evitada
e a chefia directa informada de tal acto, por escrito;
Os EPI so de uso individual, a fim de se adaptarem s medidas do utilizador e tambm por razes higinicas;
O trabalhador dever limpar cuidadosamente os EPI aps cada utilizao.
Aps a utilizao dos EPI em presena de produtos txicos, devero os mesmos ser desinfectados com materiais
adequados que no alterem as suas caractersticas;
Os EPI devero ser guardados em recipiente ou armrio prprio, isento de poeiras, produtos txicos ou abrasivos,
utilizando embalagem prpria e nas melhores condies de higiene;
Os EPI no devero nunca estar em contacto directo com ferramentas e outros materiais ou equipamentos.
FIGURA 165
Utilizao de equipamentos de proteco individual
MANUAL DE BOAS PRTICAS
9. ERGONOMIA
9.1 INTRODUO
A Ergonomia, em grego ergon (trabalho) e nomos (regras), estuda os inmeros aspectos da relao do trabalhador com as
condies de trabalho, nomeadamente: postura e movimentos corporais (sentado, em p, esttico e dinmico, em esforo ou
no), factores ambientais (o rudo, vibraes, iluminao, ambiente trmico e agentes qumicos), postos de trabalho (dimenses,
espaos para movimentos e distncias de segurana), equipamentos de trabalho, sistemas de controlo, cargos e tarefas
desempenhadas.
So exemplos de riscos ergonmicos: leses msculo-esquelticas, fadiga visual, situaes de stresse, trabalhos em perodo
nocturno, turnos de trabalho prolongados, monotonia, imposio de rotina intensa, entre outros.
Os riscos ergonmicos podem gerar distrbios psicolgicos e fisiolgicos e provocar srios danos na sade do trabalhador,
comprometendo sua produtividade, sade e segurana.
9.2 ANLISE E INTERVENO ERGONMICA
As reas de actuao da ergonomia, podem ser postas em evidncia atravs de uma simples representao.
FIGURA 166
Actuao da Ergonomia
Postos de
Trabalho
Postura e
movimentos
Equipamentos
corporais
de Trabalho
Ergonomia
Factores
Factores
Ambientais
Psicossociais
A anlise e interveno ergonmica ento um processo dinmico, atravs do qual so avaliados os factores acima
representados e definidas estratgias que permitam alcanar um nvel ptimo de rentabilidade, segurana e conforto na
utilizao e manuteno do sistema homem-mquina.
Segue-se uma abordagem a cada um destes factores relevantes da Ergonomia.
289
290
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
9.2.1 Postura e movimentos corporais
Existem vrios mtodos de avaliao da carga postural, destacando-se os seguintes: Mtodo OWAS, Mtodo RULA e Mtodo
Strain Index. Seguidamente, apresentada uma breve descrio destas metodologias.
Mtodo OWAS (Ovako Working Posture Analising System) desenvolvido pela OVACO OY, em 1977.
O mtodo baseia-se na anlise de determinadas actividades em intervalos variveis ou constantes observando-se a frequncia e
o tempo despendido em cada postura. O registo pode ser realizado atravs de vdeo acompanhado de observaes directas. Nas
actividades cclicas deve ser observado todo o ciclo e nas actividades no cclicas um perodo de, no mnimo, 30 segundos.
Durante a observao so consideradas as posturas relacionadas com as costas, braos, pernas, uso de fora e a fase da
actividade que est a ser observada, sendo atribudos valores e um cdigo de seis dgitos.
FIGURA 167
Postura e Movimentos Corporais
A combinao das posies das costas, braos e pernas determinam nveis de aco para determinao das medidas correctivas
a aplicar (figura 168)
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 168
Categorias de aco segundo posio das costas, braos, pernas e uso de fora no mtodo OWAS
Quando a actividade frequente, embora com carga leve, o procedimento de amostragem permite a estimativa da proporo de
tempo que o tronco e membros ficam nas vrias posturas durante o perodo de trabalho (figura 139).
FIGURA 169
Categorias de aco do mtodo OWAS para posturas de trabalho de acordo com a percentagem de permanncias na postura,
durante o perodo de trabalho (utilizada quando a actividade frequente, embora com carga leve) .
291
292
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A combinao das posies das costas, braos, pernas e uso de fora no mtodo OWAS recebe uma pontuao que poder ser
includa no sistema de anlise WinOWAS (obtido gratuitamente na internet), o qual permite categorizar nveis de aco para
implementao de medidas correctivas visando a promoo da sade ocupacional.
Mtodo RULA (Rapid Upper Limb Assessment ) desenvolvido por Mc Atamney e Corlett em 1993
O RULA um mtodo observacional de postos de trabalho cujo objectivo a classificao integrada do risco de Leses MsculoEsquelticas do Membro Superior no Local de Trabalho (LMEMSLT), particularmente a nvel postural. No necessitando de
equipamentos sofisticados, permite obter uma rpida avaliao das: posturas assumidas pelo trabalhador; das foras exercidas,
da repetitividade e das cargas externas sentidas pelo organismo.
O mtodo RULA utiliza diagramas posturais e trs tabelas de pontuao, o procedimento de aplicao apresentado na Figura
171. Depois de aplicado o mtodo e da avaliao dos diferentes elementos de acordo com os passos citados na referida figura, o
resultado da aplicao do RULA descrito por nveis de aco, conforme indicado no quadro seguinte.
QUADRO 90
Nveis de Aco pelo mtodo RULA
Pontuao
Nvel de Aco
Resultado
1 ou 2
Indica que as posturas avaliadas no posto de trabalho so
aceitveis se no forem mantidas ou respeitadas por
longos periodos de tempo
3 ou 4
Indica que investigaes adicionais so necessrioas e
modificaes podem ser requeridas
5 ou 6
Indica que investigaes adicionais so necessrioas
dentro de pouco tempo
7 ou mais
Indica que investigaes adicionais so necessrioas
imediatamente
A aplicao do mtodo RULA resume-se de seguida:
FIGURA 170
Mtodo RULA
Determinar os ciclos de trabalho e observar o trabalhador durante os vrios ciclos;
Seleccionar as posturas que se avaliaro;
Determinar, para cada postura, se se avaliar o lado direito ou esquerdo do corpo (ou em caso de dvida, os dois);
Determinar as pontuaes para cada parte do corpo (ver Figura 171 );
Obter a pontuao final do mtodo e o nvel de aco para determinar a existncia de risco (ver Figura 171 );
Rever o posto de trabalho e introduzir as alteraes necessrias para melhorar a postura;
Caso se verifique a alterao do posto de trabalho, dever avaliar- s e novamente de acordo com o mtodo para
comprovar a efectiva melhoria.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 171
Mtodo RULA para anlise de postos de trabalho
Mtodo SI (Strain Index) desenvolvido em 1995 por MOORE, J. S e GARG, A.
Este mtodo tem como objectivo principal, avaliar o risco de leses nos punhos e mos, e de risco de desenvolvimento de
disfunes msculo tendinosas. O SI mede seis variveis da tarefa.
1. A Intensidade do esforo uma estimativa da fora necessria para o desempenho de uma determinada tarefa. Assim, para
cada esforo dever ser seleccionado um descritor verbal do Quadro 91 que melhor corresponda observao da intensidade do
esforo desenvolvido.
QUADRO 91
SI - intensidade do esforo
% da fora
mxima
Escala de
Borg
< 10 %
Esforo muito leve
2 - Pouco pesado
10 - 29 %
Esforo leve/perceptvel
3 Pesado
30 49 %
4-5
Esforo evidente, expresso facial inalterada
4 - Muito pesado
50 79 %
6-7
Esforo substancial; expresso facial alterada
>7
Utilizao do ombro ou do tronco para gerar fora
Classe do factor
1 Leve
5 - Quase mximo
80 %
Esforo percebido
293
294
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
2. A durao do esforo por ciclo de trabalho medida em percentagem do tempo em que um esforo aplicado. Na metodologia
do SI os termos ciclo e tempo de ciclo referem-se, respectivamente, ao ciclo de esforo e durao temporal do ciclo de
trabalho. Para medir a totalidade do esforo por tempo de ciclo, observa-se a actividade durante vrios ciclos de trabalho. A
durao do perodo de observao medida com um cronmetro e o nmero de esforos contado com o auxlio de um
contador.
Durao mdia dos esforos por ciclo x 100 (seg.)
Percentagem da durao do esforo =
Mdia aproximada do tempo de ciclo (seg.)
3. O nmero de esforos por minuto medido contando o nmero de esforos que ocorreram durante um perodo de observao,
considerado representativo.
nmero de esforos
Esforos por minuto =
tempo total de observao (min.)
4. A postura da mo e do punho refere-se respectiva posio anatmica, em relao a uma posio neutra.
QUADRO 92
SI: postura da mo/pulso
ngulo da extenso
ngulo da flexo
Desvio Radial ou Cubital
Muito bom
0 - 10
0 - 5
0 - 10
Bom
10 - 25
6 - 15
11 - 15
Mdio
26 - 40
16 - 30
16-20
Mau
41 - 55
31 - 50
21-25
> 60
> 50
> 25
Classe do factor
Pssimo
5. A velocidade de execuo expressa o ritmo observado na execuo da tarefa.
QUADRO 93
SI: velocidade de execuo
Classe do factor
Muito lenta
Lenta
Moderada
Rpida
Muito rpida
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6. A durao da tarefa por dia, expressa em horas, a totalidade de tempo dirio em que a tarefa desempenhada.
O resultado do SI ento o produto destas seis variveis (multiplicadores), como se apresenta na Figura 173 (ver pgina seguinte)
e descrito por nveis de aco, conforme indicado na quadro seguinte.
QUADRO 94
Nveis de Aco pelo mtodo SI
SI 3
Indicam tarefas que no apresenta, provavelmente, risco de LMEMSLT;
3 < SI 5
Indicam tarefas com nveis de risco de LMEMSLT eventualmente valorizveis;
5 < SI 7
Indicam tarefas associadas s LMEMSLT;
SI > 7
Indicam tarefas de risco elevado de LMEMSLT.
Resumidamente a aplicao do Strain Index realizada envolvendo, sequencialmente, a seguinte metodologia:
FIGURA 172
Aplicao do Strain Index
Recolha de dados;
Aplicao de valores de classificao (descritores);
Determinao dos multiplicadores
Clculo do valor SI;
Interpretao dos resultados.
295
296
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 173
Mtodo Strain Index para anlise de postos de trabalho
MANUAL DE BOAS PRTICAS
9.2.2 Posto de trabalho
Se o posto de trabalho for adequadamente desenhado, o trabalhador poder manter uma postura de trabalho correcta e cmoda,
evitando leses lombares, problemas circulatrios, entre outros. Assim sendo, para o desenho dos postos de trabalho importa
definir critrios a nvel de dimensionamento, disposio do equipamento, de espao de trabalho e de ambiente de trabalho.
Altura do plano de trabalho
A altura do plano de trabalho deve estar relacionada com exigncia visual da tarefa, de acordo com o seguinte:
FIGURA 174
Alturas de planos de trabalho
Boas prticas
FIGURA 175
a) Trabalho exigindo elevada preciso visual (altura do plano de trabalho 10-20 cm acima do nvel do cotovelo)
b) Trabalho exigindo liberdade de movimentos da mo (altura do plano de trabalho ligeiramente abaixo do nvel do cotovelo)
a)
b)
297
298
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Ms prticas
FIGURA 176
Altura do plano de trabalho demasiadamente baixa, postura inadequada do trabalhador
Na figura seguinte so apresentadas, solues que permitem uma altura do plano de trabalho regulvel, particularmente, para
situaes em que se alternam trabalhos com objectos grandes e pequenos.
FIGURA 177
Exemplo de dispositivos de elevao que permitem uma altura do plano de trabalho regulvel
rea de trabalho horizontal
Todos os materiais, ferramentas e equipamentos de trabalho devem estar situados na superfcie de trabalho do seguinte modo:
FIGURA 178
Dimensionamento da rea de trabalho horizontal
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Distncia visual
A distncia visual que devemos manter da tarefa que estamos a realizar, depende da preciso visual da mesma:
FIGURA 179
Distncia visual para a execuo de diferentes tarefas
Na figura seguinte possvel observar, uma distncia visual favorvel para uma etapa de preparao da pea para a pintura e que
requer preciso visual elevada. Destaca-se como boa prtica, visto permitir ao trabalhador menor esforo visual e uma postura
correcta na execuo da referida tarefa.
FIGURA 180
Distncia visual correcta para a execuo de tarefa de elevada preciso
Espao para pernas
No trabalho na posio de p, o espao mnimo para os ps deve ser de 15 cm em profundidade e altura
FIGURA 181
Distncias mnimas para trabalhos em p
299
300
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Assentos
Os requisitos mais importantes para o assento (cadeiras e outros equipamentos afins) so:
Ser confortvel durante um perodo de tempo considervel;
Ser fisiologicamente satisfatrio;
Eliminar a necessidade de inclinar a coluna para a frente;
Ser apropriado para a actividade ou tarefa a executar;
Permitir a natural mobilidade.
Na figura seguinte, apresenta-se um modelo de cadeira ergonmica com as caractersticas ideais.
FIGURA 182
Caractersticas desejveis para as cadeiras ergonmicas
Por exemplo, na etapa da montagem de componentes desejvel a existncia de cadeiras ergonmicas que permitam ao
trabalhador executar a tarefa sentado.
FIGURA 183
Exemplos de cadeiras ergonmicas na etapa da montagem na Indstria das Matrias Plsticas
Salienta-se ainda o facto de que em postos de trabalho de p (por exemplo, nas mquinas de injeco), uma cadeira alta permite
ao trabalhador sentar-se ocasionalmente enquanto faz o controlo do processo.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
FIGURA 184
Exemplos de cadeiras altas que permitem ao trabalhador sentar-se ocasionalmente
9.2.3 Equipamentos de trabalho
Se no momento de concepo de mquinas forem aplicados os princpios ergonmicos podero optimizar-se os elementos do
interface operador-mquina. Dos referidos elementos destacam-se os rgos de comando, os meios de sinalizao ou de
visualizao de dados.
A crescente utilizao de equipamentos dotados de visor (EDV) coloca em destaque trs tipos de situaes:
Problemas visuais e constrangimentos associados;
Problemas posturais;
Stresse e sobrecarga mental
Devem ser por isso encontradas solues a todos os nveis, nomeadamente:
Dimensionamento correcto destes postos de trabalho, assegurando que esto preenchidos os requisitos ergonmicos
relativos ao ecr, teclado, mesa de trabalho (ver figura 185);
Garantir factores ambientais favorveis (iluminao, temperatura, humidade);
Garantir pausas curtas e frequentes ao longo do dia de trabalho;
Assegurar formao para minimizar os riscos de problemas msculo-esquelticos; A formao deve incidir na postura,
ajustamento do equipamento, organizao dos postos de trabalho, limpeza e manuteno do equipamento e intervalos
para descanso;
Incentivar a comunicao imediata dos primeiros sintomas de fadiga visual, fadiga fsica, entre outros;
Assegurar que os trabalhadores podem regressar ao trabalho recuperados.
301
302
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 185
Dimensionamento dos postos de trabalho em que h utilizao de equipamentos dotados de visor.
Relativamente s ferramentas manuais, h que escolher as que permitam ao trabalhador utilizar os msculos de maior
dimenso, de fcil preenso, que detenham pegas e cabos com dimenses ajustveis, ou duplo cabo diminuindo a presso nas
articulaes dos dedos e das mos. De um modo geral, devero ser seleccionadas as que permitam reduzir a fora, a repetio e
a preciso dos movimentos. Salienta-se ainda o facto de que uma ferramenta manual no deve ter um peso superior a 2kg. Se
for necessria a utilizao de ferramentas mais pesadas, devem ser utilizadas suspensas por contrapesos ou molas, tal como se
pode observar na figura seguinte:
FIGURA 186
Ferramentas manuais pesadas suspensas
9.2.4 Factores psicossociais
De acordo com a definio da OIT, os factores psicossociais so as interaces que se produzem entre o trabalho (entendendo-se
por trabalho a actividade executada, o ambiente em que tem lugar e as condies organizacionais) e as pessoas com as suas
capacidades, necessidades e condies de vida fora do trabalho.
Podem enumerar-se alguns riscos associados a estes factores psicossociais, nomeadamente: problemas gerais de stresse, fadiga,
insatisfao, alteraes cardiovasculares, problemas psquicos ansiedade, depresso), absentismo, sinistralidade, entre outros.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Actualmente fundamental a percepo do stresse no trabalho, que frequentemente explica o mal-estar, a inadaptao, o
esgotamento e o sofrimento dos trabalhadores no local de trabalho.
A figura seguinte ilustra alguns exemplos de factores de stresse laboral.
FIGURA 187
Exemplos de factores de stress laboral.
Agentes Stressores
Relaes Interpessoais
no trabalho.
Contexto do Trabalho
Dificuldade em conciliar a vida privada e vida
profissional.
Impreciso na definio de
responsabilidades dos trabalhadores.
Insegurana profissional.
Participao insuficiente na tomada
de decises.
Ausncia de definio de objectivos
organizacionais.
Trabalho por turnos, horrios de trabalho
Elevada carga de trabalho.
Elevada carga de trabalho atpicos, longas horas de trabalho.
Contedo do Trabalho
Problemas de fiabilidade,
disponibilidade,
Concepo das tarefas:
subutilizao de competncias, falta de variedade ou ciclos adaptao, manuteno dos
equipamentos e
de trabalho curtos.
meios de trabalho.
As intervenes ao nvel dos factores psicossociais podem subdividir-se em trs categorias:
FIGURA 188
Factores psicossociais
Intervenes Individuais
So dirigidas aos trabalhadores que apresentam sintomas de desvio de
sade, o caso das tcnicas para lidar com o stress ( exemplo: tcnicas de
relaxamento).
Intervenes
Organizacionais
Consistem em alteraes na estrutura da organizao ou factores fsicos e
ambientais;
Articulao entre as
Intervenes Individuais
e Organizacionais
Consiste na conjugao de intervenes a nvel do trabalhador e da
organizao. Por exemplo, alteraes para melhoria das relaes entre
colegas e entre estes e a gesto.
Seguidamente so enumerados alguns exemplos concretos de medidas preventivas para reduo dos riscos associados aos
factores psicossociais:
Reduzir a monotonia das tarefas quando apropriado;
Estipular qual a sobrecarga de trabalho razovel, prazos e entregas;
Estabelecer uma boa comunicao com os trabalhadores e reportar problemas;
Encorajar as equipas de trabalho;
303
304
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Monitorizao e controle de trabalho por turnos, bem como, das horas extras;
Reduzir ou monitorizar o sistema de pagamento dos que trabalham por hora;
Proporcionar formao adequada.
9.2.5 Factores ambientais
A Ergonomia deve ainda avaliar as condies do ambiente de trabalho, incluindo a iluminao, o ambiente trmico, a humidade
do ar, o rudo e a contaminao do ar, de modo a garantir condies satisfatrias para a Sade e Segurana do Trabalhador. Este
subtema no ser aprofundado no presente captulo, visto estar desenvolvido em captulos especficos do presente Manual.
9.3 RISCOS ERGONMICOS NA INDSTRIA DA BORRACHA E DAS MATRIAS PLSTICAS
QUADRO 95
Riscos Ergonmicos na Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Risco Ergonmico
- Leses Msculo-Esquelticas
(Leses dorso-lombares devido a
posturas incorrectas e ao volume
e peso de cargas manuseadas
manualmente);
Seco/Equipamento/Local
- Recepo de matria-prima;
- Pesagem de qumicos;
- Misturao;
- Calandragem;
- Extruso;
- Preparao de componentes;
- Vulcanizao;
- Preparao, manuteno e
mudana de moldes;
- Preparao e mudana de
diafragmas;
- Retocagem;
- Injeco;
- Aplicao de resinas, manta de
fibra, etc.
Medidas Preventivas
Utilizao de meios auxiliares de
transporte e manuseamento de
cargas (tapetes rolantes, portapaletes elctricos, pontes rolantes);
Adopo de posturas correctas
durante a execuo das diferentes
tarefas;
Rotatividade dos trabalhadores
(alternar as tarefas em p com
outras que se podem ser realizadas
sentadas);
Adequar as dimenses das
mquinas estatura mdia dos
trabalhadores e utilizao de meios
que facilitem o acesso s mquinas;
Automatizao do processo por
exemplo, alimentao dos produtos
qumicos automtica;
Sensibilizao/formao sobre as
posturas correctas.
- Pintura;
- Montagem;
- Acabamento;
- Armazenagem;
-Expedio.
Fadiga Visual;
- Pesagem de qumicos;
Adequar os nveis de iluminncia;
- Preparao de componentes;
Exame mdico peridico da viso;
- Preparao, manuteno e
mudana de moldes;
Pausas e mudanas de actividade.
- Inspeco visual;
- Preparao de fieiras de extruso;
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Risco Ergonmico
Desmotivao/fadiga fsica e
psicolgica;
Seco/Equipamento/Local
- Misturao;
Medidas Preventivas
- Calandragem;
Trabalho periodicamente
interrompido por pausas ou
mudanas de actividade;
- Extruso;
Alternncia de tarefas.
- Preparao de componentes
(corte, construo, lubrificao);
- Vulcanizao;
- Preparao, manuteno e
mudana de moldes;
- Preparao, manuteno e
mudana de diafragmas
- Inspeco final
Stresse trmico;
- Misturao;
Ventilao e aspirao localizadas;
- Calandragem;
Limitao do tempo de exposio;
- Extruso;
Introduo de intervalos de
descanso;
- Vulcanizao;
- Manuteno e mudana de
moldes;
- Mudana de diafragmas;
- Injeco;
-Termocolagem.
Stresse auditivo;
- Misturao;
- Calandragem;
- Extruso;
- Preparao de componentes;
- Vulcanizao;
- Preparao, manuteno e
mudana de moldes;
- Preparao e mudana de
diafragmas;
- Inspeco final;
- Armazm de produto acabado;
-Triturao;
-Serigrafia (lavagem de peas);
- Acabamento (rebarbagem,
lixagem);
-Manuteno.
Automatizao de processos;
Proteco das paredes e tectos
opacos;
Ecrs de proteco radiante;
Proteco das superfcies vidradas.
Seleco de equipamentos de
trabalho, isentos de rudo ou pouco
ruidosos;
Colocao de silenciadores ou
abafadores de rudo na mquina;
Manuteno peridica dos
equipamentos de trabalho;
Criao de barreiras acsticas que
diminuam a transmisso de rudo;
Isolamento da mquina e seus
componentes;
Alternncia de tarefas;
Diminuio do tempo de exposio;
Disponibilizao de protectores
auriculares adequados.
305
306
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
10. GESTO DA SEGURANA E SADE NO TRABALHO (SST)
A gesto da SST e da preveno materializa-se no conjunto de aces adoptadas, ou a executar, na actividade da empresa, de
forma a prevenir os riscos laborais e as suas consequncias. Para se alcanar o xito, a gesto da SST e da preveno pressupe
duas perspectivas:
a) Perspectiva integral (eliminao de todos os riscos, atravs da promoo de actividades que contribuam para a melhoria
da qualidade no trabalho, a qualidade do processo produtivo e a qualidade dos produtos);
b) Perspectiva integrada, que articula a preveno com as demais polticas da organizao. Nesta perspectiva, a preveno
um subsistema dentro da estrutura da empresa, que interage com os restantes subsistemas.
Um dos principais objectivos da gesto da SST e da preveno refere-se interveno sistematizada no processo que culmina no
acidente ou doena profissional, atravs da anlise das causas que estiveram na sua origem, o que implica a identificao dos
factores de risco, avaliao e controlo dos mesmos e acompanhamento de aces.
O planeamento da preveno determinante para a definio de prioridades e correspondente afectao de recursos,
necessidades de formao, metodologias para avaliao de riscos, medidas com impacto comportamental e definio de medidas
para reduo e/ou eliminao dos riscos.
A gesto da SST e da preveno dever actuar, essencialmente, em quatro reas:
1. - Poltica e Planeamento
So determinados os objectivos da preveno, quantificadas as metas a atingir, enumeradas prioridades e programas especficos
para o cumprimento dos objectivos e desenvolvidas actividades de avaliao e reviso da eficcia do sistema.
2. - Organizao e Comunicao
Estabelecimento inequvoco dos eixos centrais da responsabilidade e comunicao ascendente e descendente.
3. - Avaliao de riscos e integrao da preveno
Identificao dos factores de risco, respectiva avaliao e controlo de execuo das medidas.
4. Avaliao e Reviso do desempenho do sistema
Aferir se o plano de preveno est a ser posto em prtica e se o mais adequado para a organizao, o que inclui a auditoria global.
O sucesso da gesto da SST e da preveno depende do grau de articulao com as polticas, estratgias e modelos adoptados
pelas empresas ao nvel dos procedimentos de escolha de equipamentos, seleco de matrias-primas e aquisio de materiais;
do modelo de organizao do trabalho (mtodos e processos); poltica de recrutamento e seleco; gesto das pessoas; poltica de
formao; conceitos de comunicao e informao e modelo de participao e consulta.
O estdio de organizao de uma empresa em matria de Segurana e Sade no Trabalho (SST) pode variar substancialmente,
desde a ausncia total da formalizao do sistema de SST, at um sistema formalizado, em que so traados e seguidos
periodicamente objectivos e planos de actuao, com enfoque na melhoria contnua, em que so empregues tcnicas e
instrumentos de diagnstico e implementao, e, acima de tudo, est desenvolvida uma cultura de cumprimento e pr-actividade
face s regras e procedimentos internos de SST.
Um referencial moderno como a NP 4397:2008 no pode deixar de surgir alicerado numa perspectiva de melhoria contnua,
traduzida na abordagem dinmica e cclica que constitui o Ciclo de Deming ("Planear, Implementar, Controlar, Validar").
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A filosofia do ciclo de melhoria contnua utilizar o processo de aprendizagem de um ciclo para aprimorar e ajustar expectativas
para o ciclo seguinte. Este processo repete-se de forma permanente (ver esquema seguinte). Alguns autores comeam, j, a
denominar este processo de melhoria sempre contnua por melhoria continuada.
FIGURA 189
Ciclo de Deming ou ciclo PDCA
Reviso pela Gesto
Melhoria contnua
Poltica de SST
Verificao
Implementao e
Operao
Planeamento
Monitorizao e
Recursos, funes,
Identificao dos
medio de
desempenho;
Avaliao de
conformidade
Investigao de
incidentes, no
conformidades,
aces correctivas e
aces preventivas;
Investigao de
incidentes, no
conformidades,
aces correctivas e
aces preventivas;
Controlo de registos
Auditoria Interna.so
pela Gesto
responsabilidades,
responsabilizao e
autoridade;
Competncia,
formao e
sensibilizao;
Comunicao,
participao e
consulta;
Documentao
Controlo dos
documentos;
Controlo Operacional
Preparao e
resposta a
emergncias.
perigos, apreciao
do risco e definio
de controlos;
Requisitos legais e
outros requisitos;
Objectivos e
programa (s).
10.1 POLTICA DA SEGURANA E SADE NO TRABALHO
A poltica constitui a espinha dorsal do Sistema de Gesto da Segurana. Ao defini-la, deve ter-se em considerao um
diagnstico inicial sobre a realidade da empresa e ser, assim, adaptada s suas necessidades e assegurar o comprometimento
da administrao e a participao de todos os colaboradores. Seguem-se, como passos importantes, a definio da equipa de
projecto onde ser analisado o trabalho que tem de ser feito e quem o pode fazer; a formao da equipa de projecto em sistemas
de gesto de SST a fim de dotar a equipa das competncias para a boa prossecuo do projecto e a definio do projecto de
implementao, onde sero estabelecidos os objectivos, calendarizao, competncias e responsabilidades individuais de cada
membro, monitorizao dos progressos, entre outros.
A gesto de topo da organizao deve definir e manter uma poltica de Segurana e Sade no Trabalho (SST). A poltica deve ser
simples, perceptvel e deve contemplar trs compromissos chave:
Compromissos chave da poltica de SST
Melhoria contnua do SST
Cumprimento dos requisitos legais e outros aplicveis
Preveno de potenciais riscos de acidentes
307
308
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
A poltica de SST deve ser comunicada a todos os colaboradores da empresa. Existem vrias formas de o fazer, por exemplo:
afix-la em vrios locais da empresa, incorpor-la em aces de formao, mencion-la em reunies de staff, jornais internos, etc.
A poltica da SST deve estar tambm disponvel ao pblico. Para divulg-la para o exterior podem ser elaborados relatrios anuais
ou publicada em jornais e revistas, entre outros. Mas a melhor forma interna e externa da sua divulgao a elaborao de um
Manual de SST, tal como exemplifica a figura seguinte:
FIGURA 190
Manual de SST
10.2 PLANEAMENTO
Planeamento para identificao dos perigos, apreciao do risco e definio de controlos
Deve ser feito um levantamento e classificao de todas as actividades/tarefas, incluindo as efectuadas por subcontratados, que
possam gerar perigos e riscos para a empresa. Este diagnstico tem como principal objectivo conhecer o estado da organizao
ao nvel da Segurana e Sade no Trabalho, assim como os riscos associados s actividades e aos equipamentos da organizao.
Para a realizao deste levantamento fundamental constituir uma equipa com alguma experincia em anlise de riscos e
formao em Segurana e Sade no Trabalho. tambm necessrio que a informao necessria seja disponibilizada.
O modo de classificao dos riscos deve permitir tirar concluses sobre se devemos ou no actuar nos processos. Pode-se, por
exemplo, avaliar a severidade e a probabilidade de acontecer um risco e em funo desta anlise decidir onde actuar.
Uma das metodologias utilizadas pode ser o mtodo das matrizes. Considerando (P) a probabilidade de ocorrncia de uma
situao perigosa e (S) a sua severidade, o ndice de risco (R) ser dado pelo produto de P e S. Atribuindo uma escala s
diferentes probabilidades de ocorrncia de riscos e severidades possvel obter valores para R.
Exemplo:
Escala de frequncia/probabilidade (P)
Escala de severidade (S)
Frequente
Morte
Ocasional
Ferimento grave com sequelas
Remoto
Ferimento grave
Raro
Ferimento superficial
Improvvel
Ferimento irrelevante
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Severidade (S)
Probabilidade (P)
R=PxS
1
10
12
15
15 - 25
Medida a curto-prazo
12
16
20
5-12
Medida a mdio-prazo
10
15
20
25
1-4
Medida a longo-prazo
Terminada a classificao dos riscos necessrio definir medidas ou planos de aco para combater os riscos.
Requisitos legais e outros requisitos
Deve existir um procedimento para o levantamento da legislao de SST e determinao da aplicabilidade empresa.
Existem vrias formas para efectuar estes levantamentos, por exemplo:
Softwares de bases de dados de legislao de SST;
Revistas, publicaes de associaes do sector;
Consultores e advogados;
Seminrios e cursos;
Leitura diria dos sumrios do dirio da repblica (assinatura gratuita);
Cartas enviadas periodicamente s empresas;
Internet;
Livros, etc..
Deve existir uma pessoa responsvel por informar e comunicar a todos os envolvidos (trabalhadores, subcontratados,....) a
legislao aplicvel.
imprescindvel que esta informao se mantenha actualizada. O quadro seguinte um exemplo da compilao dos requisitos
legais e outros e identificada a sua aplicabilidade empresa.
Tema
Diploma
Sumrio
Aces necessrias
/Responsabilidades
Aplicabilidade *
* A - Aplicvel actividade da empresa
I Informativo
IF Informar fornecedores/Subcontratados
IF
Anlise da
Conformidade Legal
309
310
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Objectivos e programa de gesto da SST
A empresa deve determinar objectivos de SST, consistentes com os perigos e riscos identificados, com as tecnologias disponveis,
com os requisitos legais e outros aplicveis, com o parecer das partes interessadas e com os compromissos estabelecidos na
poltica de SST (preveno de riscos, melhoria contnua e conformidade com a legislao). necessrio ter em conta que os
objectivos de SST iro ser mais tarde utilizados para avaliar o desempenho de SST da organizao.
O programa de gesto de Segurana e Sade no Trabalho deve estar directamente ligado aos objectivos traados, deve descrever
como a organizao traduz os objectivos em aces concretas para que estes sejam alcanados.
Para garantir a sua eficcia, o programa de gesto de SST deve:
Designar as responsabilidades para atingir os objectivos, em cada nvel e funo relevantes da organizao;
Os prazos para que eles sejam atingidos;
Os meios e recursos necessrios.
O programa deve ser dinmico. Dever considerar alterar-se o programa quando:
Os objectivos e metas so revistos ou acrescentados;
So conseguidos progressos no alcance dos objectivos e metas - ou no;
H alterao de produtos, processos ou equipamentos, riscos ou surgirem outros factores.
No quadro seguinte, apresenta-se um modelo para a definio do Programa de SST:
QUADRO 96
Modelo para a definio do programa de SGSST
Compromisso da Poltica:
Indicador:
Riscos:
Objectivo/Meta:
Programa de Gesto SST
Aco
Meios necessrios:
Custos Previstos:
Aprovao pela Direco:
Responsvel
Data Incio
Data
Concluso/Ass.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
10.3 IMPLEMENTAO E OPERAO
Esta etapa , de facto, a mais longa e trabalhosa: definem-se as atribuies, responsabilidades e competncias de todos os
colaboradores; elaboram-se e implementam-se os procedimentos de formao, sensibilizao e competncia, de consulta e
comunicao, de gesto e controlo de documentos e dados, de controlo operacional (e todas as instrues tcnicas necessrias ao
controlo dos processos crticos) e de preveno e capacidade de resposta a emergncias (e respectivo Plano de Emergncia Interno).
Recursos, funes, responsabilidades, responsabilizao e autoridade
A Direco deve disponibilizar os recursos necessrios (recursos humanos, tecnolgicos e financeiros) para a implementao e o
controlo do Sistema de Gesto Segurana Sade Trabalho (SGSST). Assegurar esta capacidade uma das tarefas mais
importantes da Direco de topo.
A Direco da organizao deve nomear um representante especfico da Direco, que:
Assegure que o SGSST implementado e mantido;
Relate Direco o desempenho do SGSST;
Trabalhe com os outros, quando necessrio, para modificar o SGSST.
A informao relativa ao desempenho da SGSST deve ser usada para a reviso do sistema ou como base da melhoria do sistema
de gesto de segurana e sade do trabalho.
Funo:
Funo de substituio:
Resumo:
Tarefas e Responsabilidades:
Ligao Hierrquica
Superior
Inferior:
Requisitos Mnimos:
Deve ser definido o organigrama de funes e efectuada a descrio de funes, conforme o exemplo:
Competncia, formao e sensibilizao
A empresa deve identificar as competncias necessrias para os colaboradores cuja actividade afecte a SST. Aps essa identificao,
e tambm para o caso de novos colaboradores deve ser ministrada formao de forma a garantir que essas competncias sejam
atingidas. Aps a realizao dessas aces, dever ser executado o processo de avaliao da eficcia dessas aces.
Devem ainda ser ministradas aces de sensibilizao para transmitir aos colaboradores qual o seu papel no sistema de gesto
da Segurana e Sade no Trabalho e de que forma podem e devem contribuir para que sejam atingidos os Objectivos da SST
definidos pela Organizao.
311
312
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Devem ser mantidos os registos de formao, treino, competncia e experincia de cada colaborador.
A implementao deste requisito deve basear-se nas seguintes etapas:
1. Identificao das necessidades de formao;
2. Planeamento da formao;
3. Realizao das aces de formao;
4. Avaliao das aces de formao;
5. Avaliao da eficcia da formao.
Comunicao, Participao e Consulta
A empresa deve estabelecer manter um procedimento documentado para a comunicao interna entre os diversos nveis e
funes da empresa e comunicao externa no que diz respeito s questes de SST.
A comunicao com as partes externas ajuda a perceber como que a empresa entendida pelos outros. A informao de fontes
externas pode ser crtica para estabelecer objectivos de SST e outros objectivos de negcio.
Documentao
A empresa deve estabelecer e manter a informao num meio apropriado, que descreva os elementos essenciais do sistema de
gesto e a sua interaco e indique qual a documentao relacionada.
A estrutura da documentao de uma organizao pode ser expressa por diversas formas, como por exemplo uma pirmide, uma
rvore, um diagrama ou outras. A estrutura da documentao deve permitir identificar, a todos os nveis, todos os documentos
relacionados com cada um dos requisitos da Norma NP 4397:2008. De seguida apresenta-se um exemplo de pirmide
FIGURA 191
Pirmide documental da Norma 4397: 2008
Manual
do SGSST,
Poltica de Segurana
Procedimento de SGSST
Lista de Legislao
Lista de classificao de riscos
Instrues de trabalho
Planos de emergncia; Manuais de mquinas
Fichas de segurana; Mapa de extintores
Impressos e Registos da SGSST
documental.
As instrues de segurana so imprescindveis para uma preveno eficaz em qualquer tipo de instalaes e devem ser
elaboradas de forma simples e clara, tendo em conta os riscos previsveis, como, por exemplo, incndios, exploses, fugas de
gs, etc. Assim sendo, estes documentos funcionam como um complemento ao Plano de Emergncia e devem ser elaborados,
MANUAL DE BOAS PRTICAS
distribudos e afixados nas instalaes fabris.
As instrues de segurana devem incluir:
Instrues gerais de segurana, destinadas totalidade dos ocupantes do estabelecimento;
Instrues particulares de segurana, respeitantes segurana dos locais que apresentam riscos particulares;
Instrues especiais de segurana, abrangendo apenas pessoal encarregado de promover o alerta, coordenar a evacuao
do edifcio e executar as operaes destinadas a circunscrever o sinistro at chegada dos meios de socorro.
A figura seguinte mostra um exemplo de instrues de segurana, destinadas totalidade dos ocupantes do estabelecimento,
FIGURA 192
Instrues de segurana em posto de trabalho
que pode ser utilizado para a divulgao da documentao do SGSST:
Controlo dos documentos
A empresa dever estabelecer e manter procedimentos que definam como que os documentos do sistema so elaborados,
verificados, aprovados, distribudos, arquivados e alterados.
Se a empresa j tiver desenvolvido um sistema baseado na ISO 9001, provavelmente j ter um sistema de controlo de
documentos. Deve ser avaliado como feito esse controlo e se pode ser adoptado ao SGSST.
Listam-se alguns documentos importantes que devem existir nas empresas:
Plano de manuteno preventiva com itens a inspeccionar no mbito da SST;
Plano de monitorizao de agentes fsicos e qumicos;
Checklist para verificao das condies de segurana de equipamentos de trabalho;
Plano de segurana interno;
Impressos para verificaes preventivas;
Plano de sinalizao;
Regulamento de controlo de alcoolmia
Instrues de segurana para todos os equipamentos de trabalho;
313
314
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Instrues de SST sobre riscos elctricos e medidas de preveno;
Instrues de SST sobre movimentao de cargas e medidas de preveno;
Instrues de SST para o manuseamento de produtos qumicos;
Instrues de SST sobre aquisio e aluguer de mquinas;
IMP-01 Impresso para registo de entrega de EPIs;
IMP-02 Relatrio de acidente de trabalho;
IMP-03 Inqurito relativo a condies de HSST;
IMP-04 Registo de alcoolemia;
IMP-5 Regras de segurana e higiene no trabalho para trabalhadores externos.
Etc...
Controlo operacional
Para garantir que a poltica de SST cumprida e os objectivos so alcanados, existem operaes e actividades que devero ser
controladas. Se operao ou actividade complexa e a ela esto associados riscos, estes controlos devem tomar a forma de
procedimentos documentados.
Os procedimentos documentados devem cobrir todas as situaes onde a sua inexistncia possa conduzir a desvios da poltica e
objectivos da SST.
Para o desenvolvimento de um procedimento, devem seguir-se as seguintes etapas:
Seleccionar o posto de trabalho;
Dividir a actividade em operaes;
Identificar os riscos inerentes;
Definir as medidas de preveno;
Preveno e resposta a emergncias
A empresa deve identificar potenciais acidentes e situaes de emergncia e desenvolver procedimentos adequados para lidar
com eles.
Os procedimentos devem incluir as actividades necessrias preveno e minimizao dos acidentes.
Os procedimentos elaborados devem ser comunicados internamente e testados periodicamente.
10.4 VERIFICAO
Monitorizao e medio do desempenho
A avaliao do desempenho de SST avalia a performance da segurana e sade no trabalho com base nos objectivos e legislao
aplicvel.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para:
Acompanhar o desempenho da empresa em termos de SST;
Monitorizar caractersticas de operaes e actividades que afectem a SST;
Calibrar e fazer manuteno ao equipamento de monitorizao;
Atravs de auditorias internas, avaliar periodicamente a conformidade com a legislao e regulamentao aplicvel.
Apresenta-se, de seguida, um exemplo de Plano de Medio e Monitorizao:
Risco
Periocidade
Meios/DMMS
Indicador
Objectivo /
Req. Legais
Doc
Associado
e Registos
Responsvel
Avaliao da conformidade
De acordo com o seu compromisso de cumprimento, a organizao deve estabelecer, implementar e manter um ou mais
procedimentos para avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicveis.
A organizao deve avaliar o cumprimento dos outros requisitos que subscreva. A organizao poder optar por combinar esta
avaliao com a avaliao de conformidade legal, ou estabelecer um ou mais procedimentos separados.
A organizao deve manter registos dos resultados das avaliaes peridicas.
Investigao de incidentes, no conformidades, aces correctivas e aces preventivas
A empresa deve estabelecer e manter procedimentos para definir responsabilidades e a autoridade para:
Analisar e Investigar:
acidentes;
no conformidades.
Executar as aces destinadas a minimizar todas as consequncias dos acidentes ou das no conformidades;
Definir o incio e a concluso de aces correctivas e preventivas;
Comprovar a eficcia das aces correctivas e preventivas tomadas.
Estes procedimentos devem exigir que todas as aces correctivas e preventivas propostas devem ser revistos atravs do
processo de avaliao de riscos antes da sua implementao.
Se a empresa j possui um sistema de gesto de acordo com a ISO 9000 ou ISO 14001, ento j deve ter desenvolvido um
processo de aces correctivas/preventivas e pode usar esse modelo ou adapt-lo ao seu SGS.
315
316
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
As aces correctivas e preventivas devem ser registadas. O quadro seguinte um exemplo de impresso para registo das
No Conformidades/ Aces correctivas.
FIGURA 193
Impresso para registo das No conformidades/Aces correctivas
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Controlo de registos
Devem ser elaborados e mantidos procedimentos para a identificao, manuteno e arquivo dos registos de SST, bem como dos
resultados das auditorias e das anlises.
O sistema de gesto de registos passa por decidir que registos que so guardados, e como sero guardados ao longo do tempo.
Auditoria interna
A auditoria deve determinar a eficcia do sistema de segurana e sade no trabalho.
Um programa de auditorias tem como principais objectivos: verificar a existncia de potenciais acidentes e no conformidades
relativamente norma NP 4397; determinar se o SGSST est devidamente implementado e identificar as reas de possvel
melhoria.
O resultado da auditoria deve ser entregue Administrao.
10.5 REVISO PELA GESTO
Com base nos resultados da auditoria a gesto de topo deve conduzir a uma reviso de forma a avaliar a adequao e eficincia do
SGSST. O resultado da anlise deve ser documentado.
As revises do sistema devem ser evidenciadas atravs de registos apropriados, que tornem visveis quais as informaes analisadas,
quais as concluses sobre a adequabilidade do SGSST e ainda, quais as aces desencadeadas.
Esta fase constitui, igualmente, a oportunidade para a organizao avanar: traando novos e mais ambiciosos objectivos. (Porque
no pensar na certificao da sua empresa?).
11. FORMAO E COMUNICAO
Investir na qualificao das pessoas significa desenvolver sistemas e metodologias de actuao que permitam mais e melhor
qualidade de vida no trabalho. tendo por base esta premissa que o Cdigo de Trabalho cria a obrigatoriedade entidade
empregadora de contribuir para a elevao do nvel de produtividade dos seus trabalhadores, proporcionando-lhes formao
profissional.
Tambm a formao dos empregadores tem uma importncia determinante na garantia do seu envolvimento e aquisio de massa
crtica, quer em matrias de polticas e tcnicas de preveno, quer nos domnios normativo e econmico da SST.
Numa perspectiva integrada, e em respeito da Lei n. 102/2009 que promove o Regime Jurdico da Segurana e Sade no
Trabalho -, a Segurana e Sade no Trabalho matria de todos. Do topo at base, atravs de uma comunicao eficaz, cada um
ter de contribuir para a obteno de resultados excelentes e o desenvolvimento de um sistema dinmico em todas as fases do
processo produtivo.
317
318
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
11.1 FORMAO
O Cdigo do Trabalho estabelece as obrigaes do empregador e do trabalhor em termos de formao profissional (deve ser
assegurada um mnimo de 35 horas anuais de formao certificada a cada trabalhador seja atravs de aces desenvolvidas na
empresa ou atravs da concesso de tempo para o desenvolvimento da formao por iniciativa do trabalhador), salientando-se que o
empregador deve proporcionar ao trabalhador aces de formao profissional adequadas sua qualificao e o trabalhador deve
participar de modo diligente nas aces de formao profissional que lhe sejam proporcionadas, salvo se houver motivo atendvel.
Relativamente formao no domnio da segurana e sade no trabalho, o Cdigo de Trabalho estabelece que:
O trabalhador deve receber uma formao adequada no domnio da segurana e sade no trabalho, tendo em ateno o posto
de trabalho e o exerccio de actividades de risco elevado;
Aos trabalhadores e seus representantes, designados para se ocuparem de todas ou algumas das actividades de segurana e
sade no trabalho, deve ser assegurada, pelo empregador, a formao permanente para o exerccio das respectivas funes.
No que diz respeito formao dos representantes dos trabalhadores, o Cdigo do Trabalho estabelece que o empregador deve
proporcionar condies para que os representantes dos trabalhadores para a segurana e sade no trabalho recebam formao
adequada e que o empregador deve formar, em nmero suficiente, tendo em conta a dimenso da empresa e os riscos existentes, os
trabalhadores responsveis pela aplicao das medidas de primeiros socorros, de combate a incndios e de evacuao de
trabalhadores, bem como facultar-lhes material adequado.
No que se refere Segurana, investir na qualificao das pessoas importantssimo. atravs da formao habilitante que os
trabalhadores alteram atitudes, apreendem novos comportamentos, tm percepo de como est organizada a preveno na
empresa e dos factores que potenciam o risco.
Estudos levados a cabo em vrios pases, permitem constatar que as empresas com baixa sinistralidade e uma forte cultura de
segurana oferecem programas de formao em SST, o que significa que os contedos da formao, desde que enquadrados com
medidas tcnicas e organizacionais adequadas, so, efectivamente, relevantes para as funes dos trabalhadores.
No esquema seguinte, esto representadas as vrias etapas da formao e os documentos associados:
FIGURA 194
Esquema representativo da gesto da formao
Identificao das necessidades de formao
Diagnstico das necessidades de
formao
Planeamento da formao
Plano de formao
Realizao da formao
Registo Presenas/Sumrios
Avaliao da formao
Testes, questionrios
Avaliao da eficcia da formao
Registos de eficcia
MANUAL DE BOAS PRTICAS
A formao dever versar essencialmente os seguintes aspectos:
Aplicao dos princpios gerais de preveno na empresa;
Riscos profissionais e medidas de preveno e proteco;
Medidas a adoptar, na empresa, em caso de perigo grave e iminente;
Medidas de primeiros socorros, combate a incndios e de evacuao em caso de acidente, bem como sobre o
funcionamento dos servios encarregues de as pr em prtica;
Regulamentao aplicvel, regime de organizao e funcionamento das actividades, legislao sobre os riscos especficos
da empresa, estabelecimento ou servio, legislao sobre acidentes de trabalho e doenas profissionais, etc.;
Acesso a zonas de risco grave;
No que se refere formao qualificante, essencial que as actividades de SST sejam exercidas por profissionais com
qualificao adequada, assente em formao inicial ou complementar adequada, que assegure competncias ajustadas no
mbito da preveno.
Identificao das necessidades de formao
Periodicamente, devem ser identificadas as necessidades de formao tendo em conta:
Resultados da avaliao de risco;
Histrico de acidentes;
Resultados de auditorias;
No-conformidades;
Sugestes dos colaboradores;
Novos equipamentos;
Novos processos;
Mudana de Posto de Trabalho;
Avaliao do desempenho.
Plano de formao
Depois de identificadas as necessidades de formao deve ser elaborado o plano de formao:
Curso
Destinatrios Objectivos
Carga
horria
Horrio
Formador
* Identificar se a formao realizada em sala ou no posto de trabalho.
Local*
Laboral
Ps-laboral
Data prevista
incio
Custos
previstos
319
320
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Exemplos de cursos que podem fazer parte do Plano de Formao:
Sensibilizao para o uso de EPI;
Primeiros socorros;
Movimentao manual de cargas;
Conduo de empilhadores;
Armazenagem e utilizao de substncias perigosas;
Utilizao de extintores;
Treinos para as equipas de emergncia;
Auditorias de Segurana.
Realizao da formao
A formao realizada, quer em sala quer no posto de trabalho, deve ser registada.
Exemplo de impresso para registo da formao:
Curso
Turma
Formador
Horrio
Sumrio
Horas
Nome
Assinatura
Manh
Data:
Formador:
Tarde
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Avaliao da formao
Cada aco de formao deve ser avaliada - quer pelos formandos, quer pelo formador. Esta avaliao pode ser efectuada
atravs de questionrios de opinio ou realizao de testes para avaliar a aquisio de conhecimentos.
Avaliao da eficcia da formao
Terminada a formao, e j no posto de trabalho, deve-se avaliar a eficcia da formao. As metodologias utilizadas devem ser
ajustadas a cada tipo de aco. No entanto, podem incluir a anlise do desempenho dos formandos, a estatstica de acidentes ou
a ocorrncia de no conformidades.
11.2 COMUNICAO
A comunicao tem um papel importantssimo na preveno de riscos: a preveno essencial para o desempenho de reas
estratgicas da empresa e estas, por sua vez, so determinantes para que sejam alcanados indicadores relevantes:
a) A estratgia da empresa dever integrar, de forma clara, os conceitos e as prticas subjacentes interiorizao da
responsabilidade social pela melhoria das condies de trabalho;
b) A poltica de produo dever estruturar-se em funo dos processos operacionais, das condies ambientais e dos
riscos para SST;
c) O marketing dever integrar as normas sobre SST na especificao de produtos e servios, bem como as normas
tcnicas sobre desenho de produtos na definio dos requisitos indispensveis;
d) A gesto de pessoal deve privilegiar a segurana e a sade, quer na seleco quer no momento de mudana de
enquadramento profissional, proporcionando a formao adequada. A gesto de recursos humanos deve, ainda,
estruturar a organizao de forma a promover uma cultura positiva de SST;
e) A poltica financeira ganhar na compreenso de que bons padres de SST constituem um bom investimento,
adoptando uma estratgia de reduo de perdas e integrando a preveno na deciso quanto ao investimento em novos
negcios, edifcios, processos, etc;
f) A logstica desempenha um papel fulcral na adopo integral dos procedimentos de aquisio de equipamentos e
substncias que respeitam os princpios de concepo, ensaio, verificao, teste, marcao e certificao em vigor na UE;
g) Os sistemas de informao devem permitir identificar os dados relevantes para a preveno e permitir a seleco dos
indicadores de actividade adequados; as tecnologias de informao devem estar ao servio do tratamento estatstico de
dados;
h) A manuteno de mquinas, equipamentos e ferramentas pode e deve permitir a correco de disfunes com
implicao na segurana e reengenharia;
i) O sistema de qualidade influencia directamente o xito da poltica de SST, face ao conjunto de normas tcnicas cuja
adopo dever contribuir para a alterao de processos e equipamentos de trabalho.
Devem, para isso, e de forma transversal, as organizaes, estabelecer procedimentos de comunicao interna e externa:
321
322
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
a) Comunicao Interna
A comunicao interna tem como principais objectivos:
Demonstrar o envolvimento da gesto;
Informar os trabalhadores sobre os riscos associados s actividades desenvolvidas;
Sensibilizar os trabalhadores para o cumprimento das regras e procedimentos de segurana e utilizao dos
equipamentos de proteco individual;
Reforar a sensibilizao dos colaboradores para a poltica, riscos, objectivos e responsabilidades dos colaboradores.
O empregador deve efectuar, periodicamente, consulta aos trabalhadores sobre os assuntos de Segurana e Sade no Trabalho e
registar os resultados dessa consulta, podendo utilizar questionrios de levantamento de opinio.
Exemplos de canais de comunicao interna:
Intranet;
Reunies peridicas com os trabalhadores;
Caixas de sugestes;
Jornal Interno;
Panfletos informativos;
Manual de SST;
Questionrios aos trabalhadores;
Placards informativos;
Aces de formao / sensibilizao.
b) Comunicao Externa
A comunicao externa tem como principais objectivos:
Demonstrar o envolvimento da gesto;
Receber e responder a opinies, sugestes, reclamaes e pedidos de informao das partes interessadas, incluindo
entidades competentes;
Gerir a imagem da Empresa;
Comunicar procedimentos aplicveis a fornecedores, subcontratados e visitantes.
Seguidamente, apresenta-se um exemplo de procedimento de comunicao interna e externa.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Procedimento de Gesto de Segurana
Proc. n.: PGS 01
Comunicao Interna e Externa
1. Objectivo
Estabelecer as regras para assegurar a comunicao interna entre os diferentes nveis e funes da organizao e receber e
documentar questes pertinentes das partes interessadas externas, dar-lhes as respostas correspondentes.
2. mbito
Aplicvel no estabelecimento da comunicao interna dentro da EMPRESA e comunicao com o exterior.
3. Descrio
3.1 Comunicao interna
3.1.1 Divulgao da informao
Os meios de divulgao utilizados pelo Coordenador do SGSST e respectiva informao, so os seguintes:
Meios
Informao
Receptores
Cartazes de divulgao
Formao
Regras de controlo
operacional
Todos os colaboradores
Poltica de segurana
Jornal interno
Sensibilizao dos
colaboradores para o SGSST
Todos os colaboradores
Intranet
Legislao de segurana
Comunicao interna
Informao relativa ao SGSST
Todos os colaboradores (com
PC no caso da intranet)
Manual de SST
Poltica de SST
Todos os colaboradores
Disposies gerais de
segurana
Meio ambiente
Segurana na produo
Manuteno
EPI
Reunies do Grupo de
Segurana
Informao relativa ao SGSST
Elementos do Grupo de
Segurana
Indicadores do SGSST
Directores e chefes de
servio
Mail interno
Reunies de reviso do
SGSST
Objectivos e metas de
segurana
Programa de gesto de
segurana
Resultados de auditorias
323
324
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
3.1.2 Recepo da informao
Os meios atravs dos quais os trabalhadores da empresa, podero transmitir informao relevante relacionada com o
SGSST ao coordenador do SGSST, so os seguintes:
Meios
Informao
Emissores
Reunies do grupo de
segurana
Informaes relativas ao
SGSST
Elementos do grupo de
segurana
Mail interno e telefone
Informao verbal ou escrita
Pedido de esclarecimento e
informaes relativas ao
SGSST
Elementos do grupo de
segurana
Registo de sugestes
Propostas de sugestes de
melhoria, para o
desempenho do SGSST
Todos os trabalhadores
Registo de no
conformidades
Comunicao de no
conformidades identificadas,
relativamente ao
cumprimento de
procedimentos escritos, dos
requisitos da NP 4397 e do
desempenho de segurana.
Todos os trabalhadores
3.2 Comunicao externa
Os meios que a empresa utiliza para divulgar informao pertinente do seu SGSST para o exterior, so os seguintes:
Meios
Informao
Receptores
Jornais da regio
Poltica de segurana
Pblico em geral/clientes
e fornecedores
Visita da Corporao de
Bombeiros locais
Plano de emergncia
Bombeiros
Visitas empresa
Poltica de segurana
Visitas
Registos oficiais
e obrigatrios
Identificao de perigos e
avaliao de riscos
Organismos oficiais
(ACT,DGS,...)
Circulares, cartazes
Relatrio anual de segurana,
e sade no trabalho
Resultados de monitorizaes
4. Distribuio
Funo
Cpia n.
Gerncia/Produo
01
Departamento
tcnico-qualidade
02
Departamento .
administrativo/financeiro
03
Departamento logstica
04
Laboratrio
05
Data
Rbrica
MANUAL DE BOAS PRTICAS
c) Consulta aos Trabalhadores
O empregador deve consultar por escrito e, pelo menos, duas vezes por ano, previamente ou em tempo til, os representantes
dos trabalhadores ou, na sua falta, os prprios trabalhadores sobre:
A avaliao dos riscos para a segurana e sade no trabalho, incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores
sujeitos a riscos especiais;
As medidas de segurana e sade antes de serem postas em prtica ou, logo que seja possvel, em caso de aplicao
urgente das mesmas;
As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias e nas funes, tenham repercusso sobre a segurana e sade no
trabalho;
O programa e a organizao da formao no domnio da segurana e sade no trabalho;
A designao e a exonerao dos trabalhadores que desempenhem funes especficas nos domnios da segurana e
sade no local de trabalho;
A designao dos trabalhadores responsveis pela aplicao das medidas de primeiros socorros, de combate a incndios
e de evacuao de trabalhadores, a respectiva formao e o material disponvel;
O recurso a servios exteriores empresa ou a tcnicos qualificados para assegurar o desenvolvimento de todas ou parte
das actividades de segurana e sade no trabalho;
O material de proteco que seja necessrio utilizar;
As informaes referentes aos riscos para a segurana e sade, bem como as medidas de proteco e de preveno e a
forma como se aplicam;
A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos que ocasionem incapacidade para o trabalho superior a trs dias
teis, elaborada at ao final de Maro do ano subsequente;
Os relatrios dos acidentes de trabalho;
O artigo 18. da Lei n. 102/2009 de 10 de Setembro (Regime jurdico da promoo da segurana e sade no trabalho) prev que
os trabalhadores e seus representantes sejam consultados em matria de segurana e sade no trabalho. Cabe ao empregador
organizar esses momentos de consulta tendo em conta os pontos a abordar no regime jurdico, mas tambm em diversos
diplomas aplicveis segurana e sade no trabalho:
325
326
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
QUADRO 97
Lista, no exaustiva, dos Temas sujeitos a consulta dos trabalhadores ou seus representantes
Temas Sujeitos a Consulta
Diplomas
Regime jurdico da promoo da segurana e sade no
trabalho (Enquadramento geral):
Avaliao dos riscos para SST;
Medidas de SST a implementar;
Medidas que tenham repercusso sobre a SST;
Formao em SST;
Designao e exonerao dos trabalhadores que
desempenham funes especficas em SST;
Plano de segurana interno / Plano de emergncia
(Constituio das brigadas e medidas de interveno
definidas);
Servios de SST;
Acidentes de trabalho (consequncias e anlise de
causas).
Lei n. 102/2009 de 10 de Setembro Artigo 18
Mquinas e equipamentos de trabalho
Decreto-Lei n. 50/2005 de 25 de Fevereiro Artigos 9
Movimentao manual de cargas
Decreto-Lei n. 330/93 de 25 de Setembro Artigo 7
Sinalizao de segurana
Decreto-Lei n. 141/95 de 14 de Junho - Artigo 9
Equipamentos dotados de visor
Decreto-Lei n. 349/93 de 01de Outubro Artigo 9
Equipamentos de proteco individual
Decreto-Lei n. 348/93 de 01 de Outubro Artigos 6, 9 e 10;
Agentes fsicos - Rudo ocupacional
Decreto-Lei n. 182/2006 de 6 de Setembro - Artigo 10
Agentes fsicos - Vibraes
Decreto-Lei n. 46/2006 de 24 de Fevereiro - Artigo 9.
Agentes qumicos Enquadramento geral
Decreto-Lei n. 290/2001 de 16 de Novembro Artigo 14.
Acidentes industriais graves
Decreto-Lei n. 254/2007 de 12 de Julho Artigo 18, ponto 2;
Atmosferas explosivas (ATEX)
Decreto-Lei n. 236/2003 de 30 de Setembro Artigo 15, ponto 2;
Agentes qumicos - Chumbo
Decreto-Lei n. 274/89 de 21 de Agosto Artigo 16;
Agentes qumicos - Amianto
Artigo 17 do Decreto-Lei n. 284/89 de 24 de Agosto, alterado
pelo Decreto-Lei n. 389/93, de 20 de Novembro e Portaria
n.1057/89, de 07 de Dezembro;
Agentes cancergenos
Artigos 13, 14 e 15 do Decreto-Lei n. 301/2000 de 18 de
Novembro, Decreto-Lei n. 479/85 de 13 de Novembro e Artigo
5 do Decreto-Lei n. 275/91, de 07 de Agosto
Radiaes ionizantes:
Decreto-Lei n. 222/2008, de 17 de Novembro e Artigo 13 do
Decreto
Regulamentar n. 9/90, de 19 de Abril e Decreto-Lei n. 348/89,
de 12 de Outubro;
Directiva estaleiros:
Decreto-Lei n. 273/2003, de 29 de Outubro Artigo 22, ponto
1, alnea n);
Agentes biolgicos
Decreto-Lei n. 84/97 de 16 de Abril - Artigos 17 e 18.
De forma a melhor organizar os temas e os momentos de consulta, recomendvel a elaborao de um plano de consulta anual
aos trabalhadores, de modo a abranger todos os diplomas aplicveis. A consulta por escrito pode ser realizada atravs,
nomeadamente, de questionrios individuais ou actas de reunio de segurana.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Anexo I
Ficha Resumo de Dados de Segurana
327
328
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 195
Ficha resumo de segurana do produto
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Anexo II
Instruo de Segurana de um Empilhador
329
330
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
FIGURA 196
Instruo de segurana
Empilhador
1.
Objectivo
Promover a SST, alertando os trabalhadores para os riscos inerentes ao seu posto de trabalho, para as medidas
de proteco existentes e para os comportamentos de preveno e/ou proteco que devero adoptar.
2.
Responsabilidades
O operador responsvel por:
1. Ler a instruo de segurana e respeitar todas as suas condies;
2. Trabalhar em segurana promovendo o seu bem-estar no local da actividade, bem como o de todos os
trabalhadores.
O Departamento de SST responsvel por:
1. Optimizar as condies de Segurana e Sade de cada posto de trabalho, intervindo junto de cada
trabalhador;
2. Promover junto dos seus superiores a SST como ferramenta fundamental de produtividade e melhoria
contnua.
3. Instrues Gerais de Trabalho
1. Auxiliar nas diversas actividades produtivas e de manuteno;
2. Depositar os desperdcios das diversas fontes nos locais/contentores adequados;
3. Colocar o material embalado e paletizado nas prateleiras indicadas, empilhando devidamente os materiais, sem
deixar partes salientes e sem formar pilhas com altura excessiva;
4. Aquando da expedio retirar da prateleira o material e transport-lo para a zona de expedio, respeitando as
prticas seguras.
4.
Riscos
1. Queda de objectos ou cargas - Contuso, fractura, morte;
2. Queda do condutor - Contuso, fractura;
3. Queda, basculamento e tombo do empilhador - Contuso, fractura, esmagamento, morte;
4. Colises ou choques - Contuso, fractura;
5. Contacto com rgos mveis do empilhador - Entalamento, fractura, esmagamento;
6. Exposio ao rudo - Fadiga, aumento do ritmo cardaco, surdez;
7. Exposio a vibrao transmitida ao corpo inteiro - Fadiga, aumento do ritmo cardaco, perturbaes do
aparelho circulatrio;
8. Incndios e exploses - Queimaduras, morte;
9.Inalao de gases de combusto - Intoxicao, leses aparelho respiratrio;
10. Atropelamento - Contuso, fractura, morte.
5.
Medidas de Proteco
1.Cinto de segurana;
2. Sinalizao sonora e luminosa;
3.Dispositivos ROPS e FODS.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
6.
Proteco Individual
Protectores de ouvido;
Calado de proteco, com biqueira de ao e sola anti-derrapante.
7.
Regras de Higiene e Segurana a respeitar
1. Preencher o registo inspeco antes de utilizao antes de cada jornada de trabalho;
2. Fazer uso do equipamento de proteco individual obrigatrio e respeitar a sinalizao de segurana;
3. Utilizar sempre o cinto de segurana;
4. Nunca transportar ou deslocar verticalmente pessoas nos empilhadores ou outros equipamentos de
movimentao mecnica de cargas;
5. Desligar os equipamentos de trabalho antes de proceder a qualquer interveno/manuteno/reparao e
assegurar que estes nunca podero ser colocados acidentalmente em funcionamento;
6. Nunca retirar as proteces incorporadas e comunicar eventuais falhas/avarias;
7. Praticar uma conduo prudente;
8. No ingerir alimentos ou bebidas alcolicas no local de trabalho.
331
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Anexo III
Principal Legislao em matria da Segurana e Sade no Trabalho
333
334
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
GERAL
Lei n. 105/2009, de 14 de Setembro
Regulamenta e altera o Cdigo do Trabalho, aprovado pela Lei n. 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede primeira alterao da
Lei n. 4/2008, de 7 de Fevereiro.
Lei n. 102/2009, de 10 de Setembro
Regime jurdico da promoo da segurana e sade no trabalho.
Declarao de Rectificao n. 21/2009, de 18 de Maro
Rectifica a Lei n. 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a reviso do Cdigo do Trabalho.
Lei n. 7/2009, de 12 de Fevereiro
Aprova a reviso do Cdigo do Trabalho.
Resoluo do Conselho de Ministros n. 91/2008
Aprova o Plano Nacional de Aco Ambiente e Sade (PNAAS) para o perodo de 2008-2013.
Resoluo do Conselho de Ministros n. 59/2008
Aprova a Estratgia Nacional para a Segurana e Sade no Trabalho, para o perodo 2008-2012.
Portaria n. 1556/2007, de 10 de Dezembro
Aprova o Regulamento dos Alcoolmetros. Revoga a Portaria n. 748/94, de 3 de Outubro.
Decreto-Lei n. 237/2007, de 19 de Junho
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2002/15/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maro,
relativa organizao do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades mveis de transporte rodovirio.
Lei n. 18/2007, de 17 de Maio
Aprova o Regulamento de Fiscalizao da Conduo sob Influncia do lcool ou de Substncias Psicotrpicas.
Decreto-Lei n. 34/2007, de 15 de Fevereiro
Regulamenta a Lei n. 46/2006, de 28 de Agosto, que tem por objecto prevenir e proibir as discriminaes em razo da deficincia
e de risco agravado de sade.
Decreto do Presidente da Repblica n. 28/2000, de 01 de Junho
Ratifica a Conveno n. 182, relativa Interdio das Piores Formas de Trabalho das Crianas e Aco Imediata com vista
Sua Eliminao, adoptada pela Conferncia Geral da Organizao Internacional do Trabalho em 17 de Junho de 1999.
Decreto-Lei n. 347/93, de 01 de Outubro
Estabelece o enquadramento relativo s prescries mnimas de segurana e de sade nos locais de trabalho.
Portaria n. 987/93, de 06 de Outubro
Estabelece a regulamentao das prescries mnimas de segurana e sade nos locais de trabalho.
Decreto-Lei n. 243/86 de 20 de Agosto
Aprova o Regulamento Geral de Higiene e Segurana do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritrio e Servios.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Portaria n. 53/71, de 3 de Fevereiro, alterado pela Portaria n. 702/80, de 22 de Setembro
Aprova o Regulamento Geral de Segurana e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais.
ORGANIZAO DAS ACTIVIDADES DE SST
Portaria n. 1179/95 de 26 de Setembro, alterada pela Portaria n. 53/96 de 20 de Fevereiro
Aprova o modelo da ficha de notificao da modalidade adoptada pela empresa para a organizao dos servios de segurana,
higiene e sade no trabalho.
Lei n. 102/2009 de 10 de Setembro
Regime Jurdico da Promoo da Segurana e Sade no Trabalho.
Decreto do Governo n. 1/85, de 16 de Janeiro
Conveno n. 155 da OIT relativa segurana e sade dos trabalhadores e ambiente de trabalho.
ACIDENTES DE TRABALHO E DOENAS PROFISSIONAIS Sector Privado
Lei n. 98/2009, de 4 de Setembro
Regulamenta o regime de reparao de acidentes de trabalho e de doenas profissionais, incluindo a reabilitao e reintegrao
profissionais, nos termos do artigo 284. do Cdigo do Trabalho, aprovado pela Lei n. 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Decreto Regulamentar n. 76/2007 de 17 de Julho
Altera o Decreto Regulamentar n. 6/2001, de 5 de Maio, que aprova a lista das doenas profissionais e o respectivo ndice
codificado.
Portaria n. 299/2007 de 16 de Maro
Aprova o novo modelo de ficha de aptido, a preencher pelo mdico do trabalho face aos resultados dos exames de admisso,
peridicos e ocasionais, efectuados aos trabalhadores, e revoga a Portaria n. 1031/2002, de 10 de Agosto.
Decreto Regulamentar n. 6/2001, de 5 de Maio
Aprova a lista das doenas profissionais.
Portaria n. 11/2000, de 13 de Janeiro
Aprova as bases tcnicas aplicveis ao clculo do capital de remio das penses de acidentes de trabalho e aos valores de
caucionamento das penses de acidentes de trabalho a que as entidades empregadoras tenham sido condenadas ou a que se
tenham obrigado por acordo homologado.
Decreto-Lei n. 142/99, de 30 de Abril
Cria o Fundo de Acidentes de Trabalho, com a interpretao do Decreto-Lei N. 16/2003, de 3 de Fevereiro.
Portaria n. 137/94, de 08 de Maro
Aprova o modelo de participao de acidentes de trabalho e o mapa de encerramento de processo de acidente de trabalho.
Decreto-Lei n. 362/93, 15 de Outubro
Regula a informao estatstica sobre acidentes de trabalho e doenas profissionais.
Decreto-Lei n. 341/93, de 30 de Setembro
Aprova a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenas Profissionais.
335
336
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decreto-Lei n. 2/82, de 05 de Janeiro
Determina a obrigatoriedade da participao de todos os casos de doena profissional Caixa Nacional de Seguros de Doenas
Profissionais.
RADIAES
Lei n. 25/2010, de 30 de Agosto
Estabelece as prescries mnimas para proteco dos trabalhadores contra os riscos para a sade e a segurana devidos
exposio, durante o trabalho, a radiaes pticas de fontes artificiais, transpondo a Directiva n. 2006/25/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril.
Decreto-Lei n. 222/2008 de 17 de Novembro
Transpe parcialmente para o ordenamento jurdico interno a Directiva n. 96/29/EURATOM, do Conselho de 13/05 que fixa as
normas de segurana de base relativa proteco sanitria da populao dos trabalhadores contra os perigos resultantes das
radiaes ionizantes. Renova parcialmente o Decreto Regulamentar n. 9/90 de 19 de Abril. Entra em vigor 120 dias aps data de
publicao.
Decreto-Lei n. 38/2007 de 19 de Fevereiro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2003/122/EURATOM, do Conselho, de 22 de Dezembro, relativa ao controlo
de fontes radioactivas seladas, incluindo as fontes de actividade elevada e de fontes rfs, e estabelece o regime de proteco
das pessoas e do ambiente contra os riscos associados perda de controlo, extravio, acidente ou eliminao resultantes de um
inadequado controlo regulamentar das fontes radioactivas.
Decreto-Lei n. 140/2005, de 17 de Agosto
Estabelece os valores de dispensa de declarao do exerccio de prticas que impliquem risco resultante das radiaes
ionizantes.
Decreto-Lei n. 167/2002, de 18 de Julho
Aprova o regime jurdico do licenciamento e do funcionamento das entidades de prestao de servios na rea da proteco
contra radiaes ionizantes.
Decreto-Lei n. 165/2002, de 17 de Julho
Estabelece as competncias dos organismos intervenientes na rea da proteco contra radiaes ionizantes, bem como os
princpios gerais de proteco, e transpe para a ordem jurdica interna as disposies correspondentes da Directiva n.
96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de base de segurana relativas proteco sanitria da
populao e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiaes ionizantes.
Decreto Regulamentar n. 29/97, de 29 de Julho
Regime de proteco dos trabalhadores de empresas externas que intervm em zonas sujeitas a regulamentao com vista
proteco contra radiaes ionizantes. Rectificado por Declarao de Rectificao N. 14-M/97, 1997-07-31 (suprime os anexos I
e II). Observaes ao regime de proteco dos trabalhadores externos que intervm em zonas controladas aplicvel, sem
prejuzo das especificaes constantes do presente diploma, o disposto no Decreto Regulamentar n. 9/90, de 19 de Abril.
Decreto Regulamentar n. 9/90, de 19 de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n. 3/92, de 06 de Maro
Regulamentao das actividades susceptvel de envolver risco de exposio a radiaes ionizantes ou de contaminao
radioactiva. Alterado pelo Decreto Regulamentar n. 3/92 e pelo Decreto-Lei n. 153/96, de 30 de Agosto.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Decreto-Lei n. 348/89, de 12 de Outubro
Regulamentao das actividades susceptveis de envolver risco de exposio a radiaes ionizantes ou de contaminao
radioactiva.
AGENTES BIOLGICOS
Portaria n. 1036/98, de 15 de Dezembro
Altera a lista dos agentes biolgicos classificados para efeitos da preveno de riscos profissionais, aprovada pela Portaria
405/98, de 11 de Julho.
Portaria n. 405/98, de 11 de Julho
Lista de agentes biolgicos classificados para efeitos de preveno de riscos profissionais. Lista alterada pela
Portaria n. 1036/98, de 15 de Dezembro.
Decreto-Lei n. 84/97, de 16 de Abril
Proteco da segurana e sade dos trabalhadores contra os riscos resultantes da exposio a agentes biolgicos durante o
trabalho.
RUDO
Decreto-Lei n. 221/2006, de 08 de Novembro
Estabelece as regras em matria de emisses sonoras de equipamento para utilizao no exterior.
Decreto-Lei n. 182/2006, de 6 de Setembro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro,
relativa s prescries mnimas de segurana e de sade em matria de exposio dos trabalhadores aos riscos devidos ao rudo.
Revoga o Decreto-Lei n. 79/92 e o Decreto-Regulamentar n. 9/92, de 28 de Abril.
VIBRAES
Decreto-Lei n. 46/2006, de 24 de Fevereiro
Transpe para a ordem jurdica nacional a Directiva n. 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho,
relativa s prescries mnimas de proteco da sade e segurana dos trabalhadores em caso de exposio aos riscos devidos a
vibraes.
MOVIMENTAO MANUAL DE CARGAS
Decreto do Governo n. 17/84, de 04 de Abril
Aprova, para ratificao, a Conveno n. 127, sobre o peso mximo de cargas a transportar por um s trabalhador, adoptada
pela Conferncia Internacional do Trabalho na sua 51 sesso.
Decreto-Lei n. 330/93, de 25 de Setembro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 90/269/CEE, do Conselho, de 29 de Maio, relativa s prescries mnimas
de segurana e de sade na movimentao manual de cargas.
337
338
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
APARELHOS DE ELEVAO E MOVIMENTAO
Decreto-Lei n. 176/2008, de 26 de Agosto
Procede primeira alterao ao Decreto-Lei n. 295/98 de 22 de Setembro, que estabelece os princpios gerais de segurana
relativos aos ascensores e respectivos componentes e que transpe parcialmente para a ordem jurdica interna a Directiva n.
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa s mquinas, que altera a Directiva n. 95/16/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativa aproximao das legislaes dos Estados Membros respeitantes
aos ascensores.
Portaria n. 58/2005, de 21 de Janeiro
Estabelece as normas relativas s condies de emisso dos certificados de aptido profissional (CAP) e de homologao dos
respectivos cursos de formao profissional, relativos aos perfis profissionais de condutor(a)/manobrador(a) de equipamentos de
movimentao de terras e de equipamentos de elevao.
Decreto-Lei n. 320/2002, de 28 de Dezembro
Estabelece as disposies aplicveis manuteno e inspeco de ascensores, monta-cargas, escadas mecnicas e tapetes rolantes.
Decreto-Lei n. 295/98, de 22 de Setembro
Estabelece os princpios gerais de segurana relativos aos ascensores e respectivos componentes, transpondo para o direito
interno a Directiva n. 95/16/CE, de 29 de Junho.
Decreto-Lei n. 286/91, de 09 de Agosto
Estabelece normas para a construo, verificao e funcionamento dos aparelhos de elevao e movimentao. Transpe para a
ordem jurdica interna a Directiva n. 84/528/CEE, de 17 de Setembro de 1984.
MQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
Decreto-Lei n. 103/2008, 24 de Junho
Estabelece as regras relativas colocao no mercado e entrada em servio das mquinas e respectivos acessrios, transpondo
para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa s
mquinas e que altera a Directiva n. 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativa aproximao
das legislaes dos Estados membros respeitantes aos ascensores.
Decreto-Lei n. 325/2007, 28 de Setembro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2004/108/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro,
relativa aproximao das legislaes dos Estados membros respeitantes compatibilidade electromagntica dos
equipamentos.
Decreto-Lei n. 107/2006, de 8 de Junho
Aprova o Regulamento de Atribuio de Matrcula a Mquinas Industriais.
Despacho n. 8633/2005 do Ministrio da Economia e Inovao II Srie n. 77, de 20/04
Lista das normas harmonizadas adoptadas no mbito da aplicao da Directiva n.o 98/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de Junho, relativa s mquinas, de acordo com a Comunicao da Comisso Europeia 2004/C 95/02, de 20 de Abril.
Decreto-Lei n. 50/2005, de 25 de Fevereiro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho,
relativa s prescries mnimas de segurana e de sade para a utilizao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
revoga o Decreto-Lei n. 82/99, de 16 de Maro.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Portaria n. 172/2000, de 23 de Maro
Define a complexidade e caractersticas das mquinas usadas que revistam especial perigosidade.
Decreto-Lei n. 432/99 de 25 de Outubro
Fixa os padres de emisso e os processos de homologao dos motores a instalar em mquinas mveis no rodovirias
Decreto-Lei n. 374/98, de 24 de Novembro
D nova redaco a algumas disposies dos diplomas relativos a segurana de mquinas, equipamentos, instrumentos,
aparelhos e materiais. O artigo 1. foi revogado pelo Decreto-Lei 320/2001, de 12 de Dezembro, e pela Portaria n. 172/2000, de 23
de Maro. Procede identificao das mquinas usadas que, pela sua complexidade e caractersticas, revestem especial
perigosidade.
Portaria n. 280/96, de 22 de Julho
Altera os anexos I, II, III, IV e V da Portaria n. 145/94 de 12 de Maro (aprova as regras tcnicas relativas s exigncias essenciais
de segurana e sade).
Portaria n.1456-A/95 de 11 de Dezembro
Regulamenta as prescries mnimas de colocao e utilizao da sinalizao de segurana e de sade no trabalho. Revoga a
Portaria n. 434/83 de 15 de Abril.
Decreto-Lei n. 214/95, de 18 de Agosto
Estabelece as condies de utilizao e comercializao de mquinas usadas, visando a proteco da sade e segurana dos
utilizadores.
Decreto-Lei n. 139/95, de 14 de Junho
Altera diversa legislao no mbito dos requisitos de segurana e identificao a que devem obedecer o fabrico e comercializao
de determinados produtos e equipamentos.
Nota: Foi substitudo o art. 4 pelo Decreto-Lei n. 320/2001 no que nele se refere a mquinas e componentes de trabalho.
Portaria n. 145/94, de 12 de Maro
Aprova as regras tcnicas relativas s exigncias essenciais de segurana e de sade, declarao de conformidade CE, marca
CE, aos procedimentos de comprovao complementar para certos tipos de mquinas e ao exame CE de tipo.
Portaria n. 1248/93, de 07 de Dezembro, alterado por Portaria n. 11/96, de 04 de Outubro
Aprova a regulamentao tcnica relativa aos aparelhos que queimam combustveis gasosos e respectivos dispositivos de
segurana, decorrente da transposio para a ordem jurdica interna da Directiva n. 90/396/CEE, de 29 de Junho de 1990.
Decreto-Lei n. 62/88, de 27 de Fevereiro
Determina o uso da lngua portuguesa nas informaes ou instrues respeitantes a caractersticas, instalao, servio ou
utilizao, montagem, manuteno, armazenagem e transporte que acompanham as mquinas e outros utenslios de uso
industrial ou laboratorial.
EQUIPAMENTOS DOTADOS DE VISOR
Portaria n. 989/93, de 06 de Outubro
Estabelece a regulamentao relativa s prescries mnimas de segurana e sade respeitantes ao trabalho com equipamentos
dotados de visor.
339
340
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decreto-Lei n. 349/93, de 01 de Outubro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 90/270/CEE, do Conselho, de 29 de Maio, relativa s prescries mnimas
de segurana e de sade respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor.
RISCOS ELCTRICOS
Decreto-Lei n. 101/2007, de 2 de Abril
Simplifica o licenciamento de instalaes elctricas, quer de servio pblico quer de servio particular, alterando os DecretosLeis n. 26852, de 30 de Julho de 1936, n. 517/80, de 31 de Outubro, e n. 272/92, de 3 de Dezembro.
Portaria n. 949-A/2006, de 11 de Setembro
Aprova as Regras Tcnicas das Instalaes Elctricas de Baixa Tenso.
Decreto-Lei n. 226/2005, de 28 de Dezembro
Estabelece os procedimentos de aprovao das regras tcnicas das instalaes elctricas de baixa tenso.
Decreto-Lei n. 117/88, de 12/04/88, alterado pelo Decreto-Lei n. 139/95, de 14/06
Fixa os objectivos e condies de segurana a que deve obedecer todo o equipamento elctrico destinado a ser utilizado em
instalaes cuja tenso nominal esteja compreendida entre 50 V e 1000 V em corrente alternada ou entre 75 V e 1500 V em
corrente contnua, transpondo para o direito interno a Directiva 93/23/CEE, de 19 de Fevereiro.
Decreto Regulamentar n. 90/84, de 26 de Dezembro
Estabelece disposies relativas ao estabelecimento e explorao das redes de distribuio de energia elctrica em baixa
tenso.
Decreto-Lei n. 517/80, de 31 de Outubro
Estabelece disposies relativas aprovao de instalaes elctricas de utilizao particular.
Decreto-Lei n. 740/74, de 26 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n. 303/76, de 26/04, e n. 77/90, de 12 de Maro, e pelo
Decreto Regulamentar n. 90/84, de 26 de Dezembro
Regulamentos de Segurana de Instalaes de Utilizao de Energia Elctrica e de Instalaes Colectivas de Edifcios e Entradas.
Portaria n. 37/70, de 17 de Janeiro
Aprova as instrues para os primeiros socorros em acidentes pessoais produzidos por correntes elctricas e, igualmente,
aprova o modelo oficial das referidas instrues para afixao obrigatria nas instalaes elctricas, sempre que o exijam os
regulamentos de segurana respectivos - Revoga a Portaria n. 17653, bem assim, as instrues por ela aprovadas.
Decreto-Lei n. 43 335 de 19/11/1960
Para alm da regulamentao das bases do sector elctrico, hoje j revogadas pelo Decreto-Lei n. 99/91, de 2 de Maro, e pelo
Decreto-Lei n. 182/95, de 27 de Julho, estabelece disposies relacionadas com o licenciamento e implantao das redes
elctricas.
Decreto n. 42895, de 31/03/1960, alterado pelos Decretos Regulamentar n. 14/77, de 18/02, e n. 56/85, de 06/09
Regulamento de Segurana de Subestaes e Postos de Transformao e de Seccionamento.
Decreto-Lei n. 26852, de 30/09/1936, alterado pelo Decreto-Lei n. 446/76 de 5/06 e Portaria n. 401/76 de 06/07, e Portaria n.
344/89, de 13/05
Aprova o Regulamento de Licenas para as Instalaes Elctricas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
SUBSTNCIAS E PREPARAES PERIGOSAS
Regulamento (UE) n. 453/2010 da Comisso, de 20 de Maio
Altera o Regulamento (CE) n. 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliao, autorizao e
restrio de produtos qumicos (REACH).
Regulamento n. 276/2010, de 31 de Maro
Altera o Regulamento (CE) n. 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliao, autorizao e
restrio de produtos qumicos (REACH), no que respeita ao anexo XVII (diclorometano, petrleo de iluminao e lquido de
acendalha para grelhadores e compostos organoestnicos).
Decreto-Lei n. 98/2010 de 11 de Agosto
Estabelece o regime a que obedecem a classificao, embalagem e rotulagem das substncias perigosas para a sade humana
ou para o ambiente, com vista sua colocao no mercado, transpe parcialmente a Directiva n. 2008/112/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, e transpe a Directiva n. 2006/121/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18
de Dezembro
Decreto-Lei n. 41-A/2010, de 29 de Abril
Regula o transporte terrestre, rodovirio e ferrovirio, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurdica interna a
Directiva n. 2006/90/CE, da Comisso, de 3 de Novembro, e a Directiva n. 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
24 de Setembro
Portaria n. 422/2009, de 21 de Abril
Aprova o estatuto dos responsveis tcnicos pelo projecto e pela explorao de instalaes de armazenamento de produtos de
petrleo e de postos de abastecimento de combustveis.
Decreto-Lei n. 293/2009, de 13 de Outubro
Assegura a execuo, na ordem jurdica nacional, das obrigaes decorrentes do Regulamento (CE) n. 1907/2006, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliao, autorizao e restrio dos produtos qumicos (REACH)
e que procede criao da Agncia Europeia dos Produtos Qumicos.
Regulamento n. 790/2009, de 05 de Setembro
Altera, para efeitos da sua adaptao ao progresso tcnico e cientfico, o Regulamento (CE) n. 1272/2008 do Parlamento Europeu
e do Conselho, relativo classificao, rotulagem e embalagem de substncias e misturas.
Regulamento n. 1272/2008, de 16 de Dezembro
Relativo classificao, rotulagem e embalagem de substncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. 1907/2006.
Regulamento n. 987/2008, de 08 de Outubro
Que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliao, autorizao e
restrio dos produtos qumicos (REACH), no que respeita aos anexos IV e V.
Decreto-Lei n. 195/2008 de 10 de Junho
Procede terceira alterao e republicao do Decreto-Lei n. 267/2002 de 26 de Novembro, que estabelece os procedimentos
e define as competncias para efeitos de licenciamento e fiscalizao de instalaes de armazenamento de produtos do petrleo
e postos de abastecimento de combustveis.
341
342
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decreto-Lei n. 63-A/2008, de 03 de Abril
Altera o Decreto-Lei n. 170-A/2007 de 4 de Maio, e respectivos anexos, transpondo para a ordem jurdica interna a Directiva n.
2006/89/CE, da Comisso, de 3 de Novembro, que adapta pela sexta vez ao progresso tcnico a Directiva n. 94/55/CE, do
Conselho, de 21 de Novembro, relativa ao transporte rodovirio de mercadorias perigosas.
Decreto-Lei n. 63/2008, de 02 de Abril
Procede 1. alterao ao Decreto-Lei n. 82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a Classificao, Embalagem,
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurana de Preparaes Perigosas, transpondo para a ordem jurdica interna as
Directivas n.os 2004/66/CE, do Conselho, de 26 de Abril, 2006/8/CE, da Comisso, de 23 de Janeiro, e 2006/96/CE, do Conselho, de
20 de Novembro.
Decreto-Lei n. 31/2008, de 25 de Fevereiro
Altera o Decreto-Lei n. 267/2002, de 26 de Novembro, que estabelece os procedimentos e define as competncias para efeitos de
licenciamento e fiscalizao de instalaes de armazenamento de produtos do petrleo e postos de abastecimento de
combustveis.
Decreto-Lei n. 170-A/2007, de 4/05, rectificado pela declarao de rectificao n. 63-A/de 2007 de 03/07 e alterado pelo
Decreto-Lei n. 63-A/2008 de 03/04
Transpe para a ordem jurdica interna a directiva n. 2004/111/26 de 9/12 e a directiva n. 2004/112/26 de 13/12 relativas ao
transporte rodovirio de mercadorias perigosas e aos controlos rodovirios com transporte de mercadorias perigosas.
Despacho n. 27707/2007, de 10 de Dezembro
Implementao do Regulamento REACH
Decreto-Lei n. 389/2007, de 30 de Novembro
Altera o Decreto-Lei n. 267/2002, de 26 de Novembro, que estabelece os procedimentos e define as competncias para efeitos de
licenciamento e fiscalizao de instalaes de armazenamento de produtos do petrleo e postos de abastecimento de
combustveis, e o Decreto-Lei n. 125/97, de 23 de Maio, que estabelece as disposies relativas ao projecto, construo e
explorao das redes e ramais de distribuio alimentadas com gases combustveis da terceira famlia, simplificando o
respectivo licenciamento
Portaria n. 1515/2007, de 30 de Novembro
Altera a Portaria n. 1188/2003, de 10 de Outubro, que regula os pedidos de licenciamento de combustveis.
Decreto-Lei n. 243/2007, de 30 de Novembro
Transpe para a ordem jurdica interna as Directivas n.os 2006/122/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
Dezembro, e 2006/139/CE, da Comisso, de 20 de Dezembro, que alteram a Directiva n. 76/769/CEE, do Conselho, de 27 de
Julho, no que respeita limitao da colocao no mercado e da utilizao de algumas substncias e preparaes perigosas.
Decreto-Lei n. 112/2007, de 17 de Abril
Assegura a execuo, na ordem jurdica interna, das obrigaes decorrentes para o Estado Portugus do Regulamento (CE) n.
304/2003, do Parlamento e do Conselho, de 28 de Janeiro, com as alteraes que lhe foram introduzidas pelo Regulamento (CE)
n. 1213/2003, da Comisso, de 7 de Julho, pelo Regulamento (CE) n. 775/2004, da Comisso, de 26 de Abril, e pelo Regulamento
(CE) n. 777/2006, da Comisso, de 23 de Maio, relativo exportao e importao de produtos qumicos perigosos, e revoga o
Decreto-Lei n. 275/94, de 28 de Outubro.
Declarao de Rectificao n. 19/2007
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n. 10/2007, do Ministrio da Economia e da Inovao, que transpe para a ordem jurdica
interna as Directivas n.os 2005/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, 2005/69/CE, do Parlamento
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, 2005/84/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, e
2005/90/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, que alteram a Directiva n. 76/769/CEE, do
Conselho, de 27 de Julho, no que respeita limitao da colocao no mercado e da utilizao de algumas substncias e
preparaes perigosas, publicado no Dirio da Repblica, 1. srie, n. 13, de 18 de Janeiro de 2007.
Decreto-Lei n. 10/2007 de 18 de Janeiro
Transpe para a ordem jurdica interna as Directivas n.os 2005/59/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro,
2005/69/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, 2005/84/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de Dezembro, e 2005/90/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, que alteram a Directiva n.
76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, no que respeita limitao da colocao no mercado e da utilizao de algumas
substncias e preparaes perigosas.
Regulamento (CE) n. 1907/2006, de 18 de Dezembro
Relativo ao registo, avaliao, autorizao e restrio dos produtos qumicos (REACH), que cria a Agncia Europeia dos Produtos
Qumicos.
Decreto-Lei n. 27-A/2006, de 10 de Fevereiro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2004/21/CE, da Comisso, de 24 de Fevereiro, relativa limitao da
colocao no mercado e da utilizao de algumas substncias e preparaes perigosas, alterando o Decreto-Lei n. 264/98 de 19
de Agosto.
Decreto-Lei n. 162/2005 de 22 de Setembro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2004/21/CE, da Comisso, de 24 de Fevereiro, relativa limitao da
colocao no mercado e da utilizao de algumas substncias e preparaes perigosas, alterando o Decreto-Lei n. 264/98 de 19
de Agosto.
Decreto-Lei n. 101/2005, de 23 de Junho
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 1999/77/CE, da Comisso, de 26 de Julho, relativa limitao da colocao
no mercado e da utilizao de algumas substncias e preparaes perigosas, alterando o Decreto-Lei n. 264/98 de 19 de Agosto.
Amianto
Portaria n. 362/2005 de 4 de Abril
Altera o Regulamento de Construo e Explorao de Postos de Abastecimento de Combustveis, anexo Portaria n. 131/2002 de
9 de Fevereiro.
Decreto-Lei n. 72/2005, de 18 de Maro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2003/53/CE, do Parlamento e do Conselho, de 18 de Junho, que altera a
Directiva n. 76/769/CEE, do Conselho, de 27 de Julho, no que diz respeito limitao da colocao no mercado e da utilizao de
certas substncias e preparaes perigosas (nonilfenol, etoxilado de nonilfenol e cimento)
Portaria n. 159/2004, de 14 de Fevereiro
Fixa os montantes das taxas a cobrar pelas entidades referidas no n. 2 do artigo 6. do Decreto-Lei n. 267/2002 de 26 de
Novembro, que estabelece os procedimentos e define as competncias para efeitos de licenciamento e fiscalizao de
instalaes de armazenamento de produtos de petrleo e instalaes de postos de abastecimento de combustveis.
Decreto-Lei n. 208/2003, de 15 de Setembro regulamentado pela Portaria n. 163/2004 de 14 de Fevereiro
Transpe para a ordem jurdica interna as directivas n. 2002/45/CE de 25/06; 2002/61/CE de 19/07; 2003/2/CE de 6/01; 2003/3/CE
de 6/01, relativas limitao da colocao no mercado e da utilizao de algumas substncias e preparaes perigosas (corantes
azticos).
343
344
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decreto-Lei n. 82/2003, de 23 de Abril
Aprova o Regulamento para a classificao, embalagem, rotulagem e fichas de dados de segurana de preparaes perigosas
para o homem e o ambiente, quando colocadas no mercado. (Revogou o Decreto-Lei n. 120/92, de 30 de Junho,
Decreto-Lei n. 189/99, de 2/ de Junho e a Portaria n. 1152/97, de 12 de Novembro, que regulamentavam esta mesma matria).
Portaria 131/2002, de 9 de Fevereiro
Aprova o Regulamento de Construo e Explorao de Postos de Abastecimento de Combustveis.
Decreto-Lei n. 302/2001 de 23 de Novembro
Estabelece o novo quadro legal para a aplicao do Regulamento de Construo e Explorao de Postos de Abastecimento de
Combustveis.
Decreto-Lei n. 99/2000, de 30 de Maio
Transpe a Directiva n. 87/18/CEE, do Conselho, de 18 de Dezembro de 1986, relativa a aplicao dos princpios da OCDE de boas
prticas de laboratrio (BPL) e ao controlo da sua aplicao para os ensaios sobre as substncias qumicas, e a Directiva n.
99/11/CE, da Comisso, de 8 de Maro, que adapta ao progresso tcnico os princpios contidos naquela directiva.
Decreto-Lei n. 95/2000, de 23 de Maio
Estabelece as regras relativas inspeco e verificao dos princpios da OCDE de boas prticas de laboratrio (BPL).
Decreto-Lei n. 264/98, de 19 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n. 446/99, de 3 de Novembro, Decreto-Lei n. 256/2000, de 17
de Outubro, Decreto-Lei n. 238/2002, de 5 de Novembro, Decreto-Lei n. 141/2003, de 2 de Julho, Decreto-Lei n. 208/2003, de 15
de Setembro, Decreto-Lei n. 123/2004, de 24 de Maio e Decreto-Lei n. 76/2008, de 28 de Abril
Transpe para a ordem jurdica diversas Directivas que estabeleceram limitaes comercializao e utilizao de determinadas
substncias perigosas.
Portaria n. 732-A/96, de 11 de Dezembro, alterada por Decreto-Lei n. 330-A/98, de 2 de Novembro, Decreto-Lei n. 209/99, de
11 de Junho, Decreto-Lei n. 195- A/2000, de 22 de Agosto, Decreto-Lei n. 222/2001, de 8 de Agosto, Decreto-Lei n. 154-A/2002,
de 11 de Junho e Decreto-Lei n. 72-M/2003, de 14 de Abril.
Regulamento para a notificao, classificao, embalagem e rotulagem de substncias perigosas. Procede regulamentao do
Decreto-Lei n. 82/95, de 22 de Abril. Alteraes:
Decreto-Lei n. 72-M/2003, de 14 de Abril altera os anexos I e X do Regulamento;
Decreto-Lei n. 154-A/2002, de 11 de Junho altera os anexos I, III, IV, V, VI, VII-A e VIII do Regulamento;
Decreto-Lei n. 222/2001, de 08 de Agosto altera o art. 16 e os anexos I, V, VI e IX do Regulamento;
Decreto-Lei n. 195-A/2000, de 22 de Agosto altera os anexos I, III, IV, V e VI do anexo do Regulamento;
Decreto-Lei n. 209/99, de 11 de Junho altera os anexos I e VI do Regulamento;
Decreto-Lei n. 330-A/98, de 02 de Novembro altera os artigos 18 e 20 e os anexos I, V e VI;
Aditado por Decreto-Lei n. 330-A/98, de 02 de Novembro adita ao anexo III.
Decreto-Lei n. 82/95, de 22 de Abril, alterado por Decreto-Lei n. 72-M/2003, de 14 de Abril (Suplemento) e Decreto-Lei n.
260/2003, de 21 de Outubro.
Transpe para a ordem jurdica interna vrias directivas que alteram a Directiva n. 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Julho,
relativa aproximao das disposies legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes classificao, embalagem e
rotulagem de substncias perigosas. (altera o n. 2 do art. 2).
Decreto-Lei n. 54/93, de 26/02, alterado pelo Decreto-Lei n. 256/2000, de 17/10
Limitao da colocao no mercado e da utilizao de substncias e preparaes perigosas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Decreto-Lei n. 47/90, de 09/02, alterado pelo Decreto-Lei n. 446/99, de 03/11
Limita o uso e comercializao de diversas substncias e preparaes perigosas.
Decreto-Lei n. 36270, de 09/05/1947
Regulamento de segurana das instalaes de armazenagem e tratamento industrial de petrleos brutos, seus derivados e
resduos.
EXPOSIO A AGENTES CANCERGENOS
Lei n. 102/2009, de 10 de Setembro
Regime jurdico da promoo da segurana e sade no trabalho
Decreto-Lei n. 301/2000, de 18 de Novembro
Estabelece o enquadramento e regulamentao relativa proteco dos trabalhadores contra os riscos ligados exposio a
agentes cancergenos ou mutagnicos durante o trabalho.
Decreto do Presidente da Repblica n. 61/98, de 18 de Dezembro
Ratifica a Conveno n. 139 da Organizao Internacional do Trabalho, sobre a preveno e o controlo dos riscos profissionais
causados por substncias e agentes cancergenos.
Resoluo da Assembleia da Repblica n. 67/98, de 18 de Dezembro
Aprova, para ratificao, a Conveno n. 139 da OIT, sobre a preveno e controlo dos riscos profissionais causados por
substncias e agentes cancergenos.
Decreto-Lei n. 479/85, de 13 de Novembro
Fixa as substncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco cancergeno, efectivo ou potencial, para os
trabalhadores profissionalmente expostos.
EXPOSIO A AGENTES QUMICOS
Decreto-Lei n. 305/2007, de 24 de Agosto
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2006/15/CE, da Comisso, de 7 de Fevereiro, que estabelece uma segunda
lista de valores limite de exposio profissional (indicativos) a agentes qumicos para execuo da Directiva n. 98/24/CE, do
Conselho, de 7 de Abril, alterando o anexo ao Decreto-Lei n. 290/2001, de 16 de Novembro.
Decreto-Lei n. 266/2007, de 24 de Julho
Proteco sanitria dos trabalhadores contra o risco de exposio ao amianto durante o trabalho
Decreto-Lei n. 290/2001, de 16 de Novembro
Estabelece o enquadramento e regulamentao relativa s prescries mnimas de proteco da segurana e da sade dos
trabalhadores contra os riscos da exposio a agentes qumicos durante o trabalho.
Decreto-Lei n. 275/91, de 7 de Agosto, alterado pela Lei n. 113/99, de 3 de Agosto
Regulamenta as medidas especiais de preveno e proteco da sade dos trabalhadores contra riscos de exposio a algumas
substncias qumicas.
Decreto-Lei n. 274/89, de 21 de Agosto
Proteco dos trabalhadores contra os riscos resultantes da exposio ao chumbo e aos seus compostos inicos nos locais de
trabalho.
345
346
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Decreto-Lei n. 273/89, de 21 de Agosto
Proteco da sade dos trabalhadores contra os riscos que possam decorrer da exposio do cloreto de virilo no nmero nos
locais de trabalho.
PREVENO DE RISCOS DE ACIDENTES GRAVES
Portaria n. 966/2007 de 22 de Janeiro
Aprova os requisitos e condies de exerccio da actividade de verificador do sistema de gesto de segurana de
estabelecimentos de nvel superior de perigosidade.
Decreto-Lei n. 254/2007 de 12 de Julho
Estabelece o regime de preveno de acidentes graves que envolvam substncias perigosas e de limitao das suas
consequncias para o homem e o ambiente, transpondo para a ordem jurdica interna a Directiva n. 2003/105/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a Directiva n. 96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao
controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substncias perigosas.
Decreto-Lei n. 209/2008, de 29 de Outubro
Estabelece o regime de exerccio da actividade industrial (REAI).
ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Comunicao da comisso no mbito da execuo da directiva n. 94/9/CE relativa aproximao das legislaes dos estados
membros sobre aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas de
20/08/2008.
Despacho n. 24 819/2004 do Ministrio das Actividades Econmicas e do Trabalho II Srie n. 282, de 02 de Dezembro
Publica a lista das normas portuguesas que transpem as normas harmonizadas no mbito da Directiva n. 94/9/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maro, relativa aos aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados
em atmosferas potencialmente explosivas.
Despacho n. 10 501/2004 do Ministrio da Economia II Srie n. 124, de 27 de Maio
Publica a lista das normas harmonizadas no mbito da aplicao da Directiva n. 94/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de Maro, relativa aos aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente
explosivas.
Decreto-Lei n. 236/2003, de 30 de Setembro
Transpe para a ordem jurdica nacional a Directiva n. 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro,
relativa s prescries mnimas destinadas a promover a melhoria da proteco da segurana e da sade dos trabalhadores
susceptveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas.
Despacho n. 16 295/2003 do Ministrio da Economia II Srie n. 192, de 21 de Agosto
Publica a lista das normas portuguesas que transpem as normas harmonizadas no mbito de aplicao da directiva relativa aos
aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente perigosas.
Despacho n. 6974/2003 - II Srie n. 84, de 09 de Abril
Publica a lista das normas portuguesas que transpem as normas harmonizadas no mbito de aplicao da directiva relativa aos
aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
Despacho n. 4878/2003 do Ministrio da Economia II Srie n. 61, de 13 de Maro
Publica a lista das normas portuguesas que transpem para o direito interno as normas harmonizadas do mbito de aplicao da
Directiva n. 94/9/CE, de 23 de Maro, relativa aos aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas.
Portaria n. 341/97, de 21 de Maio
Regras relativas segurana e sade dos aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em atmosferas
potencialmente explosivas.
Decreto-Lei n. 112/96, de 05 de Agosto
Estabelece as regras de segurana e de sade relativas aos aparelhos e sistemas de proteco destinados a ser utilizados em
atmosferas potencialmente explosivas.
Decreto-Lei n. 202/90, de 19 de Junho
Transpe para o direito portugus a directiva comunitria relativa utilizao de equipamentos elctricos em atmosferas
explosivas
INCNDIOS
Portaria n. 773/2009, de 21 de Julho
Define o procedimento de registo, na Autoridade Nacional de Proteco Civil (ANPC), das entidades que exeram a actividade de
comercializao, instalao e ou manuteno de produtos e equipamentos de segurana contra incndio em edifcios (SCIE).
Portaria n. 610/2009, de 08 de Junho
Regulamenta o sistema informtico que permite a tramitao desmaterializada dos procedimentos administrativos previstos no
regime jurdico da segurana contra incndios em edifcios.
Portaria n. 64/2009, de 22 de Janeiro
Estabelece o regime de credenciao de entidades para a emisso de pareceres, realizao de vistorias e de inspeces das
condies de segurana contra incndios em edifcios (SCIE).
Despacho n. 2074/2009, de 15 de Janeiro
Critrios tcnicos para determinao da densidade de carga de incndio modificada.
Portaria n. 1532/2008, de 29 de Dezembro
Aprova o Regulamento Tcnico de Segurana contra Incndio em Edifcios (SCIE).
Decreto-lei n. 220/2008, de 12 de Novembro
Estabelece o Regime Jurdico da Segurana Contra Incndios em Edifcios (SCIE).
EQUIPAMENTOS SOB PRESSO
Decreto-Lei n. 90/2010 de 22 de Julho
Aprova, simplificando, o novo Regulamento de Instalao, de Funcionamento, de Reparao e de Alterao de Equipamentos sob
Presso, revogando o Decreto-Lei n. 97/2000, de 25 de Maio.
Despacho n. 11 551/2007 de 12 de Junho
Aprova a ITC para conjuntos processuais de equipamentos sob presso.
347
348
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Despacho n. 24 260/2007 de 23 de Outubro
Aprova ITC para reservatrios de gases de petrleo liquefeitos com capacidade superior a 200 m3.
Portaria n. 1541/2007 de 6 de Dezembro
Aprova o Regulamento dos Reservatrios de Armazenamento de Instalao Fixa. Revoga a Portaria n. 953/92, de 3 de Outubro.
Despacho n. 24 261/2007 de 23 de Outubro
Aprova a instruo tcnica comportamental (ITC) para equipamentos sob presso a conjuntos destinados produo ou
armazenagem de gases liquefeitos criognicos.
Despacho n. 1859/2003, de 30 de Janeiro
Aprova a ITC para recipientes sob presso de ar comprimido (RAC).
Despacho n. 7129/2002, de 14 de Maro
Aprova a ITC para equipamentos sob presso destinados produo ou armazenagem de lquidos criognicos.
Despacho n. 22333/2001, de 12 de Outubro
Aprova a ITC para reservatrios de gases de petrleo liquefeitos (GPL).
Despacho n. 22332/2001, de 12 de Outubro
Aprova a ITC para geradores de vapor e equiparados.
Portaria n. 1211/2001, de 20 de Outubro
Fixa as importncias das taxas a cobrar pela prestao dos servios de autorizao prvia de instalao, aprovao da instalao
e autorizao de funcionamento, renovao da autorizao de funcionamento e de registo e averbamentos de equipamentos sob
presso.
Decreto-Lei n. 211/99, de 14 de Junho
Estabelece as regras a que devem obedecer o projecto, o fabrico e a avaliao da conformidade, a comercializao e a colocao
em servio dos equipamentos sob presso. Transpe para o direito interno a Directiva n. 97/23/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Maio, relativa aos equipamentos sob presso.
Portaria n. 422/98, de 21 de Julho
Regulamento do controlo metrolgico dos manmetros, vacumetros e mano vacumetros.
Portaria n. 99/96, de 1 de Abril
Altera alguns pontos da Portaria n. 770/92, de 7 de Agosto, na sequncia da aprovao do Decreto-Lei n. 139/95, de 14 de
Junho.
Decreto-Lei n. 139/95, de 14 de Junho
Altera o Decreto-Lei n. 103/92, de 30 de Maio, face aprovao 93/68/CEE, do Conselho, de 22 de Julho de 1993.
Portaria n. 770/92, de 7 de Agosto
Regulamenta as exigncias essenciais de segurana e regras respeitantes documentao tcnica de fabrico, definies e
smbolos respeitantes a RSP simples.
Decreto-Lei n. 103/92, de 30 de Maio
Transpe para legislao nacional a Directiva do Conselho n. 87/404/CEE, de 25 de Junho de 1987, referente a recipientes sob
presso simples.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
SINALIZAO DE SEGURANA E SADE
Portaria n. 1456-A/95, de 11 de Dezembro
Regulamenta o Decreto-Lei n.141/95, as prescries mnimas de colocao e utilizao da sinalizao de segurana e de sade
no trabalho. Revoga a Portaria n. 434/83, de 15 de Abril.
Decreto-Lei n. 141/95, de 14 de Junho
Estabelece as prescries mnimas para a sinalizao de segurana e de sade no trabalho.
Portaria n. 98/96, de 01 de Abril
Fixa o regime e grafismo a aplicar no material elctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tenso.
EQUIPAMENTOS DE PROTECO INDIVIDUAL
Despacho n. 22 714/2003 do IPQ - II Srie n. 270, de 21 de Novembro
Publica a lista de normas harmonizadas no mbito de aplicao da Directiva n. 89/686/CEE, relativa a equipamentos de
proteco individual (EPI).
Decreto-Lei n. 374/98, de 24 de Novembro
Altera os Decretos-Lei n s 378/93, de 5 de Novembro, 128/93, de 22 de Abril, 383/93, de 18 de Novembro, 130/92, de 6 de Julho,
117/88, de 12 de Abril, e 113/93, de 10 de Abril, que estabelecem, respectivamente, as prescries mnimas de segurana a que
devem obedecer o fabrico e comercializao de mquinas, de equipamentos de proteco individual, de instrumentos de pesagem
de funcionamento no automtico, de aparelhos a gs, de material elctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites.
Portaria n. 695/97, de 19 de Agosto
Altera os anexos I e V da Portaria n. 1131/93, de 4 de Novembro [fixa os requisitos essenciais de segurana e sade a que devem
obedecer o fabrico e comercializao de equipamentos de proteco individual (EPI)].
Portaria n. 109/96, de 10 de Abril
Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria n. 1131/93, de 4 de Novembro (estabelece as exigncias essenciais relativas sade e
segurana aplicveis aos EPI).
Portaria n. 1131/93, de 04 de Novembro
Regulamenta o Decreto-Lei n. 128/93, de 22 de Abril. Estabelece as exigncias essenciais relativas sade e segurana
aplicveis aos EPI.
Portaria n. 988/93, de 06 de Outubro
Estabelece a regulamentao relativa s prescries mnimas de segurana e sade dos trabalhadores na utilizao de
equipamento de proteco individual.
Decreto-Lei n. 348/93, de 01 de Outubro
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva n. 89/656/CEE, do Conselho, de 30 de Novembro, relativa s prescries
mnimas de segurana e de sade para a utilizao pelos trabalhadores de equipamento de proteco individual no trabalho.
Decreto-Lei n. 128/93, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n. 139/95, de 14 de Junho, e pelo Decreto-Lei n. 374/98, de 24
de Novembro.
Transpe para a ordem jurdica interna a Directiva do Conselho n. 89/686/CEE, de 21 de Dezembro, relativa aos equipamentos de
proteco individual. Estabelece os requisitos a que deve obedecer o fabrico e comercializao dos EPI.
349
MANUAL DE BOAS PRTICAS
BIBLIOGRAFIA
IInstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; II Coloquio Internacional sobre Equipos de Proteccin Personal; Torremolinos, 1982
Leplat, Jacques e Cuny, Xavier; Introduction la Psychologie du Travail; PUF, Paris, 1984
Grandjean, E., Fitting the task to the man A textbook of occupational ergonomics, Taylor & Francis, 1988
Montmollin, Maurice; A Ergonomia; Instituto Piaget, 1990
HSC Health and Safety Comission; Management of Health and Safety at Work Approved Code of Practice; HSE Books, Londres, 1992
HSE Health and Safety Executive; Successful Health & Safety Management; HSE Books, Londres, 1993
INRS; Conception des Lieux de Travail; Paris, 1993
AISS; Prevention des risques mecaniques solutions pratiques; 1994
Franco, M. Helena et al; Sinalizao de Segurana e Sade nos Locais de Trabalho; IDICT, 1999
Lluna, G., Sistema de gestin de riesgos laborales e industriales, Editorial MAPFRE, 1999
O'Mahony, L., Seaver, M., ISA2000 The system for occupational health and safety management, Volume 1, Gower, 2000
O'Mahony, L., Seaver, M., ISA2000 The system for occupational health and safety management, Volume 2, Gower, 2000
Pras, F.; Gua Tcnica de Seguridad para el Diseo y Utilizacin de Mquinas y Equipos de Trabajo; CIE, 2001
OIT; Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo; 2001 (3. Edio)
OIT; Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho Directrizes Prticas; IDICT, 2002
Dinis, Ana; Ergonomia; INDEG, 2002
Comisso das Comunidades Europeias DG Emprego e Assuntos Sociais; Guia de boa prtica de carcter no obriga trio para a
aplicao da Directiva 1999/92/CE; 2003
Vrios Manual de Higiene Industrial 4. Edio Revista Fundacion MAPFRE Madrid 2003
Cabral, J.; Organizao e Gesto da Manuteno; LIDEL, 2004 (4. Edio)
Rebelo, F., Ergonomia no dia-a-dia, Silabo, 2004
Benedetti, R., NFPA Pocket guide to inspecting flammable liquids, 2005
Pinto, Abel ; Sistemas de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho, Edies Slabo, 2005.
Comisso das Comunidades Europeias, Instituto para a Segurana, Higiene e Sade no Trabalho (adaptao); Segurana e sade dos
trabalhadores expostos a atmosferas explosivas: Guia de Boas Prticas, 2006.
Fonseca, Antnio et al; Concepo de Locais de Trabalho Guia de apoio; IDICT, 2006 (4 Edio)
351
352
Indstria da Borracha e das Matrias Plsticas
Massena, Maria Manuela de Melo; Potencialidades da anlise ergonmica do trabalho na construo de uma preveno integrada e
participada; ISHST, Lisboa, 2006
Nunes, Fernando Manual Tcnico de Segurana e Higiene do Trabalho 1 Edio Texto Editores, Amadora - Maio,2006
Concepo dos locais de trabalho, ISHT
Lus Conceio Freitas, Gesto da Segurana e Sade no Trabalho, Vol. I e II, Edies Universitrias Lusfonas
Manual de Higiene, Segurana, Sade e Preveno de Acidentes de Trabalho - VERLAG DASHOFER.
OSRAM, Manual Luminotcnico Prtico
Barroso, M.P e Gomes da Costa, L. Anlise Ergonmica de Postos de Trabalho na Industria Cermica Portuguesa. Lisboa: Srie
Estudos em Segurana e Sade no Trabalho, n. 16, Instituto para a Segurana, Higiene e Sade no Trabalho (ISHST), 2006.
CARTILHA LER/DORT, Agosto de 2001
WHO, Prevencin de trastornos musculoesquelticos en el lugar de trabajo, 2004
Zeni , Lcia Andria Zanette Ramos;AVALIAO POSTURAL PELO MTODO OWAS , s/d
SERRANHEIRA , Florentino; Uva, Antnio De Sousa , ; Avaliao do risco de LMEMSLT: aplicao dos mtodos RULA e SI OPSS,
Observatrio Portugus dos Sistemas de Sade; Avaliao do risco de leses musculo-esquelticas do membro superior ligadas ao
trabalho (LMEMSLT): aplicao dos mtodos RULA e Strain Index
SERRANHEIRA, Florentino; Leses Msculo-esquelticas Ligadas ao Trabalho: que mtodos de avaliao do risco?. Anexos da Tese de
Doutoramento em Sade Pblica na especialidade de Sade Ocupacional. apresentada Universidade Nova de Lisboa. Lisboa Fevereiro de 2007.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabalho, Lista de Comprobacin Ergonmica, Madrid 2000.
Miguel, Alberto Srgio; Manual de Higiene e Segurana do Trabalho; Porto Editora, 2010 (11. Edio)
Freitas, Lus Conceio, Manual de Segurana e Sade do Trabalho, 1 Edio, Lisboa, Edies Slabo 2008.
Floria, Pedro Mateo, La prevencion del Rudo en la empresa, Fundacion Confemetal, 2010.
Guerra, Antnio Matos; Manual de Brigadas de Incndio; Cadernos temticos n. 3, Escola Nacional de Bombeiros, 2003;
Abrantes, Jos Barreira e Castro, Carlos Ferreira; Manual de Segurana Contra Incndio em edifcios; Cadernos temticos n. 1, 2.
Edio, Escola Nacional de Bombeiros, 2009.
Macedo, Ricardo; Manual de Higiene do Trabalho na Indstria; Fundao Calouste Gulbenkian, 2004 (2. Edio);
Agncia Europeia para a Segurana e a Sade no Trabalho; Evitar acidentes com veculos de transporte no local de trabalho; FACTS 16;
HYPERLINK "http://osha.eu.int"http://osha.eu.int;
A. Srgio Miguel et al. Manual de Segurana, Higiene e Sade do Trabalho para as Indstrias da Fileira de Madeira, AIMMP, 2005.
Natlia Ribeiro, Segurana de Mquinas e Equipamentos de Trabalho, FIEQUIMETAL.
MANUAL DE BOAS PRTICAS
CAETANO, Antnio & Vala, J. (2002). Gesto de Recursos Humanos: Contextos, Processos e Tcnicas, 2 Ed. Lisboa, RH Editora.
CORDELLA, Benedito (1999). Segurana no Trabalho e Preveno de Acidentes. Uma Abordagem Holsta. Segurana Integrada Misso
Organizacional com Produtividade, Qualidade, Preservao Ambiental e Desenvolvimento de Pessoas. So Paulo, Editora Atlas S.A..
GUERRA, Cludio Sei - Equipamentos de armazenagem. Sistemas de armazenagem [Em linha]. So Paulo: Cludio Sei Guerra, 2007.
NEVES, Marco Antnio Oliveira - "Maximizar espao ou velocidade em armazns?". In Mundo da logistica [Em linha]. So Paulo: Tigerlog.
Sistemas de armazenagem [Em linha]. So Paulo: Fiel, 2005.
TOMPKINS, James A. et al. - Facilities Planning. 2 ed. Nova Iorque: John Wiley & Sons, 1996.
ACKERMAN, Kenneth B. - Practical handbook of warehousing. 4 ed. Nova Iorque: Chapman & Hall, 1997. ISBN 978-0-412-12511-9
MANLEY, Charles E. et al. - Storage systems. In KULWIEC, Raymond A. - Materials handling book. 2 ed. Nova Iorque: John Wiley &
Sons, 1985. ISBN 978-0-471-09782-2
MULCAHY, David E. - Warehouse distribution and operations handbook. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1994. ISBN 978-0-07-044002-9
Ribeiro, Victor: Armazenagem Texto de apoio do Curso de Tcnico Superior de Segurana e Higiene do Trabalho Factor Segurana,
Maio 2002
Guia DSEAR para a aplicao da Directiva 1999/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante s prescries mnimas que
visam a melhoria da proteco em matria de segurana e sade dos trabalhadores susceptveis de estarem expostos ao risco de
atmosferas explosivas, Bruxelas, 2003.
Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition, Volume I, NFPA, Massachusetts, 2003
Guia Tcnico Sector da Fabricao de Artigos de Borracha, INETI, Lisboa Novembro 2000
Tecnologia dos Plsticos, Michaeli Greif Kaufman Vosseburg, Editora Edgard Blcher Ltd, 2008
Tecnologia Materiais Plsticos n. 171 Universidade Aberta, 1998
br.geocities.com/amtavaresj/dort.htm
HYPERLINK
"http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/ndex.htm"http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctr
l_banding/ndex.htm
HYPERLINK "http://www.ioha.net/content/view"http://www.ioha.net/content/view
HYPERLINK "http://www.eea.europa.eu/" \o "Website principal da AEA"Website principal da AEA; efeitos do rudo na sade
Environmental Terminology Discovery Service EEA.mht
PORTAL DE SADE PBLICA; Efeitos nocivos do rudo.mht
http://negocios.maiadigital.pt/hst/equipamento_proteccao_individual
353
Você também pode gostar
- IU3249 - Diamax REV Atualizado PDFDocumento111 páginasIU3249 - Diamax REV Atualizado PDFWeeber de Sá100% (1)
- Aula 3 - Métodos EspectrofotométricosDocumento66 páginasAula 3 - Métodos EspectrofotométricosHansMikuAinda não há avaliações
- Secagem Do AçúcarDocumento35 páginasSecagem Do AçúcarMarcelo França100% (4)
- Manual3AF Portugues 2Documento32 páginasManual3AF Portugues 2AlfredoAinda não há avaliações
- TRABALHO QUIMICA-Paulo Diego Alves Dos SantosDocumento4 páginasTRABALHO QUIMICA-Paulo Diego Alves Dos SantosPaulo Diego100% (1)
- Celm FC 280 - Manual de OperaçãoDocumento14 páginasCelm FC 280 - Manual de OperaçãoMateus BatistaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido II de Tecnologia de Leite e DerivadosDocumento2 páginasEstudo Dirigido II de Tecnologia de Leite e DerivadosThyago Queiroz50% (2)
- Grupo E - Sistema de Freio e RodasDocumento51 páginasGrupo E - Sistema de Freio e RodasJosé Roberto Vircents100% (1)
- Fispq - Catalisador Wash Prime AnjoDocumento14 páginasFispq - Catalisador Wash Prime AnjoFelipe MartinesAinda não há avaliações
- Potenciometria de NeutralizaçãoDocumento12 páginasPotenciometria de NeutralizaçãoFlavia MelloAinda não há avaliações
- Motor S MP - GHS PDFDocumento9 páginasMotor S MP - GHS PDFQuellyLimaAinda não há avaliações
- FT - Agua Destilada Start 1Documento1 páginaFT - Agua Destilada Start 1TacianauberabaAinda não há avaliações
- Diego Pereira de Faria Vieira Maicon Cabral Dos Santos Rafael Cabral Nunes Da SilvaDocumento41 páginasDiego Pereira de Faria Vieira Maicon Cabral Dos Santos Rafael Cabral Nunes Da SilvanathanAinda não há avaliações
- Apostila Gas CombustivelDocumento30 páginasApostila Gas Combustivelpaulofalco100% (2)
- CarboidratosDocumento15 páginasCarboidratosWELINGTON SOARES FEITOSAAinda não há avaliações
- RELATORIO TESTE DE CHAMA FinalDocumento10 páginasRELATORIO TESTE DE CHAMA FinalMANOELA ASSUNÇÃOAinda não há avaliações
- 1171 Fispq Pinho Bril Plus 04Documento5 páginas1171 Fispq Pinho Bril Plus 04Orbi NutritionAinda não há avaliações
- Os Tipos de Solos e Suas CaracterísticasDocumento9 páginasOs Tipos de Solos e Suas CaracterísticasAnonymous C3HopKi6mI100% (1)
- Nanotecnologia Pró-PazDocumento6 páginasNanotecnologia Pró-PazyvessantosAinda não há avaliações
- File126 PTDocumento2 páginasFile126 PTDina PaisAinda não há avaliações
- Fispq - Penguard Topcoat - Comp. A - Marine - Protective - Portuguese (BR) - Brazil - 625 - 01.11.2012Documento7 páginasFispq - Penguard Topcoat - Comp. A - Marine - Protective - Portuguese (BR) - Brazil - 625 - 01.11.2012Wesley CalumbyAinda não há avaliações
- Jorge Alves 3a Revisao Final Imprimir 1Documento28 páginasJorge Alves 3a Revisao Final Imprimir 1Valter CatutoAinda não há avaliações
- Análise Estrutural - ResumoDocumento5 páginasAnálise Estrutural - ResumoLuiz PauloAinda não há avaliações
- Livro Juntas Industriais - J (1) .C.veigaDocumento217 páginasLivro Juntas Industriais - J (1) .C.veigaMichael Daniels0% (1)
- Atividade 9 Ano - SoloDocumento3 páginasAtividade 9 Ano - SoloSabrina MartinsAinda não há avaliações
- FISPQ - Coral - Wanderpoxy - Esmalte Sintético - Azul CelesteDocumento14 páginasFISPQ - Coral - Wanderpoxy - Esmalte Sintético - Azul CelesteKarolAinda não há avaliações
- Apostila TMD Vol I v5-2 PDFDocumento40 páginasApostila TMD Vol I v5-2 PDFAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Cosmetologia 1Documento35 páginasCosmetologia 1mateusbandeira1Ainda não há avaliações
- Ensaio Massa Aglomerantes - 1Documento9 páginasEnsaio Massa Aglomerantes - 1Letícia FormentiniAinda não há avaliações
- Descritivo Dos Filtros de CartuchosDocumento6 páginasDescritivo Dos Filtros de CartuchosAdalberto JuniorAinda não há avaliações