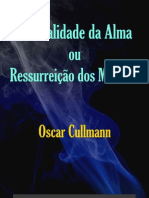Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Dualismo Na Teologia Cristã
O Dualismo Na Teologia Cristã
Enviado por
Pétalah MoraisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Dualismo Na Teologia Cristã
O Dualismo Na Teologia Cristã
Enviado por
Pétalah MoraisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
WANDERLEY PEREIRA DA ROSA
O DUALISMO NA TEOLOGIA CRIST
A deformao da antropologia bblica e suas conseqncias
Dissertao de Mestrado
Para obteno do grau de
Mestre em Teologia
Escola Superior de Teologia
Programa de Ps-Graduao
rea de Concentrao: Teologia Prtica
Orientador: Wilhelm Wachholz
So Leopoldo
2010
WANDERLEY PEREIRA DA ROSA
O DUALISMO NA TEOLOGIA CRIST
A deformao da antropologia bblica e suas conseqncias
Dissertao de Mestrado
Para obteno do grau de
Mestre em Teologia
Escola Superior de Teologia
Programa de Ps-Graduao
rea de Concentrao: Teologia Prtica
Data: ______________________________
Wilhelm Wachholz Doutor em Teologia EST
__________________________________________________________
Ricardo Willy Rieth Doutor em Teologia EST
__________________________________________________________
Leomar Antnio Brustolin Doutor em Teologia PUC/RS
__________________________________________________________
Aos meus pais Valmir e Wanda
que com bom humor constante
ensinaram-me a ter alegria e prazer na vida.
RESUMO
A pesquisa se prope averiguar algumas das conseqncias prticas para a histria
do Cristianismo em face do influxo do dualismo platnico sobre a teologia crist.
Sobretudo, no que diz respeito relao da Igreja com o mundo da cultura. Parte-se
do princpio que a combinao destes dois elementos deu origem a uma teologia
platonizada o que causou uma deformao da antropologia bblica. Esta deformao
no passou impune. Ao contrrio, a partir da a Igreja percorreu caminhos que, em
grande medida, desconstruram sua face mais evanglica. O primeiro captulo faz
consideraes acerca do pensamento platnico a respeito da dicotomia espritomatria, adentra-se pelo perodo patrstico e as primeiras formulaes teolgicas
dos Pais da Igreja j sob a influncia do pensamento helnico. Da, uma rpida
panormica sobre a Idade Mdia. Constatado o problema, pergunta-se pelas suas
conseqncias. O segundo captulo concentra-se na colonizao ibrico-catlica na
Amrica Latina seguida do genocdio dos povos amerndios e, ato contnuo, dos
povos afros escravizados. Sugere-se que esta teologia surgida da assimilao do
dualismo platnico serviu como justificativa para a dominao, demonizao e
massacre desses povos, uma vez que se o corpo era mal, poderia ser destrudo. A
Teologia da Libertao surge como uma proposta de superao desta viso
dicotmica do ser humano. O terceiro captulo foca em um exemplo do Cristianismo
em sua verso protestante, a saber: a insero do protestantismo no Brasil e sua
notria resistncia s manifestaes culturais populares do povo brasileiro. Para
isto, analisa-se antes a identidade do missionrio evanglico que veio para o Brasil.
Esta identidade foi forjada desde o incio da Reforma no sculo XVI percorrendo,
sobretudo, um determinado tipo de protestantismo que, iniciando com os
anabatistas, passa pelos puritanos, pietistas, metodistas, avivalistas, ortodoxos,
fundamentalistas e pentecostais. Caso a parte a assimilao da religiosidade
popular por parte dos movimentos neopentecostais. Finalmente, o quarto captulo
aborda a viso bblica do ser humano em sua inteireza. Analisando os principais
termos bblicos que se referem antropologia, verifica-se que a viso bblica do ser
humano libertadora e promotora de novas relaes com o mundo ao redor em
suas dimenses poltica, social, econmica, cultural, religiosa, esttica, etc.
Palavras-chave: Dualismo platnico, teologia crist, Cristianismo e cultura.
SUMRIO
Introduo .............................................................................................................. 07
1. Dualismo antropolgico platnico quando tudo comeou ........................ 11
1.1 Introduo .......................................................................................................... 11
1.2 Fdon: o evangelho segundo Plato ................................................................ 12
1.3 A controvrsia gnstica porta de entrada do dualismo platnico na teologia
crist ................................................................................................................... 15
1.4 Evoluo da antropologia dualista na patrstica ................................................ 18
1.4.1
Tertuliano
de
Cartago
oposio
ao
dilogo
............................................ 18
1.4.2
Clemente e Orgenes de Alexandria a teologia estabelece contato
....... 21
1.4.3
O monasticismo cristo consolidao da antropologia dualista
............. 25
1.4.4
Agostinho
de
Hipona
intrprete
sistematizador
................................... 31
1.5 Antropologia dualista na Idade Mdia ............................................................... 33
1.5.1
So
Boaventura
dualismo
psicofsico
..................................................... 33
1.5.2
Toms
de
Aquino
tentativa
de
superao
do
dualismo
.......................... 34
1.6 Concluso .......................................................................................................... 36
2. Antropologia dualista como fundamento para uma teologia de dominao do
Outro na colonizao catlica da Amrica .......................................................... 42
2.1 Introduo .......................................................................................................... 42
2.2 Faces da legitimao teolgica da dominao .................................................. 42
2.3 Mtodos de dominao tnico-cultural .............................................................. 46
2.4 A Histria dos colonizadores ............................................................................. 49
2.5 A Histria dos outros .......................................................................................... 51
2.6 Teologia e escravido ........................................................................................ 52
2.7 Teologia da Libertao proposta teolgico-pastoral de superao do dualismo
............................................................................................................................. 56
2.8 Concluso .......................................................................................................... 58
3. Matriz antropolgica dualista como base teolgica na implantao do
protestantismo no Brasil ...................................................................................... 61
3.1 Reforma Protestante origens ......................................................................... 61
3.2 Puritanismo e Pietismo o avano do ascetismo protestante ......................... 74
3.3 Avivalistas, ortodoxos e liberais tenses e fissuras ....................................... 81
3.4 Fundamentalistas e pentecostais radicalizaes e rompimentos .................. 92
3.5 A insero do protestantismo no Brasil ............................................................ 100
3.5.1
Protestantismo de imigrao e de misso no Brasil
.................................. 100
3.5.2
Pentecostalismo e neopentecostalismo o novo rosto da igreja
.............. 113
3.6 Concluso ......................................................................................................... 122
4. Esprito e Corpo unidade fundamental do ser humano na viso bblica ..127
4.1 O legado do Antigo Testamento para uma antropologia da unidade da pessoa
humana ............................................................................................................. 127
4.1.1
Nfesh
...................................................................................................... 128
4.1.2
Basar
........................................................................................................ 131
4.1.3
Rach
....................................................................................................... 133
4.1.4
Lebab/Leb
................................................................................................. 135
4.2 O conceito de ser humano integral no Novo Testamento ................................ 138
4.2.1
Psych
...................................................................................................... 140
4.2.2
Sarx
.......................................................................................................... 143
4.2.3
Sma
........................................................................................................ 145
4.2.4
Pnuma
.................................................................................................... 147
4.2.5
Kardia
....................................................................................................... 148
4.3 Concluso ........................................................................................................ 150
Concluso ............................................................................................................. 153
Referncias ........................................................................................................... 158
INTRODUO
Em 16 de setembro de 1984, eu participava do culto noturno na Igreja
Presbiteriana do Brasil na Rua Cabo Ailson Simes, no. 384, em Vila Velha, Esprito
Santo, a convite de amigos de um pequeno grupo de teatro do qual fazamos parte.
Eu havia pisado pela primeira vez em minha vida num templo evanglico em abril
daquele mesmo ano, contando ento com 17 anos de idade. Em setembro, j com
18 anos completos, naquela noite de incio de primavera, eu aceitava, em resposta
ao apelo feito pelo Pr. Jacques Brinco, a Jesus como Senhor e Salvador de minha
vida.
Os anos que se seguiram foram tpicos de um jovem membro de uma igreja
evanglica histrica: grupos de louvor, sadas aps o culto, programaes
evangelsticas, sociais e esportivas, dezenas de acampamentos, treinamentos de
liderana, festinhas com os amigos da igreja, etc. No faltavam os debates acerca
de usos e costumes desencadeadores de conflitos entre a gerao mais idosa e os
mais jovens da igreja. Questes como: poder bater palmas ou no na hora do culto,
uso da bateria e guitarra no louvor, se ritmos brasileiros eram adequados ao
momento litrgico, quais roupas eram permitidas para a freqncia ao templo, alm
das questes que afligiam (e afligem) rapazes e moas na minha idade naquela
poca como com quem namorar, o que era permitido num namoro cristo,
masturbao, homossexualismo e mais, que tipo de relao deveramos manter com
os no crentes, como lidar com as finanas, que profisso escolher etc. Todos esses
eram assuntos que dominavam nossas conversas que muitas vezes varavam a
madrugada na casa de algum da turma.
Enquanto isso l se iam os anos 80. Michael Jackson estava no auge da
fama mundial com a repercusso daquele que at hoje o lbum mais vendido da
histria da msica, Thriller, com mais de 100 milhes de cpias vendidas. Madonna
lanava, para escndalo geral, no ano da minha converso, seu lbum Like a Virgin.
No Brasil, Os Paralamas do Sucesso atacavam, neste mesmo ano, com culos,
msica que levou o grupo fama definitiva. Alis, Os Paralamas era apenas uma
das famosas bandas da cena punk de Braslia naqueles anos. L tambm surgiu a
Legio Urbana e Renato Russo acalentava os sonhos dos jovens com Ser, Ainda
Cedo e Gerao Coca-Cola. Lulu Santos estourava nas paradas com Tudo Azul e O
ltimo Romntico. Embalados por essas msicas, nos apaixonvamos. No cinema
nos divertamos assistindo aos Gremlins, Indiana Jones no templo da Perdio, A
ltima Festa de Solteiro, Footloose, O Exterminador do Futuro, A Dama de
Vermelho, Os Caa-Fantasmas, Amadeus e muitos outros filmes inesquecveis. Na
TV, J Soares nos fazia rir com Viva o Gordo. A novela de maior sucesso era Corpo
a Corpo de Gilberto Braga. A Ditadura dava seus ltimos suspiros. Depois de 20
anos de represso, o povo tomava as ruas. A maior manifestao se deu na cidade
de So Paulo. Cerca de 1,5 milho de pessoas se reuniram no Vale do Anhangaba,
para apoiar o Movimento Diretas J! Assim foram os anos 80: nos apaixonvamos,
ramos, curtamos nossa mocidade, sonhvamos com a abertura poltica e...
discutamos teologia. Em meio a toda essa profuso de cultura pop, a Igreja
ocupava lugar central em nossas vidas. Aquilo no era apenas a nossa Igreja, era
quase a nossa casa.
Tempos depois, aps trancar o curso de Psicologia na Universidade Federal
do Esprito Santo, depois de dois anos de estudos, e j cursando Teologia no
Seminrio Presbiteriano do Norte na cidade de Recife, incomodava-me a sensao
de que muita energia e tempo preciosos eram gastos em nossas comunidades
presbiterianas (falo desta denominao, pois l se deu minha experincia) com
debates e desentendimentos que nada tinham a ver com a mensagem de Jesus de
Nazar para nossas vidas. Meu sentimento na poca que vivamos, a partir de
nossa converso, uma relao mal resolvida com a cultura brasileira. Vivemos no
mundo, mas no pertencemos ao mundo era a mxima que norteava nossa
conduta. Contudo, difcil era definir o que era coisa do mundo uma vez que as
opinies variavam de pessoa para pessoa. Aos poucos, tornamo-nos jovens velhos.
Conservadores, legalistas, retrgrados, um tanto divorciados da realidade e, ao
mesmo tempo, to seduzidos por ela. Hoje, passados 25 anos, desconfio que a
profuso de programaes que inventvamos, algo quase barroco, tinha por
finalidade no nos dar tempo para pensar, ainda que isto no fosse consciente.
Quando falvamos em novo nascimento, levvamos isso muito a srio. Era
como se tudo o que havamos vivido at ali perdesse, como por encanto, sua
validade (deixando as coisas que para trs ficam)... Havia uma cartilha a ser
encenada: moral legalista, amigos evanglicos, leituras recomendadas, espaos
(guetos) a serem freqentados, vida social restrita, assiduidade rigorosa s
programaes da igreja, msicas saudveis, sexualidade neurotizada e, o avesso da
moeda, comportamentos inadequados, msicos e msicas censuradas, livros
perigosos, certos tipos de lazer (ou aquilo que se entendia como excesso deles)
censurados e, o pecado dos pecados, namorar um (a) no crente (que comunho
pode haver entre a luz e as trevas?). A cultura pop era demonizada e a igreja
precisava nos afastar dela o mximo possvel. Era assim mesmo: tudo muito
ambguo.
10
Transferido para So Paulo em 1989 para terminar o curso de Teologia no
Seminrio Presbiteriano Rev. Jos Manoel da Conceio permaneciam as mesmas
questes. Mudou a cidade, mudou a igreja, mudaram os rostos, mas os velhos
dilemas permaneciam. Donde aquela dificuldade em continuar vivendo em
sociedade como uma pessoa normal? Porque a sensao de se viver uma espcie
de esquizofrenia existencial? Qual era a origem daquele sentimento de ter tido o
cordo umbilical que nos unia famlia e ao nosso passado, cortado de forma to
grotesca?
No pastorado, e j como professor de Histria do Cristianismo na Faculdade
Unida de Vitria (antiga FTU), Esprito Santo, comeava a se esboar em minha
mente uma tentativa de resposta. A clssica separao entre sagrado e profano
proposta pela filosofia grega de vis pitagrico-platnica parecia ser uma pequena
luz no fim do tnel. Assombrava-me que algo to antigo e to distante de ns
pudesse ter algo a ver com as questes de minha mocidade. Mais incmodo ainda
era descobrir que as causas e conseqncias transcendiam em muito as meras
querelas que jaziam no seio das comunidades evanglicas. Ou seja, as causas do
problema eram muitssimo mais profundas e suas conseqncias muitssimo mais
abrangentes e danosas. Entretanto, a correlao era inevitvel, pois o tipo de
santidade ou espiritualidade asctica e desencarnada propugnada nos ambientes
evanglicos que eu freqentava naquela poca tinha muito do dualismo
neoplatnico que se esgueirou para dentro da teologia crist a partir, notadamente,
do segundo sculo. Assim, a suposio era que nosso antagonismo com prticas e
costumes sociais corriqueiros tinha sua origem no dualismo esprito-matria
proposto pelo platonismo. Isto porque a maior parte de nossas negativas culturais
tinha a ver com prazeres e diverses, coisas que envolviam o corpo. Ora, se o corpo
mal, essas coisas tambm deveriam ser.
Desejo, com este trabalho, aplacar as angstias de minha adolescncia
evanglica. Proponho-me perseguir o influxo crescente do dualismo platnico sobre
a teologia desde os seus primrdios at sua plena maturidade em fins do perodo
patrstico e desta avanando sobre a era medieval. Feita a constatao haveremos
de perguntar pelas conseqncias prticas desta nova teologia, ou desta forma
especfica de teologia, uma teologia platonizada, sobre a histria do Cristianismo.
Dentre muitos exemplos que poderiam ser dados, focaremos na invaso ibrica-
11
catlica na Amrica Latina e o conseqente massacre dos povos amerndios e
escravizao dos povos afros ocorrido a partir do sculo XVI e, em segundo lugar,
na insero do protestantismo anglo-saxnico no Brasil e sua tensa relao com a
sociedade brasileira a partir de meados do sculo XIX, nos captulos 2 e 3
respectivamente. Os exemplos escolhidos visam apontar para as graves
conseqncias de uma antropologia deformada que tem como subproduto a
desvalorizao do corpo, a demonizao do prazer, a expatriao do desejo, a
legalizao da violncia, a formalizao da cultura da guerra, a oficializao do
preconceito, a sano da cultura de classes e o desprezo pelo outro, diferente de
ns.
Finalmente, um rpido olhar sobre a antropologia bblica em sua defesa da
inteireza da pessoa, em sua celebrao da vida humana plena, em sua integrao
das vrias dimenses do ser humano pode nos auxiliar em uma proposta de
vivncia evanglica no dicotomizada, nem desencarnada. Qualquer proposta de
libertao verdadeira para o ser humano precisa partir de uma antropologia que
considere este ser humano em sua inteireza.
1. DUALISMO ANTROPOLGICO PLATNICO QUANDO TUDO COMEOU
1.1 Introduo
12
O objetivo do presente captulo demonstrar que a viso dualista do ser
humano defendida pela teologia crist, ainda que um dualismo moderado1, tem sua
origem sculos atrs, quase no alvorecer do Cristianismo, mais especificamente no
segundo sculo, quando as comunidades crists foram infiltradas por idias
gnsticas. O gnosticismo, por sua vez, teve como uma das suas fontes principais o
dualismo antropolgico platnico. Como conseqncia, defendia tanto a clssica
separao entre esprito e matria, quanto a imortalidade da alma.
Ao longo dos sculos, medida que ia se formando o pensamento teolgico
cristo, este dualismo foi-se cristalizando de formas variadas, com poucas tentativas
de superao do mesmo. Esta diviso entre o mundo mal da matria e o mundo
bom do esprito no teve sua aplicao restrita to somente antropologia, mas
passou a determinar tambm a construo mesma da sociedade em suas
dimenses polticas, sociais, econmicas, culturais, religiosas etc.
O problema da antropologia iniciou de fato no momento em que as
comunidades crists comearam a elaborar uma teologia. Com forte influncia da
filosofia helnica, a teologia que da resultou um hbrido de pensamento
neotestamentrio e neoplatnico. A ttulo de exemplo, e como nos lembra Leonardo
Boff, o Novo Testamento no afirma a imortalidade da alma, pensamento este
defendido por Plato. O que afirmado sobejamente nas Escrituras a f na
ressurreio dos mortos. J o platonismo afirma a imortalidade da alma e no
reconhece a ressurreio, amplamente defendida no Novo Testamento. A mistura
desses dois pensamentos (imortalidade da alma platnica; ressurreio crist)
deu origem seguinte teologia: depois da morte do cristo a alma v-se diante de
Deus, goza de sua presena at o fim dos tempos quando ser novamente reunida
ao corpo ressuscitado. A doutrina da imortalidade da alma dos gregos foi
completada com a outra bblica da ressurreio dos mortos.2 A partir da passou-se
a crer nos crculos cristos que a morte s atinge ao corpo, assim como a
ressurreio tambm somente para o corpo. Pode-se dizer que este pensamento
no mais nem bblico nem platnico, uma terceira via.
Cf. RUBIO, Alfonso Garca. Unidade na Pluralidade: o ser humano luz da f e da reflexo crists. So Paulo:
Paulus, 2006. p. 80-81.
2
BOFF, Leonardo. A Ressurreio de Cristo. A nossa Ressurreio na Morte: a dimenso antropolgica da
esperana humana. Petrpolis: Vozes, 1973. p. 67.
13
Alfonso Garca Rubio mostra que este debate no se limitou aos crculos
acadmicos. Tivesse ele permanecido somente no mundo dos embates tericos,
provavelmente no mereceria nossa ateno. Contudo, suas conseqncias prticas
podem ser sentidas na forma como a Igreja passou a valorizar a alma em detrimento
do corpo, a f crist em detrimento das opes sociopolticas, a vida no cu em
detrimento da vida na terra, o Jesus divino em detrimento do Jesus humano e assim
por diante3. Por conseguinte, graves desvios e um sem nmero de atitudes violentas
e discriminatrias foram sustentados pela Igreja com base na metafsica dualista de
desprezo pelo corpo. Adiantando o debate, podemos citar de forma pontual a
Inquisio, as Cruzadas, o genocdio dos povos amerndios e a escravido dos
povos africanos. Vejamos qual a fonte dessa antropologia dualista e dicotmica.
1.2 Fdon: o evangelho segundo Plato4
Quais so as principais caractersticas desse dualismo? Para respondermos
a esta pergunta, vamos lanar um rpido olhar sobre o pensamento de Plato
utilizando sua obra fundamental sobre esse assunto, o Fdon.
Embora Plato, que viveu no sculo IV a.C., no tenha sido o criador da
viso dicotmica do ser humano, pois, suas razes se encontram na ndia e na
Prsia antigas, foi ele quem estabeleceu uma formulao terica consistente para a
defesa
do
dualismo5.
Para
entendermos
seu
pensamento
necessrio
compreendermos a distino que ele faz entre idia e coisa.
As coisas pertencem ao mundo sensvel, caracterizado como mutvel,
temporal, caduco, descambando facilmente para o ilusrio. J as idias
pertencem a um outro mundo, o da realidade divina, eterna e imutvel. A
verdadeira realidade encontra-se unicamente alm das aparncias
sensveis, no mundo das idias. As coisas do mundo material no passam
de cpias muito imperfeitas deste mundo real. (...)
Cf. RUBIO, 2006, p. 81.
Cf. HAGSMA, Alfredo Jorge. Corpo e Alma: O Princpio do Caos: o dualismo antropolgico grego em analogia
concepo bblica do ser humano. Monografia de Concluso do Bacharelado em Teologia, EST/So Leopoldo,
1998. Trabalho no publicado. p. 7.
5
Cf. RUBIO, 2006, p. 76.
4
14
Os dois mundos esto presentes no homem: na alma (mundo das idias) e
no corpo (mundo das coisas). O corpo, como coisa que , participa
imperfeitamente de uma idia, enquanto que a alma pertence ao mundo
eterno e divino das idias.6
Para Plato a alma incorruptvel, imortal e preexistente ao corpo. Mas,
uma vez encarnada, ela perde seu contato com o mundo perfeito das idias. Assim,
o corpo um crcere para a alma. O verdadeiro filsofo deseja a morte para se
libertar do corpo7.
No Fdon, Plato fundamenta seu pensamento dualista. Nessa obra o
personagem Fdon, argido por Equcrates acerca das circunstncias da morte de
Scrates, passa a descrever um dilogo ocorrido na priso entre Scrates e seus
discpulos, entre os quais se encontrava Fdon, no dia em que ele teve que beber o
veneno8. Ao iniciar a narrativa, Fdon descreve como, diante da morte, Scrates
encontrava-se feliz. No parecia ser um homem a caminho da morte, mas a caminho
da vida feliz, tanto na maneira de comportar-se como na de conversar, tal era a
tranqila nobreza que havia no seu fim.9
Para Scrates a morte sempre estava dentro dos planos divinos e, portanto,
deveria ser bem aceita. E, ento, ele passa a explicar a razo de sua felicidade
diante da morte. Para ele, o sbio, o verdadeiro filsofo, no busca os prazeres
relacionados ao corpo e nem confia nos sentidos (viso, audio etc) para chegar
verdade. Para este fim, confia to somente no raciocnio: No , por conseguinte,
no ato de raciocinar, e no de outro modo, que a alma apreende, em parte, a
realidade de um ser?10
O corpo, e seus sentidos enganosos, servem somente para obstaculizar
nosso pensamento.
E este ento o pensamento que nos guia: durante todo o tempo em que
tivermos o corpo, e nossa alma estiver misturada com essa coisa m,
jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos! Ora, este
objeto , como dizamos, a verdade. (...) O corpo de tal modo nos inunda de
amores, paixes, temores, imaginaes de toda sorte, enfim, uma infinidade
6
RUBIO, 2006, p. 77.
Cf. RUBIO, 2006, p. 77.
8
Cf. PLATO. Dilogos: o Banquete, Fdon, Sofista, Poltico. So Paulo: Abril Cultural, Os Pensadores 3, 1972.
p. 63-66.
9
PLATO, 1972, p. 64.
10
PLATO, 1972, p. 72.
7
15
de bagatelas, que por seu intermdio (sim, verdadeiramente o que se diz)
no receberemos na verdade nenhum pensamento sensato.11
E Scrates continua utilizando sempre palavras negativas para se referir ao
corpo que nos maltrata com suas concupiscncias, dele somos escravos, ele um
intrujo que nos ensurdece e nos desorganiza e conclui dizendo:
(...) quando, sobretudo, no estivermos mais contaminados por sua
natureza, pelo contrrio, nos acharmos puros de seu contato, e assim at o
dia que o prprio Deus houver desfeito esses laos. E quando dessa
maneira atingirmos a pureza, pois que ento teremos sido separados da
demncia do corpo, deveremos mui verossimilmente ficar unidos a seres
parecidos conosco; e por ns mesmos conheceremos sem mistura alguma
tudo o que . E nisso, provavelmente, que h de consistir a verdade. Com
efeito, lcito admitir que no seja permitido apossar-se do que puro,
quando no se puro!12
Scrates afirma que no faria sentido um filsofo, depois de passar toda sua
vida acreditando na imortalidade da alma e ensinando a importncia de se desligar
ao mximo a alma do corpo, encher-se de terror diante da morte. Mas Cebes, um
dos discpulos de Scrates, questiona a idia da imortalidade da alma, sugerindo
que talvez com a morte do corpo, morra tambm a alma. Scrates insiste que dos
mortos nascem os vivos. Dois so os destinos das almas: no caso das almas que
amaram seus corpos e com eles se mesclaram no Hades que elas se encontram e
de l que elas retornam e renascem dos mortos13.
No caso das almas daqueles que amaram a sabedoria e lutaram contra os
feitios do corpo, Scrates tambm insiste em sua pr-existncia e na sua existncia
posterior morte aps a qual ela se dirige, para o que invisvel, para o que
divino, imortal e sbio.14 Enfim, aps a morte ela se junta companhia dos deuses.
s almas dos maus est destinado vaguearem at encontrarem um companheiro
desejado e tornam a entrar num corpo. Este corpo pode ser de um asno ou outro
animal qualquer.15
Este o raciocnio que leva Scrates a abraar a morte como a uma amiga
e encar-la, no como algo ruim, mas como libertao de uma coisa m, uma porta
11
PLATO, 1972, p. 73-74.
PLATO, 1972, p. 74.
13
Cf. PLATO, 1972, p. 78-79, 92.
14
PLATO, 1972, p. 92.
15
PLATO, 1972, p. 92-93.
12
16
que se abre para a verdadeira vida, eis o ideal de todo ser humano sbio. Ou seja,
na imortalidade da alma o filsofo pode depositar sua esperana. Por isso, ele j no
teme a morte, ao contrrio, anela por ela, pois a mesma representa o fim do
sofrimento. Nisto reside a boa nova de Plato.16
1.3 A controvrsia gnstica porta de entrada do dualismo platnico na
teologia crist
Provavelmente todos os livros de Histria do Cristianismo reservam parte de
suas pginas para abordarem o desafio que representou, sobretudo para os cristos
do segundo sculo, a controvrsia gnstica. Dentre os vrios elementos e conceitos
gnsticos, vamos no deter naquele que o objeto de estudo do nosso captulo, a
saber, o dualismo antropolgico platnico. R. N. Champlin em sua Enciclopdia de
Bblia, Teologia e Filosofia nos informa que:
Plato defendia um dualismo metafsico em sua doutrina dos universais
(idias), em contraste com os particulares, visto que o universal o
elemento eterno, imutvel e infinito, enquanto que o particular a sua
contraparte terrena, material e finita.17
Assim, tambm G. M. Salvati, no verbete Dualismo do Dicionrio Teolgico
Enciclopdico, ao afirmar que o estoicismo, o neoplatonismo e boa parte da tradio
patrstica herdaram o dualismo platnico, completa dizendo: De maneira diversa,
essas correntes de pensamento insistiro na oposio entre esprito e matria, alma
e corpo, razo e sentidos, liberdade e paixes.18 Jos Comblin, de maneira direta
nos d a seguinte explicao:
Globalmente a filosofia grega tende a uma concepo dualista de almacorpo. Alma e corpo so como duas substncias unidas mas com redes de
atividades separadas. A alma luta com o corpo. A alma tem as suas
atividades autnomas e o corpo tende a t-las tambm. O problema a
unidade. A filosofia procura explicar a unidade.
16
HAGSMA, 1998, p. 10.
CHAMPLIN, R.N. Enciclopdia de Bblia, Teologia e Filosofia. So Paulo: Hagnos, 2001. p. 239.
18
SALVATI, G.M. Lexicon: Dicionrio Teolgico Enciclopdico. So Paulo: Loyola, 2003. p. 216.
17
17
(...) a teologia clssica, seja ela de inspirao platnica ou aristotlica, no
conseguiu valorizar o corpo, nem uni-lo realmente alma. A doutrina
teolgica considerou alma e corpo como duas quase substncias
associadas numa unio nunca harmoniosa. O corpo ficou desprestigiado,
ligado matria, ela prpria desprestigiada tambm, e a alma com as suas
atividades ficou prestigiada.19
Decorre da que para os gnsticos o mundo criado era mal. Seguindo o
pensamento helnico, os gnsticos desprezavam o corpo, encarando-o como uma
priso do esprito. Uma armadilha dos poderes demnicos, do demiurgo que criara o
mundo. O objetivo da gnosis (conhecimento) seria alcanar um estado de
participao no divino que libertaria a alma do iniciado das limitaes da carne. O
alvo final seria a unio da alma com a pleroma, o mundo espiritual.
A Escola de Valentino defendia a existncia de trs classes de pessoas: os
pneumatikoi (espirituais) eram os salvos, os psychikoi (seguidores da alma)
poderiam alcanar a salvao se fossem iniciados na gnosis e os sarkikoi (carnais)
estavam perdidos, para eles no havia esperana de salvao20.
Dentre os mestres gnsticos, um causou especial espanto e oposio na
comunidade de Roma, trata-se de Marcio. Tendo-se unido aos cristos de Roma
em 139 d.C., Marcio acabou expulso em face de suas idias gnsticas em 144 d.C.
W. Walker descreve assim o pensamento de Marcio quanto ao corpo:
O Cristo, o qual veio como o agente do Deus de amor desconhecido para
resgatar almas (uma vez que o corpo, oriundo da terra, no pode
possivelmente partilhar da salvao), simplesmente apareceu na Galilia,
no tendo passado pelo nascimento humano e no possuindo corpo
humano. Consoante com esta perspectiva da materialidade e do corpo, os
fiis marcionitas tinham que se abster de qualquer intercurso sexual,
mesmo no casamento. O rigorismo de Marcio tambm est demonstrado
na exigncia que seus seguidores evitassem comer carne.21
Vemos a um ataque frontal contra o corpo e o ato sexual. A prpria apario
de Jesus doctica (encarnao de aparncia, algo fantasmagrico). Doutrina esta
que sofreu forte reao dos lderes catlicos22. A encarnao jamais seria aceita por
um gnstico. Este desprezo pela matria fazia com que alguns grupos gnsticos se
19
COMBLIN, Jos. Antropologia Crist. Petrpolis: Vozes, 1985. p. 81.
Cf. TILLICH, Paul. Histria do Pensamento Cristo. So Paulo: ASTE, 2000. p. 55.
21
WALKER, Wiliston. Histria da Igreja Crist. Vol. 1. So Paulo: ASTE, 2006. p. 84.
22
Catlicos neste contexto eram os ortodoxos, ou seja, aqueles que se posicionavam contra as idias gnsticas.
20
18
entregassem de maneira radical a prticas ascticas. Outros grupos, pelo mesmo
motivo, agindo no extremo oposto, entregavam o corpo aos prazeres carnais.
Diante do desafio da heresia gnstica, pensadores cristos da poca
redigiram obras em que procuravam combater essas idias e definir mais claramente
o pensamento cristo ortodoxo. Dentre os principais representantes deste grupo
podemos destacar Justino Mrtir, no Dilogo com Trifo, Ireneu, em seu Contra as
Heresias, Tertuliano, na obra Contra Marcio e Clemente de Alexandria, em diversos
trechos dos Estrmatos23.
Entre os primeiros Pais da Igreja houve quem resistisse ao dualismo e
insistisse numa viso bblica da unidade bsica do ser humano. Este foi o caso, por
exemplo, de Justino Mrtir que afirmou que a carne foi criada por Deus e que a alma
tambm, portanto, ela no imortal. Deixemos que ele mesmo fale: [...] tampouco
se pode dizer que ela [a alma] seja imortal. [...] Se a alma participa da vida porque
Deus quer que ela viva. Portanto, da mesma forma, um dia ela deixar de participar,
quando Deus quiser que ela no viva. De fato, o viver no prprio dela como o
de Deus.24
Apesar do cinturo de segurana que se formou em torno da f catlica para
preserv-la de elementos herticos, a teologia crist foi profundamente influenciada
por essas idias, com destaque para o dualismo matria-esprito. O gnosticismo e o
marcionismo como movimentos desapareceram, mas sua percepo de uma
salvao do corpo (libertao da alma da priso corprea) e de uma santificao
asctica permaneceu para sempre na teologia crist.
Podemos separar os pensadores cristos da poca em dois grupos: (a)
aqueles que eram radicalmente contra qualquer tipo de relacionamento com a
cultura da poca, defendendo, assim, um afastamento radical da sociedade romana;
e (b) aqueles que, ao contrrio, queriam manter um dilogo com o pensamento
filosfico da poca e motivavam a insero na sociedade.
Alfonso Garca Rubio, em seu excelente livro Unidade na Pluralidade: o ser
humano luz da f e da reflexo crists obra a qual iremos recorrer insistentemente,
explica assim esta dupla postura dos Pais da Igreja:
23
Cf. MORESCHINI, Cludio e NORELLI, Enrico. Histria da Literatura Crist Antiga Grega e Latina I: de Paulo
Era Constantiniana. So Paulo: Loyola, 1996. p. 238.
24
JUSTINO DE ROMA. I e II Apologias: Dilogo com Trifo. So Paulo: Paulus, 1995. p. 119-121.
19
Nem todos os padres do Oriente ou do Ocidente adotaram a mesma atitude
em relao antropologia dualista helnica e gnstica. (...) existiam duas
tendncias no interior da Igreja em face ao desafio constitudo pela
civilizao helnica. A orientao que procurava salientar os pontos de
coincidncia entre f crist e cultura helnica, especialmente o pensamento
filosfico, mantendo uma atitude de abertura e de dilogo e utilizando
decididamente o instrumental grego, foi mais influenciada pela antropologia
dualista, sobretudo platnica. o caso de Clemente de Alexandria ou de
Orgenes, no Oriente, ou de Agostinho, no Ocidente. A outra tendncia que
ressaltava preferentemente os pontos de divergncia e mantinha uma
atitude, se no fechada (isto seria incompatvel com o dinamismo
missionrio cristo), bastante reservada em relao ao mundo gregoromano, ficou mais apegada s afirmaes bblicas sobre a unidade bsica
do ser humano e recebeu uma influncia dualista bem menos acentuada
que a primeira.25
Curiosamente, tanto aqueles que rejeitaram, quanto aqueles que buscaram
dilogo acabaram uns mais, outros menos, sendo influenciados pelo dualismo
platnico.
1.4 Evoluo da antropologia dualista na patrstica
1.4.1 Tertuliano de Cartago oposio ao dilogo
O primeiro exemplo que daremos da influncia do dualismo gnstico e
marcionita sobre a teologia crist encontra-se no pensamento de Tertuliano de
Cartago. Tertuliano, um dos autores cristos que mais se empenhou no combate s
heresias, chegou a defender no s a unidade do homem, mas tambm a unidade
da alma e de toda a humanidade.26 Surpreendentemente, por volta do ano 207 d.C.,
uniu-se a um grupo que foi considerado na poca como herege, o grupo dos
montanistas27.
25
RUBIO, 2006, p. 330.
FIORENZA, Francis P. e METZ, Johann B. O homem como unio de corpo e alma. In: FEINER, Johannes e
LHRER, Magnus. Mysterium Salutis: compndio de dogmtica histrico-salvfica. Vol. II/3. Petrpolis: Vozes,
1972. p. 27.
27
Cf. GONZLEZ, Justo L. E at aos confins da terra: uma histria ilustrada do Cristianismo. Vol. 1. So Paulo:
Vida Nova, 1980. p. 125.
26
20
Montano, seu fundador, convertido ao Cristianismo por volta de 155 d.C.,
proclamava o incio de uma nova era, a era do Esprito. Insistia numa comunidade
de pessoas puras. Em suas pregaes havia uma forte nfase numa vida moral
mais rigorosa. Assim, ele e seus seguidores, praticavam longos jejuns, alimentavamse de maneira frugal, desencorajavam o casamento. Alguns dos seus discpulos
chegaram mesmo a abandonar seus cnjuges. Rompiam laos com a sociedade,
alienavam-se do mundo28.
A partir do segundo sculo podemos perceber os cristos passando da
liberdade no Esprito cada vez mais para um Cristianismo moralista e,
subseqentemente, asctico. O Montanismo um reflexo dessa tendncia.
Paradoxalmente, como caracterstico destes movimentos, em que pese sua nfase
na ao do Esprito Santo, era radicalmente moralista e legalista.
Tertuliano contribuiu muito para o fortalecimento desta nova mentalidade
legalista. Ele, assim como outros cristos do segundo e terceiro sculos, entendia
que o verdadeiro servo de Cristo deveria se apartar do mundo. Isto inclua o
exrcito, o governo, instituies educacionais, festas pblicas etc, uma vez que, em
ltima instncia, tudo o que dizia respeito ao Imprio estava a servio dos deuses
pagos29. Sua viso do pecado era rigorista. Para ele:
Os cristos batizados eram pessoas cujos pecados cometidos haviam sido
perdoados pelo arrependimento e pela lavagem com gua e pelo Esprito
Santo; mas tendo sido, portanto libertos para cumprirem a vontade de Deus,
o restante de suas vidas depois do batismo era o esforo de competidores
para a salvao, buscando o favor de Deus. (...) Tertuliano no dava
nenhuma esperana para os fiis que haviam cado em pecado grave aps
o batismo. (...) No havia espao na igreja ou na vida crist para um
fracasso srio e deliberado em viver pelos preceitos do evangelho da
mesma maneira que no havia espao para qualquer tentativa, sob
perseguio, para escapar do privilgio do martrio, o nico verdadeiro
segundo arrependimento.30
Alm do moralismo e ascetismo cada vez mais crescente, desde Incio de
Antioquia, deu-se incio ao costume de se exaltar o martrio como o coroamento da
vida crist. A entrega do corpo e da prpria vida por amor de Cristo seria a prova
cabal de que ali estava um verdadeiro cristo. Acerca do valor da penitncia para o
28
Cf. WALKER, vol. 1, 2006, p. 86.
Cf. WALKER, vol. 1, 2006, p. 99.
30
WALKER, vol. 1, 2006, p. 99.
29
21
perdo dos pecados, Tertuliano afirma: Prosterna o homem, de modo especial, ela
o eleva; quando ele se acusa, ela o escusa, quando se condena, ela o absolve; na
medida em que no te poupares, nesta mesma medida, cr em mim, Deus te
poupar.31 Nosso pensador africano, o primeiro a escrever uma teologia crist em
latim e considerado um dos autores mais produtivos da era pr-constantiniana,
contribuiu imensamente para o desenvolvimento de um Cristianismo asctico. Ele
fazia diferena entre os pecados remissveis e os irremissveis. Dentre esses ltimos
ele apontava as faltas mais graves e funestas, que no tm perdo; o homicdio, a
fraude, a apostasia, a blasfmia, certamente o adultrio e a fornicao.32 Em seu
perodo montanista, o escritor cartagins defendeu a idia de uma Igreja espiritual
vendo nela no a assemblia dos cristos reais, existentes, mas a assemblia dos
espirituais, isto , dos perfeitos.33
Berthold Altaner e Alfred Stuiber nos do, de forma pontual, vrias
informaes sobre a viso de Tertuliano acerca do matrimnio e da sexualidade.
Citam os autores o combate s diversas formas de vaidade feminina que ele faz em
De cultu feminarum; o pedido que ele fez sua esposa para permanecer como viva
aps sua morte, ou no desposar seno um cristo (Ad uxorem); a exortao que
ele faz a um amigo vivo a no contrair segundas npcias, as quais qualifica
francamente de uma espcie de devassido (De exhortatione castitatis); o feroz
ataque s segundas npcias na obra De monogamia; a imposio do uso do vu a
todas as virgens, no somente na igreja, mas sempre que aparecerem em pblico
(De virginibus velandis)34.
Enrique Dussel descreve a importncia que teve para a teologia posterior o
pensamento de Tertuliano e como, apesar de sua oposio ao dilogo entre a
teologia crist e a filosofia helnica35, foi ele influenciado pela antropologia dualstica
platnica:
31
FIGUEIREDO, Fernando A. Curso de Teologia Patrstica II: A vida da igreja primitiva (sculo III). Petrpolis:
Vozes, 1984. p. 39.
32
FIGUEIREDO, 1984, p. 38.
33
MORESCHINI e NORELLI, 1996, p. 464.
34
Cf. ALTANER, B. e STUIBER, A. Patrologia: Vida, obras e doutrina dos padres da igreja. So Paulo: Paulinas,
1972. p. 165.
35
Que tem Atenas a ver com Jerusalm? Ou, que tem a ver a Academia com a Igreja?, foi a famosa frase de
Tertuliano que demonstra sua oposio radical ao dilogo entre a f crist e a cultura pag. GONZLEZ, 1980,
p. 88. A este respeito, MORESCHINI e NORELLI (1996, p. 466) afirmam: No Ocidente, Tertuliano inaugura a
atitude de hostilidade, que depois se torna um lugar-comum. Mais importante e substancial a crtica que
22
Tertuliano mostra muitas sutilezas que so prprias de um pensamento
original, porm, sem saber, caiu na prpria armadilha que pretendia criticar:
o platonismo, o neoplatonismo, o helenismo com seu dualismo, intrnseco a
um sentido do ser oposto ao hebreu-cristo. No sero nem Descartes nem
Agostinho que iro inaugurar o dualismo antropolgico no Ocidente. Temos
que buscar este dualismo no primeiro escritor latino-cristo de importncia.
(traduo prpria).36
1.4.2 Clemente e Orgenes de Alexandria a teologia estabelece contato
Outro pensador, contemporneo de Tertuliano, que merece nossa ateno
foi Clemente de Alexandria. Diferentemente de Tertuliano que abominava a tentativa
de se estabelecer um dilogo entre a Teologia e a Filosofia, Clemente se esforou
por criar essas pontes sem deixar de ser um crtico das idias gnsticas. Mas,
novamente, sua crtica no foi rigorosa o suficiente para impedir as influncias
dualistas no pensamento cristo. Clemente gostava, inclusive, de se referir ao
cristo como o verdadeiro gnstico. Walker nos informa:
O que interessante e caracterstico acerca de seu nome que por um
lado ele se considerava como um defensor e intrprete do Cristianismo
costumeiro, consciente do dever de no transgredir de maneira alguma a
regra da Igreja, ao passo que por outro lado ele representava aquela
atitude simptica para com a cultura e a erudio secular de que a maioria
dos cristos comuns desconfiava totalmente.37
Tambm Cludio Moreschini e Enrico Norelli nos do uma idia do interesse
de Clemente pela cultura na qual viva:
Tertuliano dirige filosofia, porque v nela a presena de uma inaceitvel curiosidade: com essa acusao ele
resume, em substncia, a oposio radical entre a cincia e a religio, entre o humano e o divino. A curiosidade
mancomuna o filsofo com o herege; ela prope ao intelecto questes substancialmente vs, porque as
concretas e profundas foram apresentadas (e j resolvidas) pelo Cristianismo. A condenao da curiosidade,
em tal caso, corre o risco de resolver-se numa condenao da cincia e do racionalismo.
36
Tertuliano muestra muchas cavilaciones que son proprias de un pensar original, pero, sin saberlo, ha cado
en la propria trampa que pretenda criticar: el platonismo, el neoplatonismo, el helenismo con su dualismo,
intrnseco a un sentido del ser opuesto al hebreo-cristiano. No sern ni Descartes ni Agustn los que inauguran el
dualismo antropolgico em Occidente. Este dualismo hay que ir a buscarlo en el primer escritor latino-cristiano
de importancia. DUSSEL, Enrique. El Dualismo em La Antropologa de La Cristiandad: Desde el origen del
Cristianismo hasta antes de la conquista de Amrica. Buenos Aires: Guadalupe, 1974. p. 176.
37
WALKER, vol. 1, 2006, p. 107.
23
Clemente no adota a violenta recusa dos espetculos, da moda e dos
ornamentos testemunhada, naquelas mesmas dcadas por Tertuliano. Para
ele, a f crist no se ope vida social, mas existe nela, e por outro lado,
como vimos, a moral racional que deve reger uma sociedade se identifica
com a moral crist.38
Nos seus escritos, fato, existem tendncias ascticas ou com uma clara
influncia platnica39. Ele no associa a identidade crist com a recusa das coisas
do mundo40. Ao contrrio, ele se esforou por conciliar os contedos da f crist com
a filosofia que predominava em seus dias41. Ao fazer isto, deu uma demonstrao de
abertura para a cultura e sociedade de sua poca. Correu, assim, o risco de
contaminar a proposta crist com elementos estranhos ao seu contedo original, o
que de fato ocorreu. A. Hamman ao comentar a importncia do pensamento de
Clemente de Alexandria, assim se expressa:
Ele soube conciliar seu ideal de cultura com seu ideal religioso. Foi, na
histria do pensamento cristo, o primeiro telogo a lanar os fundamentos
de uma cultura inspirada pela f e de um humanismo cristo. Resolveu esta
fuso, descobrindo no Cristo o educador do gnero humano.
Continua a ser, por isso, um precursor, um modelo, uma fonte, a que
precisaremos remontar incessantemente a fim de solucionar a mesma
questo que o sculo XX nos prope.42
O que vemos em Clemente a difcil tarefa de colocar a f em Cristo em
relao com a cultura que a cerca. Ou seja, a f crist deve se relacionar com a
cultura, mas, assim, corre o risco de ser por esta, descaracterizada. Parece-nos,
contudo, que a alternativa a este risco, seria o isolamento fundamentalista.
A tese fundamental deste trabalho que a viso dualista platnica e
neoplatnica introduziu no pensamento teolgico cristo uma tendncia, que se
tornou mais forte com o passar dos sculos, de se renegar aspectos da cultura,
freqentemente chamados de as coisas do mundo, criando, por sua vez, um
Cristianismo espiritualizado, com dificuldades de lidar com o corpo, com os prazeres,
com a sexualidade, com o riso. Eis o nosso paradoxo: o necessrio dilogo com a
cultura helnica introduziu na teologia crist o dualismo platnico que, por sua vez,
38
MORESCHINI e NORELLI, 1996, p. 349.
Por exemplo, em seu Estrmatos depois de exaltar o papel do casamento, ele afirma: a finalidade mais
imediata do matrimnio a de procriar, ainda que o fim mais pleno seja o de procriar bons filhos. Citado em
VIVES, J. Los Padres de La Iglesia. Barcelona: Herder, 1982. p. 243.
40
Cf. MORESCHINI e NORELLI, 1996, p. 350.
41
Cf. ALTANER e STUIBER, 1972, p. 197.
42
HAMMAN, A. Os Padres da Igreja. So Paulo: Paulinas, 1980. p. 84.
39
24
tornou o Cristianismo resistente s manifestaes culturais sempre que estas no se
originaram nele ou possuam elementos no compatveis com a viso tradicional da
Igreja em dada poca e local. Portanto, ao defendermos a necessidade de
inculturao da f crist, no podemos perder de vista a identidade prpria desta
mesma f, com suas caractersticas contra-culturais, profticas, at mesmo,
subversivas.
A Igreja precisou de coragem para utilizar o instrumental lgico grego em
seu esforo de encarnao na cultura helnica. Ao mesmo tempo precisou de
discernimento para, neste processo encarnatrio, no abrir mo dos princpios
fundantes e inalienveis da f crist43. Como diz Alfonso Garca Rubio, o risco, neste
caso, consiste no perigo de ser domesticada a Igreja pela viso de mundo e de
homem que subjaz a determinado instrumental, medida que tal viso do mundo e
de homem inassimilvel pela f crist.44 Antnio Gouva Mendona demonstra
como sensvel este assunto no seguinte texto:
Ser cristo, seja de que forma for, confessar Cristo como Senhor, e esta
confisso superpe-se s culturas e conjunturas, mas no est livre das
contradies e conflitos com elas, isto porque a confisso se d de modo
concreto. (...) Cristo, Deus encarnado, viveu, portanto, na cultura, como se
comportou na cultura sob o duplo nus da sua essencialidade divina e da
sua assumida contingncia humana. Esta pergunta nos leva questo
crucial e permanente da relao entre o Cristianismo e a civilizao ou
cultura, como se queira. Este problema no foi resolvido e no o ser de
modo definitivo porque a confisso essencial do senhorio de Cristo d-se
contingentemente no confronto e no compromisso com a cultura.45
O mrito de Clemente est em ele se esforar por estabelecer canais de
dilogo com a cultura de sua poca. Dussel nos lembra que:
A filosofia para Clemente um saber cientfico, uma autntica sabedoria e
por isto inclui uma teologia. A partir de tal viso ele pode admitir a filosofia
grega, em alguns dos seus elementos constitutivos, para elaborar
ecleticamente o edifcio da cincia teolgica crist: Eu chamo filosofia no
ao estoicismo, ao platonismo, ao epicurismo ou ao aristotelismo, seno tudo
43
Cf. RUBIO, 2006, p. 241.
RUBIO, 2006, p. 241. O autor conclui seu raciocnio afirmando: fcil observar que a dinmica do
desprendimento-encarnao-servio exige a articulao da atitude de dilogo-continuidade com a atitude de
ruptura. A acentuao de uma, legtima e necessria dependendo do momento histrico, deve estar sempre
aberta crtica e complementao da outra. Tambm aqui reaparece novamente a necessidade de
desenvolver a relao de integrao-incluso respeitando as diferenas. RUBIO, 2006, p. 243-244.
45
MENDONA, A. Gouva. Educao, confessionalidade e ecumenicidade a questo da f e cultura. In:
Estudos da Religio 11: Renasce a Esperana. So Paulo: UMESP, 1995. p. 94-95.
44
25
o que tem de bom cada escola: a eleio (eklektikn) o que eu chamo
filosofia. (traduo prpria)46
Pode-se dizer que em Clemente no temos ainda uma plena absoro da
filosofia helenista pela teologia crist. O que temos a utilizao do instrumental
grego para a elaborao da teologia. O momento crtico, que estabelece um limite
na passagem entre estes dois mundos, enfrentado pelo discpulo de Clemente,
Orgenes de Alexandria. Orgenes representa uma radicalizao da interpretao
dualstica do ser humano. Nele a alma preexistente, o corpo para ela um castigo
e a salvao se constitui na libertao da alma do corpo, o que se dar na morte
deste ltimo. Ou seja, a influncia helnica sobre a teologia crist concretiza-se
plenamente em Orgenes.
Como temos dito, sua figura se encontra em um momento crucial, crtico, j
que se trata da primeira tentao de realizar a passagem de no somente
utilizar o instrumental lgico dos pensadores helenistas, tarefa comeada
por Clemente e Ireneu ou mesmo pelos apologistas, seno de aceitar certas
estruturas ontolgicas, e por isto antropolgicas prprias do pensamento
indoeuropeu e helenista platnico em especial. (traduo prpria)47
C. Tresmontant, citado por Enrique Dussel, d continuidade ao mesmo
raciocnio dizendo o seguinte:
Orgenes formulou com suma claridade a incompatibilidade entre certas
teses ontolgicas do paganismo e do Cristianismo, como a doutrina do
eterno retorno, a doutrina da transmigrao das almas, a eternidade da
matria. Em tudo isto ajudou o pensamento cristo a tomar conscincia de
suas prprias exigncias metafsicas. Por outro lado, ao menos em um
momento de sua vida, Orgenes props uma viso de mundo, uma sntese
metafsica e teolgica, que suscitou uma reao em muitos pensadores
cristos.48
46
La filosofia, para Clemente, es un saber cientfico, es una autntica sabidura y por ello incluye una teologia.
A partir de una tal visin el puede admitir la filosofia griega, en alguno de sus elementos constitutivos, para
elaborar eclcticamente el edifcio de la ciencia teolgica cristiana: Yo llamo filosofa no al estoicismo, al
platonismo, al epicuresmo o al aristotelismo, sino todo lo que tiene de bueno cada escuela: la eleccin
(eklektikn) es a lo que llamo filosofa. DUSSEL, 1974, p. 27.
47
Como hemos dicho, su figura se encuentra en un momento crucial, crtico, ya que se trata de la primera
tentacin de realizar el pasaje de la no sola utilizacin del instrumental lgico de los pensadores helenistas,
tarea comenzada por Clemente e Ireneo o por los mismos apologistas, sino de aceptar ciertas estructuras
ontolgicas, y por ello antropolgicas prprias del pensamiento indoeuropeo y helenista neoplatnico em
especial. DUSSEL, 1974, p. 80.
48
Orgenes formul con suma claridad la incompatibilidad entre ciertas tesis ontolgicas del paganismo y del
Cristianismo, como la doctrina del eterno retorno, la doctrina de la transmigracin de las almas, la eternidad de
la matria. Em todo esto ayud al pensamiento cristiano a tomar conscincia de sus proprias exigencias
metafsicas. Por otra parte, al menos en un momento de su vida, Orgenes propuso una visin del mundo, una
26
1.4.3 O monasticismo cristo consolidao da antropologia dualista
Na seqncia dos fatos histricos, o crescente moralismo e ascetismo do
segundo sculo e primeira metade do sculo terceiro, desembocam no surgimento
do movimento monstico cristo. Ainda no segundo sculo, um dos debates que
teve lugar na maioria das comunidades crists foi acerca do lugar do casamento na
vida crist. Discorrendo sobre este assunto, Walker nos ajuda a entender a
importncia que este tema assumiu naqueles dias:
Havia muito no Novo Testamento, para no mencionar o nimo da poca,
para sugerir, por um lado, que as relaes sexuais no casamento eram uma
maneira segura para prender algum ao mundo e seus valores, e, por outro
lado, que elas no tinham lugar na vida do novo reino. Paulo havia insistido
em que aqueles que casarem tero preocupaes mundanas, e Jesus
havia sublinhado que na ressurreio nem casam nem se do em
casamento; so, porm, como os anjos do cu. Dizeres como estes so
bastante responsveis pela estima universal recebida pela virgindade ou
continncia (novamente, enkrateia) no Cristianismo primitivo. Pratic-la era
tanto separar-se do mundo como viver a vida da era vindoura, e por volta do
terceiro sculo muitas (talvez a maioria) comunidades crists tinham, e
reverenciavam, seus virgens, homens e mulheres. Em alguns lugares, a
admirao pela vida de continncia estava aliada com a condenao direta
do matrimnio. (...) Tal radicalismo inflexvel, contudo, pareceu excessivo
para muitos fiis, os quais, como o autor de I Timteo, defenderam o
casamento. Como Clemente de Alexandria mais tarde, eles no viam
nenhuma inconsistncia em afirmar que o matrimnio deveria ser
reverenciado e que a virgindade representava uma vocao autntica (e
superior) para os cristos.49
necessrio lembrar que Clemente de Alexandria e outros seus
contemporneos, defenderam que a vida celibatria era superior condio
matrimonial50. Este verdadeiro culto virgindade estava muito prximo dos ideais de
martrio da poca como vemos expressos no pensamento de Tertuliano e Orgenes.
Assim, a virgindade assumiu uma importncia extrema a partir do segundo
sculo. Como vimos no comentrio de Walker, Paulo escrevendo aos Corntios (I
sntesis metafsica y teolgica, que suscito una reaccin en muchos pensadores cristianos. DUSSEL, 1974, p.
80.
49
WALKER, vol. 1, 2006, p. 140, 141.
50
Cf. WALKER, vol. 1, 2006, p. 142.
27
Corntios 7:25-34) tratou do valor da virgindade. Seu argumento era simples,
aqueles que no se casavam poderiam se dedicar integralmente obra do Senhor.
Tambm o livro de Atos fala das quatro filhas do dicono Felipe que permaneceram
virgens (Atos 21:9). Partindo de tais textos, muitos entenderam que a adeso ao
Cristianismo parecia implicar aos olhos deles a virgindade. Pessoas casadas, que
no se separassem, podiam ser membros da Igreja apenas de forma imperfeita.51
Na literatura apcrifa da poca, comum encontrarmos uma condenao do
casamento como o caso da obra Odes de Salomo onde o casamento a erva
amarga do Paraso. A mesma afirmao aparece no Evangelho dos Egpcios. No
Atos de Joo aconselhado a separao dos cnjuges. Na literatura patrstica O
Pastor de Hermas, o anjo aconselha a Hermas a que viva com a mulher como com
uma irm. Somente a absteno sexual possibilitava a adeso plena vida crist.
Aos casados era aconselhado viverem em castidade52. fato, porm, que estes
posicionamentos extremos encontraram oposio em muitos escritores da poca.
Clemente de Alexandria, embora exaltasse o valor do celibato, em seu Estrmatos,
apontou tambm para o valor do casamento. queles que afirmavam que no se
casavam para imitarem Cristo, ele respondeu:
Alguns dizem que o casamento fornicao e foi comunicado pelo diabo, e
que eles imitam o Senhor, pois este no se casou. Ignoram a razo do fato.
Em primeiro lugar tinha ele esposa prpria, a Igreja; depois no era homem
comum, que tivesse necessidade de uma auxiliar segundo a carne; no lhe
era necessrio ter filhos (para continuar-lhe a obra), continuando a ser
eternamente e sendo o Filho nico de Deus. A virgindade santa, quando
busca sua fonte no amor de Deus. Deixa de ser boa, quando procede do
menosprezo ao casamento. O homem deve amar a esposa com um amor
de caridade e no pelo simples desejo. A vida sexual no implica nenhuma
impureza e Clemente condena o uso judeu das purificaes aps a unio
sexual.53
Podemos perceber pelo texto acima que a questo da virgindade e da
continncia (encratismo) nunca encontrou unanimidade na histria do pensamento
cristo.
51
DANILOU, J. e MARROU, H. Nova Histria da Igreja: dos primrdios a So Gregrio Magno. Petrpolis:
Vozes, 1966. p. 136.
52
Cf. DANILOU e MARROU, 1966, p. 137.
53
DANILOU e MARROU, 1966, p. 139.
28
Orgenes, influenciado pela busca platnica pela sabedoria, vivera uma vida
asctica, dedicada aos estudos e contemplao. Este chegou mesmo a
emascular-se em funo de uma interpretao literal de Mateus 19:12, embora, anos
depois, arrependido, viesse a condenar esta prtica54. Assim como ele, muitos
entendiam que o corpo se opunha vida espiritual, sendo necessrio subjug-lo e
at mesmo castig-lo. Baseando-se nas palavras do apstolo Paulo de que os que
no se casavam podiam servir melhor ao Senhor, e nas palavras de Jesus de que
no Reino dos cus os fiis no se casam e nem se do em casamento, o voto de
castidade era visto como sinal de consagrao e antecipao dos valores do
Reino55.
Orgenes faz uma lista de razes em defesa do celibato. Assim descreve o
Pe. Geraldo Luiz Borges Hackmann:
(...) paternidade espiritual dos presbteros para os cristos; a disponibilidade
apostlica; um sacrifcio como hstia viva e santa oferecida a Deus na
prpria carne; a virgindade uma preparao para o estado paradisaco do
corpo glorificado, que se deixa assumir totalmente pelo Esprito; as
impurezas das relaes conjugais.56
As primeiras legislaes acerca do celibato so do incio do sculo IV. Um
rpido resumo desses primeiros passos rumo consolidao da exigncia da vida
celibatria para os sacerdotes pode ser assim descrito: O conclio espanhol de
Elvira, ocorrido em cerca de 305 d.C., o primeiro conclio da Igreja a estabelecer
regras disciplinares para o celibato. O cnon 33 diz o seguinte: Bispos, presbteros,
diconos e outros com um posio no ministrio devem se abster completamente de
relao sexual com suas esposas e da procriao de filhos. Se algum
desobedecer, dever ser removido do ofcio clerical. (traduo prpria)57
54
Cf. MORESCHINI e NORELLI, 1996, p. 366.
Cf. GONZLEZ, 1980, p. 59.
56
HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. O Celibato Sacerdotal: Histria. In: Teocomunicao A Poltica no Brasil,
v. 21, n. 94. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1991. p. 546. Neste mesmo texto, o autor segue afirmando: O sculo III
apresenta uma mudana na prtica em relao aos ministros. As Igrejas do Egito, frica e Sria introduzem o
costume de preferir ordenar os celibatrios. Tertuliano e Orgenes so defensores desse costume, por verem
maior perfeio no celibato, alm de aconselhar os presbteros casados a viverem como irmos com sua
esposa. Os motivos elencados so os seguintes: com a continncia, o presbtero restabelece a carne em sua
dignidade originria; a continncia permite pertencer ao Senhor sem diviso e torna o presbtero mais
disponvel para sua tarefa pastoral. Assim, comea a surgir a idia de uma certa incompatibilidade entre
sacerdcio e matrimnio. HACKMANN, 1991, p. 547.
57
<http://faculty.cua.edu/pennington/Canon%20Law/ElviraCanons.htm> acessado em 29 de janeiro de 2009.
Bishops, presbyters, deacons, and others with a position in the ministry are to abstain completely from sexual
55
29
Em 314 d.C., o primeiro conclio de Arles adota posio parecida em seu
cnon 29, proibindo as relaes sexuais por causa do servio do ministrio
sacerdotal. A no observncia implica a perda da honra de clrigo.58 No mesmo
ano, o conclio de Ancira, props uma lei de celibato sacerdotal. Em seu cnon 10
ele prescreve a proibio do casamento para o dicono solteiro59. O conclio de
Neo-Cesaria (entre 314-325), estabelece a mesma proibio para o presbtero. O
cnon 1 prescreve a excluso da ordem clerical para um presbtero que se casa.60
Outro assunto que assumiu dimenses exageradas foi a questo do martrio.
Afirmamos anteriormente que, desde Incio de Antioquia, em princpios do segundo
sculo, os mrtires eram vistos como o modelo de vida crist haviam lutado contra
os poderes deste mundo, rejeitando seus valores, entregando suas vidas por amor a
Cristo. A mentalidade que reinava na poca pode ser assim descrita:
Desde o incio, portanto, as igrejas tinham conhecido seus ascetas, os
quais, se individualmente ou em grupos domsticos, buscavam, na imitao
de Cristo e seus mrtires, viver a vida crist em sua plenitude atravs da
sistemtica renncia a todas as conexes com o mundo. Abandonando a
busca e posse de riquezas, comprometidos com a continncia sexual e
dedicados orao, ao jejum e ao estudo das Escrituras, tais pessoas
buscavam viver na presente era como cidados da era vindoura.61
Para Clemente, o martrio a coroa da vida crist. Jean Danilou e Henri
Marrou citam trechos do Estrmatos nos quais o telogo de Alexandria expe seu
pensamento a este respeito:
Os apstolos, imitando o Senhor como verdadeiros gnsticos e homens
perfeitos, deram a vida pelas igrejas que haviam fundado. Assim, os
gnsticos que andam nas pegadas dos apstolos devem estar sem pecado
e, pelo amor que consagram ao Senhor, amar igualmente ao prximo a fim
de na hora da crise enfrentarem as provaes sem fraqueza e beberem o
clice da Igreja. Ora, a est a plenitude da caridade, que a mesma
perfeio: Chamamos o martrio de perfeio (teleiots), no por ser o final
(telos) da vida do homem, mas porque manifesta a perfeio da caridade.62
intercourse with their wives and from the procreation of children. If anyone disobeys, he shall be removed
from the clerical office.
58
HACKMANN, 1991, p. 547.
59
Cf. HACKMANN, 1991, p. 547.
60
HACKMANN, 1991, p. 548.
61
WALKER, vol. 1, 2006, p. 181.
62
DANILOU e MARROU, 1966, p. 141.
30
O movimento monstico cristo serviu como o tero no interior do qual foi
gestado o ideal celibatrio que acabou por se transferir para a hierarquia
eclesistica. Surgido em fins do terceiro sculo na regio do vale do Nilo o
monasticismo cristo, do grego monachos (solitrio), constituiu-se numa continuao
natural das tendncias que tomavam conta das diversas comunidades crists do
segundo e terceiro sculos.
Um dos primeiros anacoretas (fugitivo, retirado) cristos de que se tem
notcia foi Anto. Em fins do terceiro sculo Anto, vivendo em um vilarejo s
margens do rio Nilo no Egito, retirou-se para o deserto. Em sua biografia Vida de
Anto escrita por Atansio, descobrimos um eremita vivendo mais de vinte anos na
solido do deserto. Ali, lutava contra os demnios, habitantes daquelas terras. Estes
eram derrotados atravs de constantes oraes, jejuns, viglias e leituras das
Escrituras. A fama de Anto se espalhou e ele chegou a treinar uma comunidade de
eremitas. Na poca de sua morte, possvel que j houvesse milhares de eremitas
vivendo nos desertos do Egito e da Sria63.
No perodo do Imperador Constantino, com o fim das perseguies marcado
pela assinatura do Edito de Milo em 313 d.C., cessou a era dos mrtires. No
havendo mais a possibilidade de coroar o testemunho cristo com a glria e o
sangue do martrio, o ideal monstico passou a atrair a ateno daqueles que
entendiam a vida crist como esforo e sacrifcio. Num certo sentido, o retiro para o
deserto era uma espcie de morte: morriam para esta vida e para este mundo para
se dedicarem s coisas espirituais.
Logo no incio, os monges foram motivo de preocupao para os bispos
receosos de que eles dessem incio a um movimento independente da hierarquia da
igreja que nesses dias j estava bem avanada. Verdade que a opo pela vida
monstica gerou um tipo de orgulho uma vez que, muitos monges, por se acharem
mais espirituais em funo de sua opo de vida, achavam que deveriam ter a
primazia na hora de decidir acerca dos dogmas e da vida da igreja64.
O monasticismo passou por um aperfeioamento na primeira metade do
sculo IV com o surgimento do tipo cenobita (vida comum) ou comunal. Pacmio,
tambm nascido no sul do Egito em fins do terceiro sculo, aps um perodo de vida
63
64
Cf. WALKER, vol. 1, 2006, p. 182.
Cf. GONZLEZ, 1980, p. 67-68.
31
solitria, por volta do ano 320 d.C. construiu um espao para que aqueles que
quisessem compartilhar dos ideais monsticos pudessem viver em comunidade.
Gonzlez nos informa o seguinte:
Desde o princpio, quem quisesse se juntar sua comunidade teria de
renunciar a todos os seus bens, e prometer obedincia absoluta a seus
superiores. Alm disso, todos tinham de participar do trabalho manual, e
ningum poderia se considerar bom demais para qualquer tipo de trabalho.
A norma fundamental passou a ser o servio mtuo, de modo que mesmo
os superiores, apesar da obedincia que lhes cabia, eram obrigados a servir
aos demais.
O mosteiro fundado sobre estas bases cresceu rapidamente, e Pacmio
chegou a estabelecer nove mosteiros durante sua vida, cada um deles com
centenas de monges. Alm disso, a irm de Pacmio, Maria, fundou vrias
comunidades de monjas.65
Desde o incio a opo pela pobreza, a castidade e a obedincia eram
regras que deveriam ser observadas por todo aquele que quisesse seguir a vida
monstica. Ainda no quarto sculo, Eusbio, bispo de Vercelli, organizou os bispos
sob sua jurisdio segundo os padres do monasticismo66. O que chama a ateno
neste caso que, com muito pouco tempo de existncia, o monaquismo,
inicialmente visto com desconfiana pela hierarquia da Igreja, agora comea a
influenciar esta mesma hierarquia com sua proposta de vida crist.
No faltaram no movimento monstico casos de atitudes extremas de
autonegao e excentricidade. Por exemplo, Simeo o Ancio (Ca. 390-459), o
mais famoso exemplo de tal excentricidade, foi chamado Estilita por que passou
trinta anos de sua vida vivendo no topo de uma coluna, onde orava e pregava aos
peregrinos que vinham visit-lo.67
Na Idade Mdia, os monges se tornaram os grandes defensores do celibato
como regra geral para todos os sacerdotes. Um dos movimentos mais importantes
da poca foi aquele desencadeado pelo mosteiro de Cluny. Fundado na Frana em
910 pelo Duque Guilherme de Aquitnia, seu ideal era que esta nova casa
monstica se tornasse um centro de piedade e observncia da Regra beneditina.
O que Cluny defendia era a restaurao dos ideais de celibato e
propriedade comunitria, a abolio do controle laico sobre o ofcio do
65
GONZLEZ, 1980, p. 69-70.
Cf. WALKER, vol. 1, 2006, p. 185.
67
WALKER, vol. 1, 2006, p. 183.
66
32
abade, e a dedicao mais completa do tempo dos monges tarefa de
orao e adorao em favor do mundo.68
Tudo o que foi exposto at aqui nos autoriza a afirmar que a infiltrao do
dualismo antropolgico nas esferas teolgicas crists gerou um ambiente de
desconfiana para com a sexualidade, os instintos, o corpo e o prazer. Alfonso
Garca Rubio nos lembra que:
A infiltrao dualista no Cristianismo fez com que a balana entre rigorismo
e hedonismo se inclinasse em favor do primeiro. As conseqncias eram
previsveis: em relao ao sexo predominou durante muitos sculos uma
atitude de medo, desconfiana e suspeita. Os conhecimentos deficientes
tanto na rea biolgica quanto na psicolgica contriburam tambm para a
permanncia destas atitudes. De fato, o sexo tem sido tradicionalmente
colocado num contexto pouco esclarecido, ambguo e penetrado de malcia.
Criou-se em torno dele um ambiente pouco sadio, de clandestinidade,
reticncias, angstia e sentimentos de culpa.69
1.4.4 Agostinho de Hipona intrprete e sistematizador
Sem sombra de dvidas Agostinho de Hipona (354-430) foi o mais
importante dos telogos latinos. Do perodo patrstico o autor mais prolfico e de
quem se tem o maior nmero de obras preservadas. Sua influncia teolgica se faz
sentir at os nossos dias em praticamente todos os ramos do Cristianismo.
Semelhantemente aos pensadores do segundo e terceiro sculos, Agostinho
tambm intentou lutar contra as heresias de seu tempo, mas, sem que ele notasse,
sua teologia foi profundamente influenciada pelo neoplatonismo. Nosso telogo
africano pode ser considerado como o grande intrprete da teologia que at ali havia
sido elaborada, transmitindo-a a Idade Mdia e desta aos nossos dias. A partir dele,
temos definitivamente a construo sistemtica de uma teologia platonizada70.
Nossa pesquisa manter o foco em sua antropologia dualstica. Dussel explica
assim sua posio:
68
WALKER, vol. 1, 2006, p. 296.
RUBIO, 2006, p. 462.
70
A este respeito, Enrique Dussel afirma o seguinte: (...) Estes poucos textos nos permitem afirmar que em
Agostinho temos as bases, firmes bases, de todo o dualismo ocidental posterior, que, sem dvida, era muito
mais antigo que Agostinho no prprio pensamento cristo latino. DUSSEL, 1974, p. 180-181.
69
33
Uma dupla questo impulsionava Agostinho a aceitar sem reservas o
dualismo: sua doutrina do pecado original e a demonstrao da
imortalidade. Ambas as teses, tal como as explicou Santo Agostinho
significam certa deformao da doutrina original do judeo-Cristianismo.
Tratar-se- como sempre de um dualismo mitigado por uma considerao
do homem como uma pessoa. (traduo prpria)71
Agostinho, assim como Tertuliano e Ambrsio, define alma como substncia,
com clara influncia neoplatnica: (...) E se quer uma definio da alma, e saber o
que ela , respondo facilmente: substncia dotada de razo, apta a reger um
corpo.72 Assim como no pensamento grego, Agostinho identifica a alma (substncia)
com o ser humano. O corpo resume-se a um instrumento para realizar tarefas
materiais de maneira passiva. Em funo disto, Agostinho afirma que o corpo
regido por outra substncia, a alma73. Esta, para nosso telogo de Hipona,
imortal74.
Agostinho flerta perigosamente com o gnosticismo ao tratar do tema da
imortalidade da alma. Para ele essencial provar sua espiritualidade. Faz isso mais
pela intuio, do que pela razo. Sobre isto, Battista Mondin nos d a seguinte
explicao:
A sua argumentao para provar a espiritualidade da alma a seguinte: ou
a alma pode exercer sua atividade (querer, pensar, duvidar, etc) sem o
corpo, e ento espiritual, ou incapaz de exercer sua atividade sem o
corpo, e ento material.
Ora, pelo menos em um caso a alma pode desenvolver sua atividade sem o
corpo: quando conhece a si mesma. Logo, a alma espiritual.
A espiritualidade da alma , pois, confirmada pelo que ela conhece de si
mesma. Quando a alma conhece a si mesma, descobre que uma
substncia que vive, que recorda, que quer, etc, e isto no tem nada que
ver com o que corpreo.
Provada a espiritualidade, Agostinho passa a provar a imortalidade,
retomando o argumento platnico da relao da alma com as Idias.75
71
Una doble cuestin impulsaba a Agustn a aceptar sin reservas el dualismo: su doctrina del pecado original y
la demostracin de la inmortalidad. Ambas tesis, tal como las explic san Agustn significan ya una cierta
deformacin da la doctrina originaria del judeo-Cristianismo. Se tratar, como siempre, de un dualismo
mitigado por una consideracin del hombre como una persona. DUSSEL, 1974, p. 179.
72
AGOSTINHO. Sobre a Potencialidade da Alma. Petrpolis: Vozes, 1997. p. 66.
73
Cf. DUSSEL, 1974, p. 180.
74
Cf. DUSELL, 1974, p. 180.
75
MONDIN, Battista. Curso de Filosofia: os filsofos do ocidente. Vol. 1. So Paulo: Paulinas, 1982. p. 146-147.
34
Conclui-se da que para Agostinho o ser humano no uma unidade. Em
sua sntese da f crist com o arcabouo filosfico neoplatnico, o dualismo matriaesprito instalou-se definitivamente no pensamento teolgico cristo. O corpo ficou
relegado a mero instrumento passivo da alma. Uma Teologia do Corpo gnstica e
dualstica foi seu legado negativo para as geraes futuras.
1.5 Antropologia Dualista na Idade Mdia
1.5.1 So Boaventura dualismo psicofsico
So Boaventura de Bagnoregio (1221-1274) foi ministro geral da ordem
franciscana. Como tal, embora afirmasse que alma e corpo formam uma s pessoa,
suas reflexes no mbito da psicologia levam-nos concluso de que Boaventura
foi um expoente do dualismo alma-corpo. Sua principal fonte de conhecimento foi
um agostinianismo mesclado de aristotelismo76. Ao tratar da criao do corpo em
seu Brevilquio, Boaventura afirma:
Quanto ao corpo humano, no estado em que foi inicialmente criado, deve-se
admitir o seguinte, conforme a f ortodoxa: o corpo do primeiro homem foi
tirado do lodo da terra de tal forma que ficou sujeito alma, sendo-lhe
proporcional a seu modo.77
Tanto a alma quanto o corpo so seres completos. Cada qual com sua forma
e matria. Entretanto, sendo a alma espiritual, ela tambm imortal e, portanto, no
morre com o corpo. A alma criada diretamente por Deus, enquanto o corpo se
desenvolve a partir de atividades seminais.78 A unio entre ambas algo acidental
uma vez que cada uma dessas substncias tem estruturao prpria e autnoma,
so heterogneas e, portanto, imunes a uma unio substancial profunda e
permanente. Nada de relao simbitica, nada de interdependncia. O corpo
76
Cf. MONDIN, 1982, p. 187.
BOAVENTURA. Obras Escolhidas. Porto Alegre: EST/Sulina; Caxias do Sul: UCS, 1983. p. 45.
78
Cf. MONDIN, 1982, p. 191.
77
35
constitui-se mero instrumento para a alma imortal79. Este contemporneo de Aquino
ajudou a construir esta tradio filosfica que nos levar at o dualismo cartesiano.
1.5.2 Toms de Aquino tentativa de superao do dualismo
A neo-escolstica esboou algumas tentativas de superao do dualismo
neoplatnico-agostiniano80. Contudo, somente com Toms de Aquino (1225-1274)
temos a primeira elaborao consistente visando superao do dualismo espritomatria. Para ele o corpo a sntese (snolo) de alma e corpo. No so, portanto,
substncias distintas e conflitantes. Ao contrrio, alma e corpo constituem um todo
nico.
Ora, ainda que a alma tenha alguma operao prpria da qual o corpo no
participa, como a inteleco, h, no obstante, algumas operaes comuns
a ela e ao corpo, como temer, irar-se, sentir, etc. Ora, essas operaes
realizam-se segundo alguma mudana de determinada parte do corpo,
donde se depreende que as operaes da alma e do corpo so conjuntas.
Logo, necessrio que da alma e do corpo se faa um todo uno, e que no
sejam diversos quanto ao ser.81
Para So Toms de Aquino a separao entre alma e corpo uma
impossibilidade filosfica e prtica. Ele coloca-se claramente contrrio posio de
Plato.
(...) se o homem, segundo a sentena de Plato, no uma coisa composta
de alma e corpo, mas a alma usando o corpo, ou isto entende-se s
referente alma intelectiva, ou s trs almas, se so trs, ou a duas delas.
Ora se s trs ou s duas, resulta que o homem no uma s realidade,
mas duas ou trs, pois h trs ou pelo menos duas almas. (...) Ora, como
h disconvenincias entre essas trs coisas, impossvel haver em ns trs
almas substancialmente diferentes, a intelectiva, a sensitiva e a nutritiva.82
79
Cf. MONDIN, Battista. O Homem, quem ele? Elementos de antropologia filosfica. So Paulo: Paulinas,
1980. p. 280.
80
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 49ss.
81
AQUINO, Toms de. Suma contra os gentios. Vol. 1. Porto Alegre: EST/Sulina; Caxias do Sul: UCS, 1990. p.
264.
82
AQUINO, 1990, p. 267-268.
36
Antes de Aquino, a Escola Franciscana j havia afirmado a unidade do ser
humano. Contudo, esta unidade era questionvel, uma vez que, os franciscanos
defendiam a idia da existncia de vrias almas com funes distintas no ser
humano. Como vimos na citao acima, ele se posiciona contra esta idia e continua
dizendo:
Se admitirmos que a alma est unida ao corpo, como forma,
absolutamente impossvel existirem, no mesmo corpo, vrias almas
essencialmente diferentes (...). De fato, o animal (o homem) com trs almas
no seria absolutamente uno. Portanto, nenhum ser pura e simplesmente
uno, seno pela forma una, pela qual as coisas existem; porque em
virtude do mesmo princpio que uma coisa existe e una. Por isso seres
denominados por formas diversas no tm a unidade absoluta como, por
exemplo, homem branco. Se, portanto, o homem fosse vivo por uma forma,
a alma vegetativa; animal por outra, a sensitiva; homem por outra, a
racional, disso resultaria que no seria homem absolutamente.83
na construo de uma nova teoria filosfica, distinta de Plato (e tambm
de Aristteles, embora fundamentalmente ligado a este) que So Toms de Aquino
pretende a superao radical do dualismo antropolgico. Para ele corpo e alma so
duas partes do ser humano que se unem numa composio acidental. Antes ele fala
em dois princpios metafsicos que operam numa unidade primordial do ser humano.
Para o telogo e filsofo de Aquino o corpo condio para a existncia da alma.
Sua concluso que o corpo no uma priso (como queria Plato) ou simples
instrumento da alma (como queria Agostinho), mas, a unio de corpo e alma ,
antes, a salvao da alma. O corpo no um castigo ou conseqncia da queda,
mas fonte de bem84. Ato contnuo, no corpo que se concretiza a dimenso histrica
e social do ser humano. Em seu corpo ele tanto experimenta sua subjetivao
quanto sua relao com o prximo. (...) o corpo simultaneamente o local da
comunidade e da abertura para o encontro.85
Toms de Aquino representou este esforo em corrigir e superar o dualismo
agostiniano quando este defende que a unio entre corpo e alma uma unio
profunda, substancial e duradoura. Somente a partir desta unio substancial
podemos falar em um ser humano homem/mulher. Nem o corpo nem a alma
possuem subsistncia autnoma, nenhum dos dois possui autonomia de
83
MONDIN, 1982, p. 178.
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 51.
85
FIORENZA e METZ, 1972, p. 52.
84
37
existncia86. Em que pese este enorme esforo em superar o dualismo corpo-alma,
Aquino pende em momentos para certa espiritualizao uma vez que ele utiliza o
termo anima, onde a Bblia utilizaria basar ou sma e compreende a corporeidade
humana a partir da anima.87
1.6 Concluso
O que vnhamos dizendo at aqui acerca da infiltrao do dualismo platnico
e neoplatnico na teologia crist objetiva identificar as graves conseqncias
prticas desta teologia hbrida sobre a vida de centenas de milhares de cristos ao
longo dos sculos. Estas conseqncias podem ser percebidas tanto no
Cristianismo catlico romano quanto no protestantismo, para ficarmos nas duas
grandes correntes crists ocidentais. Assim, poderamos perguntar em que medida
esta teologia platonizada sustentou o genocdio dos povos indgenas e a escravido
dos negros africanos na colonizao ibrica da Amrica Latina. Ou ainda,
poderamos perguntar pelas influncias da antropologia dualstica neoplatnica
sobre a formao do pensamento teolgico cristo e sua relao com a tensa
convivncia da igreja evanglica brasileira com as manifestaes populares da
cultura brasileira.
Ao tomar como referencial terico o dualismo neoplatnico, o Cristianismo
deu origem a uma religiosidade de um lado violenta, discriminatria, sectria e
preconceituosa, e de outro uma religiosidade cheia de culpa, inimiga do prazer,
neurotizante, mal resolvida com a sexualidade humana. Ora, como assinala Rubem
Alves somos o nosso desejo.88 Uma das grandes contribuies de Sigmund Freud
foi apontar a importncia da pulso sexual na estruturao mesma da
personalidade. A religio de modo geral, e o Cristianismo em particular nunca lidou
bem com a natureza humana e suas pulses.
86
Cf. MONDIN, 1980, p. 280-281.
FIORENZA e METZ, 1972, p . 53.
88
ALVES, Rubem. O que religio. So Paulo: Brasiliense, 1981. p. 91.
87
38
A Igreja teve grande papel na construo do mundo ocidental. Os
fundamentos das naes europias foram construdos ao longo da Idade Mdia sob
a liderana da Igreja. Estes fundamentos referem-se estruturao poltica, social,
econmica, religiosa, cultural e, tambm, psicolgica.
A Modernidade foi um grande esforo, que tomou impulso a partir da
Renascena italiana, com o intuito de desconstruir estes fundamentos, libertar o
mundo ocidental do jugo religioso, e construir novos fundamentos baseados na
razo humana. Ora, isto significou um empenho no sentido de repensar toda esta
base em sua dimenso poltica, social, econmica, religiosa, cultural e, tambm,
psicolgica. Ou seja, era necessrio se repensar toda a estrutura do edifcio
medieval. Vale destacar que a Reforma Protestante foi uma fora secularizante
neste processo. Com sua proposta de livre exame das Escrituras, o que implicava
liberdade de conscincia, Martim Lutero ajudou na formulao deste novo mundo
(nova era), a Modernidade.
Foquemos na questo psicolgica. Ao optar pelo ferramental dualista como
chave hermenutica para sua antropologia, a teologia crist construiu um mundo no
qual sexo era sinnimo de pecado. O corpo juntamente com seus desejos, deveria
ser constantemente reprimido. Ora, pelo corpo que o ser humano se comunica
com o mundo sua volta. atravs da ao corporal, fala, escuta, gestos,
movimento etc, que o ser humano constri a cultura ao seu redor. Assim, ao rejeitar
o corpo, a teologia crist tendeu a rejeitar tambm a cultura que da nasce.
(...) pelo corpo que a pessoa humana se expressa, se faz presente e se
comunica aos outros seres humanos; pelo corpo igualmente que a pessoa
humana intervm no mundo das coisas transformando-o e criando cultura.89
A nica cultura que a Igreja poderia suportar era uma cultura construda por
ela mesma na qual no haveria espao para o corpo e suas pulses. Uma cultura
celibatria por excelncia. Como j vimos, coube a So Toms de Aquino, num
perodo pr-moderno, as primeiras formulaes filosficas que buscavam recuperar
a unidade fundamental do ser humano.
89
RUBIO, 1989, p. 281.
39
Precisamente o que santo Toms mostrar que uma substncia completa
no pode ser forma [hilemorfismo]. No homem no existem duas formas,
antes a alma a nica forma do corpo, de tal maneira que a realidade do
homem est composta de alma (como forma) e de matria-prima. No
existe, pois, uma unio acidental entre alma e corpo, tal como aparece em
todas as correntes dualistas. Propriamente falando, no existem duas
partes no homem, pois alma e corpo no podem ser consideradas duas
substncias completas (neste caso evidentemente a unio s poderia ser
acidental). Corpo e alma so, antes, dois princpios metafsicos dentro de
uma unidade primordial do homem, de maneira que toda a atividade do
homem uma operatio totius hominis.90
Dussel tambm citado por Rubio completa este pensamento afirmando
que o corpo, em sentido estrito e vulgar, a totalidade da substncia humana
enquanto extensa, sensivelmente percebida, o qual inclui a alma como a sua
estrutura constitutiva. (traduo prpria)91 E conclui Alfonso Garcia Rubio:
No existe oposio-excluso entre alma e corpo, conforme ensinaram
todos os dualismos. A alma sem o corpo no se encontra em estado de
perfeio maior do que quando unida ao corpo. Pelo contrrio, existe
sempre uma tendncia para a complementao: depois da morte a alma
continua tendendo para sua complementao com o corpo, na expectativa
da unio final com ele na ressurreio.92
No obstante a Modernidade desatar uma campanha de reformulao do
mundo contrria viso medieval, esta no foi suficientemente profunda para
superar o dualismo antropolgico. No, de fato, no. O dualismo agostiniano
continuar dando as cartas tanto nos currais catlicos, quanto nos protestantes.
Neste ltimo caso, devido reao asctica desencadeada pelo anabatismo,
Pietismo e puritanismo. E, a partir destes movimentos, pela verso evanglica do
protestantismo nascida na Inglaterra do sculo XVIII, marcada pelo avivamento
wesleyano e, no caso dos EUA, pelos avivamentos norte-americanos, culminando,
de um lado, na ortodoxia protestante da segunda metade do sculo XIX, e de outro,
no movimento pentecostal do incio do sculo XX. Os filsofos modernos
sustentaro uma antropologia psicofsica desde Ren Descartes, passando por Kant
e mesmo pelo idealismo alemo93.
90
RUBIO, 1989, p. 272-273.
El cuerpo, en sentido estricto y vulgar, es la totalidad de la substancia humana en cuanto extensa,
sensiblemente percibida, lo que incluye al alma como su estrutcura constitutiva. DUSSEL, 1974, p. 257.
92
RUBIO, 1989, p. 273.
93
Cf. DUSSEL, 1974, p. 230.
91
40
Ento, comeando com Tertuliano, passando por Agostinho, pelos
franciscanos em sua leitura do dualismo agostiniano modificada pela influncia
aristotlica94, especialmente Guilherme de Ockham e da, invadindo a Idade
Moderna atravs dos escritos de Descartes, o dualismo antropolgico helnico
chegou at os nossos dias95. Obviamente, no se trata de um nico tipo de
dualismo. Essas vises dualistas variaram de autor para autor e de poca para
poca.
Nos tempos modernos, vale destacar o dualismo psicofsico defendido por
Descartes. Para ele o corpo simplesmente matria, a substncia extensa (res
extensa), enquanto que a alma (conscincia) substncia pensante (res cogitans).
Estas so substncias radicalmente separadas que subsistem uma sem a outra. As
conseqncias prticas desta formulao filosfica so funestas para o mundo
moderno como nos lembra Alfonso Garca Rubio.
As conseqncias desta antropologia so bem conhecidas: o sujeito (a
conscincia humana) est cortado da prpria corporeidade e vice-versa. (...)
A realidade ficar destarte perigosamente cindida em pura subjetividade e
pura objetividade. Divrcio nefasto que ainda hoje perturba seriamente o
dilogo entre cincias da natureza e cincias do esprito; entre razo e f e
assim por diante. Divrcio funesto que conduzir instrumentalizao e
manipulao destruidora do mundo da natureza (crise ecolgica). Diviso
dicotmica da realidade mais radical ainda que o dualismo platnico e
neoplatnico, e que reforar a penetrao deste na vida e na reflexo
teolgica eclesiais.96
Somente no sculo XIX, com a formulao da psicologia moderna e com o
surgimento da psicanlise, em fins deste mesmo sculo, d-se incio ao resgate do
corpo e seu lugar na construo da cultura. Se Karl Marx intentou compreender as
relaes humanas a partir da estruturao econmica da sociedade, Sigmund Freud
lana um olhar sobre a sociedade europia da era vitoriana e busca interpret-la do
ponto de vista da psicologia moderna. Mais precisamente de sua metapsicologia, a
psicanlise.
Para Freud, a essncia da sociedade a represso do indivduo. Este, por
sua vez, levado a reprimir a si mesmo. Desejos reprimidos, no permanecem
94
bom lembrar que esta influncia aristotlica se deu via os comentrios de Avicena e de Averris. Alm
disso, entre os franciscanos, Duns Scotus representa uma tentativa frgil de superao do dualismo.
95
Cf. DUSSEL, 1974, p. 230.
96
RUBIO, 1989, p. 80.
41
reprimidos. Seu retorno se d de maneira codificada. Sua linguagem por excelncia
so os sonhos. Sua manifestao prtica so as neuroses. Estas podem ser
interpretadas no ato analtico preferencialmente de duas formas: pela anlise do
discurso e pela interpretao dos sonhos97.
No toa, Freud discorreu longamente sobre o que ele considerava os
danos causados pelo Cristianismo na formao do mundo ocidental em suas obras
Totem e Tabu, Moiss e o Monotesmo, O Futuro de uma Iluso e O Mal-Estar da
Civilizao. Alm disso, Freud inaugurou seu consultrio para a prtica do que se
tornaria a psicanlise no domingo de Pscoa de 1886. Ana-Mara Rizzuto afirma que
a escolha da data no foi um acidente; expressava o gosto de Freud pela
provocao, que tinha como alvo os mortais vienenses e seu Deus imortal.98 Desde
o incio a questo religiosa, mormente, a religiosidade crist, esteve na base das
reflexes de Freud acerca do problema do sofrimento humano. Para ele, o
Cristianismo europeu tinha grande responsabilidade na construo de uma
sociedade cheia de culpa, desconfortvel com o corpo e os desejos, a partir de suas
crenas fundamentais num Deus onipresente, rigoroso, moralista, um Deus um tanto
gnstico, doctico, para quem todos teramos de prestar contas um dia.
Se concordarmos com Freud em sua interpretao, concluiremos que o
dualismo neoplatnico-agostiniano teve conseqncias prticas devastadoras e
profundas para o mundo ocidental em geral e, em particular, para os cristos
praticantes. A contribuio freudiana, neste caso, encontra-se em sua proposta na
busca pelo ser humano concreto. O que se quer a verdade. E, a verdade vos
libertar. Uma vez assumida esta verdade, o homem (e a mulher) pode reassumir o
controle de seu corpo (ainda que nunca de forma perfeita) e, assim, pode relacionarse com a cultura ao seu redor sem culpa, manifestar seu prazer sem medo,
experimentar o mundo de forma celebrativa.
Conclumos, ento, que este tipo de teologia dicotmica serviu de base para
a colonizao ibrico-catlica da Amrica Latina e que, de outro lado, a
compreenso do ser humano subjacente mentalidade evanglica brasileira,
semeada pelo tipo de protestantismo-evanglico trazido pelos missionrios no
97
Cf. ALVES, 1981, p. 88-92.
RIZZUTO, Ana-Mara. Por que Freud Rejeitou Deus? Uma interpretao psicodinmica. So Paulo: Loyola,
2001. p. 257.
98
42
sculo XIX e incio do sculo XX, fortemente dualstica do tipo agostiniano, o que
gera uma rejeio natural s manifestaes culturais tipicamente tropicais. Como
vimos, esta uma viso que vem de um passado muito distante. Esta viso
dicotmica do ser humano produz, como conseqncia, profunda diviso entre f e
vida cotidiana, entre f e poltica, entre o divino e o humano, entre teoria e prxis.99
Ou seja, suas conseqncias so radicalmente danosas para a prtica pastoral
brasileira e para a vivncia da f na vida das comunidades. No poder haver a
prtica de uma misso que vise libertao integral do ser humano, enquanto este
ser for visto de forma dicotmica. Em decorrncia disso, podemos afirmar
sinteticamente que o evanglico brasileiro tende a valorizar mais a alma do que o
corpo, mais a orao do que a ao, mais a igreja do que o mundo, mais a vida no
cu, do que a vida na terra, mais o Jesus divino do que o Jesus humano, e assim
por diante100. Assumirmos esta tese nos dar a possibilidade de elaborao de uma
nova Teologia do Corpo que afete positivamente a misso integral da Igreja e sua
insero crtica na cultura brasileira.
Pretendemos mostrar no quarto captulo a fundamentao bblica para uma
viso de ser humano que afirma sua unidade bsica, sem desconsiderar suas vrias
dimenses.
99
RUBIO, 1989, p. 76.
Cf. RUBIO, 1989, p. 81.
100
43
2. ANTROPOLOGIA DUALISTA COMO FUNDAMENTO PARA UMA TEOLOGIA
DE DOMINAO DO OUTRO NA COLONIZAO CATLICA DA AMRICA
2.1 Introduo
Uma Teologia desenvolvida a partir da antropologia dualstica platnica foi
essencial para a justificativa terica da dominao e genocdio dos povos
amerndios e afros no processo de colonizao da Amrica Latina. Assim se
expressa o telogo belga catlico, radicado no Brasil, Jos Comblin:
(...) foi o dualismo da teologia que permitiu que os telogos pudessem com
tanta facilidade justificar a tortura praticada pela Inquisio, ou a
escravatura praticada universalmente, ou a reduo dos ndios a uma
condio de servos como fizeram ainda no sculo XVI tantos telogos.
Somente foi possvel porque para eles, o corpo no era realmente o
homem. Torturar o corpo, tirar a liberdade do corpo podia justificar-se
porque o corpo ficava de certo modo exterior pessoa humana, como seu
instrumento.101
A expanso geogrfica e colonial europia que assistimos a partir de fins do
sculo XV se caracteriza pelo forte apelo mercantil, mas pode tambm ser descrita
como um projeto de dominao cultural e espiritual. Do choque da cultura europia
com as culturas amerndias surge um labor teolgico com vistas legitimao dessa
dominao.
2.2 Faces da legitimao teolgica da dominao
101
COMBLIN, 1985, p. 82.
44
A legitimao teolgica que justificativa toda sorte de atrocidades contra os
povos no-cristos conquistados por reinos cristos j estava abalizada bem antes
do perodo dos descobrimentos pela Bula Romanus Pontifex promulgada pelo
Papa Nicolau V em 8 de janeiro de 1454.
No sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que nosso dileto
filho infante d. Henrique, incendido no ardor da f e zelo da salvao das
almas, se esfora por fazer conhecer e venerar em todo o orbe
gloriosssimo de Deus, reduzir sua f no s os sarracenos, inimigos
dela, como tambm quaisquer outros infiis. Guinus e negros tomados
pela fora, outros legitimamente adquiridos foram trazidos ao reino, o
que esperamos progrida at a converso do povo ou ao menos de
muitos mais. Por isso ns, tudo pensando com a devida ponderao,
concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras,
de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer sarracenos e pagos,
inimigos de Cristo, sua terra e bens, a todos reduzir a servido e tudo
praticar em utilidade prpria e dos seus descendentes. Tudo
declaramos pertencer de direito in perpetum aos mesmos d.Afonso e seus
sucessores, e ao Infante. Se algum, indivduo ou coletividade, infringir
essas determinaes, seja excomungado [...].(grifo nosso)102
Tambm a Bula Inter Coetera de 4 de maio de 1493 do Papa Alexandre VI,
emitida meio ano aps a chegada de Colombo na Amrica Central, fundamentava a
invaso e conquista:
[...] por nossa mera liberalidade, e de cincia certa, e em razo da plenitude
do poder Apostlico, todas ilhas e terras firmes achadas e por achar,
descobertas ou por descobrir, para o Ocidente e o Meio-Dia, fazendo e
construindo uma linha desde o plo rtico [...] quer sejam terras firmes e
ilhas encontradas e por encontrar em direo ndia, ou em direo a
qualquer outra parte, a qual linha diste de qualquer das ilhas que
vulgarmente so chamadas dos Aores e Cabo Verde cem lguas para o
Ocidente e o Meio-Dia [...] A Vs e a vossos herdeiros e sucessores (reis de
Castela e Leo) pela autoridade do Deus onipotente a ns concedida em S.
Pedro, assim como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra,
para sempre, no teor das presentes, v-las doamos, concedemos e
entregamos com todos os seus domnios, cidades, fortalezas, lugares, vilas,
direitos, jurisdies e todas as pertenas. E a vs e aos sobreditos
herdeiros e sucessores, vos fazemos, constitumos e deputamos por
senhores das mesmas, com pleno, livre e onmodo poder, autoridade e
jurisdio. [...] sujeitar a vs, por favor da Divina Clemncia, as terras
102
Disponvel em: < http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=257&cod_boletim=14&tipo
=Artigo> Acesso em: 14 de janeiro de 2010.
45
firmes e ilhas sobreditas, e os moradores e habitantes delas, e reduzilos F Catlica.103
Esta legitimao teolgica eurocntrica tem vrias faces. Seu ponto de
partida a demonizao da religio do outro que, alis, no reconhecido
(descoberto) em sua alteridade, mas, na linguagem de Enrique Dussel, encoberto
e desconsiderado. Assim se expressa Dussel:
O fenmeno religioso oficial fica ento definido pela negao radical (a
tabula rasa) das antigas religies que so demonacas ou satnicas,
principalmente em suas estruturas mais conscientes (seus templos, lugares
de culto pblicos e privados, calendrios, escolas de sbios, teologias
explcitas, interpretao da vida cotidiana, ritos, danas, organizao
agrcola-sagrada etc.), e pela implantao violenta do catolicismo (nova
vivncia religiosa que ser mais estruturada e mais antiprotestante
medida que transcorre o sculo XVI, que justamente o tempo da
implantao da Igreja catlica com suas estruturas institucionais).104
O europeu hispano-lusitano tem sua conscincia limpa, pois, sua cruzada
contra as hostes do inferno. Decorre da um segundo passo. Definida como religio
satnica, o caminho est aberto para a conquista espiritual. Embora, esta conquista
no fosse meramente espiritual. Os missionrios estavam conscientes que seu
servio no era apenas ao Sumo Pontfice, mas tambm aos reis de Espanha e
Portugal os quais haviam sido comissionados pela Santa S, pelo sistema de
padroado, a tornar os sditos do novo mundo, verdadeiros cristos catlicos.
Em vista da delegao pontifcia, os missionrios, ao realizar sua tarefa
religiosa, se colocavam diretamente a servio dos monarcas catlicos,
prestando-lhes o juramento de fidelidade. Comprometiam-se assim a
defender os interesses rgios no exerccio de sua atuao
evangelizadora.105
Ainda sobre o sistema do padroado, afirma Riolando Azzi:
103
Disponvel em: < http://pastoral.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=1>
Acesso em: 14 de janeiro de 2010.
104
DUSSEL, Enrique. Sistema-mundo, dominao e excluso apontamentos sobre a histria do fenmeno
religioso no processo de globalizao da Amrica Latina. In: Histria da Igreja na Amrica Latina e no Caribe
1945-1995: o debate metodolgico. Petrpolis: Vozes; So Paulo: CEHILA, 1995. p. 61.
105
AZZI, Riolando. Mtodo missionrio e prtica de converso e colonizao. In: SUESS, Paulo, org. Queimada e
semeadura: da conquista espiritual ao descobrimento de uma nova evangelizao. Petrpolis: Vozes, 1988. p.
89.
46
Se por um lado a ao missionria se situava na luta entre o reino de Deus
e o reino de Satans, por outro era mediante a submisso s Cortes de
Espanha e Portugal que os povos amerndios deviam manifestar
concretamente sua adeso f, pois competia aos monarcas de ambos os
pases, em fora da concesso do padroado, gerenciar a implantao da f
na Amrica Latina.106
O que se pretendia era a fundao de uma Cristandade colonial.
Confundia-se assim, a conquista espiritual (religiosa) que era, ao mesmo tempo,
cultural, social, poltica e econmica. bem verdade que, dentro do esprito do
Conclio de Trento (1545-1563), os missionrios do sculo XVI, sobretudo os
jesutas, buscavam prioritariamente a salvao das almas em sua atuao
evangelizadora. Contudo, por inspirao do fundador da Companhia de Jesus,
Incio de Loyola, com seus ideais militares, os jesutas entendiam sua tarefa
missionria como conquista de povos e territrios bem ao estilo das Cruzadas dos
sculos XII e XIII. Ora, esta conquista no considerava a possibilidade de dilogo
com o conquistado. O alvo era a doutrinao.
Uma terceira face da teologia eurocntrica de justificao da dominao
catlica era o que se chamou de guerra justa. A recusa em aceitar a f catlica
transformava os amerndios em inimigos da f e do Imprio. Sendo assim, era
legtimo o uso da violncia contra os gentios uma vez que esta era santa e justa.
Exemplo clssico deste tipo de argumento para justificar a violncia contra os
nativos encontramos em Juan Gins de Seplveda dentre vrios outros autores.
Em seu Democrates Alter (1547), Seplveda acha natural que homens prudentes,
ntegros e humanos dominem sobre os que no o so. Recorrendo diversas vezes
a textos bblicos e a clssicos autores cristos como Agostinho e Toms de Aquino,
sobretudo ao primeiro, Gins de Seplveda homologa em sua obra a dominao e o
uso da fora contra os indgenas. Deixemos que ele mesmo fale:
[...] com perfeito direito os espanhis dominam sobre os brbaros do novo
mundo e das ilhas adjacentes, os quais em prudncia, engenho, toda
virtude e humanidade so to superados pelos espanhis como meninos
pelos adultos, mulheres por homens, pessoas ferozes e cruis por pessoas
prudentssimas e prdigas, intemperantes por continentes e moderados,
diria enfim, como macacos por homens.107
106
AZZI, 1988, p. 92.
SEPLVEDA, Juan Gins de. As justas causas de guerra contra os ndios (1574). In: SUESS, Paulo (org.). A
conquista espiritual da Amrica Espanhola: 200 documentos sculo XVI. Petrpolis: Vozes, 1992. p. 531.
107
47
Seu desprezo pelos amerndios, a quem se refere como homnculos, e
pela sua cultura inversamente proporcional exaltao que ele faz do povo
espanhol.
Compara agora a prudncia, o engenho, a magnanimidade, a temperana,
a humanidade e religio destes homens com esses homnculos nos quais
mal encontrars vestgios de humanidade, que no s no possuem
doutrina alguma, mas tambm no usam letras, nem conheceram, no tm
nenhum monumento de grandes feitos, a no ser alguma e obscura
lembrana de algumas coisas registradas em certas pinturas, nenhuma lei
escrita, mas instituies e costumes brbaros.108
Debocha da hospitalidade do rei Montezuma a qual foi retribuda pelo
conquistador Fernando Corts com o jugo e o crcere, pois este, com no mais que
trezentos espanhis manteve oprimida e temerosa durante muitos dias (...) uma
multido to imensa como de pouco sentido comum, sem carecer tambm de
indstria e astcia.109 Prossegue seu raciocnio concluindo pela justeza da guerra
contra os brbaros:
Por muitas causas, portanto, e muito graves, estes brbaros esto
obrigados a aceitar o domnio dos espanhis conforme a lei da natureza. E
isto mais til para eles do que para os espanhis, pois a virtude, a
humanidade e a verdadeira religio so mais preciosas do que o ouro e a
prata. E se recusarem nosso domnio podero ser coagidos pelas armas a
aceit-lo, e esta guerra ser, como acima declaramos com autoridade de
grandes filsofos e telogos, justa pela lei da natureza, muito mais ainda do
que a que fizeram os romanos para submeter a seu imprio todas as
demais naes, assim como melhor e mais certa a religio crist do que a
antiga dos romanos. [...] E a justia desta guerra ainda mais evidente por
ter sido autorizada pelo Sumo Pontfice, que faz as vezes de Cristo.110
2.3 Mtodos de dominao tico-cultural
Visando tornar os povos amerndios verdadeiros cristos catlicos e fiis
sditos das Coroas da Espanha e Portugal era necessrio que a imensa
complexidade deste novo mundo passasse por um processo de simplificao. Ainda
108
SEPLVEDA, 1992, p. 532.
SEPLVEDA, 1992, p. 533.
110
SEPLVEDA, 1992, p. 534-535.
109
48
no sculo XVI esta simplificao ser feita inicialmente pelo ajuntamento de vrias
tribos em aldeamentos que recebiam o sugestivo nome de redues. Estas
redues facilitavam o processo de converso dos ndios que, geralmente, se
estabeleciam de maneira um tanto dispersa em meio s florestas. Azzi nos lembra
que no Brasil era comum descer tribos inteiras atravs dos rios para o local das
redues e, por isso, este traslado recebia o no menos sugestivo nome de
descimento111. Desta forma podemos dizer que de certo modo os ndios eram
descidos e reduzidos. Isto traduz bem o ideal missionrio de se apagar a
concepo de mundo desses povos, vista como primitiva e selvagem, e embutir
neles uma nova concepo de vida (nova cultura) oferecida pela f catlica.
Quando era necessrio, esses descimentos eram feitos com a ajuda da
coero militar. Mas, na maioria das vezes os missionrios usavam de aliciamento,
fazendo promessas de bem-estar material. Ofereciam machados, roupas, comida
em abundncia etc. Na maioria das vezes estas promessas no eram cumpridas.
Refletindo sobre o carter dessas redues, bastante pertinente a afirmao de
Bartomeu Meli:
A reduo tem um carter totalizante, e suas conseqncias sero
irreversveis em todas as ordens. A reduo perturba a ecologia tradicional,
traz uma nova morfologia social, dispe do espao urbano segundo
intenes precisas, modifica o sistema de parentesco. Na reduo a religio
guarani atacada, ridicularizada, suprimida, e por fim substituda. Os
feiticeiros so acusados e perseguidos, expulsos ou domesticados. No h
dvida de que a reduo pretende mudar o ser guarani. (grifo nosso)112
Um dos lados macabros dessas redues era a conseqente reduo
numrica dos povos indgenas. Os aldeamentos tornaram-se instrumentos de
dizimao dos nativos ora porque estes eram mortos nos confrontos militares que
visavam conduzi-los fora para as redues, ora porque, uma vez instalados nas
aldeias, morriam de doenas, epidemias, inaptido ao novo contexto ecolgico e
cultural ou pelos trabalhos forados a que eram obrigados.
A imposio do modo de vida europeu era um grande favor a ser feito aos
nativos. E eles deveriam ficar agradecidos. A este respeito, assim se expressa Gins
de Seplveda:
111
112
Cf. AZZI, 1988, p. 94.
MELI, 1982 apud AZZI, 1988, p. 87.
49
O que podia acontecer a estes brbaros mais conveniente ou mais saudvel
do que serem submetidos ao domnio daqueles cuja prudncia, virtude e
religio os convertero de brbaros, tais que mal mereciam o nome de
seres humanos, em homens civilizados o quanto podem ser, de facinorosos
em probos, de mpios e servos dos demnios em cristos e cultores da
verdadeira religio?113
A concluso: o europeu trouxe um mundo de possibilidades. Sobretudo, a f
crist libertadora das trevas espirituais e dos grilhes demonacos. As bnos
celestiais que receberiam na vida futura deveriam compensar a perda de liberdade e
a destruio de seu modus vivendi.
Uma das caractersticas desse modus vivendi que mais recebeu ateno
dos missionrios foi a nudez primitiva e a naturalidade com que os nativos a
encaravam. Sua nudez era sinal de imoralidade. A nfase dada produo de
algodo era, em parte, com o objetivo de se confeccionar roupas para os ndios. Ao
comentar isso, Riolando Azzi afirma: Dessa maneira so introjetados nas
populaes indgenas os traumas, a insegurana, a malcia e a culpa dos prprios
europeus no trato com a sexualidade humana.114
A educao das crianas, considerada muito liberal, passou a ser baseada
nos castigos fsicos. Adultos tambm eram castigados com o objetivo de estimullos ao trabalho agrcola, ao qual no estavam habituados.115 Este processo de
inculturao foi to profundo que somos surpreendidos pela constatao do Pe.
Bernab Cobo que, referindo-se a uma das mais importantes redues indgenas
nas proximidades de Lima, no Peru, registrou em 1630 o seguinte:
Atualmente h duzentas casas e oitocentas almas de confisso, e estes
ndios esto to bem instrudos na boa ordem e cristandade que se
sobressaem entre os demais deste reino. Esto de tal forma espanholados
(grifo nosso) que todos geralmente, homens e mulheres, entendem e falam
a nossa lngua. No cuidado e adorno de suas casas parecem espanhis, e
basta dizer, como prova disso, que entre todos eles j h mais de oitenta
negros escravos de que se servem; todos os demais ndios do reino juntos
no devem ter outros tantos.116
113
SEPLVEDA, 1992, p. 534.
AZZI, 1988, p. 101.
115
AZZI, 1988, p. 101.
116
COBO, apud AZZI, 1988, p. 102.
114
50
A expresso utilizada pelo Pe. Cobo espanholados soa como motivo de
orgulho. Transmite a idia de tarefa cumprida. E, ainda mais surpreendente, o
orgulho que parece sentir o Pe. Bernab Cobo ao constatar que estes ndios j
possuam escravos negros assim como os espanhis. Avaliando as conseqncias
desse processo de aldeamento, Riolando Azzi, ressalta:
Na verdade, embora congregando gente num espao limitado, a reduo
teve o efeito de uma verdadeira destribalizao, na medida em que foram
tirados dos ndios seus suportes de natureza cultural e religiosa, na medida
em que foi desfeita ou modificada sua organizao familiar e social, e
principalmente na medida em que foram abalados e destrudos seus
fundamentos mticos. Em ltima anlise, foi agredida de forma violenta a
cosmoviso indgena, mediante o descrdito lanado contra seus lderes
religiosos, pajs e curandeiros, e o desprezo a seus ritos e tradies
cultuais.117
Esta simplificao do mundo amerndio toma nova dimenso no sculo XVII
quando a Holanda assume a centralidade do sistema-mundo. O gerenciamento de
tantas variveis tornava a tarefa impossvel. Aspectos tais como valores culturais,
antropolgicos, ticos, religiosos precisavam ser eliminados ou deveriam passar por
um processo reducionista.
Esta simplificao da complexidade abrange a totalidade do mundo da vida
(Lebenswelt), da relao com a natureza (nova posio ecolgica e
tecnolgica, no teleolgica), diante da prpria subjetividade (nova
autocompreenso da subjetividade), diante da comunidade (nova relao
intersubjetiva e poltica) e, como sntese, nova atitude econmica (prticoprodutiva)118
2.4 A Histria dos colonizadores
Desde seu incio o encontro (ou desencontro) entre estes dois mundos, o
europeu cristo catlico e o amerndio mgico-simblico significou um confronto de
culturas. O europeu em seu domnio tecnolgico do ao subjuga o amerndio e, a
partir dessa superioridade militar, supe-se superioridade em todos os outros
117
118
AZZI, 1988, p. 104.
DUSSEL, 1995, p. 56-57.
51
aspectos: superioridade na organizao social e poltica, no mbito familiar,
superioridade
tico-moral,
superioridade
lingstica,
superioridade
religiosa,
superioridade cultural. Era como se o outro no existisse. No havia histria escrita.
No havia uma linguagem grafada, no usam letras.119
Paulo Suess destaca a importncia deste fato ao lembrar que para
historiadores positivistas a nica histria que conta a narrada pelos europeus:
[...] Histria? Povos sem escrita no tm histria, diz a historiografia oficial.
A situao em que se encontravam os ndios que habitavam o solo
brasileiro, segundo Varnhagen, no podemos dizer de civilizao, mas de
barbrie e de atraso. De tais povos na infncia no h histria: h s
etnografia. A infncia fsica sempre acompanhada de pequenez e de
misria. Fala, atravs de Varnhagen, a Europa ilustrada.120
Este tem sido um fato apontado por diversos historiadores: a histria dos
conquistados sempre contada pelos conquistadores. Suess cita ainda um pequeno
trecho de uma aula inaugural proferida em 1789 por Friedrich Schiller quando ele diz
os descobrimentos (...) nos mostram populaes deitadas em torno de ns nos
mais diversos degraus de cultura, como crianas de diferentes idades em torno de
um adulto.
A mentalidade eurocntrica desde fins do sculo XV no considera os
milnios de histria de presena humana nas Amricas. Histria esta transmitida
pela cultura oral de seus habitantes, atravs de seus mitos e lendas. Suess afirma
que:
Esta etno-histria, que no se deve confundir com a etnografia de
Varnhegen, despertou pouco interesse entre os historiadores, preocupados
com a chamada histria universal. Povos sem histria s se tornam povos
com histria pela incorporao nos mitos e na histria (de salvao)
universal. Frente ao dilvio da Bblia, o dilvio da mitologia indgena se
torna uma inundao particular. O mito de dipo um explicador universal,
o de Macunama uma curiosidade regional de uma tribo indgena no norte
do Brasil. Mas esta histria universal oferecida para a recuperao
histrica dos Outros no a soma de mltiplas histrias. apenas a
extenso da histria de uma regio dominante para as demais.121
119
SEPLVEDA, 1992, p. 532.
SCHILLER, apud SUESS, Paulo. A histria dos outros escrita por ns: apontamentos para um autocrtica da
historiografia do Cristianismo na Amrica Latina. In: LAMPE, Armando (org.). tica e a filosofia da libertao:
Festschrift Enrique Dussel. Ed. Bilnge. Petrpolis: Vozes; So Paulo: CEHILA, 1996. p. 87.
121
SUESS, 1996, p. 89.
120
52
2.5 A Histria dos outros
Ainda assim, houve resistncia. Diante da desconsiderao, das imposies,
do doutrinamento, das redues e simplificaes, diante da guerra e da violncia
houve aqueles que resistiram. Se verdade que muitas tribos e etnias no
esboaram reao firme diante da conquista europia, tambm verdade que houve
resistncia por parte de muitas outras. Encontramos esta resistncia na
multiplicidade cultural dos povos amerndios face monocultura crist europia.
Diversos textos descrevem o desconforto dos missionrios e colonizadores
diante da diversidade cultural dos povos nativos.
um erro comum tomar as ndias por uma espcie de campo e cidade e
crer que, por ter um mesmo nome, so da mesma ndole e condio (...). Os
povos indgenas so inumerveis, tm cada um deles determinados ritos
prprios e costumes e se faz necessria uma administrao distinta de
acordo com cada caso. Por isso, no sou capaz de tratar um a um todos
eles, por ser-me desconhecidos na maior parte e mesmo que chegasse a
conhec-los todos, seria tarefa interminvel (...)(traduo prpria).122
Diante desse quadro que para o colonizador se configura catico a reao
de tentar a simplificao, por exemplo, criando lnguas gerais. O padre Antnio
Vieira fala em uma Babel do rio Amaznia.
Devemos lembrar tambm da mtua influncia religiosa. O Pe. Bartomeu
Meli estudando as redues entre os Guaranis no Paraguai destaca que na
histria do encontro do jesuta com o Guarani surgem formas de vida religiosa e
econmica que dificilmente se entendem se desligadas da etnologia guarani.123 Isto
significa dizer que os povos nativos tambm imprimiram suas marcas no catolicismo
latino-americano. Estas marcas surgiram, por exemplo, do confronto entre os pajs
guaranis e os missionrios jesutas. Esta guerra de messias impe aos
122
Es um error comn tomar ls Indias por uma espcie de campo e ciudad y creer que, por llevar um mismo
nombre, son de La misma ndole y condicin. (...) Los pueblos ndios son innumerables, tiene cada uno de ellos
determinados ritos prprios y constumbres y se hace necessria uma administracin distinta segn los casos.
Por eso, no sintindome yo capaz de tratar uno a uno de todos ellos, por serme desconocidos em su mayor
parte y aunque llegara a conocerlos del todo, sera tarea interminable (...). ACOSTA, 1984 apud SUESS, 1996, p.
97.
123
MELI, Bartomeu. As Redues Guaranticas: Uma Misso no Paraguai Colonial. In: SUESS, Paulo, org.
Queimada e semeadura: da conquista espiritual ao descobrimento de uma nova evangelizao. Petrpolis:
Vozes, 1988. p. 79.
53
missionrios, aparecerem eles mesmos como feiticeiros. O xamanismo guarani
acentua a dimenso mstica-proftica dos prprios padres.
As redues so essencialmente projetos colonialistas e, como tais,
violentos de algum modo. Os povos amerndios e, posteriormente, os negros so
obrigados a abandonar seus antigos deuses e abraar a f crist. Mas no fazem
isto sem resistncia. Assim, os missionrios (e a prpria religio catlica, pelo menos
o catolicismo que se vai cultivar na Amrica Latina) acabam sofrendo tambm uma
sutil influncia da religiosidade nativa.
A resistncia pode ainda ser vista na assimilao do catolicismo medieval
trazido pelos colonos e no pelos representantes do catolicismo oficial.
Em geral, tanto as populaes indgenas como os africanos trazidos em
seguida para a Amrica Latina elaboraram uma fuso sincrtica entre as
devoes aos santos catlicos e seus personagens mticos. Dessa maneira,
era mediante a prtica devocional que as populaes amerndias, negras e
mestias continuavam a esperar os benefcios materiais e espirituais para a
vida presente e futura. Apesar do controle inquisitorial, as formas de
devoo popular, com diversas variaes e assimilaes sincrticas, se
espalharam por toda a Amrica Latina, passando a constituir o substrato
religioso das populaes pobres. O fato se deve, evidentemente, grande
afinidade do catolicismo popular com a cosmoviso agrria, tpica dos
povos latino-americanos.124
2.6 Teologia e escravido
Um dos contorcionismos teolgicos mais impressionantes da poca colonial
aquele que busca uma elaborao teolgica que concilie a pregao do evangelho
com a prtica escravocrata dos conquistadores tanto portugueses, quanto
espanhis, mas tambm franceses, ingleses e holandeses. Este foi um dilema vivido
pelos missionrios que passaram da indignao ante a escravido injusta dos ndios
(Nbrega chegou a negar a Comunho queles que mantinham cativos os ndios e
amancebavam-se s mulheres) acomodao ao sistema diante da incapacidade
de alterar a realidade e, finalmente, busca de fundamentao doutrinria que
124
AZZI, 1988, p. 105.
54
justificasse e legitimasse tal estado de coisas. Diante de tamanha discrepncia, no
bastava recorrer ao uso da fora militar, mas era necessrio:
Pacificar uma sociedade que s pode ser estruturada atravs da guerra e
da violncia poltica, legitimar uma ordem intrinsecamente injusta, pois
alicerada na violao do direito natural, pelo qual os homens nascem
naturalmente livres; erigir uma ordem jurdica, baseada na negao de
todos os direitos humanos e civis das maiorias; harmonizar as relaes
sociais antagnicas e conflitivas entre as classes dos senhores e dos
escravos; aquietar as conscincias e eliminar os escrpulos dos que at
ento eram considerados homens sem corao, endurecidos no pecado de
escravizar injustamente; convencer os que iam sendo escravizados de que
esta era a vontade de Deus e que, na aceitao paciente de sua sorte,
que alcanariam a salvao e a misericrdia; que o maior e pior pecado era
no mais escravizar e sim revoltar-se contra a escravido.125
Vemos assim que a teologia no serve mais como instrumento de reflexo
sobre a f visando ao servio fraterno e afirmao da igualdade intrnseca de
todas as pessoas, mas torna-se instrumento de domesticao a servio do Estado
escravocrata e injusto. O papel da religio seria de convencimento da vontade e
assentimento da razo. Uma vez domados pela fora das armas ndios e negros,
caberia religio apaziguar os nimos e convenc-los de que esta era a vontade de
Deus. O missionrio precisa do ndio abatido, sujeitado e atemorizado pelas armas,
para pavimentar o caminho da pregao evanglica.126
Mas havia algo que os padres jesutas no podiam tolerar a libertinagem
de uma vida de concubinato. Assim, para aliviar o temor geral de que o casamento
significaria a necessria libertao da mulher da condio de escrava (e os filhos
que da nascessem) elaboraram uma teologia da escravizao sui generis. Vejamos
a soluo proposta por Nbrega: Devia El-Rey de mandar desenganar aos
senhores, que nom fiquo forros, porque isto arreceo; que doutra maneira todos os
casario.127 Segue a esta teologia da escravizao uma tica seletiva e moralista
em que a escravizao at mesmo da esposa e dos filhos aceitvel, mas no o
concubinato.
O carter proftico do evangelho de denncia dos sistemas opressores e
injustos desvirtuado. Aqui, a Igreja est a servio do sistema. Tudo o que importa
125
BEOZZO, Jos Oscar. Evangelho e escravido na teologia latino-americana. In: RICHARD, Pablo (org.). Razes
da teologia latino-americana. Paulinas: So Paulo, 1988. p. 95.
126
BEOZZO, 1988, p. 98.
127
BEOZZO, 1988, p. 103.
55
a lgica capitalista da acumulao de bens. O papel primordial da Colnia a
transferncia de riquezas para a metrpole. Dentro deste cenrio, a religio tem
papel fundamental legitimando a guerra santa, aplacando as conscincias,
convertendo os escravos ndios e negros.
Com a entrada de milhes de novos escravos nas Amricas128 a
preocupao principal passa a ser com a segurana da minoria branca dominadora.
Um dos mecanismos mais eficazes no controle desta situao altamente instvel era
a unificao religiosa. No haveria espao para a tolerncia com outros credos. Se
aqui nesta terra estava reservado a ndios e negros as agruras da escravido, uma
vez convertidos f crist, eles poderiam esperar um destino eterno melhor,
curiosamente ao lado dos seus senhores. A esperana que perderam quando
reduzidos nos aldeamentos ou quando arrastados para dentro dos navios negreiros
seria reconquistada pela adeso ao catolicismo, ainda que reservada ao futuro. Este
seria o freio e o cabresto com que os conquistadores dominariam as massas
escravas. Em 1700 o jesuta Jorge Benci pregava aos senhores na catedral da
Bahia:
No acrescenteis novas aflies a quem j est aflito. E sendo tantas e to
duras e pesadas as penses do cativeiro: que senhor haver to inumano
que, com o mau trato, dobre o tormento ao escravo e lhe acrescente
aflies sobre aflies. Que senhor haver to fero e to tirano que se no
mova compaixo dos tristes escravos, considerando que so escravos,
sem liberdade, sem honra, sem gosto, e sem contentamento algum; sempre
em abatimento, sempre em tristeza, sempre em aflio, sempre em
amargura; aflita e amarga a vida; triste e abatido o estado; aflito e amargo o
exerccio; triste a abatida a condio; tudo desconsolao, tudo angstia,
tudo pena, tudo melancolia. Alegra-te sequer uma vez servo desgraado e
infeliz! Mas como h de ter alegria, se servo?129
E Beozzo conclui:
interessante, pois, acompanhar como sociedades cujo nico objetivo a
acumulao e o lucro, a cobia sem freios, esvaziados de qualquer
preocupao tica ou religiosa, destinem ao mesmo tempo lugar to
importante religio. porque religio est destinada tarefa crucial e
incapaz de ser obtida pela violncia e pelo chicote: dobrar mentes e
128
O sculo XVII viu a entrada no Brasil de 560.000 escravos africanos e nas Antilhas holandesas, francesas e
dinamarquesas, 467,5 mil escravos, j preparando a grande exploso do sculo XVIII, quando 6 milhes de
escravos so trazidos para as Amricas, dos quais 1,9 milho para o Brasil e cerca de 3 milhes para as
Antilhas. Cf. BEOZZO, 1988, p. 108.
129
BEOZZO, 1988, p. 109.
56
coraes para que aceitem, seno de bom grado, ao menos com alguma
resignao, a condio de escravos.130
Mas, se agora, com o batismo, so todos cristos e, portanto, irmos, como
mant-los na condio de escravos? Freqentariam todos a mesma igreja?
Dividiriam o mesmo espao cltico? A esta ltima questo sadas engenhosas foram
engendradas. Ora, aos servos estavam reservados os ltimos bancos. Ora,
assistiam ao culto do lado de fora da porta de entrada ou pelas janelas. Ora, era
realizado um culto bem de madrugada somente para os escravos.
O fato que com a destruio quase completa de sua cultura, para os ndios
e, sobretudo, para os negros o batismo representava a possibilidade de
reconstruo de alguma cultura (ainda que no a sua), mas de uma nova cultura,
com referenciais simblicos e mticos fruto do sincretismo entre o catolicismo
popular, com o qual se identificavam, e suas primitivas religies.
Ser batizado em pases como o Brasil era ser integrado, de certo modo, no
mundo religioso, podendo se reunir nas festas, ter sua irmandade, sua
igreja, incluindo a preservao de algumas dimenses de seu mundo
cultural e ritual como nas danas do Congado e de Moambique.131
Esta assimilao foi to bem feita que textos da poca apontam para o fato
de muitos escravos viverem mais cristamente em sua condio que muitos
franceses. Mas como manter os escravos, agora batizados, em sua condio de
presas sem liberdade e sem direitos? Para resolver esta questo recorreu-se ao
velho dualismo platnico. Assim, por exemplo, aps serem expulsos de So Paulo
pelos bandeirantes, anos mais tarde, o retorno dos jesutas s permitido com a
condio de se limitarem ao espiritual, quanto aos ndios. Com clareza, Beozzo
afirma: limitar-se ao espiritual era deixar correr livre a escravido dos ndios,
aceitando que a religio s tem uma palavra a dizer no assim chamado domnio do
espiritual, sem incidncias sobre a vida prtica.132
A desabava toda credibilidade da pregao missionria, uma vez que, o
amor pregado se limitava s conquistas espirituais da vida futura sem nenhum
desdobramento prtico para esta vida no caso dos escravos, ndios e negros.
130
BEOZZO, 1988, p. 109.
BEOZZO, 1988, p. 116.
132
BEOZZO, 1988, p. 119-20.
131
57
alma estava reservada a salvao, ao corpo restava a escravido. Afirma Beozzo
que a dissociao destes dois caminhos o fundamento da teologia da
escravizao. Este era o papel da teologia da escravido: por um lado, em nvel
antropolgico, desmontar toda auto-estima, dignidade humana e sentimento de
honra. Construir o percurso para o mundo das relaes sociais, polticas e
econmicas. Legitimar a relao de dominao de uns sobre os outros. Apontar para
um futuro de relaes fraternas e bnos sem fim. Separar e unir, eis o
contorcionismo teolgico empreendido pelos religiosos no perodo colonial. Toda
esta teologia, assim como hoje a Teologia da Prosperidade, estava a servio do
projeto capitalista de acumulao de bens.
A revolta e a fuga do escravo, buscando a liberdade no apenas da alma,
mas sim do prprio corpo, o pecado sem remisso, pois coloca em risco a
propriedade do senhor. Esta propriedade torna-se, assim o deus-dolo de
todo o sistema, contra o qual se comete o pecado maior. A sacralizao da
propriedade escrava o fecho ltimo da teologia da escravizao e a pedra
angular que arremata e articula finalmente as nervuras todas do sistema.133
2.7 Teologia da Libertao proposta teolgico-pastoral de superao do
dualismo
Surgida entre os anos de 1950/60, a Teologia da Libertao brota da
reflexo de intelectuais latino-americanos que estavam, por assim dizer, com um dos
olhos postos na mensagem dos evangelhos e o outro na realidade scio-econmica
do povo pobre e oprimido. Esta , portanto, uma teologia que no nasce meramente
na frieza dos corredores acadmicos. Como toda boa teologia ela surge de seu
contexto. Como diz Gustavo Gutierrez se referindo Teologia: sua atualidade [...]
depende em grande parte de sua capacidade para interpretar a forma como vivida
a f em circunstncias e numa poca determinadas.134
Sua chave hermenutica para a leitura dos textos bblicos a opo
preferencial pelos pobres. Mas, quem so os pobres? A resposta a esta pergunta
133
BEOZZO, 1988, p. 122.
GUTIRREZ, Gustavo. Situao e tarefas da teologia da libertao. In: SUSIN, Luiz Carlos (org.). Sara
ardente: teologia na Amrica Latina. So Paulo, Paulinas, 2000. p. 49.
134
58
passa no apenas pela questo econmica, mas tambm pela cor da pele, pelo fato
de ser mulher, pela cultura desprezada. Os pobres so camponeses, mas tambm
marginais urbanos, operrios, imigrantes. A pobreza tem muitas faces.
Em seu artigo Situao e tarefas da teologia da libertao135, Gustavo
Gutirrez aponta trs desafios contemporneos Teologia da Libertao: o mundo
moderno e a chamada ps-modernidade, o pluralismo religioso e o dilogo interreligioso e a pobreza de muitos.
A partir do sculo XVIII, como desdobramento de irrupes histricas dos
dois ou trs sculos anteriores, aprofunda-se a secularizao da conscincia. O ser
humano moderno ambiciona a autonomia plena. A Igreja deixa de dar as cartas. A
Igreja Catlica, a partir de decises tomadas no Conclio de Trento rompe o dilogo
com a modernidade. As desconfianas e os dios so mtuos. Somente em fins do
sculo XX, com o Conclio Vaticano II (1962-1965), o Papa Joo XXIII restabelece o
dilogo e cria pontes, obviamente, ainda em construo. De l para c estas pontes,
ainda no terminadas, sofreram muitas avarias.
Com seus fracassos a modernidade tem dado lugar a uma nova etapa
chamada por alguns de hipermodernidade ou ps-modernidade. Caracteriza-se, a
ps-modernidade, por duras crticas modernidade e, ao mesmo tempo, pela
exacerbao de algumas de suas caractersticas. Dentre elas, Gustavo Gutirrez
destaca o individualismo, o ceticismo e conformismo e o relativismo.
Em segundo lugar, impe-se o desafio do pluralismo religioso. A este
respeito, comenta Gutirrez:
No passado, a existncia da pluralidade de religies propunha alguns
problemas prticos e dava lugar a reflexes acerca da perspectiva salvfica
do encargo missionrio das Igrejas crists; nas ltimas dcadas, todavia,
sua presena converteu-se numa questo determinante para a f crist. [...]
Como no caso do mundo moderno, embora por razes diferentes, a
existncia de alguns bilhes de seres humanos que encontram nessas
religies sua relao com Deus ou com o Absoluto ou com um profundo
sentido de suas vidas questiona a teologia crist em seus pontos centrais.
Ao mesmo tempo, exatamente como ocorre com a modernidade, esse fato
lhe proporciona elementos e possibilidades para voltar-se sobre ela mesma
e submeter a um novo exame a significao e os alcances, hoje, da
salvao em Jesus Cristo.136
135
136
Cf. GUTIRREZ, 2000, p. 49ss.
GUTIRREZ, 2000, p. 55-56.
59
Obviamente, diante desta constatao, no podemos hoje fazer uma
teologia das religies sem uma prtica de dilogo inter-religioso.
Referindo-se s religies latino-americanas no-crists, herdeiras das
antigas religies amerndias e africanas, Paulo Suess reconhece o grande desafio
ao afirmar que o reconhecimento da histria do Outro como caminho ordinrio de
salvao significa para o Cristianismo, portanto, abdicar do caminho nico, sem
abdicar de Jesus Cristo.137
Por ltimo, Gutirrez aponta para o desafio da pobreza. A partir do Vaticano
II, de Medelln (1968) e de Puebla (1979) a questo da pobreza entrou na agenda da
Igreja. Concluiu-se que no dava mais para se falar de Cristianismo, de mensagem
dos evangelhos sem se enfrentar a questo dos pobres deste mundo. A existncia
de milhes de miserveis tornou-se motivo de grande vergonha para o mundo
cristo e sua mensagem de amor e igualdade para todos.
A espiritualidade crist ou o discipulado de Jesus possui estas duas faces:
de um lado a orao, de outro o envolvimento com o drama humano. A Teologia da
Libertao deu esta grande contribuio ao trazer para o centro dos debates
teolgicos esta questo, que no uma inveno dela, mas sempre esteve na base
da mensagem evanglica.
2.8 Concluso
Procuramos neste captulo fazer apontamentos sobre o percurso teolgico na
Amrica Latina e sua relao com os povos que habitavam estas terras, sua cultura
e com a cultura que aqui surgiu como fruto da colonizao europia. Entendemos
que a fundamentao terica que deu sustentao a esta relao de dominao,
escravizao e morticnio foi a antropologia dualista platnica. Esta foi uma das
graves e terrveis conseqncias da deformao sofrida pela antropologia bblica.
Esta deformao, como vimos, levou desconsiderao do Outro em sua alteridade,
137
SUESS, 1996, p. 115.
60
ao ponto de serem considerados menos que humanos, homnculos.138 Decorre da
toda sorte de preconceito, racismo, intolerncia e violncia que se perpetuam at os
nossos dias.
No podemos encerrar este captulo sem fazer justia aos vrios missionrios
jesutas que, embora homens de seu tempo, freqentemente enxergaram mais
longe e, numa atitude vanguardista, denunciaram a crueldade e a violncia contra os
povos amerndios, habitantes milenares destas terras e seus verdadeiros donos.
Assim, por exemplo. Bartolomeu De Las Casas escrevia na Guatemala em 1536:
E o que diremos do fato de despojar os infelizes senhores, os reis, os
prncipes e os magistrados de seus domnios, de suas dignidades, de seus
estados, de suas funes, de suas jurisdies e dos imprios que por direito
natural lhes pertencem? Estas coisas so acaso atraentes, agradveis ou
suaves por sua prpria natureza? So tais que possam inclinar, mover e
excitar a vontade humana para espontaneamente mandar que o
entendimento pense, inquira e assinta com gosto ao que ouve sobre a f e a
religio? Os que padecem estes males acaso vo deix-los no
esquecimento para pensar com gosto nos bens divinos que lhes anunciam
aqueles soldados que assim os insultam? Com aquele aparato de poder
acaso no se inclinaro de preferncia a odiar estas coisas e julg-las
delrios fictcios e mentiras perniciosas?139
O padre Bartolomeu de Las Casas reconhecidamente uma das vozes mais
lcidas de seu tempo. Nele encontramos as sementes de uma Teologia da
Libertao e, portanto, uma tentativa de superao do dualismo esprito-matria com
a proposta de uma viso integral do ser humano. De maneira dissonante com as
vozes da poca, com escrita veloz e contundente, Las Casas no deixa dvida
quanto realidade do genocdio.
[...] no apresentam nenhum outro milagre ou testemunho de sua santidade
ou de sua justia seno o de destroar os homens com a maior crueldade,
no perdoando a ningum, nem por razo de seu sexo, nem de sua
dignidade, nem de sua idade; o de jogar contra as pedras, segundo
dissemos, os infantes depois de arranc-los dos peitos de suas mes; o de
encher choas feitas de madeira e de feno ou de palha com homens,
mulheres, muitas delas grvidas, com jovens, crianas e infantes, para
incendi-las e queimar todos vivos, com outros infinitos e vrios modos de
atormentar os miserveis infiis. [...]
Na verdade estas aes so tantas, to graves, to cruis e execrveis, que
138
SEPLVEDA, 1992, p. 532.
LAS CASAS, Bartolomeu de. Do nico modo de atrair todos os povos verdadeira religio... (1536). In:
SUESS, Paulo (org.). A conquista espiritual da Amrica Espanhola: 200 documentos sculo XVI. Petrpolis,
Vozes, 1992. p. 493.
139
61
sequer podem ser ditas uma a uma, nem serem explicadas, nem
enumeradas nunca; e no s isto, pois ningum pode acreditar nelas a no
ser que as veja com seus prprios olhos, pois s de ouvir so o pasmo dos
ouvintes. E quem poder contar o nmero dos que foram reduzidos
servido? E que dizer dos bens? O que dizer do ouro, da prata, de todos os
utenslios domsticos, da imensidade das riquezas roubadas? O que dizer
dos domnios, dos estados, das honras e dignidades, tambm reais, que
usurparam? O que dizer dos vcios como adultrios, estupros, incestos e
concubinatos que estes homens no levam em conta e com os quais se
mancham na presena dos mesmos infiis?140
Infelizmente, a lucidez do padre Bartolomeu de Las Casas e de outros
companheiros seus, no foi suficiente para estancar o surto de loucura e crueldade
perpetrado naqueles dias com os desdobramentos conhecidos por todos ns e que
insistem em se fazer presentes. A dissoluo da antropologia da integralidade
humana, assim como postulada pelas Escrituras, em benefcio de uma viso
dicotmica do homem/mulher com seu caracterstico desprezo pelo corpo, pelo
prazer, pelos desejos e pela celebrao da vida em sua inteireza, transformou boa
parte do Cristianismo em algo quase demonaco.
140
LAS CASAS, 1992, p. 495.
62
3. MATRIZ ANTROPOLGICA DUALISTA COMO BASE TEOLGICA
NA IMPLANTAO DO PROTESTANTISMO NO BRASIL
Pode-se classificar, grosso modo, a Reforma Protestante ocorrida no sculo
XVI em quatro grupos: luteranos, calvinistas, anabatistas e anglicanos. Desses
grupos, sugiram as grandes tendncias que estabeleceriam os diversos matizes
evanglicos surgidos nos sculos seguintes nesta nova e pujante fora religiosa do
Cristianismo ocidental. Certamente, no to nova assim. O Protestantismo no foi
novo no sentido de originalidade. O movimento foi novo apenas na medida em que,
embalado pelos ventos do descontentamento que sopravam na Europa h pelo
menos duzentos anos, props uma reviso e reconsiderao em vrios nveis que
iam do teolgico ao pastoral, da religiosidade popular estrutura hierrquica que
mantinha a Igreja de p. Tivesse a Igreja, na pessoa do Papa e de seus Cardeais,
levado em considerao as diversas reivindicaes que borbulhavam em vrios
cantos da Europa, a Igreja Catlica, conforme ns a conhecemos teria, em grande
medida, desaparecido. Entretanto, a Reforma no pode ser vista apenas como um
movimento de rupturas, mas tambm de continuidades.
3.1 Reforma Protestante origens
O catolicismo no qual Martim Lutero foi criado era uma religio baseada na
idia de recompensas meritrias que poderiam ser alcanadas pelos fiis mediante
o uso dos sacramentos, das penitncias ou das indulgncias. Era uma religio de
sofrimentos, de privaes extremas, de moral asctica. O fiel temia o purgatrio e
ainda mais a punio eterna. Jamais havia certeza absoluta que os sacrifcios e
63
empenhos humanos foram suficientes para garantir a salvao da alma, como se
cria. Este era o ar que Lutero respirava. Um universo de profunda ansiedade e muita
culpa o cercava141. A Reforma se inicia como este movimento de libertao deste
universo religioso. Para Lutero a f, no em doutrinas ou em coisas, mas no fato de
ser aceito por Deus foi a descoberta fundamental142. Assim, o fiel no necessita mais
passar a vida se penitenciando, o cristo no depende mais da indulgncia da
Igreja, sacrifcios descomunais no so mais requeridos, desconstri-se o mundo de
culpa e ansiedade caracterstico do catolicismo romano medieval (e, em grande
medida, tambm do moderno). A graa divina, recebida por meio da f, era
suficiente para garantir a nossa aceitao no momento em que aceitamos a
aceitao de Deus.143 Lutero no podia conceber a idia de que as obras esforos
e empenhos humanos fossem o meio pelo qual poderamos nos tornar justos. Para
ele, as obras no eram a causa da nossa justificao, mas apenas o fruto da
justia144. Nossa f em Cristo liberta-nos no das obras, mas da falsa opinio sobre
obras isto , da presuno absurda que a justificao adquirida pelas obras.145
Ao defender que a relao com Deus incondicionada, posto que baseada no amor
deste Deus, que Pai, Martim Lutero liberta-nos da necessidade de trabalharmos
duro pela igreja, mortificarmos nosso corpo e, assim, relativizarmos nossa salvao.
Com isso concorda Max Weber ao afirmar que o caminho para a forma de
ascetismo transcendental e monstico estava fechado desde Lutero (...) por ser
considerado no-bblico e invivel para a salvao pelas obras.146 As boas obras
sero feitas apenas como uma resposta no obrigatria de um corao cheio de
gratido147. Lutero chegou a entender que o conceito paulino de justificao no tem
a ver com Deus nos transformar em pessoas boas, mas, tem a ver com Deus nos
aceitar como ns somos. A transformao (santificao) vir como conseqncia
disto148. Sua defesa intransigente da justificao pela graa mediante a f no
permite a viso de que o ascetismo, decorrente do dualismo esprito-matria, seja a
141
Cf. TILLICH, 2000, p. 228-229.
Cf. TILLICH, 2000, p. 229.
143
TILLICH, 2000, p. 230.
144
Cf. LANE, Tony. Pensamento Cristo: dos primrdios Idade Mdia. Vol.1. So Paulo: Abba Press, 1999. p.
193.
145
LANE, 1999, p. 193.
146
WEBER, Max. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo. So Paulo: Pioneira, 1987. p. 106.
147
Cf. TILLICH, 2000, p. 229.
148
Cf. LANE, 1999, p. 196.
142
64
causa da nossa salvao.
Alm disso, Martim Lutero demonstra compreenso da discusso paulina
sobre a luta entre o esprito e a carne ao afirmar em uma das suas mais importantes
obras, Da Liberdade Crist, escrita em 1520:
(...) devemos ter em conta que toda pessoa crist possui duas naturezas:
uma espiritual e outra corporal. Tendo em vista a alma, ela designada de
ser humano espiritual, novo e interior; segundo a carne e o sangue,
chamada de ser humano corporal, velho e exterior. (...) Neste ponto fica
claro que nenhuma coisa externa, seja qual for, pode fazer dele algum
agradvel a Deus ou livre; pois nem sua piedade e liberdade, nem sua
maldade e cativeiro so corpreos ou externos. Que proveito tem a alma se
o corpo livre, forte e saudvel, se come, bebe e vive como quer?
Inversamente, que dano sofre a alma se o corpo, contra sua vontade, est
aprisionado, enfermo e fraco, padecendo fome, sede e sofrimentos? Nada
disso atinge a alma de maneira alguma, seja para libert-la ou escraviz-la,
seja para torn-la agradvel a Deus ou m.149
Lutero salienta que os conceitos de carne e esprito empregados por
Paulo para referir-se natureza humana no correspondem ao material e imaterial,
mas ao ser humano que deseja auto-suficincia, ou seja, viver uma vida sem Deus
(carnal) e o ser humano que se submete alegremente aos cuidados de Deus
(espiritual)150.
Tambm Filipe Melanchthon, ntimo amigo de Lutero e seu principal
colaborador, percebeu as deformaes sofridas pela teologia decorrentes da
influncia da teologia grega. Porque assim como ns nestes ltimos tempos da
igreja temos abraado Aristteles ao invs de Cristo, assim imediatamente aps o
149
LUTERO, Martim. Da Liberdade Crist. So Leopoldo: Sinodal, 1998. p. 8. No item 4 de seu tratado, o Pai da
Reforma continua seu raciocnio: De nenhum valor para a alma se o corpo se cobre de vestes sagradas,
como o fazem os sacerdotes e religiosos. Nem tampouco se vai com insistncia a igrejas e a outros lugares
sagrados. Nem ainda se se ocupa somente com coisas sagradas, nem se, da boca para fora, recita oraes
repetidas, jejua, faz peregrinaes e pratica tantas boas aes quantas seja possvel praticar com o corpo e no
corpo. Algo completamente diferente h de ser o que concede alma o ser agradvel a Deus e a liberdade.
Porque todos esses exemplos, obras e condutas acima mencionados tambm as pessoas ms, algum de
santidade fingida e um hipcrita, podem exibir e praticar. Alis, atravs de tais prticas s podem surgir
pessoas que apenas aparentam serem santas. Por outro lado, nenhum dano causado alma se o corpo se
cobre de vestimentas profanas e se freqenta lugares profanos, se come e bebe, no faz peregrinaes, nem
recita rezas, nem pratica as obras que os santarres fingidos acima mencionados fazem.
150
Cf. GONZALEZ, Justo L. Uma Histria do Pensamento Cristo: Da Reforma Protestante ao Sculo 20. Vol. 3.
So Paulo: Cultura Crist, 2004. p. 56.
65
incio da igreja a doutrina crist foi enfraquecida pela filosofia platonista.151
Outrossim, Melanchthon sistematizou o pensamento de Martim Lutero na redao
da Confisso de Augsburgo acerca da justificao a qual em seu artigo 4 afirma:
Ensinam tambm que os homens no podem ser justificados diante de
Deus por foras, mritos ou obras prprias, seno que so justificados
gratuitamente, por causa de Cristo, mediante a f, quando crem que so
recebidos na graa e que seus pecados so remitidos por causa de Cristo,
o qual atravs de sua morte fez satisfao pelos nossos pecados. Essa f
atribui-a Deus como justia aos seus olhos. Rm 3 e 4. (especialmente 3,
21ss e 4,5).152
Tal conceito, como j foi sublinhado, um bom antdoto contra uma viso
dualista uma vez que esta justificao no depende de sacrifcios humanos
(mortificao do corpo) mas, somente, da graa de Deus.
Personalidade bem diferente de Martim Lutero foi Joo Calvino. Desde o seu
incio, por razes histricas, o protestantismo caracterizou-se em lutar por um novo
conceito de relacionamento com Deus. Este no deveria ser baseado nos
sacramentos, ou nas penitncias, ou nas indulgncias, ou na autoridade papal, ou
na tradio da Igreja, todavia, to-somente na manifestao graciosa do amor de
Deus gerando em ns a f. A f como certeza de sermos aceitos por Ele. Desta
forma, a f e no o amor ocupou o centro do pensamento protestante.153 Isto gerou
notvel dificuldade nos reformadores descreverem com acuidade o lugar do amor na
vida crist. Tanto Calvino quanto Zwnglio, ciosos de certo biblicismo, concentraramse mais no papel representado pela Lei154. Alm disso, parece que a teologia de
Calvino sofreu influncia de seu prprio temperamento recatado. Se de um lado
temos um Lutero exuberante, do outro temos Calvino e sua ndole reservada ao
ponto dele ter dificuldades em destacar a alegria que provm da f155. Sua nfase na
depravao total do ser humano mais intensa do que a de Lutero. Sua constante
preocupao com a idolatria leva o reformador de Genebra a rejeitar o uso de
representaes pictricas ou qualquer outro smbolo que pudesse desviar a mente
151
LANE, 1999, p. 198. A referncia a Aristteles nesta passagem uma crtica teologia escolstica. Tony Lane
nos lembra que Melncton mais tarde revisou sua opinio sobre Aristteles, chegando mesmo a incentivar seu
estudo nas universidades.
152
MELANCHTHON, Filipe. Confisso de Augsburgo. So Leopoldo: Sinodal, 1999. p. 19.
153
TILLICH, Paul. A Era Protestante. So Paulo: Cincias da Religio, 1992. p. 26.
154
Cf. TILLICH, 1992, p. 26.
155
Cf. STROHL, Henri. O Pensamento da Reforma. So Paulo: ASTE, 2004. p. 48.
66
de um Deus que transcendente, o que acarretou uma desconfiana com as artes
em geral entre os calvinistas156.
Joo Calvino enfatizava mais a vida piedosa do que a alegria crist157, o que
ser acentuado pelo moralismo puritano, como veremos adiante neste captulo.
Assim afirma Paul Tillich: Para Lutero, a vida nova alegre reunio com Deus; para
Calvino, o cumprimento da Lei de Deus.158 Calvino no supera o conceito platnico
do dualismo esprito-matria159. Ao contrrio, tambm para ele o corpo uma priso
para a alma sem nenhum valor160. Uma diferena que para ele a ascese no
para fora do mundo (como na concepo grega e monstica), mas, um ascetismo
secular.161 Conforme Tillich, esse ascetismo intramundano caracterizava-se de duas
maneiras: limpeza e lucro por meio do trabalho162. De especial interesse para nosso
trabalho era sua compreenso da limpeza como sobriedade, castidade e
temperana e, por conseguinte, a identificao do elemento ertico como algo
sujo163. Nada mais catlico medieval.
Segundo Henri Strohl, Calvino tambm no supera o conceito platnico de
imortalidade da alma ao afirmar ser um erro pretender que:
a condio do corpo seja mais preciosa que a da alma... A Escritura ensinanos outra coisa ao comparar o corpo frgil morada que abandonamos ao
morrer, dando-nos a entender que a alma a parte principal do homem.
Enquanto permanecemos na carne estamos separados de Deus... de quem
queremos aproximar-nos abandonando o corpo (II Co 5:1-4).164
Junto com Plato ele afirma que o corpo um obstculo a ser superado165.
Marcos Azevedo ao discorrer sobre a antropologia de Calvino e o tema da liberdade
156
Cf. TILLICH, 2000, p. 260.
Cf. TILLICH, 2000, p. 266.
158
TILLICH, 2000, p. 266. Nesta mesma passagem, Paul Tillich destaca uma curiosa afirmao de Calvino que
demonstra sua concepo de santidade: Quando explicam a alegria que a mente experimenta depois de
apaziguada, em face de perturbaes e temores, no posso concordar com eles (Lutero e seus seguidores), pois
essa experincia deveria significar, antes, o ardente desejo e a deciso de se levar uma vida santa e pia, posto
que o homem s comea a viver em Deus quando morre para si mesmo.
159
Cf. CALVINO, Joo. As Institutas. Vol. 4. So Paulo: Cultura Crist, 2006. p. 182-183.
160
Se a liberdade consiste em ficar livre deste corpo, que outra coisa o corpo seno uma priso?. Cf.
CALVINO, 2006. p. 215.
161
WEBER, 1987, p. 122.
162
Cf. TILLICH, 2000, p. 267.
163
Cf. TILLICH, 2000, p. 267.
164
STROHL, 2004, p. 162.
165
Cf. CALVINO, 2006, p. 216.
157
67
crist em sua tese de doutoramento faz uma objeo ao pensamento do reformador
neste ponto lembrando que ele apresenta uma perspectiva dicotomizada do ser
humano, tal qual Agostinho.166 Ao manter-se fiel antropologia dualista elaborada a
partir do influxo do neoplatonismo sobre o pensamento cristo, Calvino tende a
sustentar uma vida crist com cores legalistas. Embora, a bem da verdade, quem
levou a cabo esta tarefa no foi exatamente Calvino, mas, seus seguidores, os
calvinistas puritanos como ser assinalado.167
No seria justo encerrarmos esses breves comentrios acerca do
pensamento de Joo Calvino sem fazermos uma referncia s suas opinies
emitidas no captulo dedicado liberdade crist. Inversamente ao que se poderia
esperar, uma vez que ele no supera a antropologia dualista, Calvino nos alerta para
o perigo do legalismo quando se trata de desfrutarmos das ddivas divinas. No item
10 deste captulo ele afirma:
Atualmente sabido que muitos acham que agimos mal quando
defendemos que somos livres para comer carne, que estamos livres da
observncia de dias, que somos livres para determinar o nosso vesturio, e
uma poro de coisas semelhantes. (...) Se algum comear a duvidar se
lcito usar linho nos lenis, nas camisas, nos lenos, nos guardanapos, no
ter certeza se lhe lcito usar cnhamo, e acabar hesitando at se pode
usar estopa, ou pano de saco. (...) Se tiver escrpulo quanto a beber vinho
um tanto fino, dentro em pouco nem a borra ou o vinho azedo beber com a
conscincia tranqila.168
No item 14 deste mesmo captulo, ele demonstra corretamente preocupao
com o abuso da liberdade crist e com o apego s riquezas. Mas, ao mesmo tempo,
ele no deixa de ponderar que:
Certamente, o marfim, o ouro e as riquezas so boas criaturas de Deus,
permitidas, e at destinadas ao uso dos homens; tambm em nenhum lugar
se probe ao homem rir ou fartar-se ou adquirir novas propriedades ou
deleitar-se com instrumentos musicais ou beber vinho.169
166
AZEVEDO, Marcos. A Liberdade Crist em Calvino: Uma resposta ao mundo contemporneo. Santo Andr:
Academia Crist, 2009. p. 192.
167
Teremos oportunidade de demonstrar o equvoco de uma leitura bblica que v nos textos escritursticos
uma defesa da imortalidade da alma, bem como, da prevalncia da alma sobre o corpo no captulo 4.
168
CALVINO, 2006. p. 94.
169
CALVINO, 2006. p. 96. muito curiosa tambm a afirmao que Calvino fez acerca daquilo que ele chamou
de escndalo dos fariseus que quando algum se escandalizou sem razo, apenas por maldade ou malcia.
Neste caso, ele asseverou: (...) tropeam aqueles que, com seu deplorvel rigorismo, esto sempre caando o
que morder e censurar. CALVINO, 2006, p. 99.
68
Ainda nesta mesma direo no captulo Sobre a Vida Crist, ele afirma:
[...] Tampouco podemos abster-nos das coisas que mais parecem atender
ao bem viver e ao bem-estar, que necessidade. [...] Ora, se
considerarmos o fim para o qual Deus criou os alimentos, veremos que ele
no s quis prover nossa necessidade, mas tambm ao nosso prazer e
recreao. Assim, quanto ao vesturio, alm de considerarmos a sua
necessidade, devemos aplicar-lhes o que se v na relva, nas ervas, nas
rvores e nas frutas, pois, sem contar as suas outras utilidades e os
benefcios que delas colhemos, Deus quis alegrar-nos a viso por sua
beleza e propiciar-nos ainda outro deleite ao aspirarmos seu agradvel
aroma. [...] E vamos considerar que no lcito sentir prazer em contemplar
a beleza dada por Deus s flores? [...] Deixemos de lado, pois, essa filosofia
desumana que, no concedendo ao homem nenhuma utilizao das coisas
criadas por Deus, a no ser por sua real necessidade, no somente nos
priva sem razo do fruto lcito da benignidade divina, mas tambm, quando
aplicada, despoja o homem de todo o sentimento e o torna insensvel como
uma acha [tora] de lenha.170
Chega a ser surpreendente a forma como Joo Calvino, contra os fariseus
legalistas de seu tempo, fala do desfrute dos prazeres e alegrias da vida, com cores
quase poticas. Embora, ele em momento nenhum descuide de nos lembrar da
grande necessidade de freqentemente retirar-nos das coisas do mundo para que
no sejamos arrastados e como que enfeitiados por tais afagos e lisonjas.171
Bastante singular a histria dos anabatistas. Certamente representou o
mais radical dos movimentos religiosos surgidos no sculo XVI. Ao falarmos dos
anabatistas no estamos falando de um nico movimento. So diversos grupos, em
diversos pases, com vrios lderes. Em geral, podem ser classificados em
anabatistas, espirituais e racionalistas. Foram os nicos naquele perodo a defender
a separao entre Igreja e Estado e, em decorrncia disso, defendiam uma igreja
formada unicamente de crentes que manifestassem pessoal e publicamente sua f,
os quais deveriam ser batizados (o batismo no Esprito). Por conseguinte, eram
contra o batismo infantil. As crianas eram salvas em funo de sua inocncia, mas,
ao chegarem idade da razo deveriam fazer sua opo pessoal por Cristo e,
assim, serem batizadas. No aceitavam o conceito de justificao forense defendida
por Lutero, Zwnglio e Calvino, segundo o qual ao pecador arrependido imputada a
justia de Deus, ainda que ele mesmo no seja per si justo. Ao contrrio, pregavam
170
171
CALVINO, 2006, p. 218-220.
CALVINO, 2006, p. 212.
69
a experincia da regenerao pela qual o Esprito Santo agia naquele que havia
nascido de novo tornando-o realmente justo interiormente. No geral, eram pacifistas.
Pregavam a liberdade de conscincia e, portanto, eram contra o uso da fora fsica
em questes de f. Alguns se posicionavam contra o estudo teolgico e o
sacerdotalismo. Seu ideal era um retorno s razes da igreja do Novo Testamento172.
Pelo que tudo indica os primeiros anabatistas surgiram na Zurique de
Zwnglio. Alguns dos seus discpulos romperam com o reformador suo por serem
contra o batismo infantil praticado por ele. No incio de 1525 os principais
representantes do movimento batizaram-se mutuamente. O primeiro a receber o
batismo pelas mos de Conrado Grebel foi um ex-sacerdote catlico chamado Jorge
Blaurock. Esta prtica era considerada ilegal por decretos promulgados na poca
dos imperadores Teodsio e Justino contra os donatistas. Essas antigas leis foram
logo retomadas e aplicadas contra os anabatistas. Milhares foram mortos tanto em
territrios catlicos quanto nos protestantes. Muitas vezes, a forma utilizada para o
martrio era o afogamento, macabramente chamado de terceiro batismo. Esses
Irmos Suos no aceitavam a alcunha de anabatistas (rebatizadores) uma vez que
eles consideravam que aquele era o primeiro e verdadeiro batismo que o crente
estava recebendo.
A questo central era que os anabatistas achavam que os reformadores
magisteriais173 no haviam sido radicais o suficiente. Ou seja, no purificaram a
Igreja totalmente dos desvios tomados pela Igreja Catlica. Os anabatistas eram os
protestantes do protestantismo174. Era necessrio mais: uma restaurao total do
Cristianismo do Novo Testamento. Isto passava pela teologia, mas tambm por
questes litrgicas e de governo eclesistico175. Alguns anabatistas, como Conrad
Grebel, chegaram a repudiar o canto na liturgia. Em 1524, Tomas Mntzer, outro
famoso anabatista, recebeu uma carta deste grupo que o congratulava por rejeitar o
batismo infantil mas, ao mesmo tempo, alertava-o: Ns entendemos e temos visto
que tu traduziste a Missa para o alemo e introduziste novos hinos alemes. Isso
172
OLSON, Roger. Histria da Teologia Crist: 2.000 anos de tradio e reformas. So Paulo: Vida, 2001. p. 425426.
173
Reformadores magisteriais eram aqueles que no viam necessidade de separao entre Igreja e Estado. Ao
contrrio, estavam ligados aos governantes de suas regies e deles recebiam apoio. Magistrados era nome
genrico utilizado para prncipes, prefeitos, vereadores, juzes, etc.
174
Cf. OLSON, 2001, p. 426.
175
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 91.
70
no pode ser bom, desde que no achamos nada ensinado no Novo Testamento
sobre cantar, nenhum exemplo disso.176
Em busca desta restaurao da Igreja, os anabatistas espirituais
enfatizavam a luz interior do Esprito agindo na vida dos verdadeiros cristos177.
Chegaram a afirmar que a igreja visvel, externa no era necessria. Coisas como
batismo e Ceia eram descartveis. At mesmo a palavra escrita deveria ser deixada
de lado. O importante era a voz e a experincia interior do Esprito178. Vemos a
influncia do dualismo esprito-matria nesta posio dos espiritualistas em separar
o mundo material do espiritual. Os Quaker, fundados por George Fox no sculo XVII
so herdeiros destes grupos. Os anabatistas racionalistas, por sua vez, propuseram
a aplicao da razo no estudo das Escrituras. No uma razo autnoma como no
Iluminismo posterior, mas uma razo iluminada pelo Esprito e pelas Escrituras179.
Assim, questionaram doutrinas tradicionais como a Trindade e a Encarnao. Um
dos mais famosos anabatistas racionalistas foi o mdico espanhol Miguel de
Serveto. Sua insistncia em afirmar que a Trindade e a Encarnao so
indefensveis, no encontrando base nas Escrituras o levou a fugir da Inquisio
Espanhola para acabar morrendo queimado na Genebra de Calvino180.
Um dos grupos mais radicais foi o dos anabatistas revolucionrios. Em face
da brutal perseguio que sofreram e com a morte da maioria dos lderes mais
moderados, os extremismos proliferaram entre os anabatistas. Pregaes
milenaristas tornaram-se a tnica desses lderes. Melquior Hoffman, por exemplo,
afirmava receber revelaes de um fim iminente, quando Cristo voltaria e
estabeleceria seu reino numa nova Jerusalm.181 Hoffman rejeitou o pacifismo dos
anabatistas primitivos e convocou seus seguidores a pegarem as espadas e lutarem
contra os inimigos do Senhor. A mais famosa conseqncia provocada por estes
anabatistas revolucionrios foi a ocorrida na cidade de Mnster. Aps conquistarem
a cidade, liderados por Joo Matthys e Joo de Leyden e, em funo de seu
crescente ascetismo, os anabatistas comearam a queimar e destruir todos os
176
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 91.
Cf. OLSON, 2001, p. 426.
178
Cf. GEORGE, Timothy. Teologia dos Reformadores. So Paulo: Vida Nova, 2000. p. 254.
179
Cf. GEORGE, 2000, 254.
180
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 103.
181
GONZALEZ, 2004, p. 95.
177
71
manuscritos, obras de arte, e outras memrias da f tradicional, e ento
prosseguiram expulsando da cidade todos os mpios a saber, os catlicos e os
protestantes moderados.182 Depois de inmeros confrontos entre as foras do Bispo
que cercavam a cidade e os anabatistas revolucionrios e aps meses de cerco com
a fome tomando conta dos moradores de Mnster, finalmente, a cidade foi
reconquistada pelos catlicos e as atrocidades que se seguiram foram coroadas
pela tortura e execuo de Joo de Leyden que havia declarado Mnster a Nova
Jerusalm onde o Reino de Deus seria estabelecido183.
De modo geral, os anabatistas advogavam a separao e isolamento total
do mundo. Os protestantes, seguidores de Lutero, Zwnglio e Calvino eram
considerados por eles como mundanos. Baltasar Hubmaier, o mais teolgico dos
lderes anabatistas, no cansava de enfatizar que a Igreja deveria ser constituda to
somente dos crentes realmente convertidos184. Ele chegou a escrever um
Catecismo Cristo no qual defendia a existncia de trs tipos de batismo: o batismo
no Esprito, na gua e no sangue. O primeiro a iluminao interior do nosso
corao realizada pelo Esprito Santo mediante a Palavra viva de Deus. O batismo
na gua era o testemunho externo do batismo interior com o Esprito Santo. E,
finalmente, o batismo no sangue era a mortificao diria da carne at a morte.185
Esta era sua viso de vida crist.
Menno Simons talvez seja o lder anabatista mais conhecido. Os Irmos
Menonitas, seus herdeiros, existem at hoje espalhados em comunidades em vrias
partes do mundo. Ele tambm pregava a separao do mundo o qual ele chamava
de Sodoma, Egito e Babilnia186. Sua nfase era em uma confiana irrestrita
autoridade da Bblia. Assim, tudo o que no est na Bblia deve ser eliminado da
verdadeira Igreja. Timothy George cita as palavras do prprio Menno Simons que
afirmava: No h sequer uma palavra que se possa encontrar nas Escrituras [...] a
respeito de suas unes, cruzes, capas, togas, purificaes imundas, claustros,
capelas, sinos, rgos, msica de coro, missas, ofertas, usos antigos, etc.187
182
GONZALEZ, 2004, p. 96.
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 97.
184
Cf. OLSON, 2001, p. 431.
185
Cf. OLSON, 2001, p. 432.
186
Cf. GONZALEZ, 200, p. 98.
187
SIMONS, apud GEORGE, 2000, p. 272.
183
72
Portanto, tudo isso deveria ser extirpado do seio da Igreja.
O anabatismo representou uma tendncia asctica no contexto protestante.
Sua santidade era de negao e baseada no isolamento. Muitas vezes a
interpretao das Escrituras beirava o simplismo como no caso da defesa da
poligamia em Mnster188. O movimento ajudou a pavimentar o longo caminho que o
protestantismo percorrer nos sculos seguintes em direo a uma defesa de vida
crist baseada em uma moral platnica. Ao mesmo tempo contribuiu para o
estabelecimento de princpios protestantes importantes como a liberdade de
conscincia, a democracia e a autonomia humana.
Tambm peculiar foi a histria da Reforma na Inglaterra. Para os fins deste
trabalho no nos interessa entrar em muitos detalhes histricos acerca das
circunstncias nas quais se deram o Anglicanismo. Contudo, importante ressaltar
que a Reforma inglesa no comeou exatamente como uma reforma religiosa. O
rompimento com Roma se deu em face do desejo do Rei Henrique VIII de ter seu
casamento com Catarina de Arago anulado, no ter sido atendido pelo Papa em
funo das presses que este recebia do Imperador Carlos V, sobrinho da Rainha.
Questes de fundo como o desejo de Henrique de confiscar as propriedades
eclesisticas e os pesados pagamentos de impostos a Roma tambm foram
importantes para a deciso final. A ciso definitiva veio com a aprovao pelo
parlamento ingls do Ato de Supremacia em 3 de novembro de 1534 atravs do qual
Henrique VIII e seus sucessores foram declarados o nico cabea supremo na terra
da Igreja da Inglaterra.189 A par disso, e em que pese a morte de vrios monges e
de outros sditos que se recusaram a reconhecer a supremacia do rei dentre estes
o mais famoso foi Sir Thomas More190 doutrinria e liturgicamente a Igreja da
Inglaterra continuava catlica romana. Deste ponto de vista, Henrique VIII
continuava um catlico ortodoxo. As concesses que ele fizera ao protestantismo se
deram apenas em funo de interesses polticos191. Mesmo assim, alguns avanos
ocorreram, sobretudo, pelas mos do Arcebispo da Canturia Thomas Cranmer
como, por exemplo, a disposio de uma traduo da Bblia para o ingls. Havia um
pequeno grupo de protestantes desejosos de uma reforma abrangente nos moldes
188
Cf. GEORGE, 2000, p. 272.
WALKER, Wiliston. Histria da Igreja Crist. Vol. 2. So Paulo: ASTE, 2006. p. 84.
190
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 84.
191
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 86.
189
73
da que ocorria no continente192.
Esta oportunidade surgiu com a morte do rei em 1547 e sua substituio
pelo seu filho Eduardo VI, ento com nove anos de idade. O governo foi
efetivamente exercido pelo seu tio o Duque de Somerset com o ttulo de Protetor.
Simptico ao protestantismo o Protetor permitiu que ocorressem avanos
consistentes na direo de uma reforma religiosa. Cranmer aproveitou o momento
para implementar uma srie de medidas que levariam a Igreja Inglesa
definitivamente para os arraiais protestantes193. Durante os cultos a Bblia passou a
ser lida em ingls, a Ceia passou a ser ministrada aos leigos com ambos os
elementos, os clrigos receberam permisso de se casar, as imagens foram
removidas das igrejas194. Mas, o mais importante ato de reforma deste perodo foi a
publicao em 1549 do Livro de Orao Comum. Se em sua primeira verso ainda
mantinha muitas das doutrinas e costumes catlicos, na segunda edio (1552) e
sob influncia de reformadores do continente que encontraram refgio na Inglaterra
desses dias, o Livro de Orao Comum fez importantes avanos na direo do
protestantismo com vis reformado, zwingliano195. A par disso, o artigo sobre a Ceia,
embora substituindo o altar pela mesa o que denotava no mais ser considerada a
Eucaristia um sacrifcio, manteve-se ambguo em sua interpretao. Outro
importante documento preparado por Cranmer, com a assessoria de importantes
telogos como John Knox, o reformador da Esccia, foi o credo anglicano conhecido
como os Quarenta e Dois Artigos que se tornaram a base para os Trinta e Nove
Artigos formulados posteriormente e que at hoje so, com algumas alteraes, o
Credo da Igreja Anglicana. Thomas Cranmer, que se casara com uma luterana,
pode
ser
considerado
principal
responsvel
pela
protestantizao
do
anglicanismo196.
Maria Tudor sucedeu Eduardo VI em 1553. Com sua morte em 1558 subiu
192
193
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 84.
Houve um breve interregno durante o reinado de Maria Tudor (1553-1558) quando o Ato de Supremacia foi
anulado e a Inglaterra se submeteu novamente a Roma. Esta volta ao catolicismo romano perdurou apenas
durante o reinado de Maria, conhecida como A Sanguinria em face dos cerca de 300 martrios de protestantes
ocorridos em seu governo. Neste perodo foram martirizados o Arcebispo Thomas Cranmer, e os bispos Nicolas
Ridley e Hugo Latimer todos lderes do movimento reformista, dentre outros. Cf. GONZALEZ, 2004, p. 186.
194
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 185.
195
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 186.
196
Cf. OLSON, 2001, p. 448.
74
ao trono Elizabeth. A nova Rainha que governaria por longos 45 anos iniciou seu
governo implementando medidas cautelosas. Seu principal objetivo era unificar a
Inglaterra e reformas religiosas radicais no seriam apropriadas para este intento.
Como desejava uma nica Igreja na Inglaterra, Elizabeth fez promulgar logo no incio
de seu governo o Ato de Uniformidade Elizabetana. Atravs dele a Igreja Anglicana
assumiria uma teologia moderadamente protestante com liturgia e governo
moderadamente catlicos. Esta via media adotada por Elizabeth desagradou a
muitos de ambos os lados que desejam ver a Inglaterra ou plenamente protestante
ou planamente catlica. Assim se expressa o historiador Roger Olson:
A Igreja Anglicana parecia muito catlica do ponto de vista dos protestantes
europeus, especialmente dos telogos e ministros reformados, que
consideravam a Genebra de Calvino o modelo do que a igreja deveria ser.
Em contrapartida, Roma a condenava por ser demasiadamente protestante,
porque no dava o menor espao para o papado nem para as doutrinas e
prticas tipicamente catlicas, como a transubstanciao, o purgatrio, as
penitncias e as obras meritrias de caridade.197
O historiador Justo Gonzalez aponta nesta mesma direo ao afirmar:
O acordo de Elizabeth pode, ento, ser visto como uma tentativa de se
desenvolver um meio termo entre o Catolicismo Romano e a forma que a
Reforma Protestante estava tomando no continente. Como resultado, ele
teve que lutar com os elementos mais radicais em seu seio e esta luta
resultou em revoltas polticas. Mas no longo prazo, a via media Anglicana
sobreviveria como a forma mais caracterstica do Cristianismo na Inglaterra,
enquanto outras formas da Catlica Romana ao Protestantismo Radical
continuariam existindo lado a lado com a mesma.198
A compreenso desses fatos, com as opes feitas pela Rainha Elizabeth e
as caractersticas assumidas pela Igreja Anglicana so importantes para
entendermos o assunto que ser abordado a seguir: o surgimento do puritanismo.
Se no seio da Igreja Luterana surgiria no sculo XVII o Pietismo como reao s
caractersticas notadamente intelectualizantes e acadmicas do luteranismo, na
Inglaterra, os Puritanos apareceriam, ainda no sculo XVI, como uma fora contrria
quilo que eles consideravam serem elementos catlicos em excesso no seio da
Igreja de Sua Majestade.
197
198
OLSON, 2001, p. 443.
GONZALEZ, 2004, p. 198.
75
3.2 Puritanismo e Pietismo o avano do ascetismo protestante
A crescente tendncia asctica na histria do protestantismo tem no
Puritanismo e no Pietismo importantes instrumentos para sua consolidao. Os
puritanos ingleses se levantaram contra os trapos do papismo como eles se
referiam aos elementos tipicamente catlicos presentes na liturgia e governo
eclesistico da Igreja Anglicana. Inicialmente, os puritanos o nome decorre do
desejo de purificar a igreja no tinham a inteno de romper com a Igreja oficial.
O que eles intentavam era livr-la de ofcios considerados remanescentes do
catolicismo como o uso de vestes clericais, ajoelhar-se na hora de receber a Ceia, a
troca de alianas no casamento, fazer o sinal da cruz, o sistema de governo
episcopal etc. Tudo isso era considerado superstio romana199. Esses sentimentos
foram intensificados nos dias do reinado de Maria, a Sanguinria quando muitos
protestantes ingleses se refugiaram no continente e retornaram para a Inglaterra sob
a forte influncia do protestantismo continental, mormente de cidades como
Genebra, Zurique, Estrasburgo e de regies da Holanda.
Desse modo, a Igreja da Inglaterra estava dividida em partidos. Havia
aqueles que pertenciam Igreja Alta, ritualistas partidrios do Livro de Orao e os
da Igreja Baixa, evangelicais.
[os partidrios da Igreja Alta] defendiam a sucesso apostlica como ordem
correta do ministrio e argumentavam em favor da autoridade espiritual
especial para os sacerdotes da igreja. Embora afirmassem doutrinas
tipicamente protestantes das Escrituras e da salvao, queriam uma igreja
hierrquica com bispos estreitamente ligados coroa e uma liturgia formal
com base em um livro de culto uniforme. O partido evangelical da Igreja
Baixa era composto pelos herdeiros dos evanglicos fervorosos dos
tempos de Cranmer, cuja maioria tinha sido queimada na fogueira ou
exilada para a Europa continental no reinado de Maria, a Sanguinria.
Queriam que a Inglaterra seguisse o exemplo da reforma da Esccia
liderada por Knox. Cada vez mais, pediam a abolio do Livro de orao
comum, dos bispos, do sacerdcio e da sucesso apostlica, bem como do
culto exageradamente litrgico. [...] ficaram conhecidos como puritanos. Os
que seguiam a teologia ritualista da Igreja Alta foram chamados
anglicanos.200
199
200
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 139.
OLSON, 2001, p. 444.
76
Esses dois grupos so bem representados por dois famosos telogos da era
elizabetana, so eles: Richard Hooker e Walter Travers. Hooker foi um rduo
defensor da Igreja Alta, da Uniformidade Elizabetana, da liturgia formal e do sistema
de governo eclesistico episcopal. De fato, ele era partidrio de princpios
protestantes fundamentais como a Bblia por regra, o papel da graa mediante a f
na salvao, e a idia de justia forense, imputada por Deus aos homens
independentemente de seu estado. Ao mesmo tempo ele destacava o papel do livrearbtrio e a participao do ser humano no processo de salvao201. J Walter
Travers era um crtico do anglicanismo nos moldes puritanos clssicos. Ambos
dividiram o plpito do Templo de Londres por isso um historiador disse que neste
Templo o sermo da manh expressava Canturia e o sermo da tarde
Genebra.202 As posies puritanas e anglicanas ficam patentes nas pregaes
desses dois personagens.
Hooker apresentava defesas meticulosamente arrazoadas do governo
eclesistico e da liturgia da Igreja Alta e argumentava que o pensamento
catlico, embora fosse hertico em alguns aspectos, no estava
inteiramente errado. Enfatizava, por exemplo, a idia escolstica de que a
graa segue a natureza humana, em vez de contradiz-la e defendia a
crena no livre-arbtrio e no conceito moderamente sinergista de salvao.
At ousou sugerir que os catlicos romanos, embora estivessem errados
em suas crenas, pudessem chegar ao cu afinal. Travers pregava a
predestinao, bem como o fogo e enxofre do inferno para todos os
catlicos, declarados ou no, em seus sermes vespertinos e declarou do
plpito do Templo que o Livro de Orao Comum, as vestes sacerdotais, as
imagens dos santos e toda e qualquer relquia e vestgio da tradio catlica
deviam ser abolidos da igreja.203
Com o acirramento de posies, o prprio ambiente puritano se dividiu em
determinadas querelas acerca do sistema de governo, doutrinas soteriolgicas, bem
como, entre aqueles que desejam permanecer na Igreja oficial e os separatistas.
Inicialmente contrrios a idia de separao da Igreja da Inglaterra, liderados por
Thomas
Cartwright,
uma
ala
dos
puritanos
deu,
finalmente,
origem
ao
presbiterianismo ingls nos moldes da Igreja Presbiteriana da Esccia. Separatistas
mais radicais como Robert Browne e, depois dele John Smyth, John Murton, Henry
Jac e William Ames, dentre outros, deram origem ao congregacionalismo ingls e
201
Cf. OLSON, 2001, p. 451.
LANE, Tony. Pensamento Cristo: da Reforma Modernidade. Vol.2. So Paulo: Abba Press, 2000, p. 46.
203
OLSON, 2001, p. 444-445.
202
77
s Igrejas Batistas, influenciados por idias vindas, principalmente, da Holanda204.
Assim, no caldeiro puritano havia ingredientes calvinistas, arminianos,
anabatistas, e, quanto ao governo eclesistico, presbiterianos e congregacionais.
Da o surgimento, dependo das opes teolgicas e de governo, de presbiterianos,
congregacionais, batistas gerais (arminianos) e batistas particulares (calvinistas),
alm de outros grupos de menor importncia. Essas denominaes constituram as
chamadas Igrejas Livres. Embora divergindo nestes pontos, o fundamento de todos
era um s: a Igreja constituda dos verdadeiros crentes que o so voluntariamente
e por deciso pessoal. Esta Igreja governada por Cristo. A Bblia, interpretada com
rigor, era sua regra de f e prtica. A santificao era requerida em termos
moralistas e legalistas, portanto, a separao do mundo era condio sine qua non
para todos. Um desses grupos congregacionalistas, exilado na cidade de Leyden, na
Holanda, embarcou em 1620 no Mayflower rumo s colnias inglesas na Amrica,
eram os Pais Peregrinos. Em 21 de dezembro desse mesmo ano esses cerca de
300 puritanos congregacionais lanaram os fundamentos de Plymouth na Nova
Inglaterra. O desejo do grupo era fundar ali a Nova Cana, aquela deveria ser uma
nao crist por excelncia, com liberdade religiosa e de conscincia para todos205.
Talvez a mais famosa obra do puritanismo ingls seja O Peregrino de John
Bunyan. O livro retrata bem a viso dualista da vida propugnada pelos puritanos. A
caminhada do cristo rumo Cidade de Deus penosa e rdua, nela no h espao
para a alegria e o prazer. Percorr-la foi um ato voluntarioso do crente. O outro
caminho largo, festivo, alegre, cheio de atraes, mas, seu fim, a Cidade da
Destruio.
Outra reao asctica na histria do protestantismo foi um importante
movimento do sculo XVII conhecido como Pietismo. O Pietismo surge em uma
poca em que a ortodoxia protestante j estava bastante avanada. Por ortodoxia
nos referimos forma como a teologia protestante foi elaborada depois de passados
os primeiros e dinmicos anos do movimento propriamente dito. Foi a forma
escolstica de sistematizao do pensamento protestante. Uma teologia com fortes
fundamentos racionais206. Falarmos de ortodoxia protestante no a mesma coisa
204
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 140-147.
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 147.
206
Cf. TILLICH, 2000, p. 272.
205
78
que falarmos de Reforma Protestante. Assim, por exemplo, quando nos referimos ao
calvinismo no estamos falando necessariamente das idias originais de Calvino;
falarmos de luteranismo no significa um emparelhamento com Lutero, e assim por
diante. Para a ortodoxia o elemento doutrinrio foi muito mais importante do que
para a primeira gerao de reformadores, embora estes no descuidassem dela207.
Neste ponto, Paul Tillich nos d uma explicao deveras importante sobre o
conceito que a ortodoxia fazia (e faz) da autoridade da Bblia. Concentremo-nos no
terceiro ponto de sua exposio. Ele diz que para os ortodoxos a autoridade da
Bblia se mantinha:
[...] pelo testemunho do Esprito Santo. Este testemunho, entretanto,
adquiria novo sentido. No mais tinha a ver com o pensamento paulino de
que somos filhos de Deus (O Esprito de Deus se une ao nosso esprito
para afirmar que somos filhos de Deus, Romanos 8:16). Em lugar disso, ele
testemunha que as doutrinas das Santas Escrituras so verdadeiras e
inspiradas por ele. Em lugar da imediatez do Esprito nas relaes entre
Deus e seres humanos, o Esprito d testemunho da autenticidade da Bblia
enquanto documento do Esprito divino. A diferena entre as duas atitudes,
que se o Esprito nos diz que somos filhos de Deus, temos uma
experincia imediata, e no h lei nessa experincia. Mas se o Esprito d
testemunho de que a Bblia contm doutrinas verdadeiras, a coisa toda
deixa de fazer parte dessa relao entre pessoas e se transforma num
relacionamento objetivo e legalista. Foi exatamente o que fez a ortodoxia.208
exatamente em face da formatao de tal teologia que surge o Pietismo.
Como diz Tillich o Pietismo a reao do lado subjetivo da religio contra o lado
objetivo.209 Diante do dogmatismo, da rigidez e da inflexibilidade doutrinria da
ortodoxia e da institucionalizao da religio os pietistas queriam uma religio viva.
F para eles no era crer em determinadas doutrinas, mas unio mstica com Deus.
O sentimento e a experincia subjetiva foram trazidos para o primeiro plano. O
pastor luterano Philip Jakob Spener considerado o Pai do Pietismo. Tendo
estudado em Estrasburgo, Basilia e Genebra, Spener foi fortemente influenciado
pelas idias reformadas, mas tambm, pelo puritanismo ingls a partir de contatos
com obras puritanas traduzidas para o alemo como, por exemplo, as de Richard
Baxter. Contribuio importante para o incio do movimento ele deu ao reunir em sua
casa, quando pastoreava a comunidade de Frankfurt, um grupo de pessoas para ler
207
Cf. TILLICH, 2000, p. 273-274.
TILLICH, 2000, p. 275-276.
209
TILLICH, 2000, p. 279.
208
79
a Bblia, orar e discutir o sermo dominical. A estes grupos ele chamou de collegia
pietatis (crculos piedosos). Em sua clssica obra Pia Desideria (Desejos Piedosos),
publicada em 1675, tambm defendia a criao de crculos nas congregaes
chamados de ecclesioloe in ecclesia (algo como igrejinhas dentro das igrejas) para
vigilncia mtua e auxlio210.
Spener demonstra seu posicionamento diante da ortodoxia protestante ao
afirmar:
O pior de tudo que a falta de frutos da f na vida dos pastores indica que
eles so carentes de f. O que eles pensam ser f e na qual baseiam os
seus ensinamentos no a verdadeira f, despertada pela Palavra de
Deus, iluminada, testemunhada e selada pelo Esprito Santo. Trata-se de
uma fantasia humana. Assim como muitos outros adquiriram conhecimentos
em seus campos de estudo, esses pastores aprenderam muita coisa a
respeito das Escrituras, compreenderam e aceitaram a verdadeira doutrina,
sabem como preg-la. Mas tudo isso foi obtido pelo prprio esforo
humano, sem a obra do Esprito Santo, sem comprometimento com a f e
seus frutos.211
Ele recorria constantemente a Lutero defendo que suas pregaes eram
uma tentativa de resgate do Lutero original, deformado nos telogos luteranos
posteriores a ele. Assim, ele dizia: Em Lutero, encontramos a experincia e o
grande poder espiritual dela advindo, juntamente com uma sabedoria que se soma
simplicidade; nos telogos posteriores, encontramos um vazio.212 Por isso, ele
completava: Quando o homem se deixa seduzir pelo charme da razo, a
simplicidade e os ensinamentos de Cristo tornam-se insossos.213 Ou seja, a
experincia subjetiva de Lutero e de outros reformadores como Zwnglio e Calvino
era a arma utilizada pelos pietistas contra o objetivismo teolgico pretendido pelos
ortodoxos, luteranos e calvinistas214.
Ao que parece Spener foi um homem sincero que desejou verdadeiramente
ver a Igreja purificada de seus desvios, como um lugar de comunho, de exerccio
do sacerdcio universal e da prtica do amor cristo215. Ele se escandalizava com a
210
WALKER, vol. 2, 2006, p. 191-192.
SPENER, Philipp Jakob. Pia Desideria. So Paulo: Imprensa Metodista/Cincias da Religio, 1985. p. 27.
212
SPENER, 1985, p. 31.
213
SPENER, 1985, p. 34.
214
Cf. TILLICH, Paul. Perspectivas da Teologia Protestante nos sculos XIX e XX. So Paulo: ASTE, 1999. p. 4950.
215
Cf. SPENER, 1985, p. 60-62.
211
80
situao moral dos pastores e membros das igrejas luteranas dos seus dias.
Criticava a bebedeira e aqueles que faziam distino entre esta e o beber
ocasionalmente. Para ele ambos eram pecados e chegou a prever a perda da
salvao para quem no se livrasse desses vcios216. Cria que muitos no se
convertiam devido a imoralidade da igreja: Essa situao trgica o maior
empecilho para que muitas pessoas bem intencionadas, ainda pertencentes a
Igrejas heterodoxas (especialmente a romana) e alertadas para o perigo das
abominaes, no se unam a ns.217 Seus interesses transcenderam o ambiente
eclesistico ao demonstrar preocupao com a situao de penria social do povo.
Um importante centro pietista foi formado com a inaugurao da
Universidade de Halle. Augusto Francke foi o lder pietista de destaque nesta
Universidade. Seguindo os ensinamentos de Spener, os pietistas de Halle fundaram
um orfanato e inauguraram as misses protestantes em terras estrangeiras218. Estes
foram mais radicais que Spener. Em sua busca pela piedade pessoal enfatizavam a
negao do amor pelo mundo. Por isso, lutaram contra os bailes, o teatro, os jogos,
os vestidos bonitos, os banquetes, as conversaes superficiais da vida cotidiana,
relembrando em geral a atitude dos puritanos.219 Sua tensa relao com o mundo
da cultura era flagrante.
Outro notvel pietista foi o Conde Nicolau Ludwig Von Zinzendorf que em
1722 concedeu refgio em terras de sua propriedade a um numeroso grupo de
Irmos Morvios, herdeiros da antiga igreja hussita da Bomia, seguidores do prreformador John Huss, os quais fugiam de condies adversas causadas,
sobretudo, como conseqncia da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Esses
colonos fundaram nessas terras uma comunidade chamada Herrnhut a qual acabou
sendo de certa forma liderada por Zinzendorf. Profundamente asctica, levando a
srio o ideal de separao do mundo, viviam retirados em sua colnia. A partir de
1728 os jovens passaram a ser retirados de suas famlias, as crianas eram criadas
separadas dos pais, os casamentos eram arranjados, fomentava-se uma ardente
vida espiritual, a religio do corao220. Cultivavam grande entusiasmo missionrio,
216
Cf. SPENER, 1985, p. 36-37.
SPENER, 1985, p. 44.
218
Cf. TILLICH, 2000, p. 279-280.
219
TILLICH, 2000, p. 281.
220
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 199.
217
81
tendo enviado pregadores para as ndias Ocidentais, Groelndia, frica e para
colnias inglesas na Amrica do Norte com o fim de evangelizaram os povos
indgenas.
O Pietismo prosperou nos sculos seguintes uma vez que ele se coadunava
melhor com os novos ventos que sopravam na Europa do que a ortodoxia
protestante. Esta advogava a autoridade suprema das Escrituras interpretada de
forma rigorosa, desembocando num perigoso biblicismo como j temos visto. Ainda
que tendo a Bblia como sua base e considerando-a em alta conta, o Pietismo
acrescentou a idia de autonomia mstica do fiel. Ou seja, a experincia pessoal e
subjetiva rompia de certa forma, com a autoridade da Igreja. Este rompimento com a
autoridade da Igreja era exatamente o que buscavam os novos pensadores do
sculo XVIII inaugurando o movimento filosfico conhecido como Iluminismo. Ambos
os movimentos se opem ao autoritarismo ortodoxo. Por isso Paul Tillich pde dizer
que a autonomia moderna filha da autonomia mstica da doutrina da luz
interior.221 Se os pietistas estavam sendo iluminados pela luz interior do Esprito,
os filsofos do sculo XVIII estavam sendo iluminados pela luz interior da razo.
Esta uma curiosa ambigidade do movimento pietista: levantaram-se contra aquilo
que eles consideravam um excesso de confiana na razo no labor teolgico dos
ortodoxos, mas com sua forte nfase na subjetividade, ajudaram a dar luz ao
racionalismo iluminista.
Podemos dizer que o Puritanismo e o Pietismo, ambos movimentos que
fazem parte do conservadorismo protestante e, portanto, ambos com slidas
tendncias ascticas, na linha do dualismo, distinguem-se apenas nas nfases: o
puritanismo mais concentrado na pureza doutrinria e o Pietismo na experincia
religiosa. Essas duas tendncias vo caminhar lado a lado na histria do
conservadorismo protestante daqui por diante.
221
TILLICH, 2000, p. 281.
82
3.3 Avivalistas, ortodoxos e liberais tenses e fissuras
Ainda que no seja importante, para os fins do nosso trabalho estudarmos
em detalhes a vida de John Wesley, o fato que sua biografia est intimamente
relacionada com os movimentos avivalistas iniciados a partir do sculo XVIII. O
Metodismo, surgido a partir de seu labor evangelstico222 confunde-se com o prprio
avivamento ingls deste sculo. Antnio Gouva Mendona assim se refere ao
Metodismo:
[...] nfase mais na converso do que no batismo, mais na experincia
religiosa do que simplesmente pertencer a uma instituio religiosa. (...) A
certeza da converso se dava pela capacidade de renncia aos prazeres
sociais: jogo de cartas, jogos de azar, dana, freqncia a teatros e assim
por diante. A moralidade metodista ir exercer grande influncia nas
concepes protestantes na Amrica e nas suas reas de misso.223
Vemos, portanto, que no movimento metodista havia um critrio para
avaliao do verdadeiro convertido: a negao do mundo demonstrada pela
abdicao aos prazeres desta vida. Alm disso, o Metodismo consolida de forma
definitiva a exigncia pela experincia emocional de converso como marca de um
verdadeiro cristo, exigncia esta que remonta aos primeiros anabatistas. Alis, aqui
tambm se consolida a idia do ser evanglico. Assumindo que existem opinies
divergentes neste ponto224, nesse trabalho optamos por entender que o evanglico
um tipo especfico de protestante, sendo que este termo torna-se consistente com o
advento do Metodismo. Deste ponto de vista, quem o evanglico? Em primeiro
lugar ele anti-catlico na linha puritano-pietista. Por conseguinte, identifica tudo o
que se relaciona com o catolicismo com o diabo, a heresia, a blasfmia e o pecado.
Mas, ele tambm anti um certo tipo de protestantismo, qual seja, o protestantismo
222
To importante quanto Wesley para o surgimento do Metodismo foi George Whitefield, provavelmente o
mais brilhante pregador deste sculo. Alm dele, Charles Wesley irmo mais novo de John desempenhou
relevante papel, mormente, como o compositor do movimento tendo deixado cerca de 6 mil hinos ao final de
sua vida.
223
MENDONA, A. Gouva. O Celeste Porvir: A Insero do Protestantismo no Brasil. So Paulo: Pendo
Real/ASTE/Cincias da Religio, 1995. p. 55.
224
Cf. BONINO, Jos Miguez. Rostos do Protestantismo Latino-Americano. So Leopoldo: EST/Sinodal, 2003. p.
31. Conferir especialmente o contedo da nota 1. e Cf. MENDONA, Antnio G. e VELASQUES FILHO, Prcoro.
Introduo ao Protestantismo no Brasil. So Paulo: Loyola, 1990. p. 81-82.
83
no conversionista, no purificado o suficiente de elementos catlicos romanos,
representado notadamente por luteranos e anglicanos. Esta uma tendncia que
verificamos ainda hoje entre os evanglicos brasileiros que, grosso modo, olham de
soslaio para os membros dessas denominaes considerando-os no convertidos
ou, quando muito, irmos menores.
O Metodismo tambm pode ser entendido como uma espcie de sntese do
puritanismo e do Pietismo. Sendo ministro anglicano, Wesley foi influenciado por
idias puritanas que perduravam (e perduram) na Igreja da Inglaterra. Alm disso,
sua experincia de converso imprimiu o subjetivismo tpico do Pietismo no
Metodismo. John Wesley embarcou, em 1735, rumo colnia da Gergia com o
objetivo de servir como missionrio entre os ndios. Durante a viagem uma terrvel
tempestade acometeu o navio e Wesley foi profundamente impactado por um grupo
de irmos morvios tambm embarcados, os quais demonstraram grande coragem e
destemor ante a iminncia da morte. Pouco depois de desembarcar ele foi
confrontado pelo lder local dos irmos morvios. Ele registraria em seu dirio:
Ele disse: Meu irmo, [...] voc tem o testemunho dentro de si? O Esprito
de Deus testifica com seu esprito que voc um filho de Deus? Eu fiquei
surpreso e no sabia o que responder. Ele observou isto e perguntou: Voc
conhece Jesus Cristo? Hesitei e disse: Eu sei que Ele o Salvador do
mundo. Verdade, replicou ele, mas voc sabe que Ele o salvou? Eu
respondi: Eu espero que Ele tenha morrido para me salvar. Ele apenas
acrescentou: Voc conhece a si mesmo? Eu disse: Conheo. Mas temo
que elas tenham sido palavras vs.225
Em 1738, j de volta Inglaterra e passando por um perodo de profundos
questionamentos, foi ele convidado para participar de um culto quando, finalmente,
encontrou o que procurava:
Ao anoitecer fui muito sem vontade a uma congregao religiosa na Rua
Aldersgate, onde algum estava lendo o prefcio de Lutero Epstola de
Romanos. Cerca de quinze para as nove, quando ele estava descrevendo a
transformao que Deus opera no corao atravs da f em Cristo, senti
meu corao estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo,
Cristo somente, para a salvao. E uma certeza me foi dada que Ele havia
tirado os meus pecados, os meus mesmo, e me salvado da lei do pecado e
da morte.226
225
226
LANE, vol. 2, 2000, p. 59.
LANE, vol. 2, 2000, p. 60.
84
Esta experincia de converso quando Wesley sentiu seu corao
estranhamente aquecido daria a tnica pietista em seu ministrio da at a sua
morte em 1791: converso, f confiante, vida religiosa demonstrada em obras
ativas a favor dos outros.227 Sua adeso ao arminianismo pavimentou o caminho
para os evangelistas metodistas que no sculo XIX conquistariam o oeste
americano. A pregao calvinista em comparao soava um tanto elitista aos
ouvidos do povo. quando o pregador metodista pregava, ele convidava todo aquele
que quer; o calvinismo oferecia salvao s aos eleitos.228 Sua defesa da
santificao pessoal foi rigorosa. Chegou mesmo a ponderar a possibilidade da real
perfeio ainda nesta vida na busca pela santidade229. Embora no tivesse superado
o dualismo, Wesley demonstrou sria preocupao com as opresses sociais de seu
tempo. No pode ser rotulado de fundamentalista. Ao contrrio, repudiou o
obscurantismo intelectual e a alienao cultural230. Advogou a abolio da
escravatura e manteve vnculos de amizade com os primeiros abolicionistas
ingleses. Seus interesses estenderam-se ao campo da medicina criando em 1746
um dispensrio mdico para atendimento aos pobres.
Esses movimentos avivalistas no se restringiram Inglaterra. Nas colnias
americanas, e por influncia de homens como Zinzendorf e Whitefield, os ventos do
avivamento sopraram com fora. O principal nome deste perodo em terras
americanas do pastor congregacional Jonathan Edwards. Edwards considerado
por muitos o ltimo grande pregador puritano231. Embora tenha sido alm de telogo
um insigne filsofo, Edwards acabou sendo conhecido mais pelo seu famoso sermo
Pecadores nas Mos de um Deus Irado. Calvinista convicto, rigoroso em seus
sermes, Edwards foi expulso de sua congregao em Northampton por recusar a
Ceia aos freqentadores da igreja que ele considerava no convertidos232. Ele cria
que somente os santos poderiam estar em verdadeira comunho, estes eram os
eleitos de Deus233. Alm dele, muitos outros pregadores avivalistas percorreram as
colnias americanas. No faltaram excessos e explorao das emoes das massas
227
WALKER, vol. 2, 2006, p. 213.
REILY, DUNCAN A., 1977 apud MENDONA, 1995, p. 56.
229
Cf. OLSON, 2001, p. 526-527.
230
Cf. OLSON, 2001, p. 529.
231
Cf. OLSON, 2001, p. 507.
232
Sua expulso tambm se deu por defender tratamento equnime para os ndios. Cf. OLSON, 2001, p. 517.
233
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 220.
228
85
o que foi denunciado por Edwards em seu Tratado a Respeito das Emoes
Religiosas de 1746.
Como j era de se esperar, esses avivamentos causaram tenses e fissuras
no ambiente protestante conservador tpico das colnias. Poderamos dizer que a
partir do sculo XVIII teremos, nessas colnias, os conservadores puritano-pietistas
partidrios dos avivamentos234 e os conservadores puritano-pietistas contrrios a
qualquer indcio de pregao avivalista. O telogo neo-ortodoxo H. Richard Niebuhr
cita vrios casos envolvendo conflitos entre esses dois grupos em seu livro As
Origens Sociais das Denominaes Crists. Sobre as divises entre os
congregacionais da Nova Inglaterra ele afirma:
O clero das antigas colnias especialmente de Boston e vizinhanas, mas
tambm de antigas cidades de Connecticut escandalizava-se com as
grosserias emotivas dos convertidos e o ardor indiscreto dos pregadores. A
diviso entre Velhas Luzes e Novas Luzes, como eram chamados os
partidos de apoio ou de oposio ao reavivamento foi agravada mas no
causada pelo calvinismo dos pregadores reavivalistas da fronteira sob a
liderana de Jonathan Edwards e pelas acusaes feitas ao clero do Leste
conservador. Na Associao Geral de 1741 [...] pastores testemunharam
contra os que levam em considerao os chamados impulsos secretos de
suas mentes sem o devido respeito palavra escrita, s regras de conduta,
que nenhum convertido a no ser aqueles que se sabe que se
converteram e quando e condenaram as paixes desenfreadas, os
tumultos desordenados e os comportamentos inconvenientes dos
reavivamentos.235
Esses pregadores avivalistas radicais itinerantes provocavam divises nas
igrejas. Assim, eram acusados de abominvel invaso do ofcio ministerial e de
esprito e prtica divisionista nos rebanhos particulares aos quais as pessoas
pertencem para se juntarem a eles.236 Diante disso, os pastores dessas
congregaes clamavam por uma lei para moderar os abusos e corrigir as
desordens nos assuntos eclesisticos contra aqueles que no tm legitimao
eclesistica ou licena para pregar.237 Niebuhr tambm discorre sobre as tenses
no ambiente presbiteriano. Dessa forma ele descreve a posio daqueles que eram
234
Aqui poderamos fazer uma subdiviso entre os avivalistas moderados, caso de Jonathan Edwards e os
avivalistas radicais-separatistas, como James Davenport o qual atacava os ministros que ele considerava como
no convertidos citando seus nomes do plpito. Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 218.
235
NIEBUHR, H. Richard. As Origens Sociais das Denominaes Crists. So Paulo: Cincias da Religio/ASTE,
1992. p. 95-96.
236
NIEBUHR, 1992, p. 96.
237
NIEBUHR, 1992, p. 96.
86
contrrios ao avivamentismo os quais acusavam seus adversrios:
[...] de sustentar princpios heterodoxos e anrquicos negando a
autoridade dos presbitrios para forar seus membros dissidentes, de
fazer intervenes irregulares nas congregaes com as quais no tm
imediata relao de acreditar que o chamado ministerial no transmitido
pela ordenao, mas por certo impulso invisvel, obra do esprito, que no
pode ser consciente ou perceptvel a no ser pela prpria pessoa, e
industriosamente levar as pessoas de mente fraca a paixes e emoes
que as fazem gritar de maneira chocante e cair em convulses
espasmdicas.238
Os movimentos de despertamento espiritual adentraram o sculo XIX nos
Estados Unidos. Neste perodo conhecido como a Era Metodista239, consolidaramse os vrios fios desta longa trama na formao do protestantismo norte-americano.
O homem do meio-oeste, desbravador, individualista, empreendedor representava
perfeio o esprito americano. Como afirmado anteriormente, o calvinismo com sua
defesa da soberania de Deus e da incapacidade do ser humano no se coadunava
bem com este esprito. O arminianismo metodista com sua nfase na capacidade
humana de realizao e no amor de Deus por todos era mais compatvel com a
formao desta nova nao240. No ano de 1858, o Annus Mirabilis, eclodiu novo
grande despertamento. Grandes cruzadas evangelsticas foram organizadas. A
nfase era na descida do Esprito Santo e na guerra contra os vcios em
gigantescas reunies de converso e santificao.241 Se a resposta ao amor de
Deus era o empenho humano em servi-lo, isto involucrado por uma idia de
santificao sob o influxo do dualismo platnico, o resultado era uma moral que
privilegiava as coisas espirituais e relegava os prazeres do corpo ao mundo do
pecado. A conseqncia foi que este novo despertamento trouxe consigo o ensino
do perfeccionismo, o qual j estava presente nas doutrinas metodistas. Mendona
assim explica o perfeccionismo: todo crente santificado na medida em que, tendo
aceito a Cristo e dado a Ele integralmente seu corao, renuncia totalmente ao
pecado.242
Talvez o melhor exemplo da influncia do dualismo no tipo de teologia que
238
NIEBUHR, 1992, p. 100-101.
Cf. MENDONA, 1995, p. 56.
240
Cf. MENDONA, 1995, p. 57.
241
MENDONA, 1995, p. 57.
242
MENDONA, 1995, p. 58.
239
87
se cultivou na formao do pensamento protestante norte-americano tenha sido
aquele que pode ser formulado como a Doutrina da Igreja Espiritual. Surgida entre
os presbiterianos mais conservadores esta doutrina configurou-se em funo do
desconforto causado pela questo da escravido na sociedade americana. Como
poderia a nao que se propunha ser a Nova Cana, o povo cristo por excelncia,
exemplo para os demais povos manter sob o jugo da escravido os negros
africanos? A Doutrina da Igreja Espiritual resolvia o problema propondo que a
dimenso civil pertence a Csar e a dimenso espiritual pertence Igreja. Sendo
a escravido de cunho civil, a Igreja no deveria ser intrometer nesta questo243.
Mendona cita uma frase do pastor sulista presbiteriano James Thornwell, o qual
afirmou que as Escrituras no apenas deixam de condenar a escravido, mas
claramente a sancionam como qualquer outra condio social do homem.244 Eis um
flagrante impulso platonista na teologia dos avivamentos com sua tendncia em
separar o espiritual do temporal e assim justificar verdadeiras atrocidades 245. Neste
ponto, a histria da colonizao catlica na Amrica Latina e a colonizao
protestante na Amrica do Norte so bastante parecidas.
Encontramos tambm esta dicotomia entre o espiritual e o temporal nos
diversos movimentos milenaristas que borbulhavam na Amrica do Norte no sculo
XIX. O surgimento em 1831 dos Adventistas liderados pelo ex-batista William Miller
talvez seja o exemplo mais conhecido. Miller, baseado em estudos feitos no livro de
Daniel afirmou que a segunda vinda de Cristo se daria em 1843-44 e o Reino
milenar seria inaugurado com o estabelecimento de uma sociedade teocrtica, na
qual no haveria nem pecado nem sofrimento. Um desenvolvimento posterior dos
Adventistas foi aquele criado por Charles Russel em 1870, as Testemunhas de
Jeov. Outro movimento milenarista bastante conhecido so os Mrmons a Igreja
dos Santos dos ltimos Dias fundada em 1830 por Joseph Smith. Esses so apenas
243
Cf. MENDONA, 1995, p. 58-59.
MENDONA, 1995, p. 59.
245
bem verdade que no norte muitos evanglicos avivalistas eram abolicionistas com a organizao inclusive
de uma Sociedade Americana contra a Escravido em 1833. Dentre estes avivalistas abolicionistas destacam-se
Charles Finney e Teodoro Dwight Weld. Tambm digno de nota a formao da Igreja Metodista Wesleyana da
Amrica em 1843 composta exclusivamente de membros no escravocratas. A maioria das grandes
denominaes se dividiu em funo da controvrsia em torno da questo da escravido. Em geral, os cristos
do norte eram abolicionistas e os do sul escravocratas. Essas divergncias, dentre vrias outras causas,
acabaram culminando na Guerra Civil Americana em 1861. Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 273, 277.
244
88
os mais conhecidos dentre, literalmente, dezenas de outros grupos246. Todos esses
movimentos demonstravam forte influncia dualista em sua teologia e moral247.
Essencial tambm para se entender o pensamento protestante norteamericano a compreenso daquilo que se chamou de Destino Manifesto. Essa
ideologia, j presente na mentalidade dos Pais Peregrinos do Mayflower, afirmava
serem os colonos puritanos da Nova Inglaterra o novo povo escolhido de Deus.
Esses novos israelitas construiriam nessas terras a Amrica crist, nao esta que
seria instrumento de salvao para o restante do mundo perdido. Eles eram os
eleitos.
Para muitos lderes e pensadores eclesisticos, a vinda do Reino se daria
aps a implantao da civilizao crist; por isso, a cristianizao da
sociedade seria uma preparao para a vinda do Reino de Deus. Sendo a
vinda do Reino no algo particular para os americanos, mas um evento
csmico, [era necessrio se conquistar o mundo para a f crist conforme a
concebia o protestantismo americano].248
Antnio Gouva Mendona ainda cita uma prola da ideologia do Destino
Manifesto produzida por um pastor metodista bastante em sintonia com o ideal de
um povo escolhido por Deus:
Deus est usando os anglo-saxes para conquistar o mundo para Cristo a
fim de despojar as raas fracas e assimilar e moldar outras. O destino
religioso do mundo est nas mos dos povos de fala inglesa. raa anglosax, Deus parece ter entregue a empresa de salvao do mundo.
Portanto, uma cultura genuinamente crist precisava ser forjada. O ideal
puritano-pietista de santidade se imps com vigor. Comportamentos incompatveis
com a moral puritana no seriam tolerados. Campanhas de combate ao fumo,
bebida alcolica, aos jogos de azar, pela guarda do domingo foram organizadas.
Religio e civilizao se confundiam nesse programa. A partir dessa mentalidade, a
pregao do evangelho pelos missionrios e a pregao do American Way of Life se
embaralhavam numa nica coisa. Ser cristo era viver o estilo de vida do protestante
246
Cf. MENDONA, 1995, p. 60.
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 279.
248
MENDONA, 1995, p. 60.
247
89
americano249. O canal privilegiado para a difuso dos ideais do Destino Manifesto
era a religio. Ou seja, a expanso da influncia norte-americana no mundo e a
propagao da f crist protestante eram os dois lados de uma mesma moeda250. A
resposta dos ouvintes a tais pregaes gerou um tipo de Cristianismo com tica
fortemente individualista, asctica e negadora do mundo. A insistente nfase na vida
celeste em detrimento da vida neste mundo era influncia da teologia platonizada.
Foi nesse contexto que se formaram os grandes empreendimentos missionrios
norte-americanos cujo vigor inigualvel na histria das misses crists de qualquer
poca. Em sua bagagem, os missionrios e missionrias levariam a religio e a
poltica americanas at os confins da terra251, incluindo o Brasil.
Finalmente, queremos fazer breve referncia Teologia Liberal surgida no
incio do sculo XIX e reao ortodoxa que se seguiu. Diversos fatores como a
Renascena Italiana, o Humanismo, a Reforma Protestante, a Revoluo Cientfica
do sculo XVII, o Iluminismo e a Revoluo Francesa, dentre outras causas,
configuraram o que chamamos de Modernidade. Esta se caracterizou pela
secularizao da conscincia em substituio aos dogmas, pela razo em
substituio s crenas crists, pelo antropocentrismo em substituio ao
teocentrismo e pelo saber tcnico-prtico em substituio ao saber teolgico,
metafsico e contemplativo. Sem perguntarmos por todos os nomes, fatos histricos,
enunciados e princpios engendrados nessa trama, importante entendermos que a
Modernidade representou em termos prticos o surgimento de um Estado neutro em
questes religiosas e da evoluo cientfica sem precedentes na histria da
humanidade. A este respeito, Richard Tarnas se expressa da seguinte maneira:
Entre os sculos XV e XVI, o Ocidente presenciou a emergncia de um ser
humano autnomo e dotado de uma conscincia de si mesmo curioso em
relao ao mundo, confiante em sua capacidade de discernimento, ctico
quanto s ortodoxias, rebelde contra a autoridade, responsvel por suas
crenas e aes, apaixonado pelo passado clssico e ainda mais
empenhado num futuro maior, orgulhoso de sua humanidade, consciente de
sua distino, ciente de sua fora artstica e individualidade criativa, seguro
de sua capacidade intelectual para compreender e controlar a Natureza e
249
Da a formulao do acrnimo W.A.S.P. White Anglo-Saxon Protestant (branco, anglo-saxo e
protestante).
250
Cf. MENDONA, 1995, p. 63.
251
Isto tambm lembra, em parte, a colonizao catlica na Amrica Latina. Os missionrios jesutas estavam
servio de Sua Santidade e de Sua Majestade ao mesmo tempo, assim como os missionrios protestantes
estavam servio do protestantismo e do american way of life simultaneamente.
90
bem menos dependente de um Deus onipresente.252
Interessam-nos,
sobretudo,
as
conseqncias
dessa
nova
era
da
humanidade sobre o labor teolgico uma vez que, a razo passou a ser o critrio
atravs do qual determinado enunciado seria aceitvel ou no. A ltima palavra
estava com a razo e no mais com a Igreja institucional. Essa nova forma de
elaborao do saber provocou o surgimento de uma nova teologia: a teologia natural
ou Desmo. O ideal dos destas era a criao de uma religio que pudesse ser aceita
em termos universais posto que baseada na razo e no na revelao ou em
supersties. Embora afirmando a crena em um Deus criador e bondoso, os
destas rejeitavam os milagres. Para eles, a crena em milagres tirava a dignidade
de Deus que teria criado todas as coisas de forma perfeita sem a necessidade de
intervenes sobrenaturais. Assim, acabaram colocando em xeque a base sobre a
qual se sustentava a f protestante: a Bblia. Para eles a Bblia era passvel de erros
e, por conseguinte, poderia ser questionada. Tambm afirmavam que outras
religies so to vlidas para a humanidade quanto o Cristianismo. O objetivo final
das religies era gerar comportamentos ticos em benefcio de toda a sociedade;
este seria o crivo pelo qual a relevncia de uma religio seria avaliada253.
Os destas so os precursores dos telogos liberais. Roger Olson afirma que
a Teologia Liberal propunha a necessidade de reconstruir o pensamento tradicional
cristo luz da cultura, filosofia e cincia modernas e, segundo, a necessidade de
descobrir
verdadeira
essncia
do
Cristianismo,
destitudo
dos
dogmas
tradicionais, isto porque esses dogmas no eram mais relevantes, nem passveis
de serem cridos luz do pensamento moderno.254 Em outras palavras, os liberais
desejavam manter um canal de dilogo permanentemente aberto com o mundo
moderno. Imediatamente, isto ocasionou a reao do conservadorismo ortodoxo
protestante. Nos Estados Unidos daquele tempo, a ortodoxia era representada
principalmente
pelos
telogos
da
Faculdade
de
Teologia
de
Princeton.
Curiosamente, ao se levantarem contra o domnio da razo propugnada pelos
liberais, os ortodoxos utilizaram do mesmo instrumental terico e racional para
252
TARNAS, Richard. A Epopia do Pensamento Ocidental: para compreender as idias que moldaram nossa
viso de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. p. 305.
253
Cf. OLSON, 2001, p. 531-546.
254
OLSON, 2001, p. 547.
91
defenderem suas posies. Charles Hodge, professor de Princeton e o principal
representante daquele perodo afirmou em sua Teologia Sistemtica: A Bblia
para o telogo o que a natureza para o cientista. seu armazm de fatos e o
mtodo de verificar o que a Bblia ensina o mesmo que o filsofo natural adota
para verificar o que a natureza ensina.255 Na luta contra o liberalismo, um novo
surto de escolasticismo teolgico surgiu. Assim como o cientista natural buscava a
superao da subjetividade no estudo de determinado fenmeno, o telogo ortodoxo
buscava o estudo objetivo da Bblia, com formulaes racionalmente coerentes e
verificveis. Esse era o mtodo que eles utilizavam para a formulao de suas
teologias sistemticas. Alm disso, os telogos de Princeton acreditavam que
Calvino havia redescoberto a verdadeira doutrina. Por essa razo inovaes ou
desenvolvimentos teolgicos eram prescindveis. Ao telogo restava apenas
garantir e defender a verdade transmitida de uma vez por todas na ortodoxia
protestante e evitar a inovao ou experimentao teolgica.256 Esse dogmatismo ia
em sentido radicalmente contrrio ao do esprito da Reforma aberto ao livre exame e
s novas descobertas em teologia. Nesse caso, os telogos ortodoxos estavam mais
consoantes com o catolicismo medieval do que com a mentalidade e a experincia
pessoal de Lutero.
De volta ao ambiente liberal, vale aqui destacar a figura de Walter
Rauschenbusch lder do movimento chamado evangelho social. Rauschenbusch
era pastor batista em Nova Iorque e l foi impactado pelas deplorveis condies
econmicas e sociais vividas pela comunidade que pastoreava. O local era chamado
pelos prprios moradores de cozinha do diabo257. Sua teologia e prtica pastoral
nasceram, assim, da reflexo teolgica a partir das condies de sofrimento do
povo. Rauschenbusch baseava suas convices na Bblia, sobretudo, na leitura dos
profetas do Antigo Testamento e no anncio do Reino de Deus feito por Jesus e
registrado nos evangelhos. Para ele santidade tinha a ver com as aes em favor da
justia social.
A mstica parece o caminho mais rpido para a comunho com Deus. Sem
255
HODGE, apud OLSON, 2001, p. 573.
OLSON, 2001, p. 574.
257
Cf. HENDERS, Helmut. a Tarefa da Igreja Motivar a Sociedade para a Ao: Do contnuo significado de
Walter Rauschenbusch. In: Simpsio 48. So Paulo: ASTE, 2008. p. 101.
256
92
dvida nasceram dela sobre condies favorveis, um esprito de servio,
humildade e coragem. O seu perigo que ela pode isolar. [...] s que Deus
[...] nos criou como seres comunitrios e a forma mais alta de perfeio no
nasce do isolamento, mas do amor [...] o misticismo no representa a forma
mais madura da santificao [...] mas o aspecto eternamente jovem, infantil
e na sua essncia imatura da vida religiosa. [...] Eu acredito na orao e na
meditao na presena de Deus. Quando a alma fica perceptiva por Deus
perdem-se o medo, a vontade de acumular riquezas e quaisquer ambies
egostas [...]. Quando o homem tem que enfrentar trabalho duro ele
necessita receber dessa fonte silenciosa. Mas o que ele recebeu dessa
fonte deve ser investido. A santificao pessoal deve servir o Reino de
Deus.258
Com tal conceito de espiritualidade integral, no havia espao no
pensamento de W. Rauschenbusch para o dualismo platnico. Ele afirmava que
Jesus, em seu ministrio e pregao do Reino de Deus, superou as tentaes de
uma santidade baseada em misticismo, ascetismo e transcendentalismo259.
O telogo do Evangelho Social convenceu-se que os graves problemas
sociais no seriam resolvidos simplesmente pela converso de indivduos um aps o
outro. Era necessria uma mudana na prpria estrutura da sociedade260. A
pregao do evangelho no deveria visar to-somente a converso individual e a
moralidade individualista, mas, seu foco deveria ser a proclamao e implantao do
Reino de Deus, um Reino de justia para todos261. Em resposta, fundou um
movimento denominado [...] Fraternidade do Reino. [...] Posicionava-se contra o
capitalismo tipo laissez-faire, preconizando uma democracia no somente poltica,
mas tambm econmica; [...] participao dos trabalhadores no lucro da empresas;
fortalecimento
dos
sindicatos
etc.262
Muitos
avanos
foram
feitos
como
conseqncia das influncias do Evangelho Social sendo incorporado ao trabalho
missionrio de muitos a preocupao com melhorias nas reas agrcolas, mdicas e
educacionais do povo263. Semelhantemente Teologia da Libertao na Amrica
Latina, esta Teologia do Evangelho Social demonstrou profunda preocupao com a
questo dos marginalizados e o papel dos cristos na implantao do Reino de
Deus. Rubem Alves se referiu ao movimento de Walter Rauschenbusch como o
258
RAUSCHENBUSCH, apud HENDERS, 2008, p. 106.
HENDERS, 2008, p. 107.
260
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 389.
261
Cf. GONZALEZ, 2004, p. 390.
262
KLEIN, Carlos Jeremias. A Teologia Liberal e a Modernidade. In: Etienne Alfred Higuet (org.). Teologia e
Modernidade. So Paulo: Fonte Editorial, 2005. p. 53-54.
263
Cf. WALKER, vol. 2, 2006, p. 282.
259
93
verdadeiro precursor da Teologia da Libertao264. Encontramos no evangelho
social proposto por Rauschenbusch uma proposta de superao da diviso
dualstica entre o espiritual e o temporal.
A tenso entre liberais e ortodoxos nos parece uma nova verso da situao
vivenciada pelos telogos de fins do segundo sculo e primeira metade do sculo
terceiro. Assim como Tertuliano foi arredio ao seu mundo cultural, mas, sem o
perceber, foi por ele influenciado em sua teologia que acabou platonizada, assim
tambm os telogos ortodoxos do sculo XIX (e de hoje) reagiram negativamente ao
mundo moderno, porm utilizaram-se de seu ferramental terico para construrem
sua teologia, como podemos ver, por exemplo, na teologia racionalista de Pricenton.
Da mesma forma, temos em Clemente de Alexandria um bom exemplo de telogo
liberal do terceiro sculo desejoso de manter dilogo com o mundo helnico de
ento e com este estabelecer pontes de interlocuo. Como vimos, seu desafio foi
no sucumbir ao pensamento helnico platnico e, assim, perder a marca identitria
caracterstica da mensagem crist. O que, de fato, ele no conseguiu evitar. Este
tambm parece ter sido o dilema do telogo liberal moderno. Seu desejo pelo
dilogo com a Modernidade levou-o a, em certo sentido, se curvar s exigncias
positivas pelo empirismo e pela racionalidade como se somente um saber construdo
a partir desses pressupostos tivesse validade para a construo da sociedade.
3.4 Fundamentalistas e pentecostais radicalizaes e rompimentos
A mais virulenta reao Teologia Liberal foi o movimento conhecido como
Fundamentalismo. Herdeiro direto da ortodoxia protestante, diferia desta na
incorporao de novos elementos teolgicos, na exacerbao de seu dogmatismo e
no
obscurantismo
intelectual.
fundamentalismo
apresentou-se
como
Cristianismo verdadeiro, incondicionalmente fiel s Escrituras as quais interpretava
de forma literalista sem admitir quaisquer mtodos de investigao exteriores a ela.
Parece que o marco inaugural do Fundamentalismo foram duas importantes
264
ALVES, apud HENDERS, 2008, p. 100.
94
publicaes do incio do sculo XX: a Bblia de Scofield (1909) e uma srie de
livretos conhecidos como Os Fundamentos (1909-1915). A Bblia de Scofield
popularizou a teoria pr-milenista dispensacionalista de John N. Darby, tambm
conhecida como darbysmo. O dispensacionalismo sustenta a existncia de sete
dispensaes, ou formas diferentes de Deus se relacionar com a histria humana.
Esta teoria estava em profunda sintonia com os apocalipsismos que percorreram
todo o sculo XIX. A crena no retorno imediato de Cristo teve nesses
apocalipsismos duas interpretaes o Ps-Milenismo e o Pr-milenismo265. O Psmilenismo teve o mrito de produzir uma mentalidade de ao social na Igreja
visando a implantao do Reino na terra. O movimento do Evangelho Social foi uma
dessas
expresses.
Quanto
ao
pr-milenismo,
uma
de
suas
nefastas
conseqncias, foi o distanciamento ainda maior entre a Igreja e o mundo. O prmilenismo incompatibilizou a Igreja com qualquer atividade de melhoria social.266
Sua tarefa deveria ser somente a de salvar almas.
A publicao de Os Fundamentos visava marcar posio clara contra a
teologia liberal. Financiado por cristos fundamentalistas ligados ao setor do
petrleo, milhares de cpias foram enviadas gratuitamente para os principais
seminrios teolgicos, pastores, lderes denominacionais e professores de teologia.
Os fundamentalistas de primeira hora sustentavam cinco pontos inegociveis em
matria de crena crist: a inerrncia das Escrituras, o nascimento virginal, a morte
vicria, a ressurreio fsica de Jesus e a volta de Cristo267. Associaes de
fundamentalistas
foram
organizadas268.
Associao
Crist
Mundial
dos
Fundamentos fundada em 1919 pelo ministro W.B. Riley acrescentou lista de
fundamentos o pr-milenismo dispensacionalista e o antievolucionismo. Esses
acrscimos e o acirramento de posies acabaram provocando um racha dentro do
prprio movimento269. digno de nota que nem Hodge nem Warfield, os antigos
professores da teologia ortodoxa de Princeton, viam no Evolucionismo uma ameaa
265
O ps-milenismo afirma que a volta de Jesus se dar aps o milnio, o qual ser implantado pela ao da
Igreja na histria e o pr-milenismo afirma que a vinda de Jesus inaugurar o milnio.
266
MENDONA, 1995, p. 68.
267
bem verdade que esta lista no encontrava unanimidade nem no ambiente conservador, sofrendo
variaes que podiam incluir a Trindade e a queda da humanidade no pecado, dentre outros pontos. Mas, a
questo central para todos era a inerrncia das Escrituras.
268
Como por exemplo, a Associao Crist Mundial dos Fundamentos (1919) liderada por W.B. Riley e a
Associao dos Fundamentos (1920) de Curtis Lee Lewis. Cf. OLSON, 2001, p. 576-577.
269
Cf. OLSON, 2001, p. 576-579.
95
f crist. Eles estariam mais prximos do que hoje chamamos de evolucionismo
testa; idia segundo a qual Deus usou o processo evolutivo na criao do mundo.
Na dcada de 1920 J. Gresham Machen, o principal porta-voz do movimento
fundamentalista, acabou se afastando deste exatamente porque sua posio quanto
ao evolucionismo se aproximava mais de Hodge e Warfield e, alm disso, ele era
terminantemente contrrio ao pr-milenarismo. Neste ponto, o historiador Roger
Olson afirma:
Muitos estudiosos [...] acreditam que, ao adotar o antievolucionismo como
bandeira e ao incluir opinies relativamente secundrias, como o prmilenarismo, sua agenda poltica e insistir na inerrncia absoluta e aliada
uma hermenutica literalista, o fundamentalismo condenou-se
obscuridade teolgica.270
A radicalizao fundamentalista foi to longe que nas dcadas de 1940 e
1950, liderados por Carl McIntire, os fundamentalistas chegaram a repudiar o
conservador evangelista Billy Graham por sua relao com protestantes no
fundamentalistas e com catlicos. Vrias posies foram assumidas pelo movimento
como a crena na semana da criao literalmente em sete dias aliada crena na
Terra jovem; o separatismo bblico considerando todos os no fundamentalistas
como hereges, apstatas ou simplesmente filhos do demnio; apoio incondicional ao
sionismo; anticomunismo com apoio na dcada de 1950 ao Macarthismo. Prcoro
Velasques Filho faz dura crtica ao fundamentalismo ao afirmar:
Autoritrio, dogmtico e sectrio, o fundamentalismo protestante que
exerceu e exerce significativa influncia no protestantismo brasileiro
apresenta-se como defensor e hermeneuta exclusivo da Bblia e herdeiro da
fidelidade ao esprito da Reforma protestante. As duas reivindicaes so
enganosas e constituem atitudes de desonestidade intelectual. O mximo
que o fundamentalismo pode exigir para si ser o resultado de uma reao
estril aos desenvolvimentos da teologia moderna, fundada numa corrente
filosfica de importncia secundria.271
Tambm o historiador Martin Dreher analisa o fundamentalismo:
O fundamentalista no pretende a modernizao da religio, mas a
270
OLSON, 2001, p. 579.
MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 111. A corrente filosfica que ele se refere a Filosofia do Senso
Comum de Thomas Reid.
271
96
fundamentao religiosa, explcita, da Modernidade. [...] No se busca, por
exemplo, uma modernizao do Isl, mas a reislamizao do mundo
islmico. No se busca uma concepo secular do Estado de Israel, mas
uma fundamentao teocrtica-religiosa. No se busca uma secularizao
do Cristianismo, mas a recristianizao do mundo ocidental. [...] Os adeptos
do movimento fundamentalista cristo esto convictos, desde o incio, de
que a poltica deveria ser crist: o mundo ocidental tem que voltar a ser
cristo. [...] Exigiam que o Estado defendesse, nas escolas pblicas, sua
concepo bblico-fundamentalista do ser humano.272
Para os fundamentalistas, a verdade religiosa pressuposto para a ao
poltica. Seu alvo a sociedade perfeita. Esta s se estabelece quando todos se
submetem verdade religiosa, assim como ditada pelo Esprito Santo e fixada nas
pginas inerrantes, incapazes de erro, do texto bblico. Conclumos que o
fundamentalismo, mais do que algumas radicalizaes da ortodoxia protestante, vai
contra o esprito da Reforma Protestante no que tem de intolerante, rgido e fechado.
No universo fundamentalista tudo j est decidido gerando estagnao intelectual e
esterilizao da criatividade humana. Parece que essa ambigidade est no cerne
do protestantismo: ao mesmo tempo que conduz idias libertrias e proclama o livre
exame, tende a enrijecer-se no dogmatismo.273 Ainda que se apresente como o
supra-sumo do Cristianismo, o fundamentalismo sustenta a dicotomia platnica entre
corpo e alma provocando um reducionismo na tarefa da Igreja. Esta passa a se
restringir tarefa espiritual de salvao das almas. A Igreja torna-se a-histrica sem
abertura para o social. Sua idia de santidade negativa, sinnimo de separao do
mundo. Sua discriminao daqueles que no pensam em termos fundamentalistas
anti-crist e nega a tica do Reino baseada no amor.
O sculo XX tambm viu o surgimento da mais extraordinria fora religiosa
dentro da histria do protestantismo: o movimento pentecostal. O pentecostalismo
pode ser alinhado numa longa tradio de reaes do Esprito na histria do
Cristianismo que remonta a Montano, no segundo sculo. Essas reaes do
Esprito aconteceram, geralmente, quando o processo de institucionalizao
eclesistica se enrijeceu em determinada poca da histria. Outras causas so o
dogmatismo, a clericalizao e tambm grandes calamidades nacionais fossem elas
naturais como a Peste Negra ou fabricadas, como guerras e depresses
econmicas e sociais. O pentecostalismo do sculo XX foi uma verdadeira revoluo
272
273
DREHER, Martin N. Fundamentalismo. So Leopoldo: Sinodal, 2006. p. 84-84.
MENDONA, 1995, p. 54.
97
do Esprito. Ora, esta mesma revoluo j estava presente na experincia pessoal
de Lutero. Ele tambm se rebelou contra o objetivismo da Igreja Catlica
privilegiando a experincia do Esprito Santo que fala atravs da Bblia. Segundo
Tillich, seu rompimento no se deu, em primeiro lugar, em funo de crticas
dogmticas. Muitas das formulaes dogmticas de Lutero j estavam prontas antes
dele, por exemplo, na poca dos pr-reformadores. Seu rompimento se deu, antes
de tudo, em funo de sua experincia pessoal de ter sido perdoado por Deus.
Havia nesta experincia algo mstico. Alis, o elemento mstico desempenhou
importante papel na trajetria de Lutero. Lembremos tambm que os anabatistas j
se referiam ao seu batismo como batismo no Esprito, alguns eram apocalipsistas,
j criticavam o sacerdotalismo, outros eram contrrios ao estudo teolgico,
propunham uma santidade moralista, eram ascticos, advogando uma separao
total do mundo. Da, passando pelo Pietismo alemo, pelo Metodismo wesleyano e
os diversos movimentos avivalistas norte-americanos, temos uma linha que nos leva
at o pentecostalismo.274
Mas, o antecedente mais imediato do movimento foi o Segundo Grande
Avivamento ocorrido no sculo XIX nos Estados Unidos. Acerca deste perodo de
preparao para a exploso pentecostal, Leonildo Silveira Campos afirma que as
guas que iriam desaguar no rio pentecostal j se avolumavam, e aqui ou ali
apareciam episdios em que lnguas estranhas eram apresentadas como
manifestaes dos dons da cristandade primitiva,275 e ele continua esclarecendo
que nos Estados Unidos, aps 150 anos de avivamentos, acumularam-se no campo
religioso camadas sedimentadas de teologia, ensinos e traos, que iriam moldar o
pentecostalismo no sculo 20.276
O pentecostalismo iniciou acusando setores do protestantismo da poca de
depender em excesso da razo e da filosofia. Os pentecostais vangloriavam-se de
depender to-somente do Esprito Santo. No hesitavam em vincular seu movimento
com o prprio Jesus e com a Igreja Primitiva277. Todas as denominaes
protestantes histricas eram herdeiras das deformaes do catolicismo medieval. O
274
Cf. TILLICH, 1999, p. 48-49.
CAMPOS, Leonildo S. Razes Histricas, Sociais e Teolgicas do Movimento Pentecostal. In: Simpsio 48. So
Paulo: ASTE, 2008. p. 44.
276
CAMPOS, 2008, p. 47.
277
Cf. CAMPOS, 2008, p. 48.
275
98
pentecostalismo no. Era um salto de volta essncia do Cristianismo, o verdadeiro
Cristianismo vivido pelos primeiros cristos. No entanto, sem perceberem eles
tambm estavam desenvolvendo uma teologia e, como disse Paul Tillich pode-se
demonstrar facilmente de que patriarcas hereges, isto , de que filsofos, tomam
sua categoria.278 Quase invariavelmente esse filsofo foi Plato, ou melhor dizendo,
os neo-platnicos com seu dualismo esprito-matria e o caracterstico desprezo
pelo corpo e seus desejos, a separao entre razo e revelao e assim por diante.
Em face do exposto, podemos afirmar que o pentecostalismo no inaugurou
algo novo na histria crist, mas, deu continuidade a uma tendncia do sculo
precursor (para no falar dos vrios sculos anteriores) com algumas amarraes
teolgicas novas. O que j havia em profuso no cenrio religioso norte-americano
eram os movimentos holiness que enfatizavam a busca pela santidade e pela
perfeio crist, encontros de reavivamento espiritual em acampamentos com
muitas manifestaes emocionais, nfase no batismo com o Esprito Santo como
condio para a santidade. Acrescentando a esses ingredientes a teologia
fundamentalista, o pr-milenarismo e, marco dos marcos, o falar em lnguas como
comprovao do batismo com o Esprito Santo, surgiu, com grande mpeto
missionrio a era pentecostal.
Dois acontecimentos podem ser tomados como o marco zero da era
pentecostal: um ocorrido em 1901 na cidade de Topeka (Texas) e outro em 1906 na
cidade de Los Angeles (Califrnia). Charles Parham foi o primeiro pregador a
vincular experincias extticas e glossolalia (falar em lnguas estranhas), o que ele
chamou de batismo com o Esprito Santo279. Na virada do ano de 1900 para 1901,
Parham promoveu uma viglia de orao com seus alunos do Seminrio Bblico
Betel na cidade de Topeka. Uma de suas alunas entrou em transe e passou a falar
em lnguas estranhas. Depois dela um a um dos presentes e, finalmente, o professor
Parham foram batizados com o Esprito Santo. Acusaes de homossexualismo que
acabaram levando-o priso, notrias inclinaes racistas e simpatias com a Ku
Klux Klan acabaram por diminuir a influncia de Charles Parham sobre o movimento
Pentecostal280.
278
TILLICH, 2000, p. 274.
Cf. CAMPOS, 2008, p. 52.
280
Cf. CAMPOS, 2008, p. 53.
279
99
A figura mais emblemtica da origem do pentecostalismo , sem dvida, a
do pastor negro William Joseph Seymour. Seymour chegou a estudar por um tempo
no Seminrio de Parham onde se convenceu da doutrina do batismo com o Esprito
Santo. Mas, pelo tratamento racista recebido deste, interrompeu os estudos e se
dirigiu para a cidade de Los Angeles. L, inaugurou em 1906 num velho galpo
abandonado da Rua Azusa a Misso da F Apostlica. Em 14 de abril daquele ano
comearam as primeiras manifestaes de batismo com o Esprito Santo seguido do
falar em lnguas281. A repercusso foi imediata. As manifestaes extticas seguidas
de gritos, convulses, curas, milagres, profecias e glossolalias atraram grande
nmero de pessoas. A era pentecostal estava inaugurada. A Misso da Rua Azusa
sob a liderana carismtica de Seymour teve a capacidade de aglutinar e entender
os anseios das massas pobres da periferia de Los Angeles e se tornou o principal
centro irradiador do pentecostalismo. Importante tambm foi o movimento
pentecostal inaugurado pelo ex-pastor batista William Durham em Chicago. De
Chicago, sob influncias diretas de Durham vieram os primeiros missionrios
pentecostais para o Brasil, o italiano Luigi Francescon, e os suecos Gunnar Vingren
e Daniel Berg.
Em 1914 cerca de 300 ministros pentecostais se reuniram para fundar o
Conclio Geral das Assemblias de Deus. Seu primeiro lder, o ex-pastor batista, E.
N. Bell, deixava clara a posio pentecostal em relao ortodoxia bblica e ao
mundo moderno: Essas Assemblias opem-se a toda Alta Crtica radical da Bblia,
a todo o modernismo, a toda a incredulidade na igreja e filiao a ela de pessoas
no-salvas, cheias de pecado e de mundanismo, e conclua ele e acreditam em
todas
as
verdades
bblicas
genunas
sustentadas
por
todas
as
igrejas
verdadeiramente evanglicas282.
Vemos nessa primeira declarao do primeiro presidente da Conveno
Geral das Assemblias de Deus a opo pelo predomnio da religio sobre a razo.
A santificao significa separao radical do mundo. Se o protestantismo no
superou totalmente a antropologia dualista, o fundamentalismo e o pentecostalismo
exacerbaram o ascetismo evanglico. Para o pentecostalismo clssico e tambm
281
Cf. CAMPOS, 2008, p. 55.
Cf. DANIEL, Silas. Histria da Conveno Geral das Assemblias de Deus no Brasil. Rio de Janeiro: CPAD,
2004. p. 10.
282
100
para o fundamentalismo, o ideal cristo passava pelo misticismo, pelo ascetismo e
pelo transcendentalismo. Segundo o pensamento de W. Rauschenbusch, como
vimos, foi exatamente isso que Jesus superou em sua pregao do Reino de Deus.
A mstica de Jesus no era uma fuga da realidade, mas estava a servio da justia;
contra o ascetismo dos fariseus, Jesus proclamava estar mais perto de Deus tanto
mais perto estivesse do povo; em sua kenosis283 Ele nos apontou um caminho
diferente do transcendentalismo, o caminho da encarnao. curioso que o mesmo
Esprito Santo que une todos os movimentos pentecostais, paradoxalmente, tambm
a causa de suas profundas divises desde o incio. A propalada liberdade do
Esprito deu lugar para a criao de milhares de movimentos, comunidades e
ministrios, todos requisitando para si a plenitude do Esprito, o chamado proftico e,
contraditoriamente a essa liberdade do Esprito, se constituram em denominaes
fortemente hierrquicas e com aguda centralizao de poder, dando origem inclusive
a um fenmeno novo na histria protestante: o surgimento de igrejas familiares.
Tudo o que se escreveu at aqui neste captulo teve por objetivo
respondermos a uma pergunta: que tipo de evangelho os missionrios protestantes
trouxeram para o Brasil? Ou, colocando de outra forma, quem foi o missionrio
protestante que chegou ao Brasil em meados do sculo XIX? Em resumo, creio que
poderamos afirmar que o missionrio de primeira hora era um evanglico
conservador, portanto, com perfil puritano-pietista, conversionista na linha metodista,
com
traos tanto
ortodoxos
quanto
avivalistas
refletindo
spectrum do
protestantismo norte-americano forjado entre os sculos XVIII e XIX, com uma viso
de santidade perfeccionista e imbudo de uma convico de ter sido escolhido por
Deus para pregar o verdadeiro Cristianismo ao estilo americano. Acrescente-se a
isso que, o missionrio de segunda hora, chegando por aqui na primeira metade do
sculo XX, somou a este caldeiro a rigidez e intolerncia fundamentalista e as
doutrinas bsicas do pentecostalismo com sua moral asctica extrema. No
devemos desconsiderar o trajeto geogrfico feito pelo protestantismo missionrio at
chegar ao Brasil. Partindo do continente europeu, ele primeiro foi remodelado na
Inglaterra, recebeu influncias pietistas, reconfigurado em quase 250 anos de
283
Palavra grega que significa esvaziamento e tem por base escriturstica a passagem da carta do apstolo
Paulo aos Filipenses 2:5-11, sobretudo, o versculo 7.
101
histria nos Estados Unidos e ento veio para o Brasil284. Esta a histria na qual
nos concentraremos agora.
3.5 A Insero do Protestantismo no Brasil
3.5.1 Protestantismo de imigrao e de misso no Brasil285
A conquista da hegemonia martima pela Inglaterra e a vinda da famlia real
portuguesa para o Brasil em 1808 deram incio a uma radical mudana no cenrio
religioso brasileiro. Em 1810 o Tratado de Aliana e Amizade, de Comrcio e
Navegao firmado com a Inglaterra abriu o Brasil entrada do Protestantismo. O
artigo 9 do Tratado de Aliana dispunha, em nome de Sua Alteza Real que a
Inquisio no seria, para o futuro, estabelecida nos domnios americanos de
Portugal e os artigos 12 e 13 do Tratado de Comrcio e Navegao declaravam que
os vassalos de Sua Majestade Britnica teriam perfeita liberdade de conscincia e
licena para assistirem e celebrarem culto dentro de suas casas ou de suas igrejas
ou capelas sob as condies de que estas tivessem a aparncia exterior de
habitao comum, estendendo aos demais estrangeiros a garantia de no serem
perseguidos por matria de conscincia, sendo-lhes proibido pregar publicamente
contra a religio catlica ou fazer proslitos286. Ato contnuo, a Constituio de 1824
assegurou a presena de no-catlicos na vida nacional, mas limitou sua liberdade
de culto assim como a participao na vida poltica, atendendo em parte o partido
contrrio liberdade religiosa. Estabelecia o artigo 5 da Constituio: A religio
Catlica Apostlica Romana continuar a ser a religio do Imprio. Todas as outras
284
MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 16-17.
Os termos aqui utilizados no so uma unanimidade. Alguns autores preferem protestantismo tnico ao
invs de protestantismo de imigrao, como o caso de Miguez Bonino. Alm disso, eles no traduzem
plenamente a realidade desses grupos. Por exemplo, pastores batistas foram enviados ao Brasil para atender
comunidades batistas de americanos que se instalaram na regio de Santa Brbara DOeste o que constituiria
um protestantismo de imigrao e no de misso. Optamos pelos termos pela sua larga utilizao e fcil
identificao por parte do leitor.
286
Cf. MENDONA, 1995, p. 26-27.
285
102
religies sero permitidas com seu culto domstico ou particular, em casas para isso
destinadas, sem forma exterior de templo.
A par disso, Jos Bittencourt Filho lembra que havia no sculo XIX uma
conjuntura favorvel implantao do Protestantismo no Brasil uma vez que, nos
setores pensantes da sociedade era crescente a mentalidade que identificava o
atraso polco-econmico-cultural com o Catolicismo e a modernidade e prosperidade
econmica e social com o Protestantismo287. Assim ele afirma:
Por essa razo alguns estudiosos sublinham a aliana ideolgica [...] entre o
liberalismo radical, a Maonaria e o Protestantismo. Os segmentos sociais
interessados em mudanas sociais substantivas, viam na implantao do
Protestantismo, a oportunidade de sacudir o jugo do poderio religioso
catlico, no qual as classes dominantes e dirigentes estribavam-se
poca.288
Esse apoio dado pela Maonaria no incio da implantao do protestantismo
no Brasil deveu-se ao fato dessa Ordem apresentar-se como porta-voz da
modernidade, do liberalismo e das idias iluministas.289 Esta posio colocou-a em
franca oposio Igreja Catlica. Alis, a Maonaria esteve no centro do conflito
entre o Imprio e a Igreja na dcada de 1870 conhecido como A Questo
Religiosa290. Dessa forma, o Tratado de Comrcio seguido da Constituio de 1824,
garantindo a liberdade de culto; os anseios liberais de polticos, intelectuais e boa
parte do clero, com uma crescente admirao pelo mundo anglo-saxo; a fora da
Maonaria, com sua simpatia pelo esprito protestante; e a Questo Religiosa, com a
conseqente diminuio da influncia da Igreja Catlica, contriburam para a
insero do Protestantismo no Brasil. Da parte dos missionrios, obviamente esses
apoios todos eram bem vindos. Apresentar-se como instrumento desse projeto
287
Cf. BITTENCOURT FILHO, Jos. Matriz Religiosa Brasileira. Religiosidade e mudana social. Petrpolis: Vozes,
2003. p. 102-103.
288
BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 103.
289
BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 103.
290
A Questo Religiosa foi a culminncia de um processo de tenso entre o Estado Imperial brasileiro,
notoriamente liberal, e a Igreja Catlica, antiliberal e antimodernizante. Baseados na Bula Quanta Cura do Papa
Pio IX que condenava a Maonaria, e na Syllabus, que condenava a Modernidade, dois Bispos brasileiros
conservadores, D. Vital, de Olinda, e D. Macedo Costa, do Par tomaram aes contra membros do clero
catlico que eram maons e contra a prpria Maonaria. Como essas duas Bulas no haviam recebido a
aprovao de D. Pedro II, o Imperador considerou a atitude dos Bispos como desobedincia civil e ordenou que
eles fossem presos. Cf. MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 71-72.
103
liberal-modernizador291 poderia render frutos com a laicizao do Estado e a quebra
do monoplio catlico no campo religioso. Dado curioso esse: os missionrios
evanglicos que vieram para o nosso Pas eram representantes do conservadorismo
protestante norte-americano. Conservadores do ponto de vista teolgico e moral,
com posies declaradas contra o racionalismo iluminista e a Teologia que da
nasceu. Aqui no Brasil, quem reagia aos ventos iluministas do mundo moderno era o
lado mais romanista da Igreja Catlica. Contudo, nesse ambiente, os missionrios
foram recebidos pelas elites brasileiras como fora modernizadora liberal.
Verdadeiramente, se no eram modernos do ponto de vista teolgico e moral, o
eram
do
ponto
de
vista
scio-poltico-econmico:
eram
democratas,
economicamente liberais, defendiam a autonomia humana, a liberdade de
conscincia, a liberdade religiosa e, alm disso, estavam na vanguarda dos novos
mtodos pedaggicos e no estudo das novas cincias. Mas, tudo isso untado na
ideologia do Destino Manifesto.
Enfim, a concluso de Antnio Gouva Mendona sobre os fatores citados
acima, consoante com Bittencourt Filho, que os mesmos geraram um contexto
extremamente favorvel insero do Protestantismo no Brasil.
Num dado momento, portanto, houve na histria brasileira um vcuo
religioso: de um lado, um Estado em busca de uma religio civil aberta para
a modernidade e, de outro, uma Igreja que, beira de perder suas
prerrogativas histricas, volta-se para si mesma no intento de reforar-se
institucionalmente, mas nos marcos do conservadorismo. No meio, um
espao aberto a quem quiser entrar. Foi nesse espao que o protestantismo
penetrou.292
A imigrao trouxe os primeiros protestantes. Em 1823, D. Pedro I enviou o
Major Schaeffer Europa para promover a vinda de imigrantes sem a exigncia de
serem catlicos romanos e contratou-se um pastor protestante para acompanh-los,
com sustento garantido pelo governo. Em 3 de maio de 1824, realizou-se o primeiro
culto da igreja evanglica luterana de Nova Friburgo pelo pastor Friedrich
Sauerbronn. Em 6 de novembro de 1824, foi celebrado o primeiro culto evanglico
em So Leopoldo, no Vale do Rio dos Sinos/RS293. A implantao dessas primeiras
291
BONINO, 2003, p. 9-29.
Cf. MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 72.
293
Cf. MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 27.
292
104
congregaes luteranas visava atender s necessidades espirituais dos imigrantes.
Trouxeram consigo costumes e culturas prprias bem como uma compreenso da f
tipicamente europia, alem, luterana. De modo geral, essas congregaes se
configuravam por uma mesma lngua, constituindo-se em igrejas nacionais, de
Estado, trabalhando a favor da identificao de um determinado povo ou grupo
tnico. Os fiis, atravs delas, mantinham um vnculo com a me ptria. Essa
necessidade psicolgica e existencial dos imigrantes gerou inicialmente uma
tendncia ao isolamento cultural e uma prtica pastoral e diaconal para dentro.
Entre os assim chamados protestantismo de imigrao e protestantismo de
misso, chegaram ao Brasil missionrios norte-americanos com o objetivo de fazer
uma anlise das condies espirituais do pas e a necessidade de envio de
missionrios para estas terras. Podemos citar entre esses missionrios pioneiros,
geralmente conhecidos como colportores (distribuidores de Bblia), os metodistas
americanos Justin Spaulding e Daniel Kidder e o presbiteriano James Fletcher. O
trabalho realizado por Kidder, produzindo um amplo relatrio onde descreveu
detalhes da vida religiosa e social do Brasil influenciou todas as aes posteriores
de envio de misses americanas ao Brasil.
A partir da dcada de 1850 chegaram os primeiros missionrios com o
objetivo de implantar igrejas entre o povo brasileiro: congregacionais, presbiterianos,
metodistas e batistas. O choque cultural no se limitou sociedade brasileira. Houve
tambm um estranhamento mtuo entre os protestantes de imigrao e os
protestantes evanglicos de misso.
Os esteretipos mtuos podem ser marcados com facilidade. Aos olhos das
igrejas de misso, as tnicas pareciam como catolizantes, igrejas de estado,
formalistas e mundanas. [...] A ordem litrgica, o uso de uma lngua
estrangeira e a renncia a fazer proselitismo eram incompreensveis e
escandalosos para a mentalidade missionria e evangelizadora dos
evanglicos. E o consumo de bebidas alcolicas ou tabaco, a dana e
outras atividades sociais de algumas dessas igrejas chocavam a tica
puritana da maioria das igrejas de misso. [...] As igrejas de imigrao, por
sua vez, traziam desde sua origem uma forte desconfiana para com as
igrejas livres, que em muitos casos se apresentavam, nos pases de
origem, como proselitistas em detrimento da igreja do povo (Volkskirche).
Sua piedade parecia desordenada, fantica ou entusiasta, prpria de
seitas [...]. E sua pregao inflamada e repetitiva lhes parecia superficial,
carente de slida base confessional ou doutrinria.294
294
BONINO, 2002, p. 79-80.
105
Miguez Bonino ao apontar para as diferenas teolgicas entre umas e outras
afirma que:
A tendncia se percebe, antes nas referncias a uma piedade mais
subjetiva nas primeiras [igrejas de misso] e mais ligada aos smbolos e s
formas objetivas nas segundas [igrejas de imigrao] [...]; a uma
interpretao mais livre, circunstancial e exortativa da Escritura frente a
outra mais exegtica e docente.295
Podemos ver os antigos antagonismos entre puritanos e anglicanos do
sculo XVI ainda vivos e presentes entre esses grupos no Brasil do sculo XIX.
O primeiro missionrio evanglico a implantar uma igreja no Brasil foi o
mdico e pastor congregacional escocs Dr. Robert R. Kalley. Ele chegou ao Brasil
em 1855 fugindo de perseguio religiosa na Ilha da Madeira, e fundou a Igreja
Evanglica Fluminense em 1858. O Dr. Kalley era um legtimo representante do
puritanismo escocs j mesclado de wesleyanismo-metodista. Sua mensagem
proclamava o conversionismo individual e a resposta voluntria da pessoa ao amor
de Deus; como esta aceitao no definitiva, mas sujeita recada, mediante
tentaes do mundo, da a necessidade de uma tica rigorosa que mantenha bem
ntida a linha divisria que separa o fiel do mundo. Traduziu para o portugus e
publicou em srie em um jornal O Peregrino de John Bunyan. Isto reflete bem sua
teologia, individualista, dualista e negadora do mundo 296.
Em 12 de agosto de 1859, chegou ao Rio de Janeiro o pastor americano
presbiteriano Ashbel G. Simonton. O Rev. Simonton formou-se no Seminrio de
Princeton. Sua teologia trazia a ambigidade da poca: a marca do conservadorismo
dos puritanos e a influncia religiosa dos avivamentos. Em seu Dirio, h vrios
registros que demonstram uma teologia fortemente platnica, dualstica:
Quando olho para dentro, a fim de avaliar o progresso que tenho feito a
caminho do cu, no cultivo das graas espirituais, na mortificao do
pecado e no desenvolvimento da aptido para o trabalho, tenho profundas
razes para dvidas e acabrunhamentos. O que me afeta mais que todos
os estrangeiros que vivem aqui, protestantes nominais, rejeitam o
evangelho e descrem dele. Deus existe e sua lei moral deve ser obedecida
como for possvel, mas a divindade de Cristo, o sacrifcio e a salvao
continuam a ser negados universalmente. No h esperanas para o Brasil,
com os estrangeiros que ora se misturam aos seus habitantes. Uma crena
295
296
BONINO, 2002, p. 89.
Cf. MENDONA, 1995, p. 177.
106
superficial, irrefletida, desarrazoada, os afeta a todos. O mundo apela para
o que sensual. Um outro jovem, que tem assistido aos cultos, parece
vido e persuadido da verdade e da importncia de uma religio espiritual
(grifo nosso).297
E Mendona conclui: Simonton est preocupado com um outro mundo,
distante das preocupaes humanas. O sensual para ele o oposto do mundo
platnico para qual a Igreja devia transportar-se.298 Sua viso de vida crist era
espiritualista. A vida aqui transitria. Devemos viver com os olhos voltados para o
mundo espiritual.
Depois de algumas tentativas frustradas, os metodistas implantaram
definitivamente seu trabalho no Brasil a partir da dcada de 1870 ou 1880299. Foi
intensa a cooperao entre eles e os presbiterianos no incio do trabalho300. A
teologia dos metodistas tambm enfatizava o milenarismo, o conversionismo
individualista, a moral asctica.
Em 1881 embarcou para o Brasil uma famlia de missionrios batistas, o Pr.
William Bagby e sua esposa, e em 1882 outra, o Pr. Zacarias Taylor e esposa. Neste
ano inauguraram a primeira Igreja Batista no Brasil em Salvador, Bahia301. Os
batistas destoaram em um ponto dos outros protestantes que aqui implantavam seus
trabalhos pela sua postura algo arredia. Isto aconteceu em decorrncia de uma
determinada teologia adotada pelo Rev. Taylor conhecida como landmarkismo,
segundo a qual a Igreja Batista anterior a Reforma Protestante e a nica realmente
neotestamentria. O historiador batista A. R. Crabtree segue a mesma linha:
O povo desta f mais antigo do que o seu nome histrico, porque da
mesma f e ordem dos cristos do Novo Testamento. As igrejas apostlicas
eram verdadeiramente batistas porque constavam somente de crentes
batizados, porque eram democrticas, e porque respeitavam a conscincia
e a responsabilidade pessoal. [...] Um estudo cuidadoso e livre de
preconceitos das igrejas apostlicas convencer qualquer pessoa de que
elas eram essencialmente da mesma f e ordem das igrejas batistas de
297
SIMONTON, apud MENDONA, 1995, p. 183.
Cf. MENDONA, 1995, p. 181. Mendona tambm cita as seguintes palavras de Simonton: *...+ Para viver
necessrio elevar-se a outra atmosfera, absorvendo todo o poder de um mundo desconhecido da vista, e de
Jesus, o Salvador invisvel. Cf. MENDONA, 1995, p. 180.
299
Cf. MENDONA e VELASQUES FILHO, 1990, p. 40; Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 111.
300
Cf. MENDONA, 1995, p. 194.
301
Esta foi a primeira Igreja Batista para brasileiros. Portanto, uma Igreja Batista fruto de labor missionrio.
Antes dela, j havia igrejas batistas em Santa Brbara DOeste, no interior de So Paulo, que atendiam
imigrantes americanos confederados, vindos para c aps o trmino da Guerra Civil.
298
107
nossos dias.302
Nem seria preciso dizer que esta teologia gerou ainda mais isolacionismo,
pregao de uma santidade moralista e antropologia dualista.
Grosso modo, os protestantes de misso seguiram muito prximos por
dcadas. Ainda que em denominaes distintas, cada uma com suas peculiaridades,
os evanglicos eram muito parecidos em sua teologia, usavam a mesma hindia, e
advogavam
mesma
tica303.
Assim
prosseguiram
com
seus
trabalhos
evangelsticos com significativo crescimento, sobretudo dos batistas. A situao
comeou a mudar na dcada de 1960. O Brasil passava por profundas
transformaes no campo social e econmico com o processo de industrializao e
a conseqente transio da vida rural para a urbana. No campo poltico, a situao
se agravou com o golpe militar de 1964. Mendona argumenta que apesar de o
Protestantismo ter chegado ao Brasil como portador do liberalismo e da
modernidade, mostrou-se incapaz de acompanhar as transformaes da sociedade
brasileira.
A mentalidade conservadora e individualista do protestantismo,
condicionada e alimentada pelo trip escolasticismo-Pietismo-apocaliptismo,
afastou-se dos movimentos sociais que, ao longo de um sculo, mudaram a
fisionomia do Brasil. Da, sua quase nula presena na poltica, na cultura e
na participao efetiva dos movimentos de mudana social.304
O certo grau de sucesso em sua chegada ao Brasil no sculo XIX em funo
de representar naquele momento uma alternativa cultural, liberal e modernizante ao
modelo catlico conservador, deu lugar estagnao e isolamento da sociedade
brasileira. O que outrora era um sopro renovador de cultura, agora no passava de
conservadorismo religioso sem relevncia social; tornou-se uma subcultura. O
protestantismo brasileiro no acompanhara as mudanas nacionais e nem as
mundiais com a nova configurao geopoltica do ps-guerra. Para esta nova
conjuntura global, era necessrio uma nova teologia, ou uma nova hermenutica
que desse conta dos desafios contemporneos. Na Europa essa nova hermenutica
302
CRABTREE, apud MENDONA, 1995, p. 197.
Cf. MENDONA, 1995, p. 190ss. Mesmo que oficialmente os Presbiterianos e os Congregacionais fossem
calvinistas, na prtica todos aderiram ao voluntarismo da converso individual tpico do Metodismo wesleyano.
304
MENDONA, 1995, p. 243.
303
108
estava sendo articulada por alguns importantes telogos como Karl Barth, Emil
Brunner, Dietrich Bonhoeffer (morto pelos nazistas em 1945, aps participar da
organizao de um frustrado atentado para matar Adolf Hitler e acabar sendo preso),
Paul Tillich (mais tarde transferido para os EUA), Jrgen Moltmann305, dentre outros.
Nos Estados Unidos devemos destacar o papel desempenhado pelos irmos
Niebuhr e Harvey Cox.
Jos Bittencourt Filho aponta para os caminhos percorridos a partir dessa
encruzilhada existencial na qual os protestantes se encontraram em fins da dcada
de 1950. Segundo ele, uma parte dos evanglicos brasileiros percebeu a
necessidade de reconfigurar o protestantismo para alm do denominacionalismo e
coloc-lo a servio da sociedade brasileira ultrapassando suas funes meramente
religiosas306. Surgiu a partir da um protestantismo ecumnico. Outra parte entendeu
que o melhor era renovar seus antigos princpios pietistas, reafirmar sua tica
individual e no social, investir contra o liberalismo teolgico nos seminrios,
emparelhar-se
com
as
elites
conservadoras
brasileiras,
incorporar
fundamentalismo teolgico sua agenda. Bittencourt Filho nos lembra que
importantes lideranas fundamentalistas norte-americanas visitaram o Brasil na
dcada de 1950307. Muito dinheiro de setores fundamentalistas dos Estados Unidos
foi enviado para c resultando na fundao de editoras, como a Betnia, e
seminrios como o Palavra da Vida. Esse ramo do protestantismo brasileiro
embarcou alegremente no trem da Ditadura Militar, implantando uma espcie de
Ditadura Eclesistica nas principais denominaes brasileiras quela poca308. E,
finalmente, um terceiro grupo optou pelo caminho do reavivamento espiritual como
soluo para as mazelas nacionais. Foi este grupo que deu origem s igrejas
carismticas (Batista Renovada, Presbiteriana Renovada etc), rompimentos das
antigas igrejas histricas.
Rubem Alves, partidrio do grupo progressista ecumnico afirma que a
conscincia desse setor se forjou a partir de trs fontes: (a) influncia da nova
305
Talvez Moltmann seja o telogo europeu mais latino-americano. Suas freqentes viagens Amrica
Latina, sobretudo, Amrica Central deram a ele uma nova perspectiva em teologia. Isto fez com que ele
tivesse relevante influncia sobre os futuros formuladores da Teologia da Libertao.
306
Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 125-126.
307
Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 126.
308
Cf. ALVES, Rubem. Religio e Represso. So Paulo: Teolgica/Loyola, 2005.
109
teologia europia (Karl Barth, Brunner, Moltmann etc); (b) a teologia bblica deu a
eles uma nova hermenutica que se valia das cincias sociais e antropolgicas e
estudava o texto a partir de seu contexto; (c) o movimento ecumnico mundial e a
nova conscincia histrica que ele gerou309. Foi importante para esse grupo a
criao da Confederao Evanglica Brasileira j em atuao desde 1934. A
Confederao tornou-se uma espcie de reduto dos protestantes libertrios e
progressistas310. Sobre a Confederao, creio que vale pena transcrever um
trecho da obra de Bittencourt Filho, uma vez que esta Organizao se apresenta
provavelmente como a melhor tentativa de contextualizao cultural e poltica do
protestantismo nacional.
Em funo dos projetos de cada um dos setores vinculados Comisso [de
Igreja e Sociedade], a Confederao chegou a possuir escritrios e
funcionrios em todo Pas. Ministrava cursos de formao de quadros de
liderana, contemplando aspectos da realidade brasileira tais como a
educao de adultos, questes fundirias e administrao de obras sociais.
Chegou mesmo a cadastrar todas as organizaes de assistncia social das
igrejas evanglicas no Brasil. [...] Ministrava cursos sobre
Responsabilidade Social; programas de assistncia social e promoo
humana; apoiava e executava projetos, ao mesmo tempo em que [...]
questionava o modelo assistencialista adotado pelas igrejas e sugeria
debates de cunho teolgico, cientfico e poltico. Em 1957 convocou [...] a
Segunda Consulta, com um tema que se pretendia mais comprometido com
a conjuntura nacional: A Igreja e as Rpidas Transformaes Sociais. O
pice desse processo deu-se com a convocao da Conferncia do
Nordeste (1962), com o lema Cristo e o Processo Revolucionrio
Brasileiro. [...] A realizao do evento na cidade de Recife, a cobertura da
imprensa secular e religiosa, a presena de cientistas sociais renomados
(entre outros, Gilberto Freyre e Celso Furtado), as recomendaes dos
grupos de estudos, a publicao de manifestos e a abordagem bblicoteolgica inovadora, foram alguns dos ingredientes que fizeram da
Conferncia o mais importante evento ecumnico que o Protestantismo
Histrico j pde promover.311
O socilogo protestante Waldo Csar assim se referiu importncia que
teve a Conferncia do Nordeste e o que ela representava na histria protestante
brasileira:
O movimento Igreja e Sociedade superou, de certa forma, o nvel teolgico,
ideolgico e institucional em que se movia, timidamente, o protestantismo
brasileiro. Foi, portanto, um rompimento. O compromisso da f tinha uma
309
Cf. ALVES, 2005, p. 258-259.
Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 141.
311
Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 141-142.
310
110
nova referncia, criava um vocabulrio novo, outra leitura da Bblia e da
realidade social na qual vivamos, mais como vtimas do que participantes.
O projeto Igreja e Sociedade foi uma forma de insero na conjuntura
nacional e a revelao das contradies do protestantismo no pas, das
coisas velhas e novas que se produziam nas igrejas e na cultura
brasileira.312
Contudo, a CEB no foi a nica experincia ecumnica e com forte
conscincia social promovida pelos protestantes. Vale destacar tambm a criao de
outro Frum em 1961, o ISAL Igreja e Sociedade na Amrica Latina. A idia
tambm era estabelecer reflexes teolgicas inusitadas a partir do novo contexto
industrial e urbano brasileiro, reunindo em seu corpo no apenas telogos, mas
tambm, cientistas sociais e polticos, antroplogos, filsofos etc, de vrias partes da
Amrica Latina.
O projeto de ISAL, interdisciplinar, ecumnico e extremamente de
vanguarda, vai atrair especialmente uma liderana jovem com profundas
inquietaes sobre a sociedade latino-americana, a natureza missionria da
Igreja e a atuao do cristo no mundo. Esse foi o bero, primeiramente
protestante e mais tarde tambm ecumnico, onde nasceu a teologia da
libertao.313
Ao falarmos de ISAL, no podemos deixar de destacar a relevncia teolgica
de dois protestantes: o missionrio norte-americano Richard Shaull e Rubem Alves.
Richard Shaull uma espcie de mentor intelectual de vrios telogos protestantes
brasileiros alinhados com as teologias libertrias. Foi ele um dos palestrantes da
Conferncia do Nordeste. Deixou um legado de reflexo teolgica a partir da
situao de excluso das maiorias empobrecidas na Amrica Latina. Para ele a f
deveria
conjugar
seus
esforos
com
os
movimentos
revolucionrios
[...],
interpretando a luta contra todas as formas de injustia atravs do testemunho da f
no Reino de Deus. O encontro da f com a pobreza e a opresso era expresso do
compromisso cristo.314 Shaull acabaria sendo expulso do Pas em 1965.
Rubem Alves, discpulo de Richard Shaull, o verdadeiro mentor da
expresso Teologia da Libertao. Pelo menos esta a opinio de alguns
312
CESAR, apud DASILIO, Derval. A Teologia da Libertao e o Protestantismo Brasileiro. p. 4. Trabalho no
publicado.
313
LONGUINI NETO, Luiz. O Novo Rosto da Misso: os movimentos ecumnico e evangelical no protestantismo
latino-americana. Viosa: Ultimato, 2002. p. 139-140.
314
DASILIO, Derval. A Teologia da Libertao e o Protestantismo Brasileiro. p. 7. Trabalho no publicado.
111
pensadores protestantes brasileiros315. De fato, o ttulo de sua tese de doutoramento
feita em Princeton e concluda em 1967 era Toward a Theology of Libertation (Por
uma Teologia da Libertao), mas o ttulo foi modificado pelos editores para
Teologia da Esperana Humana. Alves fala de um futuro utpico do Reino de Deus
como fator de transformao da ordem injusta vigente. Sua teologia teve enorme
influncia sobre o lado mais esquerda do protestantismo brasileiro. Em conversa
amigvel com Jos Bittencourt Filho, ele confidenciou-me que o considera o maior
telogo que o Brasil j produziu.
Com o golpe militar de 1964, e a instalao de um regime ditatorial em
algumas denominaes evanglicas, os funcionrios do Setor de Estudos e
Responsabilidade Social da Confederao Evanglica Brasileira foram demitidos,
um dos escritrios da Confederao foi invadido por agentes da represso,
documentos da Conferncia do Nordeste foram destrudos, e a CEB teve um fim
melanclico316. O ISAL tambm se desarticulou e acabou desaparecendo. A dcada
de 1970 foi de terror para pastores e lderes progressistas com perseguies,
cassaes, priso, exlio e at morte. No obstante, a militncia deles deu frutos.
A cooperao proporcionada pela CEB, ISAL e UCEB resultou nas
experincias mais importantes do engajamento social do protestantismo
brasileiro refletido na criao, anos depois, das chamadas entidades
ecumnicas de servio, como o Centro Ecumnico de Informao (CEI),
criado em 1965, que viria a se chamar posteriormente Centro Ecumnico de
Documentao e Informao (CEDI) e a Coordenadoria Ecumnica de
Servio (CESE) que surgiu em 1973.317
Poderamos acrescentar a criao do CLAI Conselho Latino-Americano de
Igrejas e do CONIC Conselho Nacional de Igrejas Crists, ambos ligados ao CMI
Conselho Mundial de Igrejas. Enquanto isso, as denominaes histricas e
pentecostais, grosso modo, permaneceram com a mesma ideologia dos missionrios
do sculo XIX, professando uma cultura muito mais anglo-saxnica do que
brasileira. A dcada de 1970 tambm foi a dcada de estagnao no crescimento
das denominaes histricas. Diante dos fatos, o protestantismo histrico se divide
315
Cf. DASILIO, Derval. A Teologia da Libertao e o Protestantismo Brasileiro. p. 7. Trabalho no publicado.
Cf. BITTENCOURT FILHO, 2003, p. 144-145.
317
CONRADO, Flvio. Igreja e sociedade em meio s rpidas transformaes sociais. Disponvel em:
<http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=2082&sec=2110&num_edicao=310>. Acesso em:
13 de janeiro de 2010.
316
112
entre a opo ecumnica', a opo pentecostal-carismtica, a opo tradicionalfundamentalista ou a opo evangelical-progressista.318 Uma alternativa de
articulao entre Evangelho e Responsabilidade Social mais direita da posio
ecumnica foi a representada pelos evangelicais com a elaborao da Teologia da
Misso Integral pelo telogo equatoriano C. Renn Padilla. A Misso Integral,
articulada a partir dos Congressos Latino-Americanos de Evangelizao (CLADE) e
inspirada no Pacto de Lausanne girava em torno do eixo o evangelho todo, para o
homem todo, para todos os homens. Continua ainda hoje atuante em vrias partes
da Amrica Latina.
Concluindo: a cultura brasileira, por motivos distintos, foi rejeitada tanto pelo
protestantismo de imigrao quanto pelo protestantismo de misso. No caso das
igrejas de imigrao pelos fortes laos que estas mantiveram com suas ptrias de
origem como caminho de preservao da prpria identidade. J as igrejas de
misso, pelo vis puritano-pietista. Desse modo, no podemos falar de uma teologia
brasileira nas primeiras dcadas de presena protestante no Pas. O que aconteceu
foi o transplante de teologias estrangeiras, europia e norte-americana, para as
terras brasileiras. E, quando se tentou articular, no ambiente protestante, uma
teologia brasileira, ou seja, uma teologia a partir da realidade nacional e que
contribusse de alguma forma para a melhoria de condies de vida do povo,
Seminrios foram fechados, os mentores foram cassados, demitidos e expulsos de
suas denominaes. Em alguns casos ocorreram prises de pastores, outros tiveram
que partir para o exlio e tambm aconteceram casos de assassinato pela Ditadura,
como a de Paulo Wright deputado cassado, irmo do Pr. Jaime Wright,
desaparecido em 1973.
O que permaneceu quase que de forma monoltica, foi a velha teologia
puritano-pietista j nossa conhecida. Essa teologia evanglica assim caracterizada
pelo telogo metodista Albert Outler:
O trao mais destacado [...] seu fervor emocional, concentrado sempre
nestes dois pontos, e quase s neles: 1) a salvao: libertao do pecado e
da culpa (do inferno e da condenao) e 2) uma moralidade pessoal autoinibidora, [Este ] o triunfo efetivo no Novo Mundo do protestantismo
318
CONRADO, Flvio. Igreja e sociedade em meio s rpidas transformaes sociais. Disponvel em:
<http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=2082&sec=2110&num_edicao=310>. Acesso em:
13 de janeiro de 2010.
113
radical to severamente reprimido na Europa [...]. Essa tradio protestante
era majoritariamente montanista em sua eclesiologia (igreja baixa, igreja
livre): anti-sacerdotal, anti-sacramental, antiintelectualista. Ela fazia uma
distino pejorativa entre teologia especulativa e f existencial. Suspeitava
de um clero erudito. Considerava a converso, e no a iniciao, o clmax
da experincia crist. Insistia na religio pessoal como a nica essncia
verdadeira do Cristianismo.319
Ao apontarmos para a tendncia isolacionista do protestantismo de
imigrao no significa desconsiderar a necessidade e a liberdade de determinados
grupos cultivarem suas razes culturais, seus smbolos e sua origem histrica.
Significa, isto sim, alertarmos para o perigo de, na celebrao tnica, esses grupos
estabelecerem com o restante da sociedade uma relao de domnio (vide o
apartheid na frica do Sul) ou, pelo menos, de fechamento em sua prpria cultura,
numa atitude auto-satisfatria.
A universalidade da histria da salvao no a dissoluo dos espaos
especficos, tnicos e diferenciados. No uma negao da etnicidade
como criao de Deus, como espao de encarnao do evangelho de Jesus
Cristo. , isso sim, a negao do espao fechado sobre si mesmo. O que o
apstolo Paulo rejeita a etnicidade como mrito. A universalidade da
graa no a eliminao de raa, sexo ou condio social, e sim sua
libertao para o exerccio do amor. (grifo nosso)320
E, ao apontarmos para as marcas puritano-pietistas, tipicamente norteamericanas, do protestantismo de misso, no significa afirmar que isto por si s
representa irrelevncia social e histrica. As marcas do evangelicalismo norteamericano no desembocam necessariamente nem to-somente em equvocos e
preconceitos culturais. Entretanto, quando tal referencial torna-se um fim em si
mesmo, no h espao para o reconhecimento do outro em sua alteridade, do seu
valor intrnseco e da beleza de sua cultura. Neste ponto, a chegada das misses
protestantes ao Brasil lembra a mesma relao mantida pelos missionrios catlicos
no sculo XVI com os amerndios. Ambos no reconheceram a alteridade do povo
que aqui se encontrava. O projeto colonialista estava presente em ambos: nestes
um colonialismo geogrfico, fsico e econmico; naqueles um colonialismo cultural.
O setor ecumnico do protestantismo brasileiro representou uma saudvel
alternativa de superao da antropologia dualista platnica com a articulao entre
319
320
BONINO, 2002, p. 85.
BONINO, 2002, p. 95.
114
Igreja e Sociedade e com seu engajamento social.
3.5.2 Pentecostalismo e neopentecostalismo o novo rosto da igreja
A primeira denominao pentecostal no Brasil foi a Congregao Crist no
Brasil, fundada por Luigi Francescon em So Paulo em 1910. A segunda foi a
Assemblia de Deus, fundada em 18/06/1911 pelos missionrios suecos Gunnar
Vingren e Daniel Berg, em Belm do Par (eles haviam chegado em 19/11/1910,
depois de passarem pela igreja do Pr. William Durham em Chicago, o que tambm
ocorreu com Francescon). A Igreja recebeu o nome de Misso da F Apostlica,
inspirado no trabalho da Rua Azusa, em Los Angeles. Sete anos depois, os
fundadores agora acompanhados dos missionrios Otto Nelson e Samuel Nystrm,
mudaram o nome para Assemblia de Deus. A mudana de nome foi feita para
acompanhar a deciso tomada pelos lderes do movimento nos Estados Unidos
reunidos em assemblia entre 2 e 14 de abril de 1914321. Os brasileiros comearam
a assumir cargos de liderana somente na dcada de 1930 com a eleio do Pr.
Ccero Canuto de Lima para presidente da Conveno Geral, sendo responsvel
pela regio norte e nordeste322. J nesta primeira reunio debateu-se a questo do
ministrio feminino. A deciso final foi:
As irms tm todo o direito de participar na obra evanglica, testificando de
Jesus e a sua salvao, e tambm ensinando quando for necessrio. Mas
no se considera justo que uma irm tenha funo de pastor de uma igreja
ou de ensinadora, salvo em casos excepcionais mencionados em Mt 12:3-8.
Isto deve acontecer somente quando no existam na igreja irmos
capacitados para pastorear ou ensinar.323
O posicionamento conservador, algo machista, j dava o tom nesta primeira
reunio para desgosto de Gunnar Vingren que defendia o ministrio feminino.
William Read destaca vrias caractersticas das Assemblias de Deus: urbana;
evangelizao vigorosa, espontnea e constante; oportunidade de todos serem
321
Cf. DANIEL, 2004, p. 9-10.
Cf. DANIEL, 2004, p. 27.
323
Cf. DANIEL, 2004, p. 40.
322
115
lderes; organizao simples da Igreja; pastor capacita membros; apela a pessoas
humildes; o ministrio est no nvel do povo; os humildes atingem status social mais
elevado; os migrantes encontram calorosa recepo nas igrejas; todos so levados
a buscar o Batismo com o Esprito Santo; os lderes conhecem quem possui a
experincia pentecostal; a relao com Deus torna-se pessoal e ntima.324
No aspecto teolgico, em linhas gerais, podemos afirmar que o
Pentecostalismo Clssico arminiano; avivalista na linha pietista; enfatiza a ao
do Esprito sobre o crente; sua escatologia pr-milenista dispensacionalista; a
santidade asctica com separao radical do mundo. Do ponto de vista poltico
so conservadores tendo-se alinhado com a Ditadura Militar e apoiando
majoritariamente governos de direita325.
Nos anos 1950-1960 surgem movimentos e denominaes que aceitam
outros sinais do batismo no Esprito e enfatizam mais a cura divina e os milagres,
tais como a Igreja do Evangelho Quadrangular (1953), O Brasil para Cristo (1956),
Deus Amor (1962), e as cises de denominaes, tais como a Igreja Presbiteriana
Renovada, a Conveno Batista Nacional, a Igreja Metodista Wesleyana. Nos anos
1970-80 surgem as denominaes chamadas de neo-pentecostais, tais como a
Igreja Universal do Reino de Deus (1977), a Internacional da Graa (1980), a
Renascer em Cristo (1986), a Sara nossa Terra (1992). A partir dos anos 1980-1990
proliferam as comunidades e igrejas independentes no movimento neo-pentecostal.
O neopentecostalismo surgiu nos Estados Unidos na dcada de 1940. Sob a
liderana e inspirao de Essek William Kenyon, vrios televangelistas norteamericanos comearam a pregar o que se denominou Confisso Positiva. A
Confisso Positiva a base para o desenvolvimento da Teologia da Prosperidade
em suas vrias dimenses. Em termos bastante resumidos, podemos dizer que em
sua dimenso financeira, essa Teologia uma espcie de verso religiosa do
neoliberalismo. Afirma que os cristos so predestinados para a riqueza, os bens
materiais, j, aqui e agora. A vida espiritual uma transao financeira com o cu:
quanto maior a oferta, maior a bno. A pobreza decorrncia do pecado e/ou da
idolatria. Em sua dimenso fsica, a Teologia da Prosperidade prega vida longa e
324
READ, William R. Fermento Religioso nas Massas do Brasil. Campinas: Livraria Crist Unida, 1967. p. 128141
325
bem verdade que nas ltimas eleies apoiaram o presidente Lula. Mas, isto parece ter mais a ver com
interesses de poder e no com compromissos ideolgicos.
116
prspera para os fiis. A doena coisa satnica. Quanto mais consagrado, mais
saudvel ser o crente. Na dimenso poltica, a Teologia da Prosperidade defende
certa teocracia para os nossos tempos. Aos cristos esto reservados os postos de
comando. Deus no fez seu povo para ser cauda, mas para ser cabea do
mundo. Na dimenso que chamaremos de espiritual, os telogos da prosperidade
fazem uma polarizao maniquesta entre o bem (os cristos) e os maus (os no
crentes). No h espao para o pluralismo. A Batalha Espiritual travada,
normalmente em cima de montes, gira em torno da quebra de maldies
hereditrias. Se voc confessa seus pecados e ainda assim no prospera porque
a causa est nos pecados dos antepassados. preciso conhecer esses pecados
dos antepassados, libert-los, para que seus descendentes prosperem. Alm disso,
necessrio tomar posse da vitria atravs da confisso positiva.
A teologia neopentecostal, consoante com o mundo ps-moderno, prega o
consumismo individualista, a midiatizao (espetacularizao) da f; a super
valorizao da sade e do dinheiro; o alcance da bno de forma imediata. Enfim,
o mundo reencantado servio do fiel. Mendona analisa a matriz religiosa
brasileira sobre a qual ergue-se o neopentecostalismo:
A cultura brasileira tem trs componentes muito claros: a cultura iberolatino-catlica, a indgena e a negra. A primeira no representada pelo
catolicismo tridentino, mas pela religio popular, folclrica e festiva legada
pela tradio lusitana. Dessa mistura de cultura resultou um imaginrio de
um mundo composto por espritos e demnios bons e maus, por poderes
intermedirios entre os homens e o sobrenatural e por possesses. Trata-se
de um mundo maniquesta em que os poderes so classificveis entre o
bem e o mal e manipulveis magicamente. O homem, atravs de agentes
especiais, pode organizar este mundo de modo a obter dele benefcios que
no so permanentes, mas devem ser negociados no cotidiano. Merecem
ateno constante.326
O autor citado ainda afirma que o neopentecostalismo se diferenciou do
protestantismo histrico ao colocar de lado a Bblia. No neopentecostalismo esta no
tem nenhuma relevncia. Em visita a IURD em Vitria, Esprito Santo, no primeiro
semestre de 2009, com alunos/as do Curso de Teologia da Faculdade Unida,
presenciei o Bispo jogando com desdm a Bblia sobre o plpito e vociferou: Eu no
vim aqui pregar a Bblia. A letra mata. Eu vim aqui falar das coisas do Esprito. E
326
MENDONA, Antnio G.. Protestantes, Pentecostais e Ecumnicos: o campo religioso e seus personagens.
So Bernardo do Campo: UMESP, 1997. p. 160.
117
Mendona continua afirmando que dos pentecostais clssicos perderam a segunda
bno, o batismo com o Esprito Santo, seguido do falar em lnguas327.
Em substituio a elementos tradicionalmente protestantes entraram
aspectos mgicos com o instrumental herdado das religies correspondentes ao
imaginrio social, como novenas [...], bno da gua tornado-a milagrosa, leos,
flores, chaves, etc. Os atos de exorcismo entram como instrumental de
reorganizao do universo dos clientes, separando o bem do mal.328 E Mendona
finaliza ponderando que essas igrejas no constituem comunidades de crentes
comprometidos com a koinonia crist. Esto sempre cheias, mas de clientes que
buscam soluo mgica para os problemas do cotidiano e que esto sempre em
trnsito.329 Na mesma visita tambm pude observar que, estando o templo lotado,
antes do incio do culto, as pessoas no conversavam entre si, o que seria muito
normal em uma igreja histrica ou pentecostal. A provvel concluso que elas no
se conheciam dada a grande rotatividade na freqncia. Mendona se recusa a
chamar estas comunidades de igrejas, prefere sindicato de mgicos330.
O protestantismo histrico tem certos limites em seu poder de alcanar
mentes e coraes na Amrica Latina. Sendo uma religio eminentemente
discursiva, este tipo de protestantismo, em seus diversos matizes, no atende
plenamente ao anseio das camadas populares de contato com o sagrado. O
conceito de converso trazido pelo protestantismo de misso implicava em
rompimento com a religiosidade e cultura populares e conseqente assentimento
com determinado corpo de doutrinas e pacote tico. Por outro lado, os processos
modernizantes pelos quais passam a sociedade latino-americana afetam de maneira
profunda a vida dos pobres e sua religiosidade.
[...] os processos de penetrao e expanso capitalista destroem as formas
tradicionais de compartilhar e organizar o espao vital, modificam as
imagens e percepes sociais e coletivas, introduzem fins de produo e
acumulao individual dos bens e das riquezas, e geram relaes fundadas
na diferenciao e competio aberta ou velada entre os membros das
comunidades. O conjunto desses efeitos acarreta uma transformao
profunda da noo de valor. E, como se sabe, a noo de valor
consubstancial com a questo do sentido da vida (Cohen, 1982). J no
327
Cf. MENDONA, 1997, p. 161.
MENDONA, 1997, p. 161.
329
MENDONA, 1997, p. 161.
330
Cf. MENDONA, 1997, p. 166.
328
118
se vale na medida em que se membro de uma comunidade e na medida
em que se participa e contribui para sua reproduo; antes, o valor est na
diferenciao em relao aos outros e na acumulao de riqueza, prestgio
e poder.331
Com a mudana na estrutura social, modifica-se tambm a maneira como a
pessoa vai se relacionar com este mundo. A maneira como ela o sente. Modificamse as condies atravs das quais se experimenta o sagrado. As condies sociais
modernas e ps-modernas, que reviram ao avesso a existncia do indivduo e da
sociedade, e que produzem pessoas invisveis pela sua falta de poder econmico e
social, criam o campo frtil para o florescimento do pentecostalismo e, num segundo
momento, do neopentecostalismo. aqui que as massas encontraro uma
interpelao religiosa que atenda mais plenamente aos seus anseios.
O processo de insero das camadas mais pobres no pentecostalismo,
segundo Palma Manrquez, inclui num primeiro momento um processo de cura
para o indivduo que se aproxima, seguido de incorporao no grupo, ampliao das
possibilidades de sobrevivncia atravs de intercmbios que transcendem os
objetivos primrios da comunidade e, finalmente, exerccio de dons na maioria das
vezes, desconhecidos anteriormente.
Mais uma vez, o conceito de converso central para a compreenso dos
desdobramentos desse processo na vida dos fiis. Se por um lado esta converso
significa ruptura com a religiosidade e cultura anteriores, paradoxalmente,
representa tambm um continusmo dessa mesma religiosidade. Os smbolos so
transplantados com novas cores, uma nova linguagem incorporada, um novo
poder recebido. Tudo isso, feito num ambiente acolhedor no qual processos de
retomada de poder so desencadeados. Servem como vlvulas sociais. Ali, o Seu
Joo o Evangelista Joo. A Dona Maria a lder do grupo de orao. Mas esta
converso tambm implica numa nova tica. O rompimento com o mundo a
conditio sine qua non para a incorporao plena no grupo. Esta caracterstica
causa de rompimentos afetivos e sociais muitas vezes geradores de distrbios e
desvios de carter psquico.
Outro elemento chama-nos a ateno no mundo pentecostal e, sobretudo,
331
PALMA MANRQUEZ, Samuel. O novo rosto da igreja na regio andina e na Amrica Latina. In: CASCO,
Miguel Angel; CABEZAS, Roger, PALMA MANRQUEZ, Samuel. Pentecostais, libertao e ecumenismo. S.1.:
CECA/CEBI, 1996. p. 43.
119
neopentecostal. Embora, difira do protestantismo histrico por no ser uma religio
do discurso, a palavra preenche todos os espaos do culto pentecostal. Como
assevera Waldo Csar talvez o visitante ou o convertido no tivesse nenhuma voz,
mas agora tem muitas, canta, geme, grita, gesticula, fala em lnguas num xtase
que apenas pode estar comeando.332 H como que a celebrao de uma vida
possvel. O renascer de uma esperana que, pelo menos naquele momento, parea
tpica.
A tica pentecostal anti-mundana. Mas a palavra voltada para as
questes do mundo. Ela penetra o cotidiano das pessoas. Embora demonizado,
so valores deste mundo que so ambicionados: a casa prpria, o carro do ano,
viagens...
Elabora-se
uma
espcie
de
cultura
evanglica
alternativa.
As
manifestaes culturais da sociedade so rejeitadas. Dana, msica, cinema,
televiso, shows, determinados espaos so coisas do diabo. Essa cultura
evanglica alternativa visa preencher essas lacunas. O mercado mais uma vez d
as cartas. Esse um mundanismo sutil que abraa com seus tentculos esse
nicho. Bom o poltico irmo. Boa a msica gospel, o filme cristo. Criam-se
espaos de encontro: pizzarias, restaurantes e at shoppings evanglicos. Os
shows mundanos so substitudos pelos shows gospels com danas, gritos e
manifestaes de extrema euforia. Paradoxalmente, no existem mais fronteiras
entre o sagrado e o profano.
A palavra, no culto pentecostal clssico, costumava apontar para o cu. Os
spirituals norte-americanos so prdigos nessa caracterstica. O neopentecostalismo
mostra nova tendncia. A palavra, no culto neopentecostal cria uma ponte entre a f
e o cotidiano. As bnos, mormente as materiais, so para o aqui e o agora. A este
respeito Waldo Cesar afirma que a mensagem das igrejas tradicionais no tem,
para as camadas populares, nem o gosto nem o contedo do po de cada dia.333
Esta fuso entre o interno e o externo explica em grande medida o sucesso
neopentecostal. Alis, este outro elemento do que ns chamamos de mundanismo
que ningum v. O sucesso dos pastores medido pela sua capacidade de
acrescentar fiis sua comunidade, pela sua capacidade de aumentar a
332
CESAR, Waldo; SCHAULL, Richard. Pentecostalismo e futuro das igrejas crists: promessas e desafios.
Petrpolis, Vozes; So Leopoldo, Sinodal, 1999, p. 74.
333
CESAR e SCHAULL, 1999, p. 78.
120
arrecadao, pelo tamanho do templo que ele constri. Em nada diferente do
mundo que incensa os empresrios bem sucedidos. E, bem sucedidos neste caso,
sinnimo de empresa grande, grande nmero de funcionrios, receita milionria,
poder aquisitivo etc. Esta , portanto, uma das marcas paradoxais do
neopentecostalismo: o mundo o paradigma para suas aes e at referncia
para sua teologia (teologia da prosperidade).
Que importa: a palavra aqui no est a servio de verdades doutrinrias.
Esta palavra, que no ambiente do protestantismo histrico parece tantas vezes vaga
e divorciada da vida cotidiana, no ambiente pentecostal e neopentecostal vai direto
ao encontro das necessidades e anseios dirios. No uma palavra sobre Deus.
uma palavra para Deus. Esta palavra no propriedade de alguns poucos. No
fenmeno glossollico o fiel pode expressar toda sua ligao com o sagrado, sem
intermediaes. Para Waldo Cesar aqui est a mais expressiva dimenso simblica
do culto pentecostal.334 Tambm afirma:
O que at ento era entendvel na simplicidade de uma mensagem voltada
para os problemas cotidianos, torna-se, paradoxalmente, ininteligvel. [...]
Para os que recebem o dom de falar em lnguas desconhecidas, o
fenmeno significa superar a prpria lngua, criar, improvisar, viver o xtase
de uma graa indizvel.335
Guardadas todas as crticas pertinentes e justificveis, no se pode negar
que este tem sido um espao de expresso para as camadas populares,
reordenamento da vida, sentimento de acolhimento e pertena a um grupo,
alfabetizao, libertao do alcoolismo e das drogas etc. Assim, outra caracterstica
apontada por Waldo Cesar e Richard Schaull se refere ao espao fsico dos templos
pentecostais e neopentecostais.
O ajuntamento humano no interior dos templos, esteticamente mais
prximos das classes pobres, assemelha-se composio diversificada do
mundo profano, incluindo bbados, prostitutas, drogados, homossexuais
que no se sentem rejeitados no espao sagrado. O que poderia ser
totalmente estranho e constrangedor numa igreja tradicional (em muitos
casos nem mesmo permitido), parece natural em bem-vindo num templo
pentecostal. Vrias vezes percebemos a presena de marginais a
escria deste mundo , mais ainda nas igrejas da Universal. Num templo de
Botafogo, no Rio, uma mulher em trajes sumrios, atraindo a ateno do
334
335
CESAR e SCHAULL, 1999, p. 84.
CESAR e SCHAULL, 1999, p. 82.
121
auditrio, foi logo recebida com respeito por uma obreira, que providenciou
uma manta para envolv-la.336
O templo pentecostal constituiu-se assim num espao democrtico no qual
os despossudos encontram liberdade de movimentao e de expresso. Ali h uma
espcie de resgate da cidadania. No h distino de pessoas. Todos so bemvindos como esto.
A caminhada interna, pois, sintetiza um universo social, eclesial e religioso
extremamente diversificado. Os que se juntam no grande espao renem
no apenas as diferenas da vida mundana como a diversidade protestante
ou de outras religies.337
H, no mundo pentecostal e neopentecostal uma espcie de destino
manifesto. A fundamentao terica deste sentimento a Teologia da
Prosperidade. A entrega de vida destes fiis (converso) significa que agora eles
so filhos do Rei e, como tais, herdeiros da terra. Os espaos externos devem ser
dominados. Temos visto nos ltimos anos uma invaso de ambientes antes
fechados para os evanglicos, mormente, o esportivo, o artstico e o poltico. Alis,
isto fruto de uma mudana de mentalidade: antes estes ambientes eram vistos
como mundanos, dominados por Satans e deveriam ser evitados a todo custo
pelos cristos. Nos ltimos 20 ou 30 anos, por influncia do neopentecostalismo esta
mentalidade mudou. Igrejas como Renascer em Cristo e Sara a Nossa Terra exibem
com certo orgulho os artistas e jogadores de futebol que fazem parte do seu grupo
de fiis.
O esforo com o objetivo de eleger candidatos evanglicos vem crescendo
com fora desde a Constituinte de 1988. O alvo final seria a eleio de um
presidente evanglico, o que representaria o coroamento de um projeto de poder
abenoado por Deus. Assim se manifestava o ex-deputado Laprovita Vieira, da
IURD:
O que mais precisamos hoje de um homem de Deus, levantado por Ele
prprio para conduzir esta Nao. O que o Brasil precisa que o povo de
Deus ore, busque, se arrependa de seus maus caminhos para que se
levante um Davi de dentro da sua prpria igreja para dirigir esta Nao. E,
336
337
CESAR e SCHAULL, 1999, p. 97.
CESAR e SCHAULL, 1999, p. 98.
122
baseados neste propsito, lanamos nossos candidatos para evitar que o
povo de Deus plante o os amalequitas colham. [...] Os cristos evanglicos
tm que ocupar o seu espao.338
Curiosamente, o que temos assistido com esse crescimento de polticos
evanglicos o envolvimento de uma boa parcela desses polticos em projetos
privados no mbito pblico. No h um projeto voltado para as condies sociais e
econmicas que alcancem todo o Pas. Tem servido mais como uma espcie de
marketing evanglico, ou seja, demonstrao de fora das igrejas. Ou, pior, como
meio de enriquecimento ilcito e de favorecimento pessoal e, s vezes,
denominacional. Isto tudo aliado a adeses em grupo (bancada evanglica) a
votaes de cunho moral, o que satisfaz planamente ao anseio da clientela.
Alm disso, estas igrejas tambm trouxeram uma roupagem modernizante,
uma espcie de verniz. comum que pastores e pastoras dessas novas
comunidades se vistam com roupas da moda, se tatuem, apliquem piercings e usem
uma linguagem repleta de grias. Este o caso, por exemplo, da Bola de Neve
Church. No entanto, a pregao nessas igrejas continua com forte vis moralista e
fundamentalista.
Movimentos alternativos, de linha underground proliferam nos ltimos
tempos. O objetivo alcanar as vrias tribos esquecidas pelas igrejas tradicionais:
travestis, punks, adeptos do Heavy Metal, artistas porns etc. Sites especializados
nesses grupos so espaos de debate e de livre expresso. Inclusive sites porns
cristos339.
3.6 Concluso
Iniciamos este captulo nos referindo aos quatro grupos que constituram a
Reforma Protestante: luteranos, calvinistas, anabatistas e anglicanos. Ao traarmos
uma linha que se inicia na Reforma do sculo XVI e termina no quadro evanglico
brasileiro contemporneo espantoso o alto grau de complexidade que tomou conta
338
339
VIEIRA, apud CESAR e SCHAULL, 1999, p. 105.
Cf. Disponvel em: <http://sexxxchurch.com/> Acesso em: 10 de julho de 2008.
123
desse cenrio religioso. Vrias tentativas tm sido feitas pelos estudiosos para se
estabelecer uma tipologia do protestantismo brasileiro. A dificuldade tanta que
comeamos pela impossibilidade de utilizarmos esta nomenclatura no singular.
Assim o fazemos apenas por uma questo de simplificao didtica. rigor,
teramos que falar em protestantismos, pentecostalismos e neopentecostalismos,
sempre no plural. Se insistssemos em ir mais a fundo, tambm teramos que falar
em vrios tipos de Assemblias de Deus340, em metodistas no plural, presbiterianas,
etc. As subcategorias so interminveis. Dos quatro grupos iniciais do sculo XVI
temos atualmente literalmente milhares de igrejas, denominaes e comunidades.
Bem ao gosto desses tempos ps-modernos temos produtos religiosos para todos
os gostos. Nesse grande supermercado gospel, o cliente pode se fartar com tudo
quanto tipo de mercadoria religiosa. Se no ficar satisfeito, existem muitas outras
prateleiras e produtos a serem escolhidos e consumidos.
Magali do Nascimento Cunha faz uma tentativa de organizao de mosaico
religioso classificando-o em protestantismo histrico de migrao (ex. Luterana);
protestantismo histrico de misso (ex. Presbiteriana); pentecostalismo histrico (ex.
Assemblia de Deus); pentecostalismo de renovao ou carismtico (ex. Batista
Renovada); pentecostalismo independente (ou neopentecostalismo) (ex. IURD); e
pentecostalismo independente de renovao (ex. Renascer em Cristo)341.
Temos, desde a introduo desse trabalho, nos preocupado com a difcil
questo da relao do Cristianismo com a Cultura e do agravamento desta relao
dada a influncia da antropologia platnica sobre o pensamento cristo construdo
ao longo de sculos. No caso da implantao do Protestantismo no Brasil houve um
claro estranhamento por parte dos missionrios com a cultura do nosso Pas.
A tica puritana de restrio de costumes no Brasil representava uma forma
de comunicar a negao do catolicismo e marcar a identidade protestante.
A abstinncia de bebida alcolica, do fumo, da participao em festas
danantes e populares, em especial o Carnaval, e dos divertimentos
populares como o teatro, o cinema, a msica popular deveria dizer ao
mundo que os protestantes eram diferentes.342
340
Cf. ALENCAR, Gedeon Freire de. Matriz Pentecostal Brasileira: Assemblia de Deus. In: Simpsio 48. So
Paulo: ASTE, 2008. p. 19-21. O autor prope uma tipologia que abrangeria o assembleianismo rural, o urbano, o
autnomo e o difuso.
341
CUNHA, Magali do Nascimento. A Exploso Gospel: um olhar das cincias humanas sobre o cenrio
evanglico no Brasil. Rio de Janeiro: MAUAD/MYSTERIUM, 2007. p. 14-15.
342
CUNHA, 2007, p. 179.
124
Ao afirmarmos essa resistncia dos protestantes cultura brasileira no
estamos nos referindo cultura em geral, mas, quilo que podemos chamar de
cultura popular: folclore, msicas, danas, ritmos, festas populares, brincadeiras, etc.
Entretanto, em relao cultura mais clssica, poltica, intelectualizada e
acadmica, houve, em muitos momentos, bastante identificao. Por exemplo, como
j sublinhado, com os liberais-modernistas do sculo XIX, com as foras
conservadores que promoveram o golpe militar em 1964, com as eleies
presidenciais de 1989 que elegeram Fernando Collor de Mello com amplo apoio dos
evanglicos, etc.
Mas h um novo fenmeno que nos surpreende sobremaneira ao olharmos
para o quadro evanglico brasileiro atual: a construo de uma cultura gospel. Essa
cultura no respeita fronteiras e est presente em praticamente todo o universo das
igrejas evanglicas no Brasil. A proposta gospel visa exatamente superar a clssica
separao dualista igreja-mundo dos evanglicos de outrora. O crente gospel dana,
houve rock, funk, pagode, usa roupa da moda, valoriza o corpo, os ambientes de
consumo por excelncia, os shopping centers, etc. Ou seja, o gospel insere-se na
modernidade, ou, mais precisamente, na ps-modernidade. Acontece que, aqui e
acol, ela toma rumos diferentes e destaca aspectos diferentes da religiosidade
crente. No neopentecostalismo da IURD, por exemplo, com aquilo que nos parece
uma mudana de estratgia, uma vez que na dcada de 1990 a postura dos lderes
dessa denominao era de ataque virulento contra a religiosidade popular brasileira,
catlica, umbandista e candomblecista, agora faz-se uma incorporao consciente
de elementos dessas religiosidades em nome de uma certa inculturao da f, o que
alguns j chamam de umbandizao evanglica. O que falar desse uso sincrtico
dos smbolos da religiosidade tipicamente brasileira fruto do casamento entre o
mundo do catolicismo lusitano, das religies indgenas e das religies afros em
cultos evanglicos?
Como outro exemplo, podemos citar a Igreja Renascer em Cristo que
promove eventos de msica evanglica que no final das contas no se sabe muito
bem se um show, louvor, espetculo para pura diverso, evangelizao, ou outra
coisa qualquer. Os cantores/as so chamados de artistas gospel. A maioria desses
artistas gospel oriunda de lares evanglicos pentecostais. Mas, dos anos 90 para
125
c um novo fenmeno tomou conta desse mercado: o artista convertido ao gospel:
Mara Maravilha, Baby (Consuelo) do Brasil,
Wanderley Cardoso, Nelson Ned e
Rodolfo (ex Raimundos), so apenas alguns exemplos343. Dada a proibio dos fiis
freqentarem shows seculares, cria-se uma alternativa gospel para a diverso dos
jovens. Na Igreja Bola de Neve Church o plpito uma prancha de surf, os pastores
geralmente so surfistas e pregam no culto vestindo bermudes. Enfim, os exemplos
se multiplicam.
Diante desse novo fenmeno, perguntamos: essa assimilao de ritmos,
estilos musicais, danas e coreografias representam uma inculturao legtima da
f?344 No seria isto tambm fruto do dualismo sagrado versus profano? No seria
isto uma estratgia para afastar as pessoas do mundo? Em meio a toda essa onda
modernista nesse universo gospel no permaneceriam os discursos fiis ao cardpio
puritano-pietista-moralista? Por baixo desse verniz de inculturao, no resistiriam
as velhas categorias avivalistas: conversionismo, apocalipsismo e tica seletiva? O
ascetismo, nesse ambiente gospel, no continuaria presente com nova roupagem?
Por exemplo, a msica moderna, as danas so permitidas, os diversos ritmos
desejveis, a roupa fashion, mas tudo isso dentro do locus evanglico. Tudo isso
vale, mas quando feito por ns, pois, dessa forma, essas coisas passariam por uma
purificao, uma lavagem espiritual, receberiam a marca da uno divina. Essas
coisas valem desde que feitas para a glria de Deus. Entenda-se glria de Deus
como sinnimo de ter sido feito sob liderana dos evanglicos. Insistimos: no seria
isso uma verso ps-moderna do antigo ascetismo cristo, da separao sagradoprofano, igreja-mundo?
Como palavra final, afirmamos que no nosso desejo propor um
protestantismo perfeito. Se assim o fizssemos, correramos o risco de cair tambm
no idealismo platnico. At porque assumimos a profunda complexidade que
representa a implantao e o crescimento do protestantismo no Brasil. O quadro
por demais intrincado para dele fazermos afirmaes definitivas e contundentes.
Tambm assumimos as contingncias histricas, as idiossincrasias de cada poca e
343
CUNHA, 2007, p. 93.
Lutero j usara o mtodo chamado contrafao para substituir as letras de canes populares por
contedos sacros. Cf. CUNHA, 2007, p. 99.
344
126
a natural dificuldade dos atores superarem essa confluncia de fatores que so
polticos, econmicos, sociais, culturais, religiosos, e at psicolgicos. Contudo, um
pouco de utopia no nos far mal, sendo a utopia elemento constituinte da
escatologia crist.
Conclumos com as palavras de Julio Zabatiero em aula ministrada para
uma turma de teologia na Faculdade Unida em 2008 e que tomo a liberdade aqui de
reproduzir de forma livre e parafraseada: ao invs de olhar para o mundo como o
inimigo a ser vencido, as igrejas podem optar pelo caminho da encarnao ou
seja, o caminho da solidariedade missionria, assumindo seu papel de comunidade
cidad. Esse seria o caminho da contextualizao crtica. Quando o Evangelho se
encarna nas igrejas, elas assumem a sua condio de comunidades includentes
(no sendo discriminatrias), teraputicas (libertando da culpa e do medo), solidrias
(no vivendo em funo de seu prprio crescimento). Podemos ser comunidades
que assumem suas fraquezas e limitaes no afirmando a propriedade de
verdades absolutas impermeveis ao dilogo crtico, sejam elas derivadas da
religio, sejam derivadas da cincia, mas busque a partir da Bblia e da tradio
crist consensos ticos para transformaes sociais viveis. Tambm podemos
praticar uma teologia que no esteja centrada em dogmas, mas na descrio do
compromisso pessoal e comunitrio com a contextualizao crtica do Evangelho.
Acrescentemos a isso, uma teologia evangelicamente crtica das instituies,
organizaes e movimentos cristos, em busca de seu deslocamento dos modelos
de cristandade para um modelo de igreja cidad, atuante na esfera pblica,
assumindo co-responsabilidade pela gesto democrtica da vida social. Finalmente,
o caminho da contextualizao crtica no tem um mapa pr-traado, deve ser
construdo no prprio caminhar, assumidos os riscos da vivncia plena do
Evangelho na experincia pessoal e comunitria; praticando uma reflexo teolgica
no-fundamentalista, posto que anti-crist e uma imerso missionria em uma
realidade que no pode ser controlada pela prpria igreja, mas que demanda uma
plena e desafiadora humanizao.
Assim, precisamos privilegiar uma leitura da antropologia bblica que tenha
como referencial o universo semtico com sua viso da integralidade do ser humano.
Isso o que nos propomos fazer no prximo captulo.
127
4. ESPRITO E CORPO UNIDADE FUNDAMENTAL
DO SER HUMANO NA VISO BBLICA
Da constatao de que h profunda divergncia entre as concepes grega
e hebraica quanto antropologia concluir-se- que o resultado ser uma teologia
hbrida em quase todas as suas dimenses, de forma abrangente e definitiva. Como
resultado da infiltrao da filosofia grega na teologia crist e o afastamento desta da
viso semtica monista do ser humano, no apenas a antropologia, mas a
cristologia, a soteriologia, a escatologia, a eclesiologia, a prtica pastoral, enfim, o
pensamento cristo e, consequentemente, a prxis crist, helenizaram-se, num
dualismo profundo345.
Uma das provveis causas do desprezo platnico pelo corpo remonta ao
pensamento de Homero o qual fazia uso da palavra sma para referir-se ao cadver
ou corpo morto, abandonado pela psych346. Devemos afirmar de incio e de
maneira clara, o semita no conhece uma alma sem corpo, nem possui palavra
correspondente para isso.347 Com isto, no negamos que as Escrituras destaquem
aspectos do ser humano, certamente ela o faz. Entretanto, seu modo de pensar
sempre global, sempre reflete sobre a pessoa humana em sua complexidade, em
suas vrias dimenses, e estas, integradas em uma unidade de fora vital pela qual
ele [o ser humano] originria e continuamente est relacionado com Deus e com o
mundo poltico-social que o cerca.348 Vejamos esta viso como descrita no Antigo e
345
Convm lembrar que o pensamento grego no monoltico. O mesmo possui vrias correntes e no se
resume na concepo pitagrica-platnica a qual nos referimos neste trabalho. Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p.
27.
346
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 28.
347
BOFF, 1973, p. 68.
348
FIORENZA e METZ, 1972, p. 32.
128
Novo Testamento.
4.1 O legado do Antigo Testamento para uma antropologia da unidade da
pessoa humana
Em seu clssico Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff
chama nossa ateno para os equvocos que se produziram na traduo do texto
hebraico do Antigo Testamento para sua verso grega, a Septuaginta. Assim, Wolff
se lana tarefa de identificar at que ponto a filosofia helnica deturpou o
significado semtico-bblico dos termos usados no Antigo Testamento em referncia
ao ser humano. Segundo ele, uma das graves conseqncias de uma traduo
descuidada, foi que isto acarretou numa antropologia dicotmica ou tricotmica, na
qual o corpo, a alma e o esprito se encontram em oposio mtua.349
O Antigo Testamento, mormente os textos javistas, se ocupam da tarefa de
interpretao da vida, do que o ser humano, suas mltiplas relaes, o problema
do sofrimento e do mal, as origens das coisas etc. Nesta empreitada, o javista
lanou mo de uma rica terminologia antropolgica350. A traduo destes termos
hebraicos sempre, ou quase sempre, por psych, alma no pensamento grego,
produz, como j se disse, graves erros. Por conseguinte, Wolff discorre sobre os
vocbulos hebraicos que descrevem a pessoa humana apontando suas vrias
significaes e possibilidades de traduo. Seguindo seu pensamento, vejamos
quais so estes termos e seus sentidos.
4.1.1 Nfesh
Em diferentes contextos, o termo hebraico nfesh, pode significar garganta,
pescoo, anelo, alma, vida, pessoa ou pronome. Isto ocorre porque o hebreu utiliza349
350
WOLFF, Hans Walter. Antropologia do Antigo Testamento. So Paulo: Hagnos, 2008. p. 29.
Cf. HAGSMA, 1998, p. 20.
129
se da mesma palavra para expressar seu pensamento, onde outros idiomas teriam
uma variao351. Deste modo, ser o contexto que ir determinar seu significado.
No obstante, este termo to importante da antropologia veterotestamentria,
quase sempre traduzido por psych (alma). Nfesh aparece 755 vezes no Antigo
Testamento. Destas, a Septuaginta traduz o termo 600 vezes por psych (alma) em
um flagrante reducionismo de seu sentido mais amplo.
Vejamos algumas passagens que exemplificam nossa argumentao. Em
Gnesis 2:7, Jav Deus formou o ser humano do p da terra e soprou nas suas
narinas o flego da vida; assim o ser humano se tornou uma nfesh vivente. Neste
caso, nfesh no pode ser traduzido por alma, mas deve ser visto como expresso
da integralidade do ser humano, em especial com sua respirao. Neste sentido, o
ser humano no tem nfesh, mas nfesh352. Este ser humano, formado do p da
terra, no tem vida enquanto no recebe este sopro divino. Ato contnuo, no h
aqui distino entre corpo e alma. Este no um corpo sem alma, mas um ser
humano sem vida. Neste versculo temos um paradigma da antropologia
veterotestamentria353.
Quando nfesh refere-se a um membro do corpo (garganta, por exemplo),
este deve ser compreendido em suas atividades especficas (a via do alimento), e
estas, por sua vez, so concebidas como caractersticas de todo o ser humano.354
Textos como Isaas 5:14, Habacuque 2:5, Salmos 107: 5, 9, Eclesiastes 6:7 apontam
para a fome e a sede da nfesh, falam da nfesh desfalecida e ressequida, saciada
e enchida, em referncia clara no alma, mas garganta como smbolo do ser
humano em sua totalidade. Por isso, para Wolff nfesh o ser humano necessitado.
Em outros textos o termo hebraico nfesh utilizado em aluso respirao
(Jeremias 2:24, 15:9; J 11:20; Gnesis 35:18; I Reis 17:21s.; II Samuel 16:14 etc).
Para os semitas o ato de comer, de beber e de respirar realizava-se na garganta;
351
Cf. HAGSMA, 1998, p. 20.
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 33. Neste mesmo trecho, em nota de rodap, os autores citam W. Eichrodt o
qual afirma (...) a palavra significa, principalmente e antes de tudo, a vida e... a vida ligada a um corpo. Por
isso, a nfesh, com a morte, deixa de existir... Pode-se dizer exatamente que a nfesh morre. Ao contrrio da
concepo grega-platnica e da teologia crist que da surgiu, que afirmam que a alma traduo mais comum
de nfesh sobrevive ao corpo, posto que eterna e imortal.
353
Cf. HAGSMA, 1998, p. 21.
354
WOLFF, 2008, p. 35.
352
130
assim, ela era simplesmente a sede das necessidades elementares da vida.355
Quase sempre nfesh utilizado para designar rgos vitais, os quais
exigem satisfao, sem o qual o ser humano morre. Isto possibilitado pelo
pensamento estereomtrico-sinttico utilizado pelos escritores do Antigo Testamento
para descrever rgos do corpo em referncia totalidade do ser humano. Por
exemplo, Provrbios 18:15: Um corao sensato adquire conhecimento e o ouvido
dos sbios procura conhecimento. Quem adquire e busca conhecimento o ser
humano descrito aqui como corao e ouvido.
Nfesh tambm utilizado como pescoo no Livro de Salmos 105:18,
Apertaram em cadeias os seus ps, a sua nfesh foi posta em ferros (tambm em
Salmos 44:26; Salmos 119: 25; Gnesis 37:21; Jeremias 4:10). O que est sendo
ameaado nestes textos o ser humano (pescoo) que necessita de auxlio.
Nfesh descreve, alm disso, o ser humano que anseia ou anela por algo,
bom ou ruim. (...) quando o mal (Provrbios 21:10), a realeza (II Samuel 3:21; I Reis
11:37) ou Deus (Isaas 26:9) se tornam o objeto dos desejos ou quando o objeto
est inteiramente ausente (Provrbios 13: 4, 19), ento nfesh designa o desejo
como tal, o impulso da nsia humana como sujeito do desejar.356
Verdadeiramente, uma das possibilidades de traduo de nfesh alma (J
19:2; 30:25; Salmos 42:2; Isaas 53:11). Em todas estas passagens alma traduz os
sentimentos e emoes vivenciados por um ser humano nas mais variadas
situaes da vida, jamais no sentido grego de alma imortal e em conflito com o
corpo.
Nfesh pode descrever a vida mesma. Assim, em xodo 21:23ss. lemos, se
ocorrer um acidente, dars nfesh por nfesh, olho por olho, dente por dente, mo
por mo, p por p. Ou ainda, a prpria pessoa humana como em Levticos 23:30:
Toda nfesh que neste dia fizer qualquer trabalho, esta nfesh exterminarei do meio
do seu povo.
Finalmente, Wolff demonstra a utilizao de nfesh como pronome pessoal.
Sanso, ao derrubar as colunas da casa dos filisteus, exclama morra eu (nfesh)
com os filisteus. Ou Balao em Nmeros 23:10, que eu (a minha nfesh) morra a
morte dos justos. Assim, em alguns contextos a melhor traduo de nfesh seria
355
356
WOLFF, 2008, p. 39.
WOLFF, 2008, p. 42.
131
simplesmente pessoa ou ser. Por exemplo, em Levticos 2:1: Quando alguma
pessoa (nfesh k) fizer oferta de manjares ao Senhor.... Ou em Jeremias 52: 28,
29: (...) Este o povo que Nabucodonosor levou para o exlio (...) oitocentas e trinta
e duas pessoas (nfesh).357
Em resumo, nfesh no descreve uma parte da pessoa humana, muito
menos uma parte da pessoa humana em contraposio a outra parte desta mesma
pessoa. Nfesh, em seus mais variados usos, o ser humano. Quando a garganta
sente fome, o prprio homem que tem fome, quando a nfesh deseja algo e o
exige, todo homem que o exige e deseja. Neste contexto a palavra nfesh
significa, em sentido translato, o homem todo, na medida em que ele visa alcanar
algo.358
Em nenhuma destas aplicaes cabe a compreenso grega da alma imortal
aprisionada em um corpo. As 600 vezes que a Septuaginta traduz nfesh por
psych, lida em um contexto grego com sua mundividncia helnica-platnica,
infelizmente, ajudou a consolidar uma antropologia teolgica dualista em
contraposio viso semtico-veterotestamentria de ser humano integral.
4.1.2 Basar
O termo hebraico basar pode significar carne, corpo, parentesco ou
fraqueza. A palavra ocorre 273 vezes no Antigo Testamento, sendo que em 104
vezes a referncia a animais. Isto demonstra que basar fala de algo tpico tanto de
seres humanos quanto de animais359. Em Isaas 22:13 temos um exemplo de
utilizao de basar para designar a carne animal. J o relato de Gnesis 2:21 que
descreve a criao da mulher a partir de uma parte do ser humano, fala de basar
como de um pedao de carne do corpo humano, em oposio aos ossos. Vale
lembrar que o hebreu tem apenas a palavra basar para designar aquilo que o grego
357
WALTKE, Bruce K. Nepesh. In: HARRIS, R. Laird, ARCHER Jr., Gleason L. e WALTKE, Bruce K. (orgs.). Dicionrio
Internacional de Teologia do Antigo Testamento. So Paulo: Vida Nova, 2005. p. 985.
358
FIORENZA e METZ, 1972, p. 33.
359
Cf. WOLFF, 2008, p. 57.
132
expressa utilizando os conceitos de sarx (carne) e sma (corpo)360.
Assim, basar utilizado para descrever uma parte visvel do corpo. No
obstante, pode ser utilizado tambm para descrever o corpo todo. Encontramos esta
aplicao em Nmeros 8:7: Fazer passar uma navalha por todo o ser basar (isto ,
por todo o seu corpo). Em algumas passagens, ao descrever todo o corpo, basar
torna-se sinnimo de pronome pessoal: No h nada so no meu basar, por causa
da tua ira (Salmos 38:4a), ou O medo de ti faz estremecer o meu basar, temo os
teus juzos (Salmos 119:120).
Outra possibilidade a utilizao de basar para designar parentesco. Jud
afirma em relao a Jos: Ele nosso irmo, nosso basar. Assim tambm em
Gnesis 29:14; Gnesis 2:23; Juzes 9:2; II Samuel 5:1; 19:13s. Este parentesco
aplica-se tanto a membro da mesma famlia ou cl, quanto quilo que une o gnero
humano (Isaas 40:5, 6; 49:26b; Salmos 136:25)361.
Finalmente, temos basar designando a pessoa humana como limitada, fraca
e deficiente: Espero em Deus; no temo. Que me pode fazer basar? (Salmos 56:4).
Por isso, o termo nunca utilizado para descrever Deus, mas, usado muitas
vezes, como algo tipicamente humano em oposio a Deus. Assim, J pergunta a
Deus: Ser que tens olhos de carne (basar)? Olhas como um ser humano olha?
(J 10:4). Ou ainda, em referncia a Senaqueribe, o poderoso rei da Assria: Com
ele est s um brao de basar. Mas conosco est Jav, nosso Deus, para nos
ajudar (II Crnicas 32:8).362
Portanto, basar descreve a pessoa humana toda em suas deficincias, suas
limitaes caractersticas, sua efemeridade, esta tambm compartilhada pelos
animais, a solidria unio de todo gnero humano em sua fraqueza tica. A carne
transitria, fraca e mortal.363 Diante de tal fragilidade, sobressai um Deus que retm
sua ira e que providencia a fora vital necessria para o ser humano viver. (...) o
Deus espiritual contrastado com o homem carnal.364 Fiorenza e Metz concluem
afirmando:
360
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 33.
Cf. WOLFF, 2008, p. 61-62.
362
Cf. WOLFF, 2008, p. 64.
363
OSWALT, John N. Basar. In: HARRIS, R. Laird, ARCHER Jr., Gleason L. e WALTKE, Bruce K. (orgs.). Dicionrio
Internacional de Teologia do Antigo Testamento. So Paulo: Vida Nova, 2005. p. 228.
364
OSWALT, 2005, p. 228.
361
133
Neste sentido basar um designativo de parentesco, que exprime uma
comunidade e um liame ntimo de importncia vital. Nossa carne significa,
ento, nosso irmo (Gn 37:27) ou tambm nosso prximo (Is 58:7) e a
expresso toda a carne inclui toda a humanidade em sua criaturidade
perante Deus. Aparece aqui, bem nitidamente, que a palavra carne no s
acentua a integridade individual do homem em oposio antropologia
dualista mas que esta palavra exprimia originariamente tambm a
realidade inter-social e, at certo ponto, a existncia poltica divergindo
de toda antropologia individualista, que em certas circunstncias talvez
acentuasse a integridade do indivduo, mas conservava o seu estado de
prximo como uma espcie de subproduto, como algo derivado.365
Ou seja, basar fala do ser humano integral e de sua absoluta integrao com
toda a humanidade, ao contrrio do grego que com sarx refere-se a uma parte
especfica do ser humano e uma parte ruim, segundo esta viso. Basar
indivduo/humanidade carente e necessitado diante de Deus. O que est em foco
aqui sua condio de fraqueza e debilidade. Basar no pode tampouco ser
traduzido simplesmente por corpo.366 Pelo menos, no no sentido grego de
compreenso de um corpo/carne caixo da alma.
4.1.3 Rach
Rach ocorre 389 vezes no Antigo Testamento e designa, segundo Wolff,
em diferentes contextos vento, respirao, fora vital, esprito(s), temperamento,
fora de vontade. O termo pode ser utilizado significando uma fora da natureza, o
vento e, em 35% dos casos, rach utilizado em referncia a Deus367.
Rach refere-se ao ar em movimento (Gnesis 1:2; 3:8; Deuteronmio
32:11; Isaas 7:2). Digno de nota que rach descreve o divinamente poderoso em
contraste com basar, o humanamente dbil. Rach um fenmeno poderoso, do
qual Jav tem o poder de dispor.368
Em relao ao ser humano o termo utilizado em referncia respirao.
365
FIORENZA e METZ, 1972, p. 34.
RUBIO, 2006, p. 321.
367
Cf. WOLFF, 2008, p. 67.
368
WOLFF, 2008, p. 68.
366
134
Este vento, fora vital do ser humano, dado por Deus (Zacarias 12:1). assim
que, os ossos revestidos de carne, msculos e pele somente tornam-se corpo com
vida aps receber a rach de Jav (Ezequiel 37:6ss.). Sem a rach o ser humano
no tem vida. Uma vez privado da rach o ser humano morre (volta a Deus,
Eclesiastes 12:7; Salmos 146:4).
Acerca dos deuses dito que no interior dos dolos de madeira ou de pedra,
no h rach, isto , respirao e, assim, nenhuma fora vital, sem a qual no
possvel despertar e levantar-se (Habacuque 2:19).369
A rach de Jav no concede apenas vida biolgica, mas sua palavra
criadora (Salmos 33:6); concede aos seus servos fora especial para o combate
(Juzes 3:10); com a rach de Jav, Sanso pode despedaar um leo (Juzes 14:6);
Saul transformado em um outro homem (I Samuel 10:6); recebe-se o carisma da
profecia (Nmeros 24:2s.; Ezequiel 11:5; Isaas 42:1); Em Gnesis 41:38, fara
procura um homem no qual est a rach de Deus, ou seja, um homem prudente e
sbio (v. 33, 39). Em face dessas constataes, podemos conceber a rach como a
fora vital de Jav que se torna tambm caracterstica antropolgica. Sem a energia
da rach de Deus, no se pode entender o ser humano autorizado370, agraciado
com dons especiais.
Rach tambm utilizado como um ente (um esprito) que est a servio de
Jav (I Reis 22:21-23; Nmeros 11:17, 25s.). Como descrio de um estado de
esprito da pessoa (I Reis 10:5; J 15:13; Juzes 8:3; Deuteronmio 2:30). Estes
ltimos textos apontam para a disposio mental do ser humano. Tambm em
Provrbios 18:14: A atitude de um homem pode suportar uma doena, mas um
nimo (rach) abatido, quem o atura?.371
Finalmente, a rach descreve o sopro de Jav que desperta a vontade
humana para agir. Em Esdras 1:5 lemos acerca dos exilados cuja rach Deus
despertou, para subirem, a fim de construir a casa de Jav em Jerusalm.
Com tais consideraes, no podemos simplesmente traduzir rach por
esprito sem esperarmos perder o sentido original do termo, o qual descreve no
um esprito antagnico a matria, mas o ser humano como alvo da ao criadora de
369
WOLFF, 2008, p. 69.
WOLFF, 2008, p. 71-72.
371
WOLFF, 2008, p. 74-75.
370
135
Deus, concedendo-lhe vida e dons para viver esta vida tambm de forma criativa.
Esta palavra , por isso, usada s vezes para expressar um carisma especial,
concedido por Deus e que capacita e inspira os homens para realizaes especiais
a servio da histria da salvao.372
4.1.4 Lebab/Leb
A palavra leb ou sua variante lebab a mais utilizada no Antigo Testamento
para exprimir o conceito antropolgico, sendo encontrada 858 vezes. Aplicada quase
que exclusivamente ao ser humano seu sentido pode ser traduzido por corao,
sentimento, desejo, razo, deciso da vontade e o corao de Deus373.
Raras vezes a palavra utilizada em referncia ao rgo humano (o
corao) com suas funes fisiolgicas (I Samuel 25:37s.). Na maior parte das
vezes, leb ocorre de forma figurada. Na Bblia, as atividades essenciais do corao
humano so de natureza intelectual-psquicas.374 Ou seja, a localizao anatmica
do corao, serve aos autores bblicos como metfora daquilo que inescrutvel,
inacessvel e oculto na pessoa humana. Pelo menos, inacessvel aos seres
humanos, mas no a Deus. Assim, temos como exemplo Provrbios 24:12: Se
dizes: Mas ns no sabamos nada disto!, aquele que sonda os coraes o
perscruta. Tambm em Provrbios 15:11 encontramos: Perante Jav esto
descobertos mesmo o mundo inferior e a manso dos mortos, quanto mais os
coraes dos filhos dos seres humanos. Ou ainda, Ele conhece os segredos do
corao (Salmos 44:22).
Por conseguinte, cabe refletirmos sobre as vrias aplicaes metafricas de
leb. Os autores veterotestamentrios recorrem a leb para referirem-se a que atitudes
ou caractersticas dos seres humanos?
Em primeiro lugar, o termo leb utilizado figuradamente para descrever as
emoes e sentimentos humanos. Quando angustiado o salmista ora: Desfaze as
372
FIORENZA e METZ, 1972, p. 33.
Cf. WOLFF, 2008, p. 79.
374
WOLFF, 2008, p. 85.
373
136
aflies do meu corao! Conduze-me para fora das minhas angstias (Salmos
25:17). Manter-se sereno e tranqilo tem reflexos positivos para toda a vida: A vida
do corpo um corao sereno, mas o excesso de zelo a gangrena dos ossos
(Provrbios 23:17). Lemos tambm em Provrbios 15:13: Um corao alegre torna
risonho o rosto, enquanto a aflio do corao abate o nimo vital. Ou ainda, Um
corao alegre favorece a sade, enquanto um nimo abatido consome o corpo
(Provrbios 17:22). Vemos nestes textos que a citao do corao no serve para
exprimir o que se pensa deste rgo em termos fisiolgicos, mas, o mesmo torna-se
smbolo dos mais variados sentimentos humanos.
Alm de sentimentos, a palavra serve tambm para expressar os desejos do
ser humano. Este desejo pode ser pela mulher do prximo: no desejes no corao
a sua beleza (Provrbios 6:25). Tambm J declara que jamais o seu corao
correu atrs dos seus olhos (J 31:7). Ou seja, ele jamais sucumbiu aos seus
desejos.
bastante significativo que o termo leb seja tambm utilizado para
descrever funes intelectuais e racionais. Assim, o corao no simboliza to
somente as emoes e sentimentos humanos, mas, sobretudo, a capacidade de
compreenso. Citando Deuteronmio 29:3, Wolff afirma que assim como os olhos
so destinados para ver e os ouvidos para ouvir, o corao foi feito para entender.
E ele continua dizendo ele [o corao] deixa de cumprir sua funo mais prpria
quando, obstinado, se nega compreenso (Isaas 6:10)375. Podemos conferir esta
aplicao do termo leb em Provrbios 15:14, o corao do sensato procura o
conhecimento, e no Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para
adquirirmos um corao sbio. Leb, em nossos dias, seria utilizado para descrever
aquilo que entendemos por razo.
Ao contrrio de ns, o israelita teria muita dificuldade em distinguir a teoria
da prtica. Desse modo, o corao torna-se tanto centro do entendimento quanto da
vontade humana376. Em Provrbios 16:9 lemos o corao do ser humano planeja o
seu caminho, mas Jav dirige o seu passo, e no Livro de Salmos 20:4, Ele te
conceda de acordo com o teu corao e te realize todos os planos. Nestas
passagens a reflexo vem sempre acompanhada da ao. Sendo o corao (leb) o
375
376
WOLFF, 2008, p. 89.
Cf. WOLFF, 2008, p. 96.
137
local onde nasce a resoluo para agir de acordo com o conhecimento, ele adquire
tambm a significao de conscincia moral (I Samuel 24:6). ali que se tomam
decises certas e erradas (Provrbios 6:18; 4:20-27; xodo 4:21; Deuteronmio
2:30, etc). Ele torna-se smbolo de compromisso ou no com a vontade de Jav.
Este conduziu o povo pelo deserto para te provar e reconhecer o que estava no teu
corao, se cumpririas os seus mandamentos ou no (Deuteronmio 8:2). Tambm
em Provrbios 23:26, meu filho, d-me o teu corao e faze que as minhas
orientaes agradem aos teus olhos. Quando o povo est endurecido e
desobediente a Jav, um convite feito: circuncidai o prepcio do vosso corao e
no continueis a mostrar-vos obstinados (Deuteronmio 10:16). Isto tudo para que
as aes que procedem do corao sejam agradveis a Jav377.
Finalmente, leb tambm utilizado em referncia ao corao de Deus. O
corao de Deus expressa a vontade de Jav. Assim, Jav diz a Je: porque
executaste zelosamente o que justo aos meus olhos e inteiramente como est no
meu corao, os teus descendentes at a quarta gerao se assentaro no trono de
Israel (II Reis 10:30). Tambm descreve a boa vontade e o interesse de Deus sobre
seu servo: consagrei este templo que construste, deixando o meu nome l para
sempre; tambm os meus olhos e o meu corao sempre ho de permanecer l (I
Reis 9:3). O leb de Jav tambm o lugar de decises vitais: como posso desistir
de ti, Efraim (...). Virou-se em mim o meu corao, o meu arrependimento se inflama
com veemncia. No executo a minha ira ardente (...) pois sou Deus e no um ser
humano (...) (Osias 11:8s.). H uma reviravolta no corao de Deus e Ele renuncia
ao castigo378.
Portanto, leb descreve a pessoa humana em sua complexidade, seus
sentimentos e emoes, seus desejos, sua capacidade de utilizao do intelecto
para compreender a vida e para agir de acordo com este entendimento, suas
decises morais e sua disposio de estar ou no em consonncia com a vontade
de Deus. Nada mais distante da alma imortal (psych, termo utilizado na
Septuaginta para traduzir leb) do pensamento pitagrico-platnico.
Diante das constataes acima, temos razes para afirmar que a transio
do Cristianismo da influncia semtica para a influncia grega representou um
377
378
Cf. WOLFF, 2008, p. 96ss.
Cf. WOLFF, 2008, p. 105-106.
138
empobrecimento da antropologia crist. Este empobrecimento antropolgico teve
reflexos em toda a teologia. Assim, temos como exemplo a concepo escatolgica
hebraica para a qual a salvao no uma salvao da alma, individualista, mas
uma participao histrico-futura no reinado de Jav sobre o mundo379. Ou seja,
esta uma compreenso de uma salvao que convida para uma participao
social e poltica ativa. Esta concepo da salvao escatolgica no tem nada
daquela recompensa individualista no alm, mas desafia a desempenharmos um
papel de protagonistas nesta vida.
Tambm no que diz respeito ao pecado, encontramos um pensamento
hebraico bem distinto do grego para quem a fonte e origem do pecado o corpo.
Para o hebreu o pecado uma ao do homem todo; no reside, como tal, no
corpo mas no corao, isto , no mais ntimo do homem.380
Da mesma forma, o Antigo Testamento emprega a palavra carne ou toda
a carne para exprimir a relao entre Deus e a humanidade. Mesmo quando a
palavra basar empregada para revelar a total perdio moral do ser humano, isto
no deve servir para fazermos uma distino entre os componentes corporais e nocorporais do ser humano, desvalorizando o corpo humano em seu valor tico. A
expresso toda a carne descreve a situao de toda a humanidade perante Jav.
O homem carne algum com existncia histrica, que compartilha com seu povo
um futuro e por isso (...) capaz de decises histricas livres.381
Aqueles que afirmam a f no Deus criador de todas as coisas, devem
tambm afirmar a f no Deus salvador de todas as coisas. Como assinala Alfonso
Garca Rubio:
a f bblica no Deus criador que leva a rejeitar e a superar com toda
radicalidade as vises dualistas que estabelecem uma ruptura dicotmica
entre esprito e matria, entre alma e corpo, e desenvolvem uma relao de
excluso entre ambos. O ser humano concreto com a sua diversidade de
aspectos e dimenses criado pelo Deus que simultaneamente salvador.
No existem dois princpios criadores (o princpio bom, que estaria na
origem da realidade espiritual, e o princpio mau, origem da realidade
material), mas a ao criadora amorosa do Deus que tambm salvador.382
379
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 35.
FIORENZA e METZ, 1972, p. 35.
381
FIORENZA e METZ, 1972, p. 36.
382
RUBIO, 2006, p. 323-324.
380
139
4.2 O conceito de ser humano integral no Novo Testamento
Ao contrrio do estudo da antropologia veterotestamentria, precisamos
assumir que o estudo, e a demonstrao, de que a antropologia do Novo
Testamento preserva um conceito de integralidade do ser humano no to fcil.
De fato, a teologia paulina (e, sobretudo ela) bastante controversa neste aspecto.
H aqueles que acham que Paulo se deixou influenciar pela filosofia no-judaica e,
em suas cartas, na hiptese de estarem certos, teramos um sincretismo
antropolgico com elementos da cultura semtica e elementos da cultura grega. Por
outro lado, h aqueles que, na contramo deste pensamento, afirmam que Paulo se
contraps ao pensamento no-judaico e que suas principais fontes so o Antigo
Testamento e o judasmo no helenizado383.
Os estudiosos do tema do dualismo, de modo geral, apontam para a
necessidade de compreendermos o contexto no qual surgiu o Cristianismo, a saber,
o judasmo palestinense. O contraponto a este tipo de judasmo o judasmo
helenista ou alexandrino. Ora, o encontro do pensamento hebraico com estruturas
no-hebraicas deu origem a um sistema sincrtico no qual distingue-se concepes
mais monsticas (palestinense) e concepes mais dualistas e dicotmicas
(helenista)384.
Identificamos o judasmo helenista portanto, com tendncias dualistas na
traduo do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, na qual nfesh e leb
383
Cf. CHAMBLIN, J. K. Psicologia. In: HAWTHORNE, G. F.; MARTIN, R. P. e REID, D. G. Dicionrio de Paulo e
suas Cartas. So Paulo: Vida Nova; So Paulo: Paulus; So Paulo: Loyola, 2008. p. 1021-1034. O autor
desenvolve um apanhado geral dos estudiosos da antropologia paulina elaborando um excelente resumo da
controvrsia em torno do assunto. Chamblin demonstra que ao longo da histria vrios telogos defenderam a
dicotomia (e at a tricotomia) baseados no pensamento de Paulo, enquanto que outros, viram no apstolo a
defesa do antigo monismo semita. Tambm h aqueles que, como H. Ldemann e C.H. Dodd, assumem que
houve mudana nos escritos de Paulo, de incio numa perspectiva judaica para um ponto de vista helenstico. J
Bultmann assinala simplesmente a possibilidade de termos contradio na teologia paulina, ora pendendo para
o judasmo, ora para o helenismo. W. D. Stacey no v contradio. Para ele a teologia de Paulo era
fundamentalmente crist, utilizando-se normalmente da linguagem judaica, mas lanando mo de termos
helnicos quando estes eram mais adequados para expressar seu pensamento. Tambm para R. Jewett, Paulo
freqentemente tomava por emprstimo de seus parceiros de conversa termos antropolgicos, redefinindoos para satisfazer s necessidades de seu argumento. J. K. Chamblin arrazoa sobre muitos outros autores
disponibilizando importante material para pesquisa dos estudiosos da antropologia do apstolo Paulo.
384
Cf. FIORENZA e METZ, 1972, p. 36.
140
so traduzidos por psych. O deuterocannico Livro da Sabedoria tanto separa a
alma do corpo, quanto considera a alma superior ao corpo (cf. 8:17ss.; 9:15). Este
processo helenizante do judasmo alexandrino encontra seu apogeu em Filo de
Alexandria em quem o dualismo alma-corpo est bastante consolidado, embora com
algumas variaes em relao ao pensamento grego.
Quanto ao judasmo palestinense, seu fundamento est na antiga
concepo hebraica, sofre, no entanto, certa influncia do pensamento grego.
Embora, sem sombra de dvidas, em muitssimo menor escala do que o judasmo
alexandrino. No judasmo palestinense, nfesh e rach continuam a ser usados em
sentido tradicional, mas comea a ser utilizado j com bastante freqncia o termo
nashamah, aplicado s ao ser humano, e que designa o que o grego entende por
alma.385 Assim, podemos afirmar que o judasmo palestinense manteve-se na
perspectiva hebraica, mas sob certo influxo da viso helnica386.
no contexto do judasmo palestinense portanto, um judasmo que
preservou grande parte da herana monista que se constri a antropologia
neotestamentria. As palavras usadas no Novo Testamento que descrevem sua
viso do ser humano so psych, pnuma, sarx, sma e kardia. Estes termos so os
mesmos utilizados pelos filsofos gregos. Contudo, os autores neotestamentrios
do a eles uma significao totalmente distinta. Parte do problema da antropologia
crist decorre de uma interpretao desses termos gregos a partir de uma
concepo grega. Mutatis mutandis quando interpretamos estes termos a partir de
uma viso semtica, nos aproximamos da inteno original dos autores cristos387.
Em conformidade com o pensamento estereomtrico-sinttico do ambiente semita,
todas estas palavras podem significar tanto um aspecto do ser humano como o ser
humano em sua inteireza. Vejamos cada um separadamente.
385
Cf. RUBIO, 2006, p. 324.
Cf. RUBIO, 2006, p. 324.
387
Cf. CULLMANN, Oscar. Das Origens do Evangelho Formao da Teologia Crist. So Paulo: Novo Sculo,
2000. p. 193.
386
141
4.2.1 Psych
Semelhantemente ao hebraico nfesh, este termo designa a vida, mas
tambm o ser humano inteiro, a pessoa concreta. Tendo sido escrito num contexto
pr-filosfico, a utilizao neotestamentria de psych mantm a concepo
semtica acerca da pessoa humana. Com o termo psych designa-se o eu, a
pessoa com suas potencialidades, a vida interior. Atentemos para a passagem do
evangelho sintico de Marcos, captulo 8, nos versculos de 35 a 37. Sua anlise nos
mostra que em Jesus permanece o pensamento veterotestamentrio. Reza o
versculo 36 segundo muitas tradues: Pois, que aproveitar ao homem ganhar o
mundo inteiro, se vier a perder a sua alma (psych). Fiorenza e Metz, discordando
da interpretao de Harnack que via nestas palavras certo dualismo tambm em
Jesus, chamam-nos a ateno do versculo precedente: Pois quem quiser salvar a
sua vida (psych) perd-la-. Quem, porm, perder a sua vida (psych) por mim e
pelo evangelho, este a salvar. Notem que a palavra psych traduzida por vida
pelos mesmos que, no versculo 36, a traduzem por alma. A traduo vida, que
evidencia mais nitidamente o significado da palavra hebraica e aramaica nfesh,
deveria, consequentemente, ser adotada tambm no versculo 36.388 Tambm no
versculo 37 optou-se incompreensivelmente por alma (Que daria um homem em
troca de sua alma (psych)?), quando o mais correto seria vida. Aqui psych
uma sindoque para designar a pessoa humana em seu todo. , segundo o
versculo 35, a perda da vida toda por amor a Cristo e ao evangelho que nos dar a
possibilidade de experimentar a salvao escatolgica, a ressurreio da vida e no
de uma parte dela.
Outro texto dos evangelhos que exige uma explicao a passagem de
Mateus 10:28: No temais os que matam o corpo e no podem matar a alma
(psych); temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma
(psych) como o corpo. A segunda parte do versculo nos mostra que a melhor
traduo para psych neste texto vida e no alma. O que poder perecer no
inferno psych e corpo. A palavra vida traduziria melhor o aramaico napshsa.
388
FIORENZA e METZ, 1972, p. 39.
142
Cullmann cita J. Schniewind que sublinha que s Deus pode destruir, alm da vida
terrestre, a vida celeste.389
Tambm Gnther Bornkamm, em sua abordagem da teologia paulina, no
v no termo psych a alma imortal do ser humano, e sim, seguindo o pensamento
do Antigo Testamento, o ser humano nas suas manifestaes cotidianas, nas suas
atitudes, nos seus sentimentos.390 Assim podemos entender Filipenses 1:27: Vivei,
acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou
estando ausente, oua, no tocante a vs outros, que estais firmes em um s esprito
(pnumati), como uma s alma (psych), lutando juntos pela f evanglica. Ou
ainda, nesta mesma epstola captulo 2, versculo 2, completai a minha alegria, de
modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Em ambos os casos, deseja-se expressar a idia de
unanimidade, ou seja, a mesma mentalidade ou a mesma inteno391. Em I
Tessalonicenses 2:8 a traduo revista e atualizada de Almeida afirma: assim,
querendo-vos muito, estvamos prontos a oferecer-vos no somente o evangelho de
Deus, mas, igualmente, a prpria vida (psych); por isso que vos tornastes muito
amados de ns. Certamente, a traduo de psych por vida expressa mais
corretamente a antropologia paulina.
Assumindo que existiam expresses dualistas no judasmo nos tempos do
apstolo devido s influncias helenistas, devemos afirmar que a principal fonte da
antropologia paulina o monismo veterotestamentrio. Assim, em conformidade
com o significado de nfesh, em Paulo psych nunca simboliza a parte superior da
pessoa (Paulo nunca rene sma e psych como as duas partes do todo) ou uma
alma desencarnada e imortal.392
Nesta mesma linha Rudolf Bultmann afirma que Paulo desconhece a
concepo helenista-grega da imortalidade da alma (separada do corpo), tampouco
usa psych para designar a sede ou a fora da vida espiritual que d forma
matria, como se tornara costume no grecismo.393
So diversas as passagens que demonstram que a compreenso de Paulo
389
SCHNIEWIND, apud CULLMANN, 2000, p. 196.
BORNKAMM, Gnther. Paulo, Vida e Obra. Santo Andr: Academia Crist, 2009. p. 218.
391
Cf. BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. Santo Andr: Academia Crist, 2008. p. 261.
392
CHAMBLIN, 2008, p. 1023.
393
BULTMANN, 2008, p. 260.
390
143
de psych coincidente com o uso veterotestamentrio de nfesh, ou seja, a fora
da vida ou a prpria vida (Romanos 11:3; 16:4; II Corntios 1:23; Filipenses 2:30; I
Tessalonicenses 2:8). Psych a vitalidade especificamente humana, que prpria
de seu eu como aspirante, volitivo, que est voltado para um objetivo.394
Finalmente, assinalamos que quando psych (alma) utilizado em contraste
com pnuma (esprito) o que se deseja apontar para a vida natural do ser humano
terreno em contraposio vida sobrenatural.395 Este o caso de I Corntios 2:14:
Ora, o homem natural (psychikos anthrpos o homem psquico) no aceita as
coisas do Esprito de Deus, porque lhe so loucura; e no pode entend-las, porque
elas se discernem espiritualmente. A expresso contrape a pessoa natural privada
do Esprito de Deus, e no contraposio entre alma (coisas supostamente
espirituais) e corpo (coisas terrenas e inferiores)396. Por isso, Fiorenza e Metz
afirmam que em Paulo a contraposio no existe entre psych e sma, mas entre
sarx e psych (I Corntios 2:13ss.; 15:44ss.), de um lado, e pnuma, de outro lado.
Neste relacionamento pnuma pode designar a fora ou o esprito de Deus em sua
relao com o homem.397
Ou seja, a antropologia paulina, cujo melhor fundamento encontra-se no
texto de I Corntios 15, faz contraste entre o homem psquico e o homem
pneumtico398. Por homem psquico (psychikos anthrpos), Paulo quer dizer o ser
humano natural, voltado para si mesmo, autocentrado. Descreve assim, no uma
parte do ser humano sua alma mas o ser humano inteiro em sua auto-suficincia
em relao a Deus. Quando um semita utiliza a palavra psych ele no quer dizer a
mesma coisa que um grego quando utiliza a mesma palavra. Para este, psych
refere-se alma imortal, antagnica ao corpo e querendo constantemente libertar-se
dele. Para o semita Paulo, psych descreve o ser humano vivendo sua vida egosta,
rebelde contra Deus. Veremos que, na antropologia paulina, a irm gmea de
psych a sarx. O homem psquico o homem carnal.399
394
BULTMANN, 2008, p. 260-262.
BULTMANN, 2008, p. 262.
396
Cf. CHAMBLIN, 2008, p. 1022.
397
FIORENZA e METZ, 1972, p. 41.
398
Estudaremos o sentido desta expresso no tpico referente palavra pnuma.
399
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
395
144
4.2.2 Sarx
Sarx (carne) o equivalente grego para o basar hebraico. Tal como basar
pode designar tanto o ser humano inteiro, como parentesco ou comunidade. Das
147 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, 91 vezes so empregadas
nas cartas paulinas ou deuteropaulinas para descrever tudo aquilo que puramente
humano400. Assim, este importante termo da antropologia neotestamentria designa
o homem fechado sobre si prprio, na sua autonomia orgulhosa que o leva a rejeitar
as possibilidades oferecidas por Deus. Mas, note-se bem, o ser humano inteiro
quem se fecha, no uma parte dele.401
A definio acima descreve bem a proximidade de sarx e psych na teologia
paulina.
Contudo,
influncia
do
pensamento
grego,
nomeadamente
neoplatonismo, foi to acachapante sobre a formao do mundo ocidental que
quando dizemos alma e corpo ou esprito e corpo, em nossa mente estes termos
possuem significados bem determinados. Corpo descreve a parte fsica, mortal e
pecaminosa do ser humano e, alma ou esprito, a parte imaterial e imortal do ser
humano e, portanto, aquilo que deve ser salvo402. Mas, no assim no pensamento
semtico. Voltemos antropologia paulina.
Em Paulo carne (sarx) utilizado como sinnimo de pecado, ou seja, aquilo
que afasta a pessoa humana de Deus. Sarx descreve o ser humano em rebeldia
contra Deus. A carne fraca (Marcos 14:38). Em um curioso texto da carta aos
Colossenses lemos Nele, tambm fostes circuncidados, no por intermdio de
mos, mas no despojamento do corpo da carne, que a circunciso de Cristo.
Veremos no prximo tpico que corpo (sma) tambm descreve o ser humano
inteiro, aquilo que deve ser ressuscitado. Neste texto de Colossenses aprendemos
que o ser humano-corpo pode transformar-se em carne pelo pecado (corpo da
carne)403. A carne deve ser derrotada, na linguagem bblica, circuncidada. J o
corpo (ser humano) deve ser vivificado para, por fim, ser ressuscitado. Paulo
400
Cf. RUBIO, 2006, p. 325.
RUBIO, 2006, p. 325.
402
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
403
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
401
145
tambm fala em Romanos 6:6 em corpo do pecado, em carne pecaminosa em
Romanos 8:3, corpo de morte em Romanos 7:24. Fala tambm em corpo de
humilhao (Filipenses 3:21) e de corpo de desonra em I Corntios 15:42. Ainda
em I Corntios 15:50 a carne e o sangue no podem herdar o reino de Deus. Mas,
o corpo para o Senhor (I Corntios 6:13).404
Conclumos que o ser humano-carne o ser humano sujeito s tentaes e
ao pecado, ao sofrimento e morte. a pessoa que se contenta em realizar-se
somente nesta dimenso terrestre. o ser humano autocontemplativo, fechado para
os outros e para Deus405. Por isso Paulo pode dizer: Porque os que se inclinam
para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se inclinam para o Esprito,
das coisas do Esprito. Porque o pendor da carne d para a morte, mas o do
Esprito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne inimizade contra Deus,
pois no est sujeito lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que esto
na carne no podem agradar a Deus. Vs, porm, no estais na carne, mas no
Esprito, se, de fato, o Esprito de Deus habita em vs... (Romanos 8: 5-9a). Ento,
devemos afirmar que quando o grego utiliza sarx (ou sma), ele designa a parte
material e ruim do ser humano e que deve ser eliminada. Quando Paulo usa sarx ele
tem em mente o basar semtico.
4.2.3 Sma
O termo sma utilizado no Novo Testamento para designar tanto o cadver
(como em Homero) quanto o corpo vivo do ser humano. O apstolo Paulo, como
vimos no tpico anterior, o utiliza muitas vezes como sinnimo de sarx. Contudo, o
apstolo faz uma distino significativa ao tratar da ressurreio. Aqui, sarx,
medida que significa o homem velho, chamada a desaparecer. O corpo, pelo
contrrio, chamado ressurreio.406
isto que lemos em Romanos 6:6 onde se diz: sabendo isto: que foi
404
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
Cf. BOFF, 1973, p. 87.
406
RUBIO, 2006, p. 326.
405
146
crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja
destrudo, e no sirvamos o pecado como escravos. O corpo de pecado nossa
carne (sarx), nossa natureza pecaminosa, esta deve ser destruda. O texto continua
ora, se j morremos com Cristo, cremos que tambm com Ele viveremos (v.8) e
assim tambm vs considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em
Cristo Jesus. Mais adiante, em Romanos 8:23 lemos que estamos aguardando a
adoo de filhos, a ressurreio do nosso corpo. Se sarx no a carne
propriamente dita, mas a natureza humana egocntrica, corpo tambm no o
corpo propriamente dito (pelo menos no o corpo somente), mas o ser humano
completo que deve considerar a si mesmo morto para o pecado e vivo para Deus.
Est claro que Paulo no concebe uma existncia humana futura depois da morte e
consumao sem um sma (I Corntios 15:35ss.). A existncia humana somente
possvel como um ser somtico407. Alm disso, sobretudo em sua carta aos romanos
o apstolo deixa claro que na corporeidade que se concretiza o discipulado
obediente a Cristo (Romanos 6:12ss.). Afirma Ksemann: Destri-se o nexo da
soteriologia paulina quando se duvida, por pouco que seja, que j para o apstolo
todos os caminhos de Deus com a sua criao comeam e terminam na
corporeidade. No existe, para ele, ao divina que no tenda para ela, que no
queira manifestar-se nela.408 Assim tambm Fiorenza e Metz enfatizam que o
apstolo redige o texto que se encontra em I Corntios 6:12 a 20 e todo o captulo 15
da mesma epstola para condenar as influncias gnsticas sobre os entusiastas do
esprito da comunidade corintiana. Para Paulo a carnalidade o local da salvao.
Cristo nos salvou precisamente atravs da doao de sua vida, o que envolveu a
entrega de seu corpo. A Ele pertenceremos plenamente, se os nossos corpos lhe
pertencerem.409 Nisso se constitui a antropologia e escatologia paulinas.
Conclumos que o ser humano-corpo a pessoa mesma, o eu, o ser
humano em seu relacionamento social e poltico410. Este ser-humano-corpo ser
ressuscitado. No dizer de Boff corpo o que h de mais prximo para descrever
aquilo que entendemos por personalidade411. Nesse sentido o ser humano no tem
407
Cf. BULTMANN, 2008, p. 248.
KSEMANN, Ernst. Perspectivas Paulinas. So Paulo: Teolgica/Paulus, 2003. p. 37.
409
FIORENZA e METZ, 1972, p. 44.
410
Cf. BOFF, 1973, p. 87.
411
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
408
147
um sma, mas um sma.412 E ainda, por isso, Paulo nunca fala em ressurreio
da carne, mas do corpo que deve ser mudado (I Corntios 15:51, 52) e transformado
em corpo espiritual.413 Esta ltima expresso utilizada por Boff (corpo espiritual)
nos remete ao tpico seguinte.
4.2.3 Pnuma
Pnuma o equivalente grego para o rach hebraico. Assim, pnuma pode
significar tanto o princpio da vida concedido por Deus quanto a prpria pessoa
humana, neste caso, sendo utilizado como pronome pessoal414. Em Paulo o termo
serve para contrastar com sarx e psych. Estes entendidos como fraqueza e
inclinao ao pecado, aquele para designar o ser humano inteiro aberto ao do
Esprito Santo415, consciente da nova existncia a ele possibilitada pela ressurreio
de Cristo.
Deus mesmo Esprito (rach). Seu equivalente grego pnuma indica o
princpio pela qual o ser humano se coloca em consonncia vontade de Deus. Em
coerncia com o tpico anterior, devemos afirmar que pnuma se ope, no ao
corpo (ser humano), mas carne (natureza pecaminosa).
Voltemos expresso com a qual finalizamos o item anterior: corpo
espiritual. Esta aparece em I Corntios 15:44: Semeia-se corpo natural, ressuscita
corpo espiritual. Se h corpo natural, h tambm corpo espiritual. Como j
asseveramos, para o pensamento teolgico tradicional, esprito e corpo se
contrapem, pois, esprito imaterial e imortal e corpo material e mortal. Como
Paulo pode unir duas coisas to contraditrias na expresso corpo espiritual?
Porque para ele, bem como para todo o pensamento semita, esprito e corpo no se
contrapem, mas, so dois termos que se complementam416. Sendo que, o ser
humano-corpo (sma) pode ser corrompido pela carne (sarx), tanto quanto pode ser
412
BULTMANN, 2008, p. 250.
BOFF, 1973, p. 74.
414
Cf. RUBIO, 2006, p. 326.
415
Cf. RUBIO, 2006, p. 326.
416
Cf. BOFF, 1973, p. 73.
413
148
vivificado pelo esprito (pnuma) (Romanos 6:6-14). Se por corpo carnal Paulo
descreve o ser humano alienado de Deus, por corpo espiritual o apstolo descreve
o ser humano em total comunho com Deus e, por conseguinte, com o prximo e
com o mundo. O mesmo contraste Paulo faz entre o homem psquico (carnal,
controlado por sua prpria natureza) e o homem pneumtico (espiritual, repleto da
realidade divina pela ressurreio).
Assim, devemos descartar a proposta neoplatnica (e tambm da teologia
tradicional) de mortificao do corpo, dos prazeres e desejos como caminho para a
santificao e vida espiritual e optarmos pela proposta bblica da vivificao do corpo
pela ressurreio, como via de acesso plena comunho com Deus e com Sua
vontade. A ressurreio deve ser entendida no na perspectiva biolgica, mas no
sentido da vida penetrada pelo esprito de Deus, que nos garante a vida eterna, e a
vitria sobre a morte. o ser humano introduzido na realidade do Reino de Deus,
identificado com sua destinao divina final, escatologizado. O ser humano
pneumtico o ser humano ressuscitado. pela ressurreio que o ser humanocarne transformado em ser humano-corpo espiritual. Vejamos como Leonardo Boff
sintetiza esta idia.
Numa palavra: com a expresso corpo espiritual, Paulo quer dizer o
seguinte: pela ressurreio o homem todo inteiro foi radicalmente repleto da
realidade divina e libertado de suas alienaes como fraqueza, dor,
impossibilidade de amor e de comunicao, pecado e morte.417
A ressurreio de Cristo nos garante a nossa prpria ressurreio e a vitria
final sobre a morte, como em Romanos 8:11418 (cf. tambm I Corntios 15:1-28).
Desta forma, podemos unir nossas vozes ao apstolo e afirmarmos: tragada foi a
morte pela vitria. Onde est, morte, a tua vitria? Onde est, morte, o teu
aguilho? (I Corntios 15:54c, 55).
417
BOFF, 1973, p. 74, 88.
Se habita em vs o Esprito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou
a Cristo Jesus dentre os mortos vivificar tambm o vosso corpo mortal, por meio do seu Esprito, que em vs
habita.
418
149
4.2.4 Kardia
O termo kardia aparece 148 vezes nos escritos neotestamentrios e est em
conexo com o hebraico leb para designar tanto o centro vital do ser humano quanto
a interioridade desta pessoa na qual Deus se manifesta. O significado de corao
como sendo a vida interior, o centro da personalidade e o lugar onde Deus se revela
aos homens se expressa ainda mais claramente no NT do que no AT.419
Novamente, de acordo com o pensamento estereomtrico-sinttico, kardia
freqentemente utilizado no para descrever o rgo humano e suas funes vitais,
mas como metfora daquilo que a essncia ou natureza humana, ou seu ncleo
fundamental. Assim, assinala Alfonso Garca Rubio que o pecado afeta, sobretudo
o corao do homem, escravizando, a partir dele, o ser humano por inteiro.420
O uso metafrico designa no uma parte do ser humano, mas toda a pessoa
humana421. Um bom exemplo disso est I Pedro 3:4 onde lemos seja, porm, o
homem interior do corao, unido ao incorruptvel trajo de um esprito manso e
tranqilo, que de grande valor diante de Deus. O uso de kardia denota a vida
intelectual e espiritual, a vida interior, em contraste com as aparncias externas422.
Assim empregado em II Corntios 5:12: No nos recomendamos novamente a vs
outros; pelo contrrio, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que
tenhais o que responder aos que se gloriam na aparncia e no no corao
(kardia).
Alhures empregado metaforicamente para identificar a sede da vida
espiritual. no corao que brotam as dvidas e a dureza, mas tambm a f e a
obedincia.423 O pecado que escraviza o ser humano faz do corao seu centro de
comando. no corao que acontece a batalha travada pelo Esprito contra o
pecado. kardia o lugar onde Deus trata com o homem... aquela parte do
419
SORG, T. Corao. In: COENEN, Lothar e BROWN, Colin (orgs.). Dicionrio Internacional de Teologia do
Novo Testamento. Vol. I. So Paulo: Vida Nova, 2000. p. 426.
420
RUBIO, 2006, p. 326.
421
Cf. SORG, 2000, p. 425.
422
Cf. SORG, 2000, p. 426.
423
Cf. SORG, 2000, p. 426.
150
homem... onde, em primeira instncia, se decide a questo pr ou contra Deus. 424
Assim, no corao que ocorre a mudana de mente (metanoia)425, a converso426.
O Novo Testamento utiliza diversas vezes o termo kardia em paralelo com
nous (mente). O leb hebraico s vezes traduzido por ou por outro. Bultmann nos
lembra que o apstolo Paulo utiliza kardia muitas vezes fazendo composio com
nous para designar o eu como volitivo, planejador, ambicioso.427 J vimos que leb
compreende a sede dos sentimentos, dos anseios, das decises, mas tambm, do
entendimento como no Livro de Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias,
para adquirirmos um corao sbio. Ento, leb tambm a sede da razo. Isto se
repete agora com o paralelismo entre kardia e nous. Neste sentido lemos em I
Corntios 4:4: nos quais o deus deste sculo cegou o entendimento (nous) dos
incrdulos, para que lhes no resplandea a luz do evangelho da glria de Cristo, o
qual a imagem de Deus. Ou em Romanos 1:21: porquanto, tendo conhecimento
de Deus, no o glorificaram como Deus, nem lhe deram graas; antes, se tornaram
nulos em seus prprios raciocnios, obscurecendo-se-lhes o corao insensato.
Semelhantemente a outros termos antropolgicos que temos estudado,
tambm kardia descreve o eu, o ser humano propriamente. Nestes casos, kardia
pronome pessoal. desta forma que o apstolo Paulo aplica o termo em Romanos
10:1: Irmos, a boa vontade do meu corao e a minha splica a Deus a favor deles
so para que sejam salvos. Ou em Romanos 1:24 para descrever a inclinao ao
pecado: Por isso, entregou tais homens imundcia, pelas concupiscncias de seu
prprio corao, para desonrarem o seu corpo contra si (cf. tambm I Corntios 4:5,
7:37; II Corntios 9:7; Romanos 9:2; Filipenses 1:7).
4.3 Concluso
Com as informaes expostas at aqui podemos chegar s seguintes
concluses: na antropologia bblica o ser humano forma uma unidade fundamental.
424
SORG, 2000, p. 427.
Cf. BULTMANN, 2008, p. 278.
426
Cf. SORG, 2000, p. 427.
427
BULTMANN, 2008, p. 278.
425
151
O ser humano em sua inteireza corpo, carne, alma, esprito, corao e mente.
Todos esses termos antropolgicos, seja na lngua hebraica, seja na aplicao
grega dada a eles pelos autores do Novo Testamento, nomeadamente Paulo, so
utilizados para descrever o ser humano em sua vida plena, em seu constante
processo de vir-a-ser, em seus anseios e desejos, seus anelos e sonhos, sua
experincia transcendental, suas vontades, seu intelecto, sua decises morais, seus
inter-relacionamentos sociais e polticos, suas fragilidades causadoras de dor,
sofrimento e morte, suas fraquezas que o levam degradao, degenerescncia e
fragmentao de seu eu, sua absoluta carncia de Deus e a todas as
possibilidades que se abrem com a descoberta de seu destino divino final, o qual
tem como pendor a ressurreio do Cristo crucificado.
Vivemos, portanto, esta dialtica: de um lado somos limitados s situaes
espao-temporais, de outro, nos abrimos para a experincia do transcendente428.
Boff nos lembra que a tradio chamou de corpo ao homem todo inteiro (corpo e
alma) enquanto limitado e, de alma, ao mesmo homem todo inteiro (alma e corpo)
enquanto ilimitado e aberto para a totalidade das relaes.429 E ele completa
dizendo: Corpo e alma no so pois duas entidades do homem, mas duas
dimenses e perspectivas do mesmo e nico homem.430
Este ser no est plenificado no presente, sempre um estar-em-busca-de.
Nessa sua busca ele pode encontrar-se ou perder-se431. Pode ser bom ou pode ser
mau. Pode encontra-se em sua vocao para o divino, ou perder-se em suas
tendncias para o egosmo. Ou, como vimos, pode viver como ser humano-carnepsquico ou como ser humano-corpo-pneumtico, como ser humano natural ou como
ser humano espiritual, como ser humano inclinado sobre si mesmo, fechado em seu
prprio horizonte ou como ser humano aberto para o mistrio do divino. Pelo bem da
verdade, nossa jornada um misto de todas estas coisas. Oscilamos
constantemente entre estes dois caminhos que se entrecruzam de forma implacvel.
Estamos neste constante ir-e-vir. Esta a condio humana. Somos como Abrao e
Pedro, como Davi e Tom. Queremos a vida mais que tudo e, em nossa nsia, nos
perdemos nos emaranhados do ser humano interior. Quem quiser, pois, salvar a
428
Cf. BOFF, Leonardo. O Destino do Homem e do Mundo. Petrpolis: Vozes, 1982. p. 57.
BOFF, 1982, p. 57.
430
BOFF, 1982, p. 57.
431
Cf. BULTMANN, 2008, p. 285.
429
152
sua vida perd-la-; e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvla- (Marcos 8:35). Se o gro de trigo no cai na terra ficar s; mas, se morrer,
dar muito fruto (Joo 12:24). Assim que Leonardo Boff afirma:
Pertence ao ser humano a corporalidade. Pode significar fraqueza, mas
tambm transcendncia; pode designar fechamento sobre si mesma
(carne), mas tambm abertura e comunho (corpo) e radical referncia para
com Deus (esprito). O corporal um sacramento do encontro com Deus.
Em Jesus Cristo se mostrou que o corpo constitui o fim dos caminhos de
Deus e do homem. Em Cristo habita a plenitude da divindade em forma
corporal (Colossenses 2:9).432
Jesus Cristo o Deus encarnado. Tambm ns, como criaturas de Deus
somos seres encarnados e, atravs de nossa corporalidade, que nos relacionamos
com tudo em nossa volta. O estar-no-mundo do homem no um acidente, mas
exprime sua realidade essencial.433 No h um SER HUMANO somente corpomatria, ou somente esprito-imaterial. Em sua totalidade o SER HUMANO
corporal e espiritual. Tudo ao mesmo tempo. Qualquer coisa diferente disso
alguma outra coisa, mas no um SER HUMANO. Porque no homem s existem um
esprito corporalizado e um corpo espiritualizado.434
432
BOFF, 1973, p. 89.
BOFF, 1973, p. 85.
434
BOFF, 1973, p. 85.
433
153
CONCLUSO
A asctica crist disse que o mundo era mau e o abandonou.
A humanidade est espera de uma revoluo crist
que diga que o mundo mau, mas trate de modific-lo.
Walter Rauschenbusch
Iniciamos este estudo descrevendo a concepo antropolgica grega a partir
da obra Fdon de Plato. Vimos que neste livro o filsofo ateniense narra os ltimos
acontecimentos na vida de seu mestre Scrates, o qual, em dilogo com seus
discpulos mais prximos, arrazoa acerca do sentido da vida e da morte, na mais
clssica e bela descrio da f grega na imortalidade da alma. bastante conhecida
a comparao feita entre a morte de Scrates e a morte de Jesus.
Como abordado no primeiro captulo, Scrates est absolutamente em paz
diante da morte435. Chega a demonstrar felicidade, pois, para ele, a morte
representava a libertao final. Todo verdadeiro sbio deve aspirar a isto. Corpo e
alma so entes de mundo diferentes e antagnicos entre si436. Enquanto a morte do
corpo no chega, o filsofo dever ocupar-se em meditar acerca das verdades
eternas. Fazendo isto, ele estar antecipando a libertao da alma. Mas, na morte
que a alma imortal encontrar, finalmente, seu destino eterno liberta da priso do
corpo. Assim, a morte a grande amiga da alma e como tal deve ser recebida com
alegria e de braos abertos437. No h, na morte de Scrates, o mnimo sinal de
terror, nenhum sentimento de tragdia, apenas jbilo e serenidade. Transformando
435
Cf. pgina 13.
Cf. CULLMANN, 2000, p. 186.
437
Cf. CULLMANN, 2000, p. 186.
436
154
sua crena em ato, o filsofo bebe a cicuta mantendo plena dignidade e calma438.
Mutatis mutandis, na morte de Jesus, o horror o ar que se respira. Diante
dela, Jesus possudo por profunda tristeza ao ponto de quase desesperar. O
evangelista Marcos que afirma ser Jesus o Filho de Deus, no atenua a descrio
da cena: (...) a minha alma est profundamente triste at morte (Marcos 14:34).
Para Ele a morte a grande inimiga a ser vencida. E, diante da possibilidade de ser
por ela tragado, est profundamente angustiado. Apela ao Pai para ser poupado: E
dizia: Aba, Pai, tudo te possvel; passa de mim este clice (...) (Marcos 14: 36).
Convida seus discpulos mais ntimos para acompanh-lo nesta hora de dor:
Voltando-se, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Simo, tu dormes? No pudeste
vigiar nem uma hora? (Marcos 14:37). Jesus, segundo o pensamento semita, sabe
que a morte separao radical de Deus. A vida toda criada por Deus destruda
neste momento439. Assim que o autor aos Hebreus pinta a cena do Getsmani
com cores fortes: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte
clamor e lgrimas, oraes e splicas a quem o podia livrar da morte (...) (Hebreus
5:7). Jesus, diante da morte, clama e chora.
Quo grande o contraste entre as cenas da morte de Scrates e de Jesus. O
filsofo sereno e feliz. O Senhor aterrorizado, solta um grande brado (Marcos 15: 34,
37). Para Scrates a morte amiga, para Jesus ela o ltimo inimigo a ser vencido
(I Corntios 15:26). Aqui, aparece o abismo entre o pensamento grego e a f judaica
e crist. (...) nada nos mostra melhor a diferena radical entre a doutrina grega da
imortalidade da alma e a f crist na ressurreio.440
Somente se assumirmos a necessidade de uma plena morte de Jesus
poderemos entender toda a dimenso da f judaica e crist na ressurreio. A
ressurreio s grande porque significa a ressurreio de toda a vida e no de
uma parte dela, o corpo-matria. porque experimenta a total separao de Deus
na morte, tanto no corpo quanto na alma, que a ressurreio de Jesus o grande
grito de f do Novo Testamento. No haveria tamanha glria na ressurreio, se a
morte fosse somente parcial. Enquanto para o grego quem deve ser vencido o
corpo, para o Novo Testamento quem deve ser vencida a morte. Tragada foi a
438
Cf. PLATO, 1987, p. 126.
Cf. CULLMANN, 2000, p. 188.
440
CULLMANN, 2000, p. 189.
439
155
morte pela vitria. Onde est, morte, a tua vitria? Onde est, morte, o teu
aguilho? (I Corntios 15:54c,55).
A Bblia descreve a morte como algo terrvel, como um inimigo a ser vencido
e mais, como algo que aniquila toda a vida, no poupando nada, espalhando dor e
tragdia, solido e terror. Esta mesma Bblia tambm aponta para a ressurreio de
Cristo como a grande notcia do evangelho. na ressurreio do Senhor que reside
toda a esperana crist.
digno de nota que o processo salvfico engendrado por Cristo tem em seu
centro o corpo. Isto o meu corpo oferecido por vs (...). Este o clice da nova
aliana no meu sangue derramado em favor de vs (Lucas 22:19b, 20b). A
salvao passa pelo corpo, o Corpo (sma pneumatikon) de Cristo. O que Jesus
estava entregando era, obviamente, a sua vida seu corpo e seu sangue. Sua
morte e ressurreio esto no centro e no fim daquilo que Oscar Cullmann chama de
a histria da salvao.441 A ressurreio do sma pneumatikon de Cristo se reflete
diretamente sobre o nosso corpo carnal. Enquanto para o grego o corpo um
caixo, para o cristo o corpo templo do Esprito Santo. Da que devemos dar
graas a Deus pela existncia do nosso corpo: Ou no sabeis acaso que o vosso
corpo templo do Esprito Santo que est em vs e que vos vem de Deus, e que
vs no vos pertenceis? Algum pagou o preo do vosso resgate. Glorificai portanto
a Deus por vosso corpo (I Corntios 6:19, 20 TEB). A esse respeito Silvia Schroer
e Thomas Staubli comentam: Levar a srio a metfora paulina do corpo humano
como templo do Esprito Santo em todos os seus aspectos, significa levar a srio a
plena presena de Deus na corporalidade e a inviolvel dignidade do corpo humano
que da resulta.442
Ora, tudo o que se disse at aqui nesta concluso para acentuar o fato de
que a morte e a ressurreio de Jesus nos servem como paradigma para uma
antropologia teolgica baseada no pensamento semtico-bblico e no no
pensamento helenstico-platnico. Ousamos afirmar que, em que pese a
generalizada crena crist na imortalidade da alma, decorrente da crena no
dualismo antropolgico, ainda que esta ltima de forma escamoteada ou
inconsciente, no h respaldo bblico que d suporte e sustentao para tal idia.
441
442
CULLMANN, 2000, p. 191.
SCHROER, Silvia e STAUBLI, Thomas. Simbolismo do Corpo na Bblia. So Paulo: Paulinas, 2003. p. 56-57.
156
Donde ento se originou este pensamento? Como procuramos mostrar no primeiro
captulo desta obra, sua gnese encontra-se na teologia crist da patrstica a qual se
cunhou sob forte influxo da filosofia helnico-platnica.
Como j foi apontado, fosse este assunto objeto de mera discusso
acadmica, talvez no merecesse nossa ateno e pesquisa. No entanto, nosso
objetivo neste trabalho foi mostrar que as conseqncias prticas para a vida da
Igreja foram extraordinariamente brutais. A teologia crist-platnica que tendeu ao
menosprezo do corpo e privilegiou uma proposta de espiritualidade desencarnada,
idealista, etrea e gnstica desembocou em moralismo, em busca deliberada pelo
martrio, em demonizao do sexo e da sexualidade, em condenao de toda sorte
de prazeres, em desenvolvimento de uma culpa endmica na cultura ocidental,
serviu de referncia terica para a defesa da guerra justa, da violncia fsica contra
as vozes dissonantes dentro da Igreja, sustentou o genocdio perpetrado pelas
Cruzadas, o horror dos instrumentos de tortura dos tribunais inquisitrios e sua
fogueiras que matavam o corpo para salvar a alma, serviu de suporte para a quase
aniquilao dos povos amerndios, a famigerada escravizao dos povos africanos,
a arrogante colonizao europia em vrias partes do mundo. No caso da insero
do protestantismo no Brasil gerou repdio da cultura tropical tupiniquim naquilo que
havia de mais alegre, criativo e belo na sociedade brasileira: seus ritmos musicais,
seus instrumentos de percusso, suas danas regionais, suas festas populares, seu
folclore. Acrescentemos as roupas tpicas e prprias para um clima tropical, o prazer
e desfrute de suas belas praias, a espontaneidade do povo, as relaes informais e,
pecado dos pecados, a condenao das duas maiores paixes nacionais, o futebol e
o carnaval.
bastante conhecida a afirmao de Rudolf Bultmann de que toda teologia
simultaneamente uma antropologia. Deus considerado nas cartas paulinas a
partir de seu significado para o ser humano443. na encarnao que se revela todo
propsito de Deus para os homens e mulheres criados sua imagem e semelhana.
Na encarnao se d a descoberta real do Deus absoluto.444 Nesse encontro com
a divindade percorremos esta dupla jornada: experimentamos o transcendente e o
443
444
Cf. BULTMANN, 2008, p. 246.
RAHNER, Karl. Teologia e Antropologia. So Paulo: Paulinas, 1969. p. 55.
157
humano ao mesmo tempo445. O especfico da experincia crist reside em
experimentar Deus num homem, Jesus.446 Ele, que o resplendor da glria e a
expresso exata do seu Ser (...) (Hebreus 1:3a). Curiosamente, nossa coparticipao na natureza divina (II Pedro 1:4) intensifica-se na proporo em que
nos aproximamos do Deus-Ser humano, Jesus de Nazar. nesta condio,
quando Ele est mais distante de Sua natureza divina, poderamos dizer em Sua
condio quentica, que encontramos nossa verdadeira vocao447. Em Sua
humanidade Jesus quer nos apontar um caminho, nos propor, por assim dizer, uma
espiritualidade. A espiritualidade de se ser humano. Talvez por isso Boff tenha
afirmado a divinizao do homem humaniza a Deus e a humanizao de Deus
diviniza o homem.448 O amor de Deus por Sua criao foi tamanha que por ela Ele
se humanizou. em nossa plena humanidade que experimentaremos uma
verdadeira espiritualidade, nossa destinao final em direo ao divino.
As angstias de minha adolescncia evanglica foram, finalmente,
aplacadas!
445
Cf. RAHNER, 1969, p. 54.
BOFF, 1982, p. 153.
447
Cf. RAHNER, 1969, p. 54.
448
BOFF, 1973, p. 90.
446
158
REFERNCIAS
A BBLIA Edio Revista e Atualizada no Brasil. So Paulo: SBB, 1994.
AGOSTINHO. Sobre a Potencialidade da Alma. Petrpolis: Vozes, 1997.
ALENCAR, Gedeon Freire de. Matriz Pentecostal Brasileira: Assemblia de Deus. In:
Simpsio 48. So Paulo: ASTE, 2008. p. 11-35.
ALTANER, B. e STUIBER, A. Patrologia: Vida, obras e doutrina dos padres da
igreja. So Paulo: Paulinas, 1972.
ALVES, Rubem. O que religio. So Paulo: Brasiliense, 1981.
_____________. Religio e Represso. So Paulo: Teolgica/Loyola, 2005.
AQUINO, Toms de. Suma contra os gentios. Volume I. Porto Alegre: EST/Sulina;
Caxias do Sul: UCS, 1990.
AZEVEDO, Marcos. A Liberdade Crist em Calvino. Uma resposta ao mundo
contemporneo. Santo Andr: Academia Crist, 2009.
AZZI, Riolando. Mtodo missionrio e prtica de converso e colonizao. In:
SUESS, Paulo (org.). Queimada e semeadura: da conquista espiritual ao
descobrimento de uma nova evangelizao. Petrpolis: Vozes, 1988. p. 89-105.
BEOZZO, Jos Oscar. Evangelho e escravido na teologia latino-americana. In:
RICHARD, Pablo (org.). Razes da teologia latino-americana. Paulinas: So Paulo,
1988. p. 83-122.
BITTENCOURT FILHO, Jos. Matriz Religiosa Brasileira. Religiosidade e mudana
social. Petrpolis: Vozes, 2003.
BOAVENTURA. Obras Escolhidas. Porto Alegre: EST/Sulina; Caxias do Sul: UCS,
1983.
BOFF, Leonardo. A Ressurreio de Cristo. A nossa ressurreio na morte: A
dimenso antropolgica da esperana humana. Petrpolis: Vozes, 1973.
______________. O Destino do Homem e do Mundo. Petrpolis: Vozes, 1982.
BONINO, Jos Miguez. Rostos do Protestantismo Latino-Americano. So
Leopoldo: EST/Sinodal, 2003.
BORNKAMM, Gnther. Paulo, Vida e Obra. Santo Andr: Academia Crist, 2009.
BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. Santo Andr: Academia
Crist, 2008.
159
CALVINO, Joo. As Institutas. Vol. 4. So Paulo: Cultura Crist, 2006.
CAMPOS, Leonildo S. Razes Histricas, Sociais e Teolgicas do Movimento
Pentecostal. In: Simpsio 48. So Paulo: ASTE, 2008. p. 36-72.
CESAR, Waldo; SCHAULL, Richard. Pentecostalismo e futuro das igrejas
crists: promessas e desafios. Petrpolis: Vozes; So Leopoldo: Sinodal, 1999.
CHAMBLIN, J. K. Psicologia. In: HAWTHORNE, G. F.; MARTIN, R. P. e REID, D. G.
Dicionrio de Paulo e suas Cartas. So Paulo: Vida Nova; So Paulo: Paulus; So
Paulo: Loyola, 2008.
CHAMPLIN, R. N. Enciclopdia de Bblia, Teologia e Filosofia. So Paulo:
Hagnos, 2001.
COMBLIN, Jos. Antropologia Crist. Petrpolis: Vozes, 1985.
CONRADO, Flvio. Igreja e sociedade em meio s rpidas transformaes
sociais. Disponvel em: <http://www.ultimato.com.br/?pg=show_artigos&secMestre=
2082&sec=2110&num_edicao=310>. Acesso em: 13 de janeiro de 2010.
CULLMAN, Oscar. Das Origens do Evangelho Formao da Teologia Crist.
So Paulo: Novo Sculo, 2000.
CUNHA, Magali do Nascimento. A Exploso Gospel: um olhar das cincias
humanas sobre o cenrio evanglico no Brasil. Rio de Janeiro:
MAUAD/MYSTERIUM, 2007.
DALBUQUERQUE, A. Tenrio. Dicionrio Espanhol-Portugus. Belo Horizonte:
Itatiaia, 19--.
DASILIO, Derval. A Teologia da Libertao e o Protestantismo Brasileiro.
Trabalho no publicado.
DANIEL, Silas. Histria da Conveno Geral das Assemblias de Deus no
Brasil. Rio de Janeiro: CPAD, 2004.
DANILOU, J. e MARROU, H. Nova Histria da Igreja: dos primrdios a So
Gregrio Magno. Petrpolis: Vozes, 1966.
DREHER, Martin N. Fundamentalismo. So Leopoldo: Sinodal, 2006.
DUSSEL, Enrique. El Dualismo em La Antropologa de La Cristiandad: Desde El
origen Del Cristianismo hasta antes de La conquista de Amrica. Buenos Aires:
Guadalupe, 1974.
_______________. Sistema-mundo, dominao e excluso apontamentos sobre a
histria do fenmeno religioso no processo de globalizao da Amrica Latina. In:
Histria da Igreja na Amrica Latina e no Caribe 1945-1995: o debate
metodolgico. Petrpolis: Vozes; So Paulo: CEHILA, 1995. p. 39-79.
160
FIGUEIREDO, Fernando A. Curso de Teologia Patrstica II: A vida da igreja
primitiva (sculo III). Petrpolis: Vozes, 1984.
FIORENZA, Francis P. e METZ, Johann B. O homem como unio de corpo e alma.
In: FEINER, Johannes e LHRER, Magnus. Mysterium Salutis: compndio de
dogmtica histrico-salvfica. Volume II/3. Petrpolis: Vozes, 1972.
GEORGE, Timothy. Teologia dos Reformadores. So Paulo: Vida Nova, 2000.
GONZALEZ, Justo L. E at aos confins da terra: uma histria ilustrada do
Cristianismo. Vol. 1. So Paulo: Vida Nova, 1980.
_________________. Uma Histria do Pensamento Cristo. Da Reforma
Protestante ao Sculo 20. Vol. 3. So Paulo: Cultura Crist, 2004.
GUTIRREZ, Gustavo. Situao e tarefas da teologia da libertao. In: SUSIN, Luiz
Carlos (org.). Sara ardente: teologia na Amrica Latina. So Paulo: Paulinas, 2000.
p. 49-77.
HAGSMA, Alfredo Jorge. Corpo e Alma: O Princpio do Caos: o dualismo
antropolgico grego em analogia concepo bblica do ser humano. Monografia de
Concluso do Bacharelado em Teologia, EST/So Leopoldo, 1998. Trabalho no
publicado.
HACKMANN, Geraldo Luiz Borges. O Celibato Sacerdotal: Histria. In:
Teocomunicao A Poltica no Brasil, v. 21, n. 94. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1991.
HAMMAN, A. Os Padres da Igreja. So Paulo: Paulinas, 1980.
HENDERS, Helmut. a Tarefa da Igreja Motivar a Sociedade para a Ao. Do
contnuo significado de Walter Rauschenbusch. In: Simpsio 48. So Paulo: ASTE,
2008. p. 100-117.
JUSTINO DE ROMA. I e II Apologias: Dilogo com Trifo. So Paulo: Paulus,
1995.
KSEMANN, Ernst. Perspectivas Paulinas. So Paulo: Teolgica/Paulus, 2003.
KLEIN, Carlos Jeremias. A Teologia Liberal e a Modernidade. In: Etienne Alfred
Higuet (org.). Teologia e Modernidade. So Paulo: Fonte Editorial, 2005.
LANE, Tony. Pensamento Cristo: dos primrdios Idade Mdia. Vol.1. So Paulo:
Abba Press, 1999.
LANE, Tony. Pensamento Cristo: da Reforma Modernidade. Vol.2. So Paulo:
Abba Press, 2000.
LAS CASAS, Bartolomeu de. Do nico modo de atrair todos os povos verdadeira
religio... (1536). In: SUESS, Paulo (org.). A conquista espiritual da Amrica
Espanhola: 200 documentos sculo XVI. Petrpolis, Vozes, 1992. p. 485-500.
161
LONGUINI NETO, Luiz. O Novo Rosto da Misso: os movimentos ecumnico e
evangelical no protestantismo latino-americana. Viosa: Ultimato, 2002.
LUTERO, Martim. Da Liberdade Crist. So Leopoldo: Sinodal, 1998.
MELANCHTHON, Filipe. Confisso de Augsburgo. So Leopoldo: Sinodal, 1999.
MELI, Bartomeu. As redues guaranticas: uma misso no Paraguai colonial. In:
SUESS, Paulo, (org.). Queimada e semeadura: da conquista espiritual ao
descobrimento de uma nova evangelizao. Petrpolis: Vozes, 1988. p. 76-88.
MENDONA, Antnio Gouva. Educao, confessionalidade e ecumenicidade a
questo da f e cultura. In: Estudos da Religio 11 Renasce a Esperana. So
Paulo: UMESP, 1995.
____________________. O Celeste Porvir: A Insero do Protestantismo no Brasil.
So Paulo: Pendo Real/ASTE/Cincias da Religio, 1995.
____________________. Protestantes, Pentecostais e Ecumnicos: o campo
religioso e seus personagens. So Bernardo do Campo: UMESP, 1997.
MENDONA, Antnio G. e VELASQUEZ FILHO, Prcoro. Introduo ao
Protestantismo no Brasil. So Paulo: Loyola, 1992.
MONDIN, Battista. Curso de Filosofia: os filsofos do ocidente. Volume 1. So
Paulo: Paulinas, 1982.
______________. O Homem, quem ele? Elementos de antropologia filosfica.
So Paulo: Paulinas, 1980.
MORESCHINI, Cludio e NORELLI, Enrico. Histria da Literatura Crist Antiga
Grega e Latina I: de Paulo era constantiniana. So Paulo: Loyola, 1996.
NIEBUHR, H. Richard. As Origens Sociais das Denominaes Crists. So
Paulo: Cincias da Religio/ASTE, 1992.
OLSON, Roger. Histria da Teologia Crist. 2.000 anos de tradio e reformas.
So Paulo: Vida, 2001.
OSWALT, John N. Basar. In: HARRIS, R. Laird, ARCHER Jr., Gleason L. e
WALTKE, Bruce K. (orgs.). Dicionrio Internacional de Teologia do Antigo
Testamento. So Paulo: Vida Nova, 2005.
PALMA MANRQUEZ, Samuel. O novo rosto da igreja na regio andina e na
Amrica Latina. In: CASCO, Miguel Angel; CABEZAS, Roger, PALMA MANRQUEZ,
Samuel. Pentecostais, libertao e ecumenismo. CECA/CEBI, 1996. p. 39-52.
PLATO. Dilogos: o Banquete, Fdon, Sofista, Poltico. So Paulo: Abril
Cultural, Os Pensadores 3, 1972.
162
PLATO. Dilogos: o Banquete, Fdon, Sofista, Poltico. So Paulo: Nova
Cultura, 1987. (Coleo Os Pensadores)
RAHNER, Karl. Teologia e Antropologia. So Paulo: Paulinas, 1969.
READ, William R. Fermento Religioso nas Massas do Brasil. Campinas: Livraria
Crist Unida, 1967.
RIZZUTO, Ana-Mara. Por que Freud Rejeitou Deus? Uma interpretao
psicodinmica. So Paulo: Loyola, 2001.
RUBIO, Alfonso Garca. Unidade na Pluralidade: o ser humano luz da f e da
reflexo crists. So Paulo: Paulus, 2006.
SALVATI, G.M. Lexicon: Dicionrio Teolgico Enciclopdico. So Paulo: Loyola,
2003.
SCHROER, Silvia e STAUBLI, Thomas. Simbolismo do Corpo na Bblia. So
Paulinas, 2003.
SEPLVEDA, Juan Gins de. As justas causas de guerra contra os ndios (1574).
In: SUESS, Paulo, org. A conquista espiritual da Amrica Espanhola: 200
documentos sculo XVI. Petrpolis: Vozes, 1992. p. 531-538.
SORG, T. Corao. In: COENEN, Lothar e BROWN, Colin (orgs.). Dicionrio
Internacional de Teologia do Novo Testamento. Volume I. So Paulo: Vida Nova,
2000.
SPENER, Philipp Jakob. Pia Desideria. So Paulo: Imprensa Metodista/Cincias da
Religio, 1985.
STROHL, Henri. O Pensamento da Reforma. So Paulo: ASTE, 2004.
SUESS, Paulo. A histria dos outros escrita por ns: apontamentos para um
autocrtica da historiografia do Cristianismo na Amrica Latina. In: LAMPE, Armando
(org.). tica e a filosofia da libertao: Festschrift Enrique Dussel. Ed. Bilnge.
Petrpolis: Vozes; So Paulo: CEHILA, 1996. p. 78-120.
TARNAS, Richard. A Epopia do Pensamento Ocidental: para compreender as
idias que moldaram nossa viso de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
TILLICH, Paul. A Era Protestante. So Paulo: Cincias da Religio, 1992.
___________. Perspectivas da Teologia Protestante nos sculos XIX e XX. So
Paulo: ASTE, 1999.
___________. Histria do Pensamento Cristo. So Paulo: ASTE, 2000.
VIVES, Jos. Los Padres de La Iglesia. Barcelona: Herder, 1982.
163
WALKER, Wiliston. Histria da Igreja Crist. Volumes 1 e 2. So Paulo: ASTE,
2006.
WALTKE, Bruce K. Nepesh. In: HARRIS, R. Laird, ARCHER Jr., Gleason L. e
WALTKE, Bruce K. (orgs.). Dicionrio Internacional de Teologia do Antigo
Testamento. So Paulo: Vida Nova, 2005.
WEBER, Max. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo. So Paulo:
Pioneira, 1987.
WOLFF, Hans Walter. Antropologia do Antigo Testamento. So Paulo: Hagnos,
2008.
<http://faculty.cua.edu/pennington/Canon%20Law/ElviraCanons.htm> Acesso em: 29
de janeiro de 2009.
<http://sexxxchurch.com/> Acesso em: 10 de julho de 2008.
<http://www.koinonia.org.br/tpdigital/detalhes.asp?cod_artigo=257&cod_boletim=14&
tipo =Artigo> Acesso em: 14 de janeiro de 2010.
<http://pastoral.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=1>
Acesso em: 14 de janeiro de 2010.
Você também pode gostar
- Encenações Com Fantoches (32 Estórias)Documento31 páginasEncenações Com Fantoches (32 Estórias)ebdonline92% (132)
- Analise Da Parabola Do Semeador Uma ContDocumento68 páginasAnalise Da Parabola Do Semeador Uma ContRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Igreja Primitiva X Igreja AtualDocumento2 páginasIgreja Primitiva X Igreja AtualRegerson Molitor50% (2)
- Identidade e Significado - A Figura Do Ger - Estrangeiro - Na ToráDocumento113 páginasIdentidade e Significado - A Figura Do Ger - Estrangeiro - Na ToráRegerson MolitorAinda não há avaliações
- A Senhora Igreja de Laodiceia Rica e o o Reino Dos Céus Pr. George R. KnightDocumento134 páginasA Senhora Igreja de Laodiceia Rica e o o Reino Dos Céus Pr. George R. KnightRegerson MolitorAinda não há avaliações
- A Reforma Acabou Perg Pr. Marcos de BeneditoDocumento25 páginasA Reforma Acabou Perg Pr. Marcos de BeneditoRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Revista Adorando Juntos UCOBDocumento56 páginasRevista Adorando Juntos UCOBRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Cristologia Da Carta 8 de E.G. White Escrita em 1895 A Carta A Baker Dr. Raoul DederenDocumento7 páginasCristologia Da Carta 8 de E.G. White Escrita em 1895 A Carta A Baker Dr. Raoul DederenRegerson Molitor100% (1)
- Reavivamento e Reforma No Evangelismo - em Busca de Uma Igreja DiscipuladoraDocumento14 páginasReavivamento e Reforma No Evangelismo - em Busca de Uma Igreja DiscipuladoraRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Revista CRESCER - UCOBDocumento28 páginasRevista CRESCER - UCOBRegerson MolitorAinda não há avaliações
- A Carta A Baker Dr. Woodrow W. WhinddenDocumento13 páginasA Carta A Baker Dr. Woodrow W. WhinddenRegerson Molitor100% (1)
- As Estruturas e As Formas Da Igreja PrimitivaDocumento12 páginasAs Estruturas e As Formas Da Igreja PrimitivaRegerson Molitor100% (1)
- Uso de Jóias Na BíbliaDocumento7 páginasUso de Jóias Na BíbliaRegerson MolitorAinda não há avaliações
- A Questão de Deus No Pensamento de Martin HeideggerDocumento8 páginasA Questão de Deus No Pensamento de Martin HeideggerRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Virgens LoucasDocumento3 páginasVirgens LoucasRegerson MolitorAinda não há avaliações
- Imortalidade Da Alma Ou Ressurreição Dos MortosDocumento43 páginasImortalidade Da Alma Ou Ressurreição Dos MortosRegerson Molitor100% (5)
- REGRAS-BÁSICAS-DE-INTERPRETAÇÃO - EXTERNAS - GrifosDocumento21 páginasREGRAS-BÁSICAS-DE-INTERPRETAÇÃO - EXTERNAS - GrifosLinézio MarquesAinda não há avaliações
- Dies DominiDocumento16 páginasDies DominilucasjgoAinda não há avaliações
- 2º Encontro CRISMA JOVENSDocumento3 páginas2º Encontro CRISMA JOVENSFabiane AlmeidaAinda não há avaliações
- Sacerdócio Aarônico Manual 1Documento193 páginasSacerdócio Aarônico Manual 1Vagnerlds100% (3)
- Comunidade JoaninaDocumento21 páginasComunidade JoaninaCleverson AJAinda não há avaliações
- Cristologia de João CalvinoDocumento12 páginasCristologia de João CalvinoAnonymous oXC9VyAinda não há avaliações
- Apostila de BatismoDocumento10 páginasApostila de BatismoWilhan Jose Gomes100% (1)
- A Ressureição Da Filha de JairoDocumento7 páginasA Ressureição Da Filha de JairoEzequias PereiraAinda não há avaliações
- Aula 3 - Creio em Jesus Cristo - 2022Documento10 páginasAula 3 - Creio em Jesus Cristo - 2022Janedson Baima BezerraAinda não há avaliações
- Páscoa Do SenhorDocumento2 páginasPáscoa Do SenhorAntonio Carlos Jr.Ainda não há avaliações
- Perguntas AtosDocumento69 páginasPerguntas AtosmisionariojhonatansousaAinda não há avaliações
- A Paixão em RimasDocumento11 páginasA Paixão em RimasAnselmo HofstaterAinda não há avaliações
- Uma Marca para Todo Crente: IntroduçãoDocumento7 páginasUma Marca para Todo Crente: IntroduçãoCristianoGouveiaAinda não há avaliações
- Bacharel 30 - História Da Igreja PDFDocumento116 páginasBacharel 30 - História Da Igreja PDFdeblexAinda não há avaliações
- Teologia Do Corpo - Tesouro EscondidoDocumento68 páginasTeologia Do Corpo - Tesouro Escondidofauzec2005Ainda não há avaliações
- Temas para A IntercessãoDocumento10 páginasTemas para A IntercessãoLuiz Carlos BarbosaAinda não há avaliações
- ANO XXXVII - No. 408 - MAIO DE 1996Documento54 páginasANO XXXVII - No. 408 - MAIO DE 1996Apostolado Veritatis SplendorAinda não há avaliações
- 3 - o Espírito Nas Demonstrações Sobrenaturais - Stanley M. HortonDocumento17 páginas3 - o Espírito Nas Demonstrações Sobrenaturais - Stanley M. HortonNico RobinAinda não há avaliações
- A Sublimidade Do Conhecimento de CristoDocumento11 páginasA Sublimidade Do Conhecimento de CristoDirley Dos Santos100% (1)
- 16 Um Novo Começo. Você Pode RecomeçarDocumento26 páginas16 Um Novo Começo. Você Pode RecomeçarFernando AfonsoAinda não há avaliações
- Eclesiologias Nas Cartas PaulinasDocumento8 páginasEclesiologias Nas Cartas PaulinasWanderson Luiz FreitasAinda não há avaliações
- Apocalipse PDFDocumento429 páginasApocalipse PDFLeonardo Cabral100% (2)
- 1coríntios - Isaltino Gomes Coelho FilhoDocumento9 páginas1coríntios - Isaltino Gomes Coelho FilhoVinícius MelloAinda não há avaliações
- Celebração Do Início de Mês de MariaDocumento12 páginasCelebração Do Início de Mês de MariaParóquia BougadoAinda não há avaliações
- A Ressureicão de CristoDocumento9 páginasA Ressureicão de CristoManuel TunguimutchumaAinda não há avaliações
- Paulo em Atenas (Atos 17.16-34)Documento12 páginasPaulo em Atenas (Atos 17.16-34)FABIO CARDOSO100% (2)
- Amigo e Amiga - LlansolDocumento13 páginasAmigo e Amiga - LlansolruivasconcelosmnAinda não há avaliações
- EclesiologiaDocumento28 páginasEclesiologiaJOAO MARCELO PINHEIRO100% (1)
- Domingo de Ramos e Da Paixão Do Senhor, Ano CDocumento4 páginasDomingo de Ramos e Da Paixão Do Senhor, Ano CJosé DemétrioAinda não há avaliações