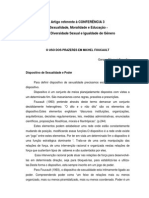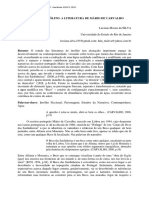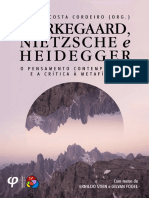Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guy Deutscher - NYT - Sem Marcas de Revisão Felipe Obrer
Enviado por
Felipe Obrer0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações12 páginasTítulo original
Guy Deutscher - NYT - sem marcas de revisão Felipe Obrer
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações12 páginasGuy Deutscher - NYT - Sem Marcas de Revisão Felipe Obrer
Enviado por
Felipe ObrerDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
The New York Times, agosto de 2010
Texto de Guy Deutscher
Sua língua dá forma ao que você pensa?
Setenta anos atrás, em 1940, uma revista de divulgação científica
publicou um pequeno artigo que colocou em movimento um dos mais
modernos modismos intelectuais do século 20. À primeira vista, o artigo parecia
pouco promissor quanto à sua celebridade subsequente. Nem o título, "Ciência
e Linguística", nem a revista, M.I.T.’s Technology Review correspondiam à
idéia que a maioria das pessoas tinha de glamour. O autor, um engenheiro
químico que trabalhava para uma companhia de seguros e tinha um trabalho
extra como professor de antropologia na Universidade de Yale, era um
candidato improvável ao estrelato internacional. E ainda assim Benjamin Lee
Whorf lançou uma idéia a respeito do poder sedutor da linguagem sobre a
mente, e sua prosa envolvente seduziu toda uma geração a acreditar que a
nossa língua materna restringe o que somos capazes de pensar.
Em particular, Whorf anunciou que idiomas indígenas estadunidenses
impõem aos seus falantes uma imagem da realidade que é totalmente diferente
da nossa, portanto os seus falantes simplesmente não seriam capazes de
compreender alguns dos nossos conceitos mais básicos, como o fluxo do
tempo ou a distinção entre objetos (como "pedra") e ações (como "queda").
Durante décadas, a teoria de Whorf deslumbrou acadêmicos e o público em
geral. Sob sua influência, outros fizeram toda uma série de suposições
fantasiosas sobre o pretenso poder da língua, desde a afirmação que as
línguas indígenas estadunidenses inculcam nos seus falantes uma
compreensão intuitiva do conceito de tempo do Einstein como uma quarta
dimensão, até a teoria de que a natureza da religião judaica foi determinada
pelo sistema de conjugação verbal do hebraico antigo.
No final das contas, a teoria de Whorf acabou colidindo contra fatos
concretos e o bom senso, quando ocorreu que nunca houve de fato evidências
que fundamentassem as suas afirmações fantásticas. A reação foi tão crítica
que, durante décadas, qualquer tentativa de explorar a influência da língua
materna em nossos pensamentos foi relegada ao limbo do descrédito. Mas, 70
anos depois, certamente é hora de deixar o trauma de Whorf para trás. Nos
últimos anos, novas pesquisas têm revelado que quando aprendemos nossa
língua materna, o que fazemos é afinal adquirir certos hábitos de pensamento
que moldam nossas experiências de forma significativa e muitas vezes
surpreendente.
Whorf, agora sabemos, cometeu muitos erros. O mais grave foi supor
que a nossa língua materna restringe nossas mentes e impossibilita nossa
capacidade de pensar certos pensamentos. A estrutura geral dos seus
argumentos foi a alegação de que se uma língua não tem uma palavra para um
determinado conceito, então os seus falantes não seriam capazes de entender
esse conceito. Se a língua não tem tempo futuro, por exemplo, seus falantes
simplesmente não seriam capazes de compreender a nossa noção de tempo
futuro. Parece pouco compreensível que esta linha de argumentação tenha
atingido tal sucesso, uma vez que há evidências contrárias por todos os lados.
Quando você pede, em inglês perfeitamente normal, e no tempo presente "Are
you coming tomorrow?", sente seu domínio sobre a noção de futuro
escapulindo? Os falantes de inglês que nunca ouviram o termo alemão
"Schadenfreude" não entenderiam o conceito de saborear a desgraça alheia?
Ou pense desta maneira: se o inventário de palavras prontas no seu idioma
determinou os conceitos que você é capaz de compreender, como é que você
aprenderia algo novo?
Como não há nenhuma evidência de que qualquer linguagem impede os
seus falantes de pensar alguma coisa, temos de olhar em uma direção
totalmente diferente para descobrir como a nossa língua materna realmente
pode moldar a nossa experiência do mundo. Cerca de 50 anos atrás, o famoso
lingüista Roman Jakobson apontou um fato crucial sobre as diferenças entre as
línguas em uma máxima incisiva: "As línguas diferem essencialmente no que
elas têm a obrigação de transmitir e não no que elas têm a possibilidade de
transmitir." Esta máxima nos oferece a chave para descortinar a força real da
língua materna: se línguas diferentes influenciam as nossas mentes de formas
diferentes, isto não é por causa do que a nossa língua nos permite pensar, mas
sim por causa daquilo que habitualmente nos obriga a pensar.
Considere este exemplo. Suponha que eu digo a você, em inglês, que “I
spent yesterday evening with a neighbor.” Você pode se perguntar se quem me
acompanhava era do sexo masculino ou feminino, mas eu tenho o direito de
lhe dizer polidamente que não é assunto seu. Mas se estamos falando francês
ou alemão, eu não teria o privilégio de me esquivar da questão, porque eu seria
obrigado pela gramática da língua a escolher entre “voisin” ou “voisine”;
“Nachbar” ou “Nachbarin”. Estas línguas obrigam-me a informá-lo sobre o sexo
da pessoa que me acompanhou, quer eu sinta ou não que você está em
alguma medida interessado em saber. Isso não significa, é claro, que falantes
de inglês são incapazes de compreender as diferenças entre as noites
passadas com os vizinhos do sexo masculino ou feminino, mas isso quer dizer
que eles não têm de levar em conta os sexos de vizinhos, amigos, professores
e de uma série de outras pessoas cada vez que estas surgem em uma
conversa, ao passo que os falantes de algumas línguas são obrigados a fazê-
lo.
Por outro lado, o inglês obriga de fato a especificar determinados tipos
de informações que podem ficar por conta do contexto em outras línguas. Se
eu quiser falar em Inglês sobre um jantar com o meu vizinho, posso não
mencionar o sexo do vizinho, mas tenho que lhe dizer algo sobre o momento
do acontecimento: Tenho que decidir se jantávamos, se temos jantado, se
estamos jantando, se iremos jantar e assim por diante. O chinês, por outro
lado, não obriga os seus falantes a especificarem o tempo exato da ação,
porque a mesma forma verbal pode ser usada para ações passadas, presentes
ou futuras. Novamente, isso não significa que os chineses são incapazes de
compreender o conceito de tempo. Mas isso significa, sim, que eles não são
obrigados a pensar no tempo sempre que descrevem uma ação.
Quando o seu idioma rotineiramente obriga você a especificar certos
tipos de informação, força-o a estar atento a certos detalhes do mundo e a
certos aspectos da experiência acerca dos quais os falantes de outras línguas
podem não ter necessidade de pensar o tempo todo. E porque tais hábitos de
fala são cultivados desde a mais tenra idade, é simplesmente natural que eles
possam se estabelecer como hábitos mentais que vão além da própria
linguagem, afetando as suas experiências, percepções, associações, os seus
sentimentos, as suas memórias e a sua orientação no mundo.
MAS EXISTE alguma evidência de que isso aconteça na prática?
Retomemos a discussão dos gêneros novamente. Línguas como
espanhol, francês, alemão e russo não só obrigam a pensar sobre o sexo dos
amigos e vizinhos, mas também a atribuir um gênero masculino ou feminino a
uma série de objetos inanimados. O que, por exemplo, é particularmente
feminino sobre a barba de um francês (la barbe)? Por que em russo a água é
“ela”, e por que ela se torna “ele” uma que vez que você tenha mergulhado nela
um saquinho de chá? Mark Twain, como se sabe, lamentou tais gêneros
erráticos, como o nabo femino (female turnips) e as donzelas neutras (neuter
maidens) no seu escrito inflamado “A horrorosa língua alemã”. Mas, apesar de
ele reclamar da existência de algo especialmente perverso sobre o sistema de
gênero alemão, o fato é que o incomum é o inglês , pelo menos dentre as
línguas européias, por não tratar os “nabos” e as “xícaras” de chá como
masculino ou feminino. As línguas que tratam um objeto inanimado como “ele”
ou “ela” forçam os falantes a falar de tal objeto como se fosse um homem ou
uma mulher. E como qualquer pessoa cuja língua nativa poussua um sistema
de gênerolhe dirá, uma vez que o hábito tomou conta, é simplesmente
impossível se livrar dele. Quando falo inglês, posso dizer sobre uma “bed” que
"it" é muito macia, mas como um falante nativo do hebraico, eu realmente sinto
que "she" é muito macia. "Ela" (“She”) se mantém feminina por todo o caminho
dos pulmões até a glote e torna-se neutra apenas quando atinge a ponta da
língua.
Nos últimos anos, vários experimentos mostraram que os gêneros
gramaticais podem dar forma aos sentimentos e às associações dos falantes
quanto a objetos em torno deles. Na década de 1990, por exemplo, psicólogos
compararam associações entre os falantes de alemão e espanhol. Há muitos
substantivos inanimados cujos gêneros nas duas línguas são invertidos. Uma
“ponte” em alemão é feminino (die Brücke), por exemplo, mas “El Puente” é
masculino em espanhol, e o mesmo vale para relógios, apartamentos, garfos,
jornais, bolsos, ombros, selos, bilhetes, violinos, o sol, o mundo e o amor. Por
sua vez, uma maçã é masculino no alemão e feminino no espanhol, o que
também se dá com cadeiras, vassouras, borboletas, chaves, montanhas,
estrelas, mesas, guerras, chuva e lixo. Quando falantes foram convidados a
classificar vários objetos em uma série de características, os falantes do
espanhol consideraram pontes, relógios e violinos como tendo propriedades
viris - como força -, mas os alemães tenderam a considerá-los como mais
esbeltos ou elegantes. Já com “montanhas” ou “cadeiras”, que são "ele" em
alemão, mas "ela" em espanhol, o efeito foi inverso.
Em um experimento diferente, solicitou-se aos falantes do francês e do
espanhol que atribuíssem vozes humanas a vários objetos em uma cartum.
Quando os falantes do francês viram uma imagem de um garfo (La Fourchette),
a maioria deles queria falar com uma voz de mulher, mas os falantes do
espanhol, para quem “El Tenedor” é masculino, preferiram atribuir uma voz
rouca masculina para ele. Mais recentemente, os psicólogos demonstraram
que as línguas "com gêneros " imprimem na mente traços de gênero aos
objetos tão fortemente que estas associações dificultam a capacidade dos
oradores de vincular as informações com a memória.
Claro, tudo isso não significa que os falantes do espanhol, francês ou
alemão não conseguem entender que objetos inanimados não têm sexo
biológico - uma mulher alemã raramente confundiria seu marido com um
chapéu, e os homens espanhóis não são conhecidos por confundir uma cama
com o que poderia estar deitado nela. No entanto, uma vez que conotações de
gênero tenham sido impostas a mentes jovens impressionáveis, elas levam as
pessoas com uma língua materna de gênero a ver o mundo inanimado através
de lentes coloridas com associações e reações emocionais que os falantes do
Inglês - presos em seu deserto monocromático de "it" - são inteiramente
esquecidos. Será que o gênero oposto de "ponte" em alemão e espanhol, por
exemplo, teria algum efeito sobre projeto de pontes na Espanha e na
Alemanha? Será que os mapas emocionais impostos por um sistema de
gênero causa grandes conseqüências para a nossa vida cotidiana? Eles
formam gostos, modas, hábitos e preferências nas sociedades em questão? No
estado atual dos nossos conhecimentos sobre o cérebro, isso não é algo que
pode ser facilmente medido em um laboratório de psicologia. Mas seria
surpreendente se eles não o fizessem.
A área em que surgiu a evidência mais impressionante para a influência
da língua no pensamento é a linguagem espacial – como descrevemos a
orientação do mundo ao nosso redor. Suponha que você queira dar instruções
a alguém para chegar a sua casa. Você pode dizer: "depois do semáforo,
pegue a primeira à esquerda, depois a segunda à direita, e então você verá
uma casa branca em frente a você. A nossa porta está à direita”. Mas, em
teoria, você poderia dizer também: “depois do semáforo, vá para o norte e
então no segundo cruzamento vá para o leste, e você verá uma casa
diretamente a leste, a nossa é a porta ao sul”. Estes dois conjuntos de
instruções podem descrever o mesmo caminho, mas eles dependem de
diferentes sistemas de coordenadas. O primeiro usa coordenadas
egocêntricas, que dependem dos nossos próprios corpos: um eixo esquerda-
direita e um eixo frente-trás perpendicular a ele. O segundo sistema usa
indicações geográficas fixas, que independem do nosso movimento.
Nós achamos útil usar sentidos geográficos ao caminhar em campo
aberto, por exemplo, mas as coordenadas egocêntricas dominam
completamente o nosso discurso quando descrevemos os espaços de pequena
escala. Nós não dizemos: “Quando você sair do elevador vá para o sul, e daí
entre na segunda porta a leste.” A razão pela qual o sistema egocêntrico é tão
dominante na nossa língua é que ele se apresenta como muito mais fácil e
natural. Afinal, sabemos sempre onde fica " atrás " ou " à frente " de nós. Nós
não precisamos de um mapa ou uma bússola para resolver isso, apenas
sentimos, porque as coordenadas egocêntricas são baseadas diretamente em
nossos corpos e no nosso campo visual imediato.
Mas então apareceu uma língua aborígene remota - Guugu Yimithirr - do
norte de Queensland, e com ela a incrível percepção de que nem todas as
línguas estão de acordo com o que sempre consideramos como simplesmente
“natural”. Na verdade, os Guugu Yimithirr não fazem absolutamente nenhum
uso de coordenadas egocêntricas. O antropólogo John Haviland e mais tarde o
lingüista Stephen Levinson vem mostrando que os Guugu Yimithirr não usam
palavras como "esquerda" ou "direita", "em frente" ou "para trás” para
descrever a posição dos objetos. Sempre que nós usamos o sistema
egocêntrico, os Yimithirr Guugu contariam com as direções cardeais. Se eles
querem que você se mova no banco do carro para deixar mais espaço livre,
eles vão dizer "mova-se um pouco para o leste." Para dizer onde exatamente
eles deixaram algo na sua casa, eles dirão: "Eu o deixei no extremo sul da
mesa a oeste.” Ou eles vão avisá-lo para “olhar para aquela formiga grande, ao
norte do seu pé.” Mesmo ao mostrarem um filme na televisão, deram
descrições com base na orientação da tela. Se a televisão estava voltada para
o norte, e um homem na tela se aproximava, disseram que ele estava "vindo do
norte."
Quando essas peculiaridades dos Guugu Yimithirr foram descobertas,
inspiraram um projeto de pesquisa de grande escala sobre a linguagem do
espaço. E como acontece, o caso dos Guugu Yimithirr não é uma ocorrência
anormal; línguas que dependem sobretudo das coordenadas geográficas estão
espalhadas ao redor do mundo, da Polinésia ao México, da Namíbia a Bali.
Para nós, pode parecer o cúmulo do absurdo ouvir uma professora de dança
dizer: "Agora levante sua mão norte e desloque sua perna sul no sentido leste."
Mas alguns perderiam a piada : o musicólogo canadense-estadunidense Colin
McPhee, que passou vários anos em Bali em 1930, recorda um garoto que
mostrou grande talento para a dança. Como não havia nenhum instrutor na vila
em que o menino vivia, McPhee facilitou a permanência dele com um professor
de outra aldeia. Porém, quando ele chegou para verificar o progresso do
menino depois de alguns dias, encontrou o rapaz desanimado e o professor
exasperado. Era impossível ensinar alguma coisa ao rapaz, porque ele
simplesmente não entendia nenhuma das instruções. Quando disseram para
dar "três passos ao leste" ou "inclinar-se a sudoeste," ele não sabia o que
fazer. O rapaz não teria o menor problema com estas instruções na sua própria
aldeia, mas porque a paisagem da aldeia nova era inteiramente desconhecida,
ficou desorientado e confuso. Por que o professor não usou instruções
diferentes? Ele provavelmente teria respondido que dizer "dar três passos para
a frente" ou "inclinar-se para trás" seria o cúmulo do absurdo.
Assim, diferentes linguagens certamente fazem com que falemos sobre
o espaço de maneiras muito diferentes. Mas será que isso significa
necessariamente que pensamos o espaço de formas diferentes? Neste
momento as luzes vermelhas devem estar piscando, porque mesmo que uma
língua não tenha uma palavra para "trás", isso não significa necessariamente
que seus falantes não seriam capazes de entender este conceito. Em vez
disso, devemos olhar para as possíveis conseqüências do que as línguas
geográficas obrigam os falantes a transmitir. Em particular, devemos estar
atentos aos hábitos que podem se desenvolver na mente por causa da
necessidade de se especificar indicações geográficas o tempo todo.
Para falar uma língua como a dos Guugu Yimithirr, você precisa saber
onde os pontos cardeais estão a cada momento de sua vida. Você precisa ter
uma bússola em sua mente que opera o tempo todo, dia e noite, sem pausas
para o almoço ou fins de semana fora, pois, caso contrário você não seria
capaz de transmitir as informações mais básicas ou compreender o que as
pessoas ao seu redor estão dizendo. De fato, falantes de línguas geográficas
parecem ter um sentido quase sobre-humano de orientação. Independente das
condições de visibilidade, independentemente de que estejam numa floresta
densa ou numa planície aberta, tanto fora como dentro de casa ou até em
cavernas, estejam estáticos ou em movimento, eles têm um senso de direção
certeiro. Não olham para o sol ou fazem uma pausa para calcular antes de
dizer: "Há uma formiga ao norte do seu pé”. Eles apenas sentem aonde estão o
norte, o sul, o leste e o oeste, assim como pessoas com afinação perfeita
sentem o que cada nota é sem ter de calcular os intervalos musicais. Há uma
profusão de histórias sobre o que para nós poderiam parecer proezas incríveis
de orientação, mas que para os falantes de línguas geográficas são apenas
naturais. Um relatório expõe como um falante Tzeltal do sul do México foi
vendado e girou vinte vezes em uma casa escura. Ainda com os olhos
vendados e tonto, ele apontou, sem hesitação, as indicações geográficas.
Como isso funciona? A convenção de se comunicar lançando mão das
coordenadas geográficas faz com que os falantes, desde a mais tenra idade,
prestem atenção aos indícios do ambiente físico (a posição do sol, vento e
assim por diante) a cada segundo de suas vidas, assim como lhes propicia o
desenvolvimento de uma memória precisa de suas mudanças de posição em
qualquer momento. Assim, a comunicação cotidiana em uma linguagem
geográfica prevê exercícios intensos de orientação geográfica (estima-se que,
em uma conversa normal Yimithirr Guugu, uma em cada dez palavras é
"norte", "sul", "oeste" ou "leste”, muitas vezes acompanhadas de gestos
manuais precisos). Este hábito de sensibilização constante para a direção
geográfica incute-se praticamente desde a infância: estudos demonstraram que
crianças dessas sociedades começam a utilizar indicações geográficas com
apenas dois anos de idade e as dominam completamente por volta dos sete ou
oito. Com tais exercícios precoces e intensos, o hábito torna-se logo uma
segunda natureza, inconsciente e sem necessidade de esforço. Quando se
perguntou aos falantes de Guugu Yimithirr como eles sabiam aonde fica o
norte, eles não souberam explicar melhor do que você poderia explicar como
sabe aonde fica "atrás".
Mas uma língua geográfica implica outros efeitos , tendo em vista que o
sentido da orientação deve se estender por mais tempo do que o presente
imediato. Se você falasse uma língua análoga à Guugu Yimithirr, as memórias
de qualquer coisa que você quisesse relatar teriam de ser retidas incluindo as
direções cardeais. Um falante nativo Guugu Yimithirr foi filmado narrando aos
seus amigos a história sobre como, na juventude, o barco em que navegava
emborcou em águas infestadas de tubarões. Ele e uma pessoa mais velha
foram surpreendidos por uma tempestade e o barco virou. Os dois pularam na
água e conseguiram nadar cerca de 5 quilômetros até a costa, apenas para
descobrir que o missionário para quem trabalhavam estava muito mais
preocupado com a perda do barco do que aliviado com a fuga milagrosa. Além
do teor dramático, o notável sobre a história é que ela foi lembrada mediante
direções cardeais: o falante nativo pulou na água, do lado oeste do barco, a
outra pessoa a leste do barco, eles viram um tubarão gigante nadando para o
norte e assim por diante. É possível que as direções cardeais tenham sido
inventadas apenas para aquela ocasião? Bem, por acaso, a mesma pessoa foi
filmada alguns anos depois, contando a mesma história. Nas duas narrativas,
as direções cardeais tiveram correspondência exata. Ainda mais notáveis eram
os gestos espontâneos que acompanhavam a história. Por exemplo, a direção
em que o barco tombou foi gesticulada na direção geográfica correta,
independentemente da posição do narrador em cada um dos dois filmes.
Experiências psicológicas também têm mostrado que, em determinadas
circunstâncias, os falantes de línguas análogas à Guugu Yimithirr recordam "a
mesma realidade" diferentemente de nós. Houve um debate acalorado sobre a
interpretação de algumas dessas experiências, mas uma conclusão que parece
convincente é que, enquanto estamos treinados para ignorar a rotação
direcional quando enviamos as informações para a memória, falantes de
línguas geográficas são treinados para fazer o contrário. Uma maneira de
entender isso é imaginar que você está viajando com um falante de tal língua e
que ficaram em uma grande cadeia de hotéis, com corredores de portas
idênticas. Seu amigo está instalado no quarto oposto ao seu, e quando você
entra no quarto dele, verá uma réplica exata do seu: a mesma porta do
banheiro à esquerda, o mesmo guarda-roupa espelhado à direita, o mesmo
quarto principal com a mesma cama à esquerda, as cortinas recolhidas por trás
dela, a mesma mesa ao lado da parede à direita, o mesmo aparelho de
televisão no canto esquerdo da mesa e o mesmo telefone à direita. Em suma,
você viu o mesmo quarto duas vezes. Mas quando seu amigo entrar em seu
quarto, ele verá algo completamente diferente, porque tudo está invertido de
norte a sul. No quarto dele a cama estava ao norte, enquanto que no seu, ela
está ao sul; o telefone que, no quarto dele, estava a oeste, está agora no leste,
e assim por diante. Então, ao passo que você verá e recordará o mesmo quarto
duas vezes, um falante nativo de uma língua geográfica verá e recordará dois
quartos diferentes.
Não é fácil para nós imaginar como oradores Guugu Yimithirr
experimentam o mundo, com um cruzamento de direções cardeais impostas a
qualquer imagem mental e a qualquer pedaço de memória gráfica. Também
não é fácil especular sobre como as línguas geográficas afetam áreas da
experiência além da orientação espacial - se elas influenciam o sentido de
identidade dos falantes, por exemplo, ou trazem uma visão menos egocêntrica
da vida. Todavia, é evidente que se você vê um palestrante Guugu Yimithirr
apontando para si mesmo, naturalmente supõe que ele pretendia chamar a
atenção para si mesmo. Na verdade, ele está apontando para uma direção
cardeal que, na ocasião, está atrás dele. Enquanto nós estamos sempre no
centro do mundo, e nunca nos ocorreria que apontar na direção de nosso peito
pode significar outra coisa que não chamar a atenção para nós mesmos, um
falante nativo Guugu Yimithirr aponta através de si mesmo, como se ele fosse
feito de ar, e sua própria existência irrelevante.
DE QUE OUTRAS FORMAS a língua que falamos pode influenciar a nossa
experiência do mundo?
Recentemente demonstrou-se, em uma série de experimentos
engenhosos, que percebemos até mesmo as cores através das lentes da
nossa língua materna. Existem variações radicais na forma com que as línguas
esculpem o espectro de luz visível, por exemplo, verde e azul são cores
distintas em inglês, mas são considerados tons da mesma cor em vários
idiomas. Verifica-se, igualmente, que as cores que a nossa língua
rotineiramente nos obriga a tratar como distintas podem refinar nossa
sensibilidade visual para certas diferenças de cor, de forma que nossos
cérebros são treinados para exagerar a distância entre os tons de cor se estes
tiverem nomes diferentes na nossa língua. Por mais estranho que possa
parecer, a nossa experiência de uma pintura de Chagall, na verdade, depende
em certa medida do fato de que nosso idioma tenha uma palavra para o azul.
Nos próximos anos, os pesquisadores podem também ser capazes de
lançar luz sobre o impacto da linguagem em áreas mais sutis da percepção.
Por exemplo, algumas línguas, como “Matses” no Peru, obrigam os seus
falantes, como o mais exigente dos advogados, a especificar exatamente como
eles tomaram conhecimento dos fatos que estão relatando. Você não pode
simplesmente dizer, como em inglês, "um animal passou aqui". Você tem que
especificar, usando uma forma verbal diferente, se este fato foi experimentado
diretamente (você viu a passagem do animal), inferido (você viu pegadas),
conjecturado (animais geralmente passam por ali àquela hora do dia), ou se
somente “ouviu dizer”. Se uma declaração é relatada com uma “evidência”
incorreta, considera-se uma mentira. Assim, se, por exemplo, você perguntar a
um homem “Matses” quantas esposas ele tem, a menos que ele possa
realmente ver suas esposas naquele momento, ele teria de responder no
tempo passado e diria algo como: "Havia duas da última vez que eu verifiquei”.
Afinal, uma vez que as esposas não estão presentes, ele não pode estar
absolutamente certo que uma delas não tenha morrido ou fugido com outro
homem desde que ele a viu pela última vez, mesmo se isso fosse apenas cinco
minutos atrás. Então ele não pode relatar como um fato seguro, no tempo
presente. Será que a necessidade de pensar constantemente sobre a
epistemologia de forma cuidadosa e sofisticada informa as perspectivas dos
falantes sobre a vida ou o sentido da verdade e sobre o nexo de causalidade?
Quando nossas ferramentas experimentais forem menos contundentes, tais
questões serão passíveis de estudos empíricos.
Por muitos anos, a nossa língua materna foi declarada uma "prisão" que
restringia a nossa capacidade de raciocinar. Depois descobriu-se que não
havia nenhuma evidência para tais alegações, o que foi interpretado como
prova de que pessoas de todas as culturas pensariam fundamentalmente da
mesma maneira. Mas certamente é um erro superestimar a importância do
raciocínio abstrato em nossas vidas. Afinal, quantas decisões diárias fazemos
com base na lógica dedutiva, com comparações guiadas pelo sentimento,
intuição, emoções, impulsos ou habilidades práticas? Os hábitos mentais que a
nossa cultura incutiu em nós desde a infância formam a nossa orientação no
mundo, bem como nossas respostas emocionais em relação aos objetos que
encontramos, e suas conseqüências provavelmente, vão muito além do que se
tem demonstrado experimentalmente até agora: eles também podem ter um
forte impacto sobre as nossas crenças, valores e ideologias. Não podemos
saber ainda como medir diretamente essas conseqüências, ou como avaliar a
sua contribuição para mal-entendidos culturais ou políticos. Mas, como um
primeiro passo para compreender o outro, podemos fazer melhor do que fingir
que todos pensam da mesma maneira.
Disponível em: <<http://www.nytimes.com/2010/08/29/magazine/29language-
t.html?pagewanted=1&_r=2&emc=eta1>>
Você também pode gostar
- A Condicao Politica Pos Moderna Agnes Heller PDFDocumento219 páginasA Condicao Politica Pos Moderna Agnes Heller PDFRodrigo SoaresAinda não há avaliações
- A Teoria Psicogenetica de PiagetDocumento28 páginasA Teoria Psicogenetica de PiagetCelso Alves100% (1)
- DIDI HUBERMAN A Imagem QueimaDocumento60 páginasDIDI HUBERMAN A Imagem QueimaLuís Guilherme Holl67% (3)
- Clovis de Barros Filho - Es Denk in MirDocumento4 páginasClovis de Barros Filho - Es Denk in MirBruno Do Prado PascoalAinda não há avaliações
- O Uso Dos Prazeres em Michel FoucaultDocumento6 páginasO Uso Dos Prazeres em Michel FoucaultTyrone ChavesAinda não há avaliações
- As Cabeças Trocadas - Uma Lenda Indiana by Thomas MannDocumento114 páginasAs Cabeças Trocadas - Uma Lenda Indiana by Thomas MannDavi LeonardoAinda não há avaliações
- Einstein e A Religião PDFDocumento6 páginasEinstein e A Religião PDFMarcos AguirraAinda não há avaliações
- Silel2013 259Documento10 páginasSilel2013 259Luciana SilvaAinda não há avaliações
- Diderot OKDocumento243 páginasDiderot OKadoroflanAinda não há avaliações
- Cartas RosacruzesDocumento21 páginasCartas RosacruzesChristie RhamuAinda não há avaliações
- A Tradução e A Letra Ou o Albergue Do Longínquo by Antoine Berman (Tradução de Marie-Hélène Torres, Mauri Furlan e Andréia Guerini)Documento36 páginasA Tradução e A Letra Ou o Albergue Do Longínquo by Antoine Berman (Tradução de Marie-Hélène Torres, Mauri Furlan e Andréia Guerini)Augusto 68Ainda não há avaliações
- Drewermann, Principezinho - RedactedDocumento74 páginasDrewermann, Principezinho - RedactedJoãoCarlosMajorAinda não há avaliações
- A Miséria Do InstrumentalismoDocumento61 páginasA Miséria Do InstrumentalismoRaphael OliveiraAinda não há avaliações
- Como Não Ser Idiota - 19 Passos (Com Imagens) - WikiHowDocumento4 páginasComo Não Ser Idiota - 19 Passos (Com Imagens) - WikiHowJenai SousaAinda não há avaliações
- O Barao - Branquinho Da FonsecaDocumento32 páginasO Barao - Branquinho Da FonsecaMarina UedaAinda não há avaliações
- JHONATAS NILSON - A Virgem Raptada Pelo SheikDocumento241 páginasJHONATAS NILSON - A Virgem Raptada Pelo SheikBetoka LimaAinda não há avaliações
- Raciocínio Lógico: 451 QuestõesDocumento64 páginasRaciocínio Lógico: 451 QuestõesDiogo NunesAinda não há avaliações
- O Caminho para A Liberdade FinanceiraDocumento258 páginasO Caminho para A Liberdade Financeiralibri.leandroAinda não há avaliações
- Viver Se TensaoDocumento49 páginasViver Se TensaoMASSANGAISSEAinda não há avaliações
- Curso 76247 Aula 01 v1 PDFDocumento181 páginasCurso 76247 Aula 01 v1 PDFitalosaraujoAinda não há avaliações
- Relatorio Produção de Texto e Redação EmpresarialDocumento11 páginasRelatorio Produção de Texto e Redação EmpresarialDiviane2014Ainda não há avaliações
- Sol em AquárioDocumento2 páginasSol em AquárioAnderson AlmeidaAinda não há avaliações
- Arrependimento para Vida - David W. DyerDocumento62 páginasArrependimento para Vida - David W. DyerrichardnewsAinda não há avaliações
- Kierkegaard Nietzsche e Heidegger - o PeDocumento334 páginasKierkegaard Nietzsche e Heidegger - o PeJoao Inacio Bezerra da silva100% (7)
- Direito Civil - UEMS - Aula 6-4Documento59 páginasDireito Civil - UEMS - Aula 6-4Vilmar JoãoAinda não há avaliações
- Slide01.Lógica ArgumentativaDocumento113 páginasSlide01.Lógica ArgumentativaJoão Carlos Bemerguy CameriniAinda não há avaliações
- Socrates e Jesus o Debate - Peter KreeftDocumento107 páginasSocrates e Jesus o Debate - Peter Kreeftdomina08Ainda não há avaliações
- Monografia KierkegaardDocumento43 páginasMonografia KierkegaardNailton Almeida100% (1)
- Prova - FIT16 - TEC NIVEL SUP A - FisioterapiaDocumento12 páginasProva - FIT16 - TEC NIVEL SUP A - Fisioterapiasamwjk100% (1)
- Ingold, Tim.O Conceito de Sociedade Está Teoric - Tim. - in - STRATHERN, Marilyn.O Efeito EtnográficoDocumento7 páginasIngold, Tim.O Conceito de Sociedade Está Teoric - Tim. - in - STRATHERN, Marilyn.O Efeito EtnográficoDanilo CardosoAinda não há avaliações