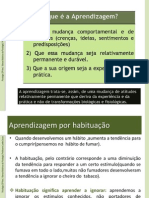Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Édipo Feminino Scielo
Édipo Feminino Scielo
Enviado por
Luiz EstevesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Édipo Feminino Scielo
Édipo Feminino Scielo
Enviado por
Luiz EstevesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.
143-149
143
Transferncia e Complexo de dipo, na Obra de Freud: Notas sobre os Destinos da Transferncia
Lara Cristina dAvila Loureno1
Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto Resumo Este artigo comunica algumas consideraes sobre o conceito de transferncia, na teoria freudiana. Especial ateno voltada para as relaes entre transferncia, complexo de dipo e complexo de castrao. Partindo dessas relaes e da hiptese segundo a qual Freud no apresenta um final possvel para o complexo de dipo, o presente trabalho entende que esse autor no fornece uma teoria sobre o final da transferncia. Esse pensamento evoca o impasse freudiano em relao aos trminos das anlises. Nesse ponto, feita uma breve referncia teoria lacaniana sobre a castrao e a transferncia ao final de anlise. Palavras-chave: Transferncia; anlise; complexo de dipo; complexo de castrao. Transference and Oedipus Complex, within Freuds Theory: Notes about the Transference Destiny Abstract This article discloses some considerations about the transference conception situated within Freuds theory. The relations between transference, Oedipus complex and castration complex are highlighted. Starting from these relations and from the allegedly in wich Freud doesnt reveal a possible ending to Oedipus complex, this current work perceives that this author does not provide a theory about the transference ending. This idea drives into Freuds impasse, as far as the analysis ending is concerned. In this issue, a short reference is produced on Lacans castration theory and on that of the transference at end of the analysis. Keywords: Transference; analysis; Oedipus complex; castration complex.
O aparecimento da noo de transferncia concomitante ao surgimento da psicanlise e sua importncia sempre marcada na obra freudiana. Freud nos fala sobre o surgimento e a dinmica da transferncia, bem como sobre o jogo de sedues e embaraos que ela cria ao tratamento. Porm, o que no chega a ser formulado explicitamente nos textos freudianos uma teoria sobre o desenlace da transferncia; ou, melhor dizendo, sobre o que efetivamente ocorre com esse mecanismo psquico ao final de um processo analtico. Mais que isso: o pensamento freudiano possibilita dvidas quanto natureza e viabilidade de um final de anlise. Os estudos de Freud sobre a transferncia so intimamente ligados teoria sobre o complexo de dipo (e ao intrnseco conceito de complexo de castrao). A transferncia , grosso modo, reedies de contedos edpicos. Esse fato visto, concomitantemente, como obstculo e facilitador do tratamento. Compartilhando a opinio de DAvila Loureno (2000), segundo a qual o complexo de dipo freudiano no parece ser passvel de concluso pelo indivduo, este artigo entende que a questo do final da transferncia problemtica para Freud. O presente trabalho destina-se apresentao dessa problemtica relativa natureza da transferncia e ao questionamento de seu estatuto ao final de anlise, segundo a obra de Freud. Salientamos que tal problemtica s se torna visvel devido coerncia e honestidade do pensamento freudiano. Sem a pretenso de ser exaustivo, este estudo atm-se a um recorte bibliogrfico que permite apreender a noo de transferncia como piv do processo analtico.
Endereo para correspondncia: Rua: Campos Sales, 398, 81, 14015 110, Ribeiro Preto, SP. Fone: (16) 625471. E-mail: laracdl@hotmail.com
1
A transferncia e o surgimento da psicanlise Durante o incio de seus estudos sobre as neuroses, Freud mantm uma parceria intelectual com Breuer, com quem escreve Estudos sobre a histeria, publicado em 1895. O ento parceiro de Freud comunica-lhe o caso de uma paciente tratada sob o mtodo hipntico. Trata-se de Bertha Pappenheim, que na descrico do caso denominada Anna O., cujo tratamento encerrado precocemente por Breuer. De acordo com Freud, o encerramento precoce do caso acontece devido ao choque produzido, no mdico, pela manifestao da transferncia da paciente. Diante dos efeitos que a transferncia e a contratransferncia produzem at mesmo em sua vida privada, Breuer, alarmado, abandona o caso e d a paciente por curada. Mediante tal deciso do mdico, essa paciente apresenta uma gravidez nervosa, ou seja, diante do impacto suscitado pela interrupo abrupta do tratamento, ela reage com a produo de um sintoma neurtico (pseudociese). A partir do relato de Breuer, Freud comea a perceber que existe uma relao entre a sintomatologia produzida e o rompimento prematuro do vnculo afetivo entre essa paciente e seu mdico. Portanto, fica entendido que a interveno do mdico tem a capacidade de influenciar, alterar ou at mesmo produzir novos sintomas. Com isso, comeam a surgir idias que se tornaro presentes ao longo da obra de Freud, tais como: a transferncia, cujo contedo sempre sexual, no peculiar a um ou outro tratamento, mas prpria neurose; o sentimento transferencial encontra-se pronto, por antecipao, s aguardando a oportunidade de dirigir-se figura do mdico, a qual, por sua vez, ocupa na transferncia o lugar de algum personagem importante na histria do paciente. Segundo Freud, em A dinmica da transferncia (1912/1980), a juno da disposio inata com os acidentes da histria individual
144
Lara Cristina dAvila Loureno
faz com que o sujeito adquira uma forma especfica de conduzirse na vida ertica. Ele adquire aquilo que o autor denomina clich estereotpico, o qual constantemente repetido no decorrer de sua vida, sem que exista conscincia dessa reedio de padres de relacionamento. Na neurose, h uma fixao ainda maior nesses prottipos afetivos. E dessa forma que o indivduo dirige-se ao mdico. A partir da viso da importncia da figura do analista para o tratamento, Freud nunca perde o referencial da transferncia na direo de suas descobertas tericas. A insistncia do amor de transferncia pode ser considerada propulsora da tcnica analtica. Assim Anna O., em sua tentativa de seduo, faz manifestar seu desejo de ser ouvida. Com isso, ela a primeira paciente a demonstrar os efeitos da chamada talking cure, ou seja, ela demonstra que a fala (e no somente a repetio dramtica dos acontecimentos traumticos) leva a resultados teraputicos. Contudo, essa paciente ainda tratada sob o mtodo hipntico. No tarda, porm, para que Freud prescinda dos recursos da hipnose na conduo de sua prtica clnica. Abandonada a tcnica da hipnose, a importncia no tratamento concedida resistncia do paciente. A nfase passa a recair sobre os mecanismos de excluso de contedos psquicos da conscincia, isto , sobre aquilo que Freud, em Histria do Movimento Psicanaltico (1914/ 1980), considera a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanlise: o recalque (Die Verdrngung). Trata-se ento de preencher as lacunas da memria do paciente, ou seja, superar suas resistncias advindas do recalque. Aprofundando suas pesquisas em torno do funcionamento dos contedos recalcados, em Recordar, repetir e elaborar (1914/ 1980), Freud nos diz que aquilo que o paciente resiste em recordar expresso pela atuao. Durante o tratamento, o paciente no pode se livrar disso que o autor denomina compulso repetio. Mas qual a relao dessa compulso repetio com a transferncia e com a resistncia? Freud declara:
Logo percebemos que a transferncia , ela prpria, apenas um fragmento da repetio e que a repetio uma transferncia do passado esquecido, no apenas para a figura do mdico, mas tambm para todos os outros aspectos da situao atual. (Freud, 1912/1980, p. 197)
um indicador da direo do processo analtico. um facilitador que exige o posicionamento preciso da figura do analista. De posse dos dados fornecidos pela compulso repetio, o analista deve manejar a transferncia para que o paciente deixe de ficar somente repetindo seus sintomas e comece a prestar ateno s suas queixas, isto , a considerar que seus sintomas so dignos de uma investigao ativa. O paciente deve ento se entregar tarefa de recordar. Contudo, observamos com Freud que alguns pacientes firmam-se, exageradamente, nessa compulso repetio e abandonam o tratamento antes que a transferncia seja manejada. O manejo da transferncia consiste, num primeiro momento, em que o analista permita ao paciente atuar exclusivamente na transferncia:
Tornamos a compulso incua, e na verdade til, concedendo-lhe o direito de afirmar-se num campo definido. Admitimo-la transferncia como a um playground no qual lhe permitido expandirse em liberdade quase completa e no qual se espera que nos apresente tudo no tocante pulses patognicas, que se acha oculto na mente do paciente. Contanto que o paciente apresente complacncia bastante para respeitar as condies necessrias da anlise, alcanamos normalmente sucesso em fornecer a todos os sintomas da molstia um novo significado transferencial e em substituir sua neurose comum por uma neurose de transferncia, da qual pode ser curado pelo trabalho teraputico. (Freud, 1914/1980, p. 201)
Assim a estratgia traada por Freud bem definida: o tratamento deve proporcionar os meios que facilitem a transferncia dos contedos patognicos da neurose para os limites definidos pelo enquadre analtico, no qual o analista posiciona-se de modo a atrair esses contedos que se deslocam sobre sua figura. Isso faz da cena analtica o palco privilegiado de manifestaes dos conflitos intrapsquicos do paciente. Gnese edpica da transferncia Embora no artigo Fragmentos da anlise de um caso de histeria (Freud,1905/1980) a expresso complexo de dipo no aparea formalmente no texto, h o interesse do autor pelas circunstncias familiares da paciente, com o intuito no s de verificar os componentes hereditrios da doena, mas principalmente de analisar a importncia dos vnculos afetivos envolvidos na manifestao da neurose. Esse caso clnico, mais conhecido na literatura psicanaltica como Caso Dora, particularmente decisivo para a anlise do complexo de dipo. Pois, nele Freud tem condies de avaliar as interferncias, ou talvez fosse melhor dizer, o determinismo do complexo de dipo no processo da transferncia (D vila Loureno, 2000). E assim, a compreenso do fenmeno da transferncia ganha novos contornos. Freud conduz esse caso clnico a partir dos pressupostos sobre a sexualidade neurtica e da idia de que a relao transferencial da paciente marcada por uma repetio de suas relaes arcaicas com a figura paterna. Vale lembrar os engodos, confessos por Freud, envolvidos na anlise da transferncia desse caso clnico. particularmente interessante o fato de que a interpretao mal sucedida
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
E sobre a relao da transferncia com a resistncia, nosso autor aborda o uso, feito pelo paciente, das idias transferenciais. Esse uso torna-se mais sistemtico quando, no decorrer da anlise, as deformaes do material patognico comeam a ser insuficientes medida em que vo sendo desvendadas pelas interpretaes do mdico:
Inferimos desta experincia que a idia transferencial penetrou na conscincia frente de quaisquer outras associaes possveis, porque ela satisfaz a resistncia... Reiteradamente, quando nos aproximamos de um complexo patognico, a parte desse complexo capaz de transferncia empurrada em primeiro lugar para a conscincia e defendida com a maior obstinao. (Freud, 1912/1980, p. 138)
Mas isso no leva a crer que a transferncia seja exclusivamente um obstculo ao tratamento e que, portanto, deva ou possa ser eliminada do mesmo. Ao contrrio, esse mecanismo psquico
Transferncia e Complexo de dipo, na Obra de Freud: Notas sobre os Destinos da Transferncia
145
da transferncia de Dora leva Freud s noes de bissexualidade do complexo de dipo e de ambivalncia inerente ao sentimento transferencial. Alm disso, os impasses desse caso clnico encaminham o autor percepo das intervenes que a contratransferncia pode realizar no tratamento e da necessidade de manter esse sentimento ento sob controle: Em minha opinio, portanto, no devemos abandonar a neutralidade para com o paciente, que adquirimos por manter controlada a contra-transferncia (Freud, 1915/1980, p. 214). Dessa maneira o complexo de dipo, conceito to fundamental para Freud, tem seus primeiros estudos em funo da transferncia. Tudo o que descoberto no complexo de dipo coaduna com a teoria sobre a dinmica da transferncia. Da Freud dizer que, na transferncia, o analista colocado no lugar de uma das imagos primordiais do indivduo: imago paterna, imago fraterna, ou imago materna. E mediante as relaes estabelecidas entre o complexo de dipo e a transferncia, que so considerados os obstculos e as vantagens que a transferncia traz para o tratamento.
A transferncia ambivalente; ela abrange atitudes positivas (de afeio), bem como atitudes negativas (hostis) para com o analista que, via de regra, colocado no lugar de um ou outro dos pais do paciente, de seu pai ou de sua me. (Freud, 1940/1980, p. 202, gr. do autor)
Ao mesmo tempo, esse autor considera ainda duas outras vantagens que a transferncia traz. So elas: o analista, colocado no lugar das imagos parentais, tem a concesso do poder que o superego exerce sobre o ego do indivduo (uma vez que os pais foram a origem do superego); o superego, representado pelo analista, tem no tratamento analtico a oportunidade de ter seus erros corrigidos. A respeito dessa afirmao, Freud adverte que o analista deve tomar cuidado para no se transformar numa espcie de modelo ou professor para o paciente. Alm da repetio: A complexidade da castrao e os destinos da transferncia Em Alm do princpio do prazer, Freud (1920/1980) amplia a noo de compulso repetio a partir do conceito, ento formalmente introduzido, de pulso de morte. At esse perodo da obra do autor, era conhecido que a compulso repetio estava vinculada s pulses recalcadas, cujas satisfaes estavam invariavelmente ligadas ao princpio do prazer. Isto , considerava-se uma compulso de tentar satisfazer contedos pulsionais que originalmente produziam prazer (o desprazer vinculado a tais contedos s surgia em funo do recalque). Nesse momento o autor nota que, contudo, existem experincias compulsivamente repetidas que desde o incio excluem qualquer possibilidade de prazer. Nessa constatao explica-se que os sentimentos edpicos, cujos desapontamentos so vividos com grande sofrimento por parte da criana, so todos repetidos pelos pacientes na transferncia sob a forma de uma compulso: Procuram ocasionar a interrupo do tratamento enquanto este ainda se acha incompleto; imaginam sentir-se desprezados mais
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
uma vez, obrigam o mdico a falar-lhes severamente e a tratlos friamente (Freud, 1920/1980, p. 34). A tese apresentada em Alm do princpio do prazer diz que a compulso repetio uma tentativa de elaborao das vivncias traumticas. Repetindo, o indivduo busca sujeitar as excitaes que de incio sofreu passivamente. Tais excitaes so potencialmente traumticas quando rompem aquilo que Freud denomina escudo protetor contra estmulos. Alm disso, atravs da compulso repetio o ego desenvolve a capacidade de reconhecer a iminncia de novas situaes traumticas, cujo alerta dado pela liberao da angstia. Dessa forma, a possibilidade da ocorrncia de um trauma restringida a um sinal. Em outras palavras, a angstia um aviso com o intuito de que o psiquismo empreenda os meios adequados para impedir a efetivao de uma situao aflitiva. Segundo tal raciocnio, a angstia sobrevem ao paciente a cada vez que as intervenes analticas aproximam-se dos pontos traumticos, nodais de sua doena. Nesses momentos, o paciente muitas vezes utiliza a transferncia como forma de fuga do enfrentamento dos contedos de sua neurose. Dessa maneira, envolvido com seus sentimentos transferenciais o indivduo busca no saber de seu inconsciente. Em Inibies, sintomas e ansiedade (1926/1980) Freud esclarece que a angstia, ao contrrio do que supunha em seus primeiros escritos, no simplesmente uma libido transformada pelo efeito do recalque, e sim uma reao do ego diante da iminncia de situaes de perigo. Segundo essa nova tese freudiana, o recalque efetivado justamente para que o ego no sucumba aos perigos apontados atravs da angstia. Alertado pela a angstia, o indivduo produz os sintomas necessrios para que os contedos traumticos sejam encobertos. As situaes traumticas representam uma experincia de desamparo por parte do ego, em face de um acmulo de excitao (de origem interna ou externa) com o qual no consegue lidar.
O perigos internos modificam-se com o perodo de vida, mas possuem uma caracterstica comum, a saber, envolvem a separao ou perda de um objeto amado, ou uma perda de seu amor - uma perda ou separao que poder de vrias maneiras conduzir a um acmulo de desejos insatisfeitos e dessa maneira a uma situao de desamparo. (Freud, 1926/1980, p. 99)
Tais perigos internos so discriminados por Freud: perigo do desamparo psquico; perigo da perda do objeto; perigo de castrao e perigo advindo do superego. Mas o autor aponta que sempre o temor latente da castrao que envolve todas essas situaes de perigo, na medida em que elas se referem ao medo da perda de um objeto precioso. O prprio medo da morte explicado nesses termos:
A castrao pode ser retratada com base na experincia da perda diria das fezes que esto sendo separadas do corpo ou com base na perda do seio da me no desmame. Mas nada que se assemelhe morte jamais pode ter sido experimentado ... Estou inclinado, portanto, a aderir o ponto de vista de que o medo da morte deve ser considerado anlogo ao medo da castrao, e que a situao qual o
146
Lara Cristina dAvila Loureno
ego est reagindo de ser abandonado pelo superego protetor - os poderes do destino. (Freud, 1926/1980, p. 153)
Nessa obra de 1926, possvel entender que o complexo de castrao deixa de ser restrito fase flica. Agora no se trata somente do medo de vir a ser castrado do menino, ou do complexo de inferioridade da menina (ambos descritos nos estudos sobre o complexo de dipo).Os sentimentos assim delimitados so apenas fantasias privilegiadas para manifestar o medo da castrao; fantasias com as quais Freud nunca deixa de escrever o roteiro de suas pesquisas. A angstia da castrao passa a referir-se s reaes do indivduo diante de suas perdas, as quais revelam sua condio de desamparo. Desamparo que constitudo pela incapacidade do aparelho psquico de dominar adequadamente os estmulos. Segundo Inibies, sintomas e ansiedade, a condio humana indissoluvelmente ligada a esse fato. Assim, se o desamparo humano uma condio insupervel e ele est intrinsecamente ligado ao complexo de castrao, esse ltimo tambm pode ser considerado indestrutvel. E ele recebe uma nfase acentuada na obra de Freud. Mas como as fantasias de castrao podem apresentar-se num adulto normal ?
algumas dessas situaes de perigo conseguem sobreviver, alcanando pocas posteriores, e modificam seus determinantes de ansiedade a fim de atualiz-los ... por exemplo, um homem pode reter seu medo de castrao guisa de uma sifilidofobia, aps ter vindo a saber que no mais habitual castrar pessoas por se entregarem a seus desejos sexuais, mas que por outro lado, graves doenas podem sobrevir a qualquer um que se entrega a seus desejos. (Freud, 1926/1980, p. 172)
Em sua teoria sobre o complexo de dipo, Freud estabelece que o complexo de castrao responsvel pelo incio e desfecho dos sentimentos edpicos, para mulheres e homens respectivamente. E pode-se pensar que o protesto contra a castrao impe dvidas quanto possibilidade de finalizao do complexo de dipo. Pois a castrao, seja como precondio (no caso das mulheres) ou como punio (no caso dos meninos), parece levar a uma renncia dos desejos edpicos e no a uma elaborao que realmente os dissolva. Quando o complexo de castrao aparece ento correspondendo ao temor do desamparo, ele passa a ser concebido como o piv da entrada e da sada do tratamento analtico. E a dificuldade, ou mesmo, a incapacidade de elaborao desse complexo comea a colocar em questo a possibilidade de trmino de um processo de anlise. De certa maneira essa lgica permanece fiel aos primeiros escritos de Freud, os quais estabelecem as relaes entre o complexo de dipo (e sua vinculao ao complexo de castrao) e a dinmica clnica. Tais relaes vm salientar a importncia do superego. Essa instncia psquica chamada herdeira do complexo de dipo: a criana, diante da impossibilidade de satisfazer seus sentimentos edpicos, realiza uma identificao com as figuras parentais. Assim,
so internalizadas as proibies e crticas a tais sentimentos, o que explica a viglia dos valores morais no psiquismo (cumpre notar a advertncia de Freud de que a severidade do superego no tem uma relao direta com a severidade dos pais (Freud, 1930/1980). Segundo Freud, o superego responsvel pela insistncia da necessidade de punio atravs da doena, observada na clnica. Esse fato parece mostrar que o desejo do incesto nunca recebe absolvio suficiente. Com isso, faz-se necessria a questo sobre o que fazer com o superego na conduo de uma anlise. Pois, mesmo que ele receba uma nova configurao atravs da figura do analista (o que, como foi apontado, Freud v como uma das vantagens da transferncia), ele no perde os princpios que o caracterizam como instncia psquica. Princpios que, identificados com a formao de ideais e com as exigncias morais, fundamentam o sentimento de culpa relacionado aos desejos recalcados. Freud avalia que tal sentimento de culpa constitui uma das mais fortes resistncias do paciente ao desenvolvimento completo do tratamento analtico. E no se trata simplesmente de uma resistncia a recordar um contedo recalcado, mas de uma resistncia prpria melhora do quadro clnico ou extino da doena. As resistncias dos pacientes a abandonarem seus sofrimentos, e, a presena persistente da angstia da castrao durante a anlise conduzem Freud a um srio questionamento sobre os xitos de sua prtica clnica. Ele escreve, em 1937, Anlise terminvel e interminvel (1937/1980). Aqui, as descobertas clnicas no alimentam o orgulho do autor, mas o colocam diante dos limites de sua tcnica. Nesse artigo, Freud enumera os fatores envolvidos nos prognsticos de um tratamento analtico, quais sejam: a origem traumtica ou constitucional da neurose (sendo aquela considerada mais suscetvel aos efeitos da anlise); as alteraes do ego realizadas em virtude dos mecanismos de defesa; os conflitos com o superego; a atuao maior da pulso de morte. Dentre todos esses fatores, o autor nota uma decisiva importncia do fator quantitativo. Ou seja, a magnitude dos instintos que determina a possibilidade de o fortalecimento do ego (obtido durante o processo analtico) ser capaz de dominar os conflitos psquicos. Freud chega mesmo a admitir que a psicanlise teria, por muito tempo, negligenciado os fatores econmicos da doena em favor dos aspectos dinmicos e topolgicos. E pelo vis econmico que o complexo de castrao aqui abordado (vale lembrar que o aspecto econmico desse complexo j ressaltado por Freud desde Inibies, sintomas e ansiedade [1926/1980]). O temor da castrao relaciona-se a uma quantidade de energia indomvel a qualquer amadurecimento do ego, sendo ento um limite para a eficcia do tratamento psicanaltico. Tal fonte de energia est alm dos substratos psicolgicos, alcanando o campo biolgico diante do qual o autor se detm..
Freqentemente temos a impresso de que o desejo de um pnis e o protesto masculino penetraram atravs de todos os estratos psicolgicos e alcanaram o fundo, e que, assim, nossas atividades encontram um fim. Isso provavelmente verdadeiro, j que, para o campo psquico, o campo biolgico desempenha realmente o papel
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
Transferncia e Complexo de dipo, na Obra de Freud: Notas sobre os Destinos da Transferncia
147
de fundo subjacente. O repdio da feminilidade pode ser nada mais do que um fato biolgico, uma parte do grande enigma do sexo. Seria difcil dizer se e quando conseguimos xito em dominar esse fator num tratamento analtico. S podemos consolar-nos com a certeza de que demos pessoa analisada todo incentivo possvel para reexaminar e alterar sua atitude para com ele. (Freud, 1937/1980, p. 287)
O complexo de castrao, que nesse texto freudiano descrito em termos deuma valorizao da masculinidade, mostra-se o ponto central de dificuldades para o manejo da transferncia. Porque, em virtude de tal complexo, o homem teme uma atitude passiva perante outro homem; fato esse que o leva a recusar o mrito de seu restabelecimento ao mdico. E a mulher vtima de forte depresso quando convencida de que o tratamento no pode lhe proporcionar o rgo masculino, alvo de suas buscas edpicas; dessa forma, os efeitos teraputicos da transferncia so obstrudos pelo sentimento de frustrao. interessante apontar que essas manifestaes do complexo de castrao, observadas na relao de transferncia, retratam a posio de impasse dos complexos de dipo masculino e feminino. No masculino, permanece a rivalidade com o pai; no feminino, persiste a frustrao do desejo de obter um falo, denotando o que o autor denomina inveja do pnis. Com isso, Freud constata que a oportunidade de reedio da cena edpica, via transferncia, no suficiente para abarcar um trmino satisfatrio para o tratamento analtico. Pois, na transferncia cristalizada em torno do complexo de dipo, as interpretaes do analista mostram-se insuficientes para modificar a economia dos instintos que h por trs dessas reivindicaes de poder e proteo, as quais se manifestam como um repdio feminilidade. Transferncia e final de anlise Anlise terminvel e interminvel, sem negar os resultados clnicos que incentivaram o percurso freudiano, coloca em discusso o alcance dos tratamentos analticos. E assim que pergunta: ...existe algo que se possa chamar de trmino de uma anlise _ h alguma possibilidade de levar uma anlise a tal trmino? (Freud, 1937/1980, p. 250) Nesse ponto, o autor esclarece o que considerado um final de anlise: a supresso dos sintomas e ansiedades do paciente; a conscientizao de material reprimido suficiente para evitar a repetio de um processo patolgico; uma mudana a tal ponto no psiquismo do paciente que tornase impossvel esperar novos efeitos do tratamento. Esse artigo no fornece uma resposta definitiva questo citada; ao contrrio, parece desdobr-la: possvel um final de anlise sem que exista um dissoluo da transferncia? Tal desdobramento no diretamente abordado por Freud. Contudo, ele aponta seus indcios, especialmente quando faz referncia ao paciente descrito em Histria de uma neurose infantil (Freud, 1918/1980), cujo caso clnico conhecido como o homem dos lobos:
Suas resistncias definharam e, nesses ltimos meses de tratamento, foi capaz de reproduzir todas as lembranas e descobrir todas as conexes que pareciam necessrias para compreender sua neurose
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
primitiva e dominar a atual. Quando me deixou, em meados do vero de 1914 ... acreditei que sua cura fora radical e permanente. Numa nota de rodap acrescentada em 1923 histria clnica desse paciente, j comunicara que eu estava enganado. Quando, por volta do fim da guerra ... tive que ajud-lo a dominar uma parte da transferncia que no fora resolvida. Isso foi realizado em alguns meses ... Quinze anos se passaram desde ento sem que tenha sido refutada a verdade desse veredicto, mas certas reservas tornam-se necessrias ... Diversas vezes, porm, durante esse perodo, seu bom estado de sade foi interrompido por crises de doena que s podiam ser interpretadas como ramificaes de sua doena perene ... Algumas dessas crises ainda estavam relacionadas a partes residuais da transferncia, e, onde isso assim acontecia, por efmeras que fossem, apresentavam carter distintamente paranico. (Freud, 1937/198, pp. 248-249, grifos nossos)
A respeito da discusso entre transferncia e trmino do tratamento analtico, um outro alvo de Freud a anlise de Sndor Ferenczi. Sem fazer referncia explcita identidade do paciente, ele comenta que, nesse caso, aps a supresso dos sintomas e o encerramento da anlise, o mdico (no caso, o prprio Freud) fora surpreendido pelas crticas do paciente. Essas acusavam-no de no ter fornecido ao paciente uma anlise completa, a qual deveria ter levado em conta o fato de que o sentimento transferencial nunca pode ser exclusivamente positivo. Freud ento se defende dizendo que no prudente, ou vantajoso, o analista levantar as transferncias negativas quando elas no so manifestas. Entretanto, os comentrios do autor sobre tal tema parecem demonstrar que o manejo da transferncia negativa nunca deixa de ser um ponto nevrlgico em sua teoria. Provavelmente essa controvrsia em torno da transferncia negativa leva Freud a insistir na necessidade de o analista ser, ele prprio, submetido anlise. Isso porque os mecanismos de defesa do analista podem impedi-lo de lidar adequadamente com a transferncia, tanto positiva quanto negativa. Essa hiptese reforada quando, sobre esse assunto, feita uma referncia direta a Ferenczi, o especial delator da transferncia negativa:
Em 1927, Ferenczi leu um instrutivo artigo sobre o problema da terminao das anlises. Ele finda com a confortadora garantia de que a anlise no um processo sem fim, mas um processo que pode receber um fim natural, com percia e pacincia suficientes por parte do analista ... Ferenczi demonstra ainda o importante ponto de que o xito depende muito de o analista ter aprendido o suficiente de seus prprios erros e equvocos e ter levado a melhor sobre os pontos fracos de sua prpria personalidade. Isso fornece um suplemento importante a nosso tema. (Freud, 1937/1980, p. 281)
Com esse pensamento, no somente as anlises teraputicas dos pacientes, mas tambm as anlises dos analistas evocam a problemtica envolvendo os trminos dos tratamentos. Freud claramente afirma que todo o analista, a intervalos de aproximadamente cinco anos, deve submeter-se mais uma vez anlise. Isso, portanto, pode ser visto como um processo interminvel. Essas consideraes levam idia de que Freud, ao no saber que rumos dar transferncia, no inclui em sua obra uma teoria suficiente sobre o final de anlise. Esse dado da teoria freudiana explicado, especialmente, pela sua impresso diante do complexo de castrao. Pois ao declarar esse complexo (que,
148
Lara Cristina dAvila Loureno
nas palavras do autor, um repdio feminilidade) num lugar inatingvel pela psicanlise (qual seja, os substratos biolgicos referidos em Anlise terminvel e interminvel ), Freud no encontra outra alternativa a no ser v-lo sendo repetido continuamente na transferncia. Ultrapassando o rochedo da castrao Embora este trabalho limite-se a uma breve investigao sobre a teoria freudiana da transferncia, aqui ele faz uma rpida aluso s consideraes do pensamento lacaniano, as quais visam justamente as relaes entre a castrao, a transferncia e o final de anlise. Lacan , unindo as teses de Freud com as teorias da antropologia e da lingstica estruturais, diz que a castrao a transformao que a linguagem exerce sobre o corpo do indivduo. Em outros termos, a castrao uma operao realizada pelo significante. A identificao com os significantes produz uma diviso no sujeito, a qual tem como conseqncia a perda do gozo de um corpo total. Dessa maneira pode-se concluir que a castrao passa sim pelo corpo, mas, ao contrrio do que parece comunicar os textos de Freud, ela no perda de virilidade. perda de gozo. Uma perda que realiza justamente a sexuao do sujeito: ele homem ou mulher, no pode ser total. E o que determina as posies masculina e feminina no a anatomia, mas a forma como est estruturado o desejo. Baseando-se nesse raciocnio, o autor diz que a castrao a perda de gozo que instala o desejo e que, por isso, ele situa-a num ponto central de sua teoria: O caminho no qual tento coloc-los ... o de ressituar, no corao do problema, a castrao. Pois a castrao idntica quilo a que chamei a constituio do desejo como tal(Lacan, 1991/1995, p. 288) Levar o sujeito a perceber sua submisso linguagem e a reavaliar suas identificaes com os significantes mestres, um ponto necessrio do processo analtico. o que Lacan denomina destituio subjetiva. Chegar a isso alcanar o rochedo da castrao. Alm da castrao est o impossvel que a anlise presentifica: o gozo absoluto, gozo do corpo total. A anlise mostra que esse , estruturalmente, impossvel. Nenhuma interveno analtica pode fornecer um complemento para o ser que se dividiu pela linguagem. Nas palavras do autor, h sempre uma falta-a-ser. Nesse ponto, vale notar que o falo considerado justamente o signo dessa falta-a-ser. Isto , ele um produto dessa falta e s faz apont-la uma vez que se situa exatamente em seu lugar . Logo, o falo no complemento. na medida em que est advertido disso, que o analista pode operar com a instituio do que Lacan denomina sujeito suposto saber. De acordo com esse autor, a transferncia motor da anlise quando o saber do analista constitui-se como suposio e no como certeza. Esse caminho contrrio idia de um analista detentor de poder, capaz de ensinar as sadas para o sujeito livrar-se da castrao.
O paciente supe que o analista saiba sobre seu sofrimento. E para obter esse saber ele tenta, num jogo de seduo imaginria, descobrir o que quer o analista. Dessa maneira, a transferncia um novo contexto para a colocao da pergunta que est na gnese do desejo humano: o que quer o Outro? tentando respond-la que o sujeito insere-se no mecanismo de identificaes com os significantes que o estruturam. Segundo Lacan, a pergunta referente ao desejo do Outro pode funcionar como uma tirania superegica para o sujeito. Logo, o analista no deve trabalhar no sentido de mant-la. Porm, o analista s no seduzido pela demanda do paciente se, ele prprio, acedeu sua falta-a-ser. Isto , se ele sabe que apenas um lugar, um Outro necessrio s associaes do paciente. Mas qual a ao do analista diante dessa falta-a-ser que ecoa da castrao? Lacan comenta:
no h ao que transcenda definitivamente os efeitos do recalcado. Talvez se houver uma, no ltimo termo, no mximo aquela onde o sujeito como tal se dissolve, se eclipsa, e desaparece. uma ao a propsito da qual nada h de dizvel. (Lacan 1991/1995, p. 326)
Para o autor, o acesso ao indizvel alm da castrao s possvel atravs da fantasia. A fantasia o modo com que o sujeito tenta dar consistncia quilo que ele imagina ser o complemento de seu ser. Nela, o sujeito dividido pela castrao posiciona-se na esperana de restituir o gozo perdido. O sujeito resiste justamente impossibilidade de restituio desse gozo. Por isso, o autor afirma que um final de anlise consiste na travessia da fantasia. Atravessar a fantasia significa que o sujeito, de um lado, descola-se dos seus significantes mestres e, de outro, desloca o objeto (causa de seu desejo) da funo de complemento possvel para sua falta-a-ser. E o que acontece com a transferncia quando a fantasia atravessada? O abandono da esperana de um complemento para o ser leva ao desaparecimento do amor transferencial. Em outras palavras, o encontro com o inominvel alm da castrao aponta para a impossibilidade do gozo absoluto. E a partir disso, a resposta do analista no mais esperada. Da Lacan dizer que, no final de anlise, h o encontro com a inconsistncia do Outro. Portanto, Lacan entende que o final de anlise exige o esgotamento da transferncia, o qual, por sua vez, necessita que seja ultrapassado o limite da castrao. Se o temor da castrao aponta para o temor do desamparo, ao trmino de uma anlise o sujeito concorda com a ausncia de garantias. Segundo esse autor, Freud teria se detido ante a autoridade paterna, conservando ento o analista como garantia (nesse caso, garantia da interpretao dos sintomas) durante todo o processo de uma anlise. Cumpre advertir que essas consideraes esto longe de apontar todos os fundamentos da teoria lacaniana sobre final de anlise, transferncia e castrao. Elas apenas tm o intuito de observar como os dilemas da teoria freudiana alimentam o encaminhamento da psicanlise.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
Transferncia e Complexo de dipo, na Obra de Freud: Notas sobre os Destinos da Transferncia
149
Concluso Desde o incio de sua prtica clnica, Freud depara-se com a dinmica da transferncia. preocupado com tal dinmica que o autor comea o desvendamento do complexo de dipo. A partir de ento, a transferncia e esse complexo so indissoluvelmente ligados: os destinos edpicos so similares aos destinos da transferncia. A fora e a permanncia dos avatares do superego e do complexo de castrao levam hiptese (apresentada por DAvila Loureno, 2000) de que a teoria freudiana no apresenta, de fato, uma teoria sobre o final do complexo de dipo. Essa hiptese, unida s relaes entre tal complexo e transferncia, produz a idia de que Freud tambm no formula uma teoria suficiente sobre o final do processo de transferncia. Segundo as constataes de Freud (1937/1980), durante todo o percurso do tratamento o analista permanece como o foco dos contedos edpicos. Essa permanncia cria obstculos, talvez intransponveis, para o manejo da transferncia. Sem uma finalizao adequada dos sentimentos transferenciais, torna-se problemtica a questo referente aos trminos dos tratamentos analticos. Diante dessas consideraes, este artigo conclui que a obra freudiana capaz de apresentar, ou mesmo instituir, a gnese e as nuances da transferncia em suas relaes com o tratamento. O que fica obscuro, entretanto, se pode haver um desenlace bem sucedido da transferncia num suposto final de anlise. Tal concluso no infere um fracasso de Freud em sua lida com as dinmicas da transferncia. Ao contrrio, so os encontros com a dialtica entre o possvel e o impossvel de sua clnica (isto , entre as repeties incansveis e aquilo que passvel de trmino, de modificaes) que encaminham Freud aos avanos de suas produes tericas. O rduo e fascinante caminho de Freud d as diretrizes para que a clnica psicanaltica seja sempre repensada e reinventada para acompanhar as trajetrias sinuosas do desejo. Assim as diretrizes freudianas conduzem Lacan a ressaltar que, na anlise, o desejo do sujeito s surge e recriado atravs do desejo do analista e do desejo pelo analista. Esse autor elabora uma teoria sobre o final de anlise, que implica justamente na travessia do rochedo da castrao e na destituio do lugar de saber que o analista ocupa na transferncia. Referncias
Breuer, J. & Freud, S. (1980). Estudos sobre a histeria (V. Ribeiro, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. II). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1895) D Avila Loureno, L. C. (2000). O complexo de dipo, na teoria de Jacques Lacan. Dissertao de Mestrado no-publicada, Curso de Ps-Graduao em Filosofia e Metodologia das Cincias, Universidade Federal de So Carlos. So Carlos, SP.
Freud, S. (1980). Fragmento da anlise de um caso de histeria (V. Ribeiro, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. VII, pp.5-127). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1905) Freud, S. (1980). A dinmica da transferncia (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 131-143). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1912) Freud, S. (1980). Recomendaes aos mdicos que exercem a psicanlise (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 147-159). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1912) Freud, S. (1980). Sobre o incio do tratamento (Novas recomendaes sobre a tcnica da psicanlise I) (J. O. A. Abreu, Trad.). Em: J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 163-187). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1913) Freud, S. (1980). A histria do movimento psicanaltico (T. O. Brito, P. H. Britto & C. M. Oiticica, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XIV, pp. 13-82). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1914) Freud, S. (1980). Recordar, repetir e elaborar (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 191-203). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1914) Freud, S. (1980). Observaes sobre o amor transferencial (Novas recomendaes sobre a tcnica da psicanlise III) (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XII, pp. 207221). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1915) Freud, S. (1980). Histria de uma neurose infantil (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XVII, pp. 19-152). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1918) Freud, S. (1980). Alm do princpio do prazer (C. M. Oiticica, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XVIII, pp. 17-89). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1920) Freud, S. (1980). A dissoluo do complexo de dipo (C. M. Oiticica, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XIX, pp. 217-228). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1924) Freud, S. (1980). Inibies, sintomas e ansiedade (C. M. Oiticica, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XX, pp. 95-203). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1926) Freud, S. (1980). O Mal-estar na civilizao (J. O. A. Ribeiro, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XXI, pp. 81-178). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1930) Freud, S. (1980). Anlise terminvel e interminvel (J. O. A. Ribeiro, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XXIII, pp.239-287). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1937) Freud, S. (1980). Esboo de Psicanlise (J. O. A. Abreu, Trad.). Em J. Salomo (Org.), Edio standard brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XXIII, pp. 165-237). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1940) Garcia-Roza, L. A. (1994). Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1984) Lacan, J. (1995). O seminrio, livro VIII: A transferncia (1960-1961) (D. D. Estrada, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1991) Lacan, J. (1962-1963). Seminaire X, langoisse. Retirado em 25/09/2003, do site da Ecole Lacanienne de Psychanalyse, no World Wide Web: http://www.ecole-lacanienne.net Laurent, E. (2000). As paixes do Ser. Salvador: Escola Brasileira de Psicanlise & Instituto de Psicanlise da Bahia. Nasio, J. -D. (1993). Cinco lies sobre a teoria de Jacques Lacan (V. Ribeiro, Trad.).Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1992) Quinet, A. (1995). As 4+1 condies da anlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1991) Silvestre, M. (1991). Amanh, a psicanlise (A. Roitman, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1987) Recebido: 22/07/2003 ltima reviso: 18/12/2003 Aceite final: 21/01/2004
Sobre a autora Lara Cristina dAvila Loureno Psicloga, Mestre em Filosofia e Metodologia das Cincias pela Universidade Federal de So Carlos, Doutoranda em Psicologia pela Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto). bolsista pela CAPES.
Psicologia: Reflexo e Crtica, 2005, 18(1), pp.143-149
Você também pode gostar
- Carta DurkheimDocumento2 páginasCarta Durkheimdeded182Ainda não há avaliações
- Aula 4 - Teorias Da AprendizagemDocumento25 páginasAula 4 - Teorias Da AprendizagemCarlos MeloAinda não há avaliações
- Pavlov - Reflexo CondicionadoDocumento12 páginasPavlov - Reflexo CondicionadoFirmino MarquesAinda não há avaliações
- O Olhar Da Psicologia Jurídica Sobre A Tríade Homicida - Resumo Exp.Documento2 páginasO Olhar Da Psicologia Jurídica Sobre A Tríade Homicida - Resumo Exp.vitoriavilardoAinda não há avaliações
- Course Status - Faculdade Serra Geral - AVALIAÇÃO - PSICOPEDAGOGIA E INCLUSÃO ESCOLARDocumento3 páginasCourse Status - Faculdade Serra Geral - AVALIAÇÃO - PSICOPEDAGOGIA E INCLUSÃO ESCOLARErick GomesAinda não há avaliações
- Deficiência Intelectual (DI) : Alexandre Coronado NascimentoDocumento7 páginasDeficiência Intelectual (DI) : Alexandre Coronado NascimentoAlexandre Coronado NascimentoAinda não há avaliações
- Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica - Tangências e SuperposiçõesDocumento8 páginasPsicanálise e Psicoterapia Psicanalítica - Tangências e SuperposiçõesJuliana FernandesAinda não há avaliações
- Erik Erikson Fases Do Desenvolvimento - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaErik Erikson Fases Do Desenvolvimento - Pesquisa GoogleAline ZellerAinda não há avaliações
- Art and Emancipation The Educational ExpDocumento22 páginasArt and Emancipation The Educational ExpbiamorbachAinda não há avaliações
- Introdução A Terapia Cognitivo ComportamentalDocumento38 páginasIntrodução A Terapia Cognitivo ComportamentalIana FernandesAinda não há avaliações
- Creative Methods in Schema Therapy - Converted - by - AbcdpdfDocumento545 páginasCreative Methods in Schema Therapy - Converted - by - AbcdpdfMariana Carvalho100% (1)
- Subconscious Mind Power How To Use The Hidden Power of Your Subconscious Mind (PDFDrive)Documento94 páginasSubconscious Mind Power How To Use The Hidden Power of Your Subconscious Mind (PDFDrive)brunomartinsdejesus7Ainda não há avaliações
- O Autoconceito Na AdolescênciaDocumento7 páginasO Autoconceito Na AdolescênciaJosé SantosAinda não há avaliações
- ABA em CASADocumento36 páginasABA em CASAJanaina Leonel Xavier100% (3)
- Comportamento Organizacional - CMMDocumento14 páginasComportamento Organizacional - CMMDito Pedro HombeAinda não há avaliações
- Contra DUNKER Entrevista Subjetivações e Gestão Dos Riscos Na Atualidade - Reflexões A Partir Do DSM-5Documento9 páginasContra DUNKER Entrevista Subjetivações e Gestão Dos Riscos Na Atualidade - Reflexões A Partir Do DSM-5Anonymous QOAATBVAinda não há avaliações
- Psicologia MilitarDocumento31 páginasPsicologia MilitarNaldo ChicumaAinda não há avaliações
- Matriciamento em Saúde Mental Na Atenção BásicaDocumento33 páginasMatriciamento em Saúde Mental Na Atenção BásicaPimenta RosaAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Aula 01 - PSICOLOGIA INSTITUCIONAL - 2º SEM. 2022Documento16 páginasPlano de Aula - Aula 01 - PSICOLOGIA INSTITUCIONAL - 2º SEM. 2022Hellen Cardoso100% (1)
- Resumoexpandido SaudementalDocumento8 páginasResumoexpandido SaudementalCaio BarbosaAinda não há avaliações
- Tabela de Honorarios Goias 2016pdfDocumento3 páginasTabela de Honorarios Goias 2016pdfPriscila OliveiraAinda não há avaliações
- Panorama Da História Da Psicanálise No BrasilDocumento119 páginasPanorama Da História Da Psicanálise No BrasilPriscilla Ribeiro S. FontesAinda não há avaliações
- Exercicios Ana Laura Viana e EmanuelleDocumento2 páginasExercicios Ana Laura Viana e EmanuelleEmanuelle MartinsAinda não há avaliações
- Pensamentos Persecutórios PDFDocumento15 páginasPensamentos Persecutórios PDFFernanda BrenteganiAinda não há avaliações
- Piaget Todos Os EstagiosDocumento26 páginasPiaget Todos Os EstagiosLucas Da Silva MartinezAinda não há avaliações
- Tourette Na EscolaDocumento18 páginasTourette Na EscolasanAinda não há avaliações
- Síndrome de Burnout em Trabalhadores de Enfermagem deDocumento6 páginasSíndrome de Burnout em Trabalhadores de Enfermagem deMíriam FurlanAinda não há avaliações
- Práticas Psicolígicas No Ambiente JurídicoDocumento89 páginasPráticas Psicolígicas No Ambiente JurídicoDaiane GuimarãesAinda não há avaliações
- MemóriaDocumento16 páginasMemóriaWeslley Kozlik SilvaAinda não há avaliações
- Escalas Diagnósticas Usadas No Autismo - Por Camila GomesDocumento14 páginasEscalas Diagnósticas Usadas No Autismo - Por Camila GomesElis HaraAinda não há avaliações