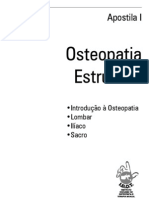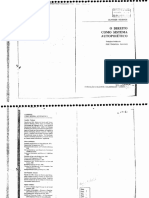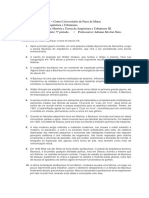Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Disfuncoes Da Atm Relacionadas A Cervicalgia Excelente
As Disfuncoes Da Atm Relacionadas A Cervicalgia Excelente
Enviado por
Elton DiasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Disfuncoes Da Atm Relacionadas A Cervicalgia Excelente
As Disfuncoes Da Atm Relacionadas A Cervicalgia Excelente
Enviado por
Elton DiasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GISELE RODRIGUES DE ALCANTARA
AS DISFUNES DA ATM RELACIONADA CERVICALGIA
RIO DE JANEIRO 2008
GISELE RODRIGUES DE ALCANTARA
AS DISFUNES DA ATM RELACIONADA CERVICALGIA
Monografia de Concluso de Curso apresentada ao Curso de Fisioterapia da Universidade Veiga de Almeida, como requisito para obteno do ttulo de Fisioterapeuta. Orientador: Prof. Nelson Marques.
RIO DE JANEIRO 2008
GISELE RODRIGUES DE ALCANTARA
Monografia de Concluso de Curso apresentada ao Curso de Fisioterapia da Universidade Veiga de Almeida, como requisito para obteno do ttulo de Fisioterapeuta.
Aprovada em: ____/____/2008.
Banca Examinadora:
__________________________________________ Prof. Orientador Ms. Nelson Marques Ribeiro Jnior Professor da Faculdade de Fisioterapia da UVA. Presidente da Banca Examinadora.
__________________________ Profa. Ms. Ione Mosia de Lima Professor da Faculdade de Fisioterapia da UVA. Membro da Banca Examinadora.
______________________________ Prof. Esp. Otto Luz Brun Almeida. Professor da Faculdade de Fisioterapia da UVA. Membro da Banca Examinadora.
Grau: ___________________.
Aos meus queridos pais pelo infinito amor e dedicao constante para nossa formao moral e profissional
AGRADECIMENTOS
Deus, meu grande amigo, por ter caminhado ao meu lado todos os momentos durante esses anos de faculdade e por ter me carregado nos braos quando no suportei prosseguir sozinha! A Nossa Senhora, Me de Deus, por me cuidar com to grande carinho, e por sua presena materna em minha vida! Ao meu pai, Joo, por abrir mo dos seus planos por causa dos meus. Obrigada pelo seu testemunho de vida, e por me ensinar regra do bom viver e que necessrio dar suor e lgrimas para que um sonho se torne realidade! Obrigada por acreditar em mim. pessoa de maior importncia que Deus colocou em minha vida, minha me Lcia. Nenhuma palavra seria suficiente para expressar tudo que aprendi com ela. Obrigada por sonhar comigo, por lutar dia e noite para que meu futuro seja melhor, por cuidar de mim, por me dar carinho e amor! s minhas irms, Michelle e Ctia, que foram um presente de Deus na minha vida! Que mesmo com as brigas, discurses, alegrias e amizade, essa a nossa forma louca de sermos unidas. Ao meu Namorado Fabrcio, que sempre preocupado se eu conseguiria terminar a monografia; por me agentar e quando estava estressada. Pelo amor e carinho a mim dedicado, que sempre com pacincia e compreenso me incentivou nesta etapa da minha vida. A todos aqueles que fizeram parte dessa histria, mesmo que tentasse no conseguiria agradecer a todos. Desejo que Deus lhes conceda a mesma alegria que sinto por vocs existirem!
A vida s pode ser compreendida olhando-se para trs, mas s pode ser vivida se olhada para frente. (Sorem Kierkergaard)
RESUMO
Neste trabalho terico, sero mostrados os componentes anatmicos e fisiolgicos da articulao temporomandibular (ATM), a terminologia e classificao das disfunes temporomandibulares, seus principais sinais e sintomas, as bases etiolgicas e os tratamentos envolvidos nesta patologia. A coluna cervical um dos segmentos mais mveis da coluna vertebral. submetida a um grande nmero de agresses e presses como o peso da cabea, trabalho dos membros superiores, posturas de trabalho/atividades de vida diria, alm de aspectos emocionais, como o estresse. Sofre, tambm, influncia do sistema estomatogntico e dos ossos do crnio sendo por isso, uma regio que merece ateno de uma equipe multidisciplinar. Nem somente o fisioterapeuta pode tratar a coluna cervical sem correlacionar com a articulao temporo-mandibular, assim como o dentista deve, tambm, saber que uma alterao nesta regio pode levar a alteraes no somente da cervical, mas na postura globalmente. Levando-se esses e outros aspectos em considerao que este texto traz a importncia da estreita relao entre a coluna cervical e a articulao temporomandibular. Uma reflexo para que todos os profissionais envolvidos na rea da sade possam fazer e entender ento, que a atuao de uma equipe multidisciplinar no tratamento de nossos pacientes indispensvel. Atualmente parece ser consenso que fatores estruturais, funcionais e psicolgicos estejam reunidos, caracterizando multifatoriedade origem dessa disfuno. O tratamento de casos de disfuno da ATM exige um conhecimento profundo da etiologia do problema, pois alguns recursos multidisciplinares so necessrios.
Palavra- Chave: Coluna cervical, ATM, Disfuno
ABSTRACT
In this theoretical research, it will be showed the anatomical and physiological components of temporomandibular joint, the terminology and classification of temporomandibular joint dysfunctions, theirs main signs and symptons, the aetiologics basis and the treatments involved in this pathology. The cervical column is one of the segments most mobile of the vertebral column. It is submitted to a great number of aggressions and pressures as the weight of the head, work of the superior members, work postures, beyond emotional aspects, like stress. It suffers, also, influence of the stomatognatic system and the bones of the skull being therefore, a region that deserves attention of a multidiscipline team. Nor the physiotherapist only can treat the cervical column without correlating with the temporo-mandibular joint, as well as the dentist must, also, know that an alteration in this region can not only take the alterations of the cervical one, but in the posture globally. Taking these and other aspects in consideration are that this text brings the importance of the narrow relation between the cervical column and the temporo-mandibular joint. A reflection so that all the involved professionals in the area of the health can make and understand then, that the performance of a multidiscipline team in the treatment of our patients is indispensable. At this moment concepts be consensus that structurals, functionals and psychologicals factors is reunited, caracterizing multifactorial to the origen of this dysfunction. The treatment of temporomandibular joint dysfunction' cases claims an intense knowledge of the problems' aetiology because some multidisciplines resourses are necessary.
Key-words: cervical physiotherapist
column,
components
of
temporomandibular,
dysfunctions,
SIGLAS
DTM Disfunes Temporo Mandibular ATM Articulao Temporo mandibular
SUMRIO
INTRODUO ................................................................................................................. 12 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 14 JUSTIFICATIVAS............................................................................................................ 15
CAPTULO I ANATOMIA DA ARTICULAO TEMPOROMANDIBULAR ...... 16 1.1 Estrutura ssea ............................................................................................................. 16 1.1.1 Mandbula .................................................................................................................. 17 1.1.2 Cndilo Mandibular ................................................................................................... 17 1.1.3 Bordo Maxilar .............................................................................................................18 1.1.4 Fossa Glenide ............................................................................................................19 1.2 Estrutura Articular......................................................................................................... 19 1.2.1 Cpsula Articular.........................................................................................................19 1.2.2 Disco Articular ............................................................................................................20 1.3 Ligamento Articular ...................................................................................................... 21 1.3.1 Ligamentos Colaterais (Discais)..................................................................................21 1.3.2 Ligamento Capsular.....................................................................................................21 1.3.3 Ligamento Temporomandibular .................................................................................22 1.3.4 Ligamento Esfenomandibular .....................................................................................22 1.3.5 Ligamento Estilomandibular .......................................................................................23 1.4 Estrutura Muscular ........................................................................................................ 23 1.4.1 Msculo Pterigide (Externo)......................................................................................23 1.4.2 Msculo Pterigide (Interno).......................................................................................23 1.4.3 Msculo Masseter........................................................................................................24 1.4.4 Msculo Temporal ......................................................................................................24 1.4.5 Msculo Acessrio da Mastigao..............................................................................25 CAPTULO II BIOMECNICA DA ATM E COLUNA CERVICAL ....................... 26 2.1 Abertura da Boca ........................................................................................................... 27 2.2 Fechamento da Boca...................................................................................................... 27 2.3 Estabilidade Muscular Crnio - Cervical ..................................................................... 27 2.4 Hbitos Parafusionais .................................................................................................... 31 CAPTULO III FISIOLOGIA DA DOR ........................................................................ 32 3 Diagnstico das Condies Clnicas................................................................................. 35 CAPTULO IV TRATAMENTO FISIOTERPICO ................................................... 36 4.1 Relaxamento .................................................................................................................. 37 4.2 Ultra-Son ....................................................................................................................... 37 4.3 Termoterapia.................................................................................................................. 37 4.4 Laser de Baixa Potncia ................................................................................................ 38 4.5 Estimulao Eltrica Nervosa Transcultnea (TENS)................................................... 39 4.6 Massoterapia.................................................................................................................. 39 4.7 Cinesioterapia ................................................................................................................ 41 4.7.1 Exerccios de Contrao Isomtrica ........................................................................... 43 4.7.2 Exerccio de Contrao Isotnica ............................................................................... 43
4.8 Mecanoterapia ............................................................................................................... 44 4.9 Acupuntura .................................................................................................................... 44
CONCLUSO.................................................................................................................... 45 REFERNCIAS ................................................................................................................ 46
12
INTRODUO
Entre muitas outras denominaes encontradas na literatura para um mesmo conjunto de manifestaes clnicas, compreendem um grupo de entidades de difcil definio terica. Descreveram as Disfunes Temporo Mandibular (DTM) como um termo coletivo, agrupando um nmero de problemas clnicos distintos que podem incluir mialgia, dessaranjos internos, problemas artrticos, distrbios, amplitude de movimentos anormais e desordens de crescimento e desenvolvimento. Acrescentam que so mltiplas as etiologias para dor e disfuno craniofacial e que aquelas doenas orgnicas e desordens de estruturas extra ou intracraniana que no sejam diretamente associadas ao sistema estomatogntico no so classificadas especificamente como DTM. Siqueira e Teixeira (1998) definem DTM como um grupo de condies dolorosas que se caracterizam por no apresentar obrigatoriamente patologias sintomticas, mas sim alteraes funcionais do sistema mastigatrio. Acrescentam ainda uma dupla classificao bsica das mesmas, em musculares e articulares. Por sua vez, MOLINA e BIELENCKI (p. 61-79, 1998), em uma definio genrica, afirmam que DTM uma denominao geral para um grande nmero de distrbios funcionais que acomete as estruturas mastigatrias e a regio da cabea e pescoo. A definio terica de DTM, ento, varia de autor para autor, segundo a amplitude na qual este se apia para avali-la, estabelecer a etiologia, a abrangncia de manifestaes clnicas e sua teraputica. O papel exato de tais agentes etiolgicos na fisiopatologia das DTM varia muito para cada indivduo e, por isso, freqentemente se torna difcil sua comprovao cientfica por amostragem, pois h uma grande porcentagem de indivduos assintomticos que se apresentam clinicamente com um ou mais fatores aceitos como potencialmente desencadeantes ou perpetuantes (TAKENOSHITA ET AL., 1991; PULLINGER ET AL., 1993; REHER E HARRIS, 1998). Tais aspectos vm dar margem a constantes conjecturas as quais, no geral, levam persistncia do desconhecimento do real peso de cada fator no surgimento e posterior decurso da doena. No entanto, aparentemente as DTM nada mais representariam que sinais e sintomas especficos (apesar de apresentarem grande variao de manifestaes clnicas entre pessoas), gerados a partir de uma infinidade de possveis fatores etiolgicos.
13
Assim, para cada indivduo, um tipo de agente etiolgico possivelmente seria preponderante sobre outros, podendo, contudo gerar uma sintomatologia muito semelhante. Portanto, em se tratando de amostragem para efeito de pesquisa cientfica, a anlise de um nico fator etiolgico hipottico, muito embora importante para identificao de padres clnicos, sempre mostrar dados parciais. Os msculos se organizam em cadeias musculares e, aps avaliao correta e completa, possvel tratar as causas e conseqncias. O movimento de um determinado segmento corporal pode interferir diretamente no posicionamento de outro segmento. Quando essa relao de cabea e pescoo constante, a linha de viso assume uma direo para baixo, a coluna cervical e a ATM ficam comprometidas, uma vez que o paciente, ao tentar fazer ajustes visuais, hiper estende a cabea. Esta hiper-extenso de cabea leva a uma compresso da regio suboccipital, gerando fadiga, dor na musculatura regional. Os msculos infra-hiideos, supra-hiideos e suboccipitais so tambm afetados, aumentando os sintomas de dor e disfuno na regio do pescoo. Esses achados levaram alguns clnicos a sugerir a correo da protuso de cabea, a fim de melhorar a sintomatologia das DTM. Apesar de exaustivas explicaes fisiopatolgicas tericas existem poucos trabalhos clnicos que conseguiram relacionar cientificamente postura anterior da cabea ou desvios de postura corporal a sintomatologia das DTM.
14
OBJETIVOS
Geral: Relacionar os fatores que contribuem para a complexidade das doenas temporomandibulares onde suas relaes com a dentio e a mastigao e os efeitos sintomticos em outras reas que do conta da dor referida na articulao e as dificuldades de se usar os procedimentos diagnsticos tradicionais para a patologia temporomandibular. Especficos:
Analisar os diversos sinais e sintomas e sua etiologia so to variados quanto sua sintomatologia; Verificar os sintomas que mais causam desconfortos aos pacientes a dor; Identificar as doenas comuns e anormalidades do desenvolvimento, cervicalgia; Proporcionar ao paciente os tipos de tratamento adequados a cada necessidade desta articulao.
15
JUSTIFICATIVA
Trabalho realizado com o intuito de divulgar a importncia do tratamento fisioteraputico como uma terapia de suporte para melhora da qualidade de vida do paciente. Apresenta-se uma breve reviso bibliogrfica com as possveis tcnicas que podem ser utilizadas como forma de tratamento. considerado como conseqncia de uma incoordenao neuromotora dos msculos da mastigao e pode se manifestar atravs de alguns hbitos ou movimentos viciosos, como repetidas ocluses em forma de tique nervoso, atravs da abertura da boca, mastigao ou fala, ou ainda, o hbito de estalar a articulao temporomandibular. uma patologia que est cada vez mais presente no dia-a-dia, atingindo adultos, adolescentes e crianas; com prevalncia em ambos os sexos. Devido as vrias controvrsias em relao articulao temporomandibular, muitos profissionais ficam sem saber como diagnosticar e tratar, acarretando insegurana na escolha do melhor tratamento. Por isso o seu tratamento envolve profissionais da rea odontolgica, fisioteraputica, fonoaudiolgica e psicolgica. A fisioterapia desenvolve um papel de grande importncia na interveno de algumas causas e no alvio dos sintomas da Coluna Cervical, atravs de uma avaliao meticulosa do paciente, englobando todos os elementos da histria clnica, exames fsicos e complementares. Os mtodos de tratamento visam restabelecer a funo normal do aparelho mastigatrio e do comportamento postural do paciente.
16
CAPITULO I
ANATOMIA DA ARTICULAO TEMPOROMANDIBULAR
A Articulao Temporomandibular (daqui por diante ser referida pela sigla ATM) considerada uma das mais complexas do corpo humano e constitui a ligao mvel entre a mandbula e o osso temporal (MACIEL, 1998; OKESON, 2000; STEENKS e WIJER, 1996). Em conjunto com o sistema esqueltico, muscular, vascular, nervoso e dentrio, compe o complexo morfofuncional denominado aparelho mastigador ou estamatogntico (BARROS e RODE, 1995; STEENKS e WIJER, 1996). Estruturalmente a ATM classificada como uma diartrose biaxial, condicionada a uma interdependncia devido ao funcionamento simultneo dos dois cndilos mandibulares. Podem ser classificados como uma nica articulao (PAIVA, 2002; MOLINA, 1995; BARROS e RODE, 1995). Conseqentemente, qualquer alterao mecnica de um afeta o outro (MACIEL,1998). Tratando-se de uma articulao sinovial permite amplos movimentos da mandbula em torno do osso temporal (MADEIRA, 1998).
1.1 Estrutura ssea
As ATMs so formadas pelos cndilos convexos da mandbula, a fossa glenide cncava (fossa mandibular) e a eminncia articular convexa do osso temporal. No adulto, os cndilos mandibulares so cerca de duas vezes mais largos no plano frontal, que no plano sagital, proporcionando uma grande rea articular, constitudas de osso esponjoso recoberto por osso compacto. As superfcies sseas da articulao so cobertas por cartilagem fibrosa separadas por um disco articular fibrocatilaginoso interposto entre os dois componentes sseos, que forma um espao articular superior e um inferior. (MONGINI, 1998; OKESON, 2000; MOLINA, 1995). Posteriormente, o disco est fixado a tecido conjuntivo espesso chamado zonas bilaminares, as quais so separadas por um tecido esponjoso com um extenso suprimento neural e vascular que normalmente no sujeito a grandes foras articulares. O disco articular fixado medial e lateralmente nos lados dos cndilos e anteriormente na cpsula articular e em algumas fibras do msculo pterigideo lateral. Estas fixaes fazem o disco mover-se para frente com o cndilo, quando a boca aberta (MOLINA, 1995).
17
A articulao rodeada por uma cpsula que reforada lateralmente pelo ligamento temporomandibular localizado desde a eminncia articular at o arco zigomtico e, posteriormente, at o colo da mandbula. A cpsula e seus ligamentos limitam os movimentos da mandbula, particularmente depresso e retruso. A protuso da mandbula limitada pelo ligamento estilomandibular (SMITH, 1996). A morfologia das superfcies articulares varia consideravelmente medida que se inicia a funo mastigatria na criana e sofre influncia das arcadas dentrias, adquirindo seu estado definitivo na idade de 5 a 8 anos (STEENKS E WIJER, 1996).
Estrutura ssea da face (Fonte: GRAAFF, 1982)
1.1.1 Mandbula
A mandbula o maior e mais forte osso da face, sendo um corpo em forma de ferradura com as duas projees principais contnuas em cada um dos lados com o ramo mandibular. Esse grosso corpo possui margem inferior arredondada e um processo alveolar na margem superior. O ramo uma fina lmina quadriltera estendendo-se, posteriormente, do sulco para a artria facial (sulco antegonial) ao ngulo mandibular. Os dois processos ascendentes so o processo coronide anterior (para as inseres musculares) e o processo condilar posterior que se articula com a fossa glenide do crnio. A mandbula sustenta os
18
dentes inferiores e forma a parte inferior do esqueleto facial. No tem nenhuma insero ssea com o crnio.
1.1.2 Cndilo Mandibular
Cndilo a poro da mandbula que se articula com o crnio, em torno da qual ocorrem os movimentos. A vista anterior do cndilo tem uma projeo mdio lateral, chamada plo. O plo medial geralmente mais saliente do que o lateral.Visto de cima, uma linha traada atravs do centro dos plos do cndilo ir se estender medialmente e posteriormente em direo borda anterior do forame magno. A extenso ltero-mediana total do cndilo de 15 a 20 mm e a dimenso ntero-posterior fica entre 8 a 10 mm. A superfcie articular do cndilo se estende anterior e posteriormente ao aspecto superior do cndilo. A superfcie articular posterior maior que a superfcie anterior (OKESON, 2000). Molina (1995) tambm afirma que a superfcie do cndilo recoberta superior e anteriormente por tecido cartilaginoso, cuja espessura depende da idade, da funo, da regio da ATM examinada e da ausncia ou presena de alteraes funcionais.
1.1.3 Borda Maxilar
A borda da maxila se estende superiormente para formar o assoalho da A borda da maxila se estende superiormente para formar o assoalho da cavidade nasal e o assoalho de cada rbita. Inferiormente, os ossos maxilares formam o palato e os rebordos alveolares, que suportam os dentes (OKESON, 2000). A poro superior da ATM est fixada pelo tubrculo articular, anteriormente, formado pela face inferior da parte escamosa do osso temporal e pela poro no articular formada pelo elemento timpnico. Esta superfcie contnua consiste em trs elementos: a eminncia articular, anterior fossa glenide ou mandibular, a fossa mandibular propriamente dita com a fissura timpnica separando a fossa do osso timpnico, e o tubrculo ps-glenide, que separa a poro lateral da superfcie articular da margem anterior do osso timpnica (GRIEVE, 1994).
19
1.1.4 Fossa Glenide
A fossa articular, ou cavidade glenide, situa-se abaixo e anterior ao meato acstico externo, sendo limitada pela fissura escamotimpnica e posteriormente, pelo tubrculo psglenide. Molina (1995) descreve que durante a poca do nascimento e toda a dentio decdua (1 dentio), esta cavidade rasa. A formao da cavidade ocorre devido atividade dos osteoclastos, que so especializados na reabsoro ssea e dando uma forma oval e cncava nos trs planos do espao a esta superfcie articular. A fossa glenide mais pronunciada no plano sagital que no frontal, sendo convexa na direo transversal. A convexidade varia de 5 a 15 mm no seu raio e formada de maneira a acomodar a cabea condilar em todas as direes. O declive anterior da fossa, formado pela eminncia articular, mais gradual que a margem posterior, formada pelo processo psglenide. Medialmente, a fossa articular se estreita e liga-se a uma crista ssea que se junta contra a espinha angular do osso esfenide, a fossa ento-glenide, evitando assim o deslocamento medial do cndilo mandibular (GRIEVE, 1994). O teto da cavidade glenide, parte da poro escamosa do osso temporal, muito fina e possui inmeros forames, destina-se para a passagem dos vasos e nervos da microcirculao. A regio posterior, mais espessa, protegida de traumas mecnicos pelos reflexos proprioceptivos e mecanismo de ao dos ligamentos e cpsula articular. A zona anterior est bem protegida por trs camadas de cartilagem com propriedades diferentes. A regio central, mais baixa, no um componente funcional importante, apenas serve de guia quando a mandbula est na posio retrada e abriga a poro central convexa mais fina do disco (MOLINA, 1995).
1.2 Estrutura Articular
1.2.1 Cpsula Articular
A cpsula constituda por um tecido conjuntivo que envolve a articulao temporomandibular e tem constituio firme, para proteger e limitar os movimentos do cndilo, mas ao mesmo tempo deve ser malevel o suficiente para permiti-los (BARROS e RODE,1995). Para OKESON (2000) a cpsula articular tem papel importante durante os movimentos da ATM, resistindo a qualquer fora medial, lateral ou inferior, que tende a separar ou deslocar as superfcies articulares.
20
Superiormente a cpsula envolve a fossa mandibular. Inferiormente, ela se insere no colo condilar, abaixo da insero do disco. Posteriormente a cpsula se funde com a insero posterior do disco. Anteriormente, o disco e a cpsula so fundidos, permitindo a insero de algumas fibras do pterigideo lateral diretamente no disco. Assim, a cpsula est inserida no disco, ao longo de toda circunferncia. A superfcie da cpsula reforada pelo ligamento temporomandibular. STEENKS E WIJER (1996) relatam que a cpsula articular vascularizada por ramos de vasos que se dirigem para os msculos pterigideo lateral e ramos da artria temporal superficial. O nervo masseterino e o auriculotemporal provem cpsula terminaes nervosas livres e elementos sensitivos que informam sobre as mudanas de posio.
1.2.2 Disco Articular
O disco geralmente bicncavo e localiza-se entre as superfcies articulares do cndilo da mandbula e eminncia articular do osso temporal. Tem como funo proteger e possibilitar o contato de duas superfcies sseas convexas, durante os movimento mandibulares, amortecer os choques, regular os movimentos, estabilizas o cndilo na cavidade e auxiliar na lubrificao, pela formao de lquido sinovial nas suas pores anterior e posterior prximo ao colo do cndilo (membrana sinovial) (BARROS e RODE, 1995). uma estrutura fibrocartilaginosa complexa, com pequena quantidade de fibras elsticas intercaladas. O disco uma fibrocartilagem constituda principalmente de tecido conjuntivo denso avascular e sem a presena de nervos na sua poro funcional articular, apresenta fibras colgenas em vrias direes com alguns condrcitos no seu interior. O disco na sua poro articular (funcional) tem fibras colgenas dispostas ntero-posteriormente em grandes feixes paralelos, essa regio mais delgada em relao no funcional. Na poro no funcional as fibras colgenas encontram-se dispostas de forma dispersa. O disco apresenta alto grau de mobilidade e plasticidade durante a funo (BARROS e RODE, 1995). Poro central espessura de 1 a 2mm, porm as regies anterior e posterior so mais espessas. Molina (1995) relata que, por ser um local de presso e funo constante, o centro do disco no inervado nem vascularizado, ao passo que a sua periferia bastante inervada e vascularizada, sendo formada por tecido conjuntivo mais frouxo.O disco possui pontos de forte ligao com a cabea da mandbula nos plos medial e lateral. Essas inseres permitem que o disco no se mova enquanto o cndilo gira, mas obrigam-no a deslocar-se com a mandbula nos
21
movimentos de translao. Durante o movimento o disco pode se adaptar as demandas funcionais da superfcie articular. Porm esta flexibilidade no ser sempre reversvel devido a foras destrutivas ou mudanas articulares (OKESON, 2000). Um descompasso entre o disco e a mandbula nesses movimentos podem provocar rudos articulares (MADEIRA, 1998). Posteriormente, o disco une-se cpsula fibrosa que envolve a articulao e apresentase mais mole, mais espesso e se continua com um tecido conjuntivo altamente vascularizado e inervado. Esta poro posterior da ATM, por possuir muitos proprioceptores articulares, responsvel pela coordenao e funo da articulao, junto com a cpsula, ligamentos e regio anterior do disco (MOLINA, 1995).
1.3 Ligamentos Articulares
Os ligamentos da articulao so feitos de tecido conjuntivo que no se estiram. Eles no atuam ativamente na funo da articulao, mas sim agem passivamente como agentes limitadores ou de restrio de movimentos (OKESON, 2000).
1.3.1 Ligamentos Colaterais (discais)
So responsveis em dividir a articulao mdia lateralmente em duas cavidades articulares: superior e inferior atuam para restringir o movimento do disco fora do cndilo e so responsveis pelos movimentos de abertura da ATM, a qual ocorre entre o cndilo e o disco articular (OKESON, 2000).
1.3.2 Ligamento Capsular
O ligamento capsular age para restringir a qualquer fora medial, lateral ou inferior que tendo separar ou deslocar as superfcies articulares. Uma funo importante que o ligamento retm o fluido sinovial da articulao. um ligamento bem inervado e proporciona estmulo proprioceptivo sobre a posio e o movimento da articulao (STEENKS e WIJER, 1996).
22
1.3.3 Ligamento Temporomandibular
Este ligamento composto por duas partes: a poro externa e oblqua origina-se na superfcie externa do tubrculo articular e processo zigomtico pstero-inferiormente e inserese na superfcie externa do pescoo do cndilo; sua poro horizontal interna estende-se da superfcie externa do tubrculo articular e do processo zigomtico posteriormente e segue horizontalmente ao plo lateral do cndilo e parte posterior do disco articular (OKESON, 2000). Considerado por alguns autores como o nico verdadeiro ligamento da ATM, o ligamento temporomandibular formado por fibras fortes e densas que reforam a cpsula articular lateralmente (OKESON, 2000; MADEIRA, 1998, GOULD, 1993). A poro oblqua do ligamento temporomandibular limita a extenso da abertura bucal, impedindo a queda excessiva do cndilo, e tambm atua de forma importante na abertura bucal normal. No incio desse movimento, permite que o cndilo rotacione em torno de um ponto fixo at que o ligamento temporomandibular se estenda completamente, tornando-se rgido; ento, o cndilo no pode mais rotacionar, e dever mover-se para baixo e para frente atravs da eminncia articular para abrir mais a boca (OKESON, 2000). Segundo OKESON (2000) e MADEIRA (1998), a poro interna do ligamento temporomandibular limita a retruso da mandbula, evitando a compresso das estruturas situadas atrs da cabea da mandbula e protegendo o msculo pterigideo lateral de estiramento ou sobrextenso.
1.3.4 Ligamento Esfenomandibular O ligamento esfenomandibular origina-se na espinha do osso esfenide e segue posteriormente em forma de leque at a regio da lngula da mandbula (STEENKS e WIJER, 1996). Conforme OKESON (2000) e PAIVA (2002) um dos dois ligamentos acessrios da ATM, e atua evitando movimentos excessivos da ATM.
23
1.3.5 Ligamento Estilomandibular O segundo ligamento acessrio da ATM o ligamento estilomandibular, que emerge do processo estilide do osso temporal e vai at a face interna do ngulo da mandbula (STEENKS e WIJER, 1996), citam que esse ligamento verdadeiramente um espessamento da cpsula fibrosa da glndula partida, e no contribui de modo significativo para reforar a articulao. Sua funo, descrita por OKESON (2000), limitar a protuso excessiva da mandbula.
1.4 Estrutura Muscular
Os msculos da mastigao so os principais responsveis pelos movimentos da ATM. Eles se originam no crnio e se inserem na mandbula (GOULD, 1993).
1.4.1 Msculo pterigideo lateral (externo)
O Msculo pterigideo lateral (externo) consiste numa cabea grande inferiormente e pequenas superiormente, ambas agem separadamente. A cabea inferior origina da superfcie lateral da placa pterigidea lateral e se estende at a superfcie anterior do colo condilar. A cabea superior origina da superfcie infratemporal da grande asa do osso esfenide e se estende at o disco articular (GRIEVE, 1994). GOULD (1993) afirma que h comportamentos distintos nos feixes deste msculo: a cabea superior age mantendo a relao correta do disco durante o fechamento da boca, enquanto a inferior est ativa durante a translao mandibular, ainda completa que quando a cabea inferior do msculo pterigideo lateral se contrai em apenas um lado, a mandbula levada para o lado contralateral, e o lado da contrao torna-se o lado do balanceio; considera-o um sinergista da elevao mandibular.
1.4.2 Msculo Pterigideo Medial (interno)
O Msculo Pterigideo Medial (interno) quase perpendicular ao msculo pterigideo lateral, originando-se sobre a superfcie medial da placa pterigidea lateral. E ele se insere na superfcie mandibular mais interna, formando a poro mais interna do apoio mandibular. Sua forma e direo ntero-posterior so similares s do msculo masster e foi classificado por
24
GRIEVE (1994) como um sinergista do masseter um msculo espesso formado por uma camada profunda e outra superficial. Auxilia fortemente na elevao da mandbula estabilizando a articulao firmemente para a mastigao
1.4.3 Msculo Masseter
O Msculo Masster o mais superficial e o mais forte dos msculos da mastigao. Origina-se no arco zigomtico e passa inferior e posteriormente, para se inserir na superfcie externa do ramo mandibular, sua extenso inferior est bem prxima ao ngulo da mandbula. Este msculo dividido em uma poro superficial e outra profunda; as fibras profundas apresentam uma direo vertical (GOULD, 1993). A contrao de suas trs camadas, conforme escrevem GRIEVE (1994) e eleva fortemente (fecha) a mandbula e exerce presso nos lti mos molares, fazendo com que o cndilo assuma uma posio de mxima capacidade de absoro de foras em relao fossa mandibular e ao disco articular. Alm disso, a contrao isolada da camada superficial contribui para a protuso, e a da mais profunda causa uma combinao de elevao e retrao.
1.4.4 Msculo Temporal
Msculo Temporal um msculo em forma de leque origina-se da fossa temporal e se insere por intermdio de um forte tendo no processo coronide da mandbula. Em funo de sua origem e estreita insero, esse msculo bem adaptado para delicadas alteraes das alteraes posicionais da mandbula (GOULD, 1993). Conforme OLIVEIRA (2002), este um msculo delgado subdividido em trs feixes: anterior, mdio e posterior. Segundo GRIEVE (1994), ele tambm auxilia o masster e o pterigideo medial na elevao da mandbula quando suas fibras anteriores, mdias e posteriores agem juntas.
25
1.4.5 Msculos Acessrios da Mastigao
Os quatro msculos supra-hiideos: digstrico, milohiideo, genohiideo e estilhiideo so considerados msculos acessrios da mastigao. Eles auxiliam na depresso mandibular quando o osso hiide est fixo pela contrao dos msculos infra-hiideos: tirohiideo, esternotirohiideo, esternohiideo e omohiideo. Os msculos digstricos so os mais importantes msculos supra-hiideos na funo mandibular, embora geralmente no seja considerada uma mastigao. Eles so responsveis pela abertura completa da mandbula e tambm auxiliam na retrao da mandbula (GOULD, 1993; OKESON,2000). Outros msculos, como o esternocleidomastideo e os msculos cervicais posteriores, desempenham um papel importante na estabilizao do crnio e permitem os movimentos controlados da mandbula. Um refinado balano dinmico existe entre todos os msculos da cabea e pescoo, e isso deve ser observado para o entendimento da fisiologia do movimento mandibular. Quando uma pessoa boceja, a cabea trazida para trs pela contrao dos msculos cervicais posteriores, os quais elevam os dentes maxilares. Este simples exemplo demonstra que o funcionamento normal do sistema mastigatrio usa muito mais msculos do que apenas aqueles da mastigao. Pode se vir que qualquer efeito na funo dos msculos da mastigao tem tambm um efeito nos outros msculos da cabea e pescoo.
26
Captulo II
BIOMECNICA DA ATM E COLUNA CERVICAL
ATM um sistema articular extremamente complexo. O fato de que duas ATMs sejam conectadas pelo mesmo osso (mandbula) complica bastante a funo de todo o sistema mastigatrio. Cada uma das articulaes pode ao mesmo tempo agir de forma diferente e separadamente, mas no completamente sem alguma influncia uma da outra (OLIVEIRA, 2002). Como em qualquer articulao mvel sua integridade e suas limitaes so garantidas por ligamentos. Se a articulao for continuamente forada, isto , solicitada alm de seus limites normais, poder sofrer alteraes (BARROS e RODE, 1995). A estrutura e funo da ATM podem ser divididas em dois sistemas distintos: a) um sistema articular so os tecidos em torno da cavidade sinovial inferior (ou seja, o cndilo e o disco). Uma vez que o disco firmemente inserido no cndilo pelos ligamentos discais laterais e mediais. O nico movimento fisiolgico que pode ocorrer entre estas superfcies a rotao do disco na superfcie articular do cndilo. b) o complexo cndilo-disco funcionando contra a superfcie da fossa mandibular. Como o disco no firmemente inserido na fossa mandibular, movimentos livres de deslizamento so possveis entre essas superfcies e a cavidade superior. Esses movimentos ocorrem quando a mandbula se move para frente, o que se chama translao (OLIVEIRA, 2002).
Os movimentos da ATM se resumem em trs grupos: abertura e fechamento da boca, deslizamento para adiante e para trs e movimentos mastigatrios: a) o movimento de abertura, quando no h nenhum obstculo, processa to somente pelo relaxamento da musculatura mastigatria; b) o movimento de fechamento, pela ao de msculos levantadores da mandbula, funo principal dos msculos masster, temporal e pterigideo medial; c) o movimento de deslizamento para diante (protruso) realizado principalmente pela ao do msculo pterigideo lateral; d) o movimento de deslizamento para trs proporcionado pelo relaxamento do msculo pterigideo lateral, e se for necessrio poder haver contrao das fibras posteriores do msculo temporal; e) os movimentos mastigadores seriam os somatrios de todos os movimentos descritos (BARROS e RODE, 1995).
27
2.1 Abertura da boca
No primeiro passo da abertura da boca (at cerca de 20 mm) ocorre a rotao da cabea condiliana no interior do compartimento inferior, que se d pela contrao do msculo pterigideo lateral. Se a movimentao prossegue o deslocamento simultneo de ambos o compartimento acontece. Em um terceiro momento, o cndilo se move obliquamente de trs para frente e de cima para baixo no compartimento superior, abaixo do disco, em torno de um eixo de rotao no centro do cndilo e colo, at que atinja a eminncia articular, caracterizando a translao (BARROS e RODE, 1997). BARROS (1995) ressaltam que o disco articular deve revestir, como um capuz, a cabea da mandbula e acompanh-la durante toda a movimentao. O disco retorna sua posio na fossa mandibular graas ao ligamento discal posterior e elasticidade das fibras do extrato superior da zona bilaminar.
2.2 Fechamento da Boca
Quando a boca fechada, a ATM direcionada para uma ocluso cntrica, com intercuspidao precisa de todos os elementos dentais. As informaes quelevam ao equilbrio deste movimento so transmitidas por fibras sensitivas, ao ncleo sensitivo do nervo trigmio. A resposta volta pelo nervo mandibular, mais precisamente pela sua parte motora e por nervos que vo agir na musculatura supra e infra-hiidea. Qualquer movimento anormal da ATM captado por um elemento sensitivo, e este provoca a formao de um arco reflexo (BARROS e RODE, 1995).
2.3 Estabilidade Muscular Crnio Cervical
O crnio esta conectado coluna cervical atravs da articulao atlantooccipital. Sua posio assegurada por vrios msculos localizados frente e atrs da coluna cervical. Alguns msculos anteriores do pescoo fornecem conexo indireta para a mandbula com o esterno atravs do osso hiide: so eles os supra e os infra-hiodeos (MONGINI 1998). Uma situao anterior do centro de gravidade da cabea explica a potncia relativa dos msculos do pescoo. Os extensores lutam contra a gravidade, ao passo que a reforam os flexores. Isso explica tambm que existe um tnus permanente dos msculos da nuca que no permitem a queda da cabea para frente (KAPANDJI, 2000).
28
Movimento de Flexo da Cabea. (Fonte: KAPANDJI, 2001).
O msculo esternocleidomastiddeo tem uma posio antero-lateral com relao coluna cervical. Ele tem origem no processo mastideo para baixo e a frente, e est inserido na clavcula (MONGINI, 1998). Segundo Kapandji, 2000. A contrao unilateral do ECOM (esternocleidomastiddeo) determina um movimento dirigi o olhar para cima e para o lado oposto da contrao do msculo. O msculo longo do pescoo o mais profundo dos msculos pr-vertebrais, portanto ele recobre, em ambos os lados da linha mdia, toda a face anterior da coluna cervical. A sua contrao bilateral e simetria retifica a lordose cervical e provoca uma flexo do pescoo e sua contrao (FRICTION, 2003). Os escalemos so trs msculos e estendem-se sobre a face ntero-lateral da coluna cervical, sendo eles escalenos anterior, mdio e posterior. A Contrao simultnea dos escalenos determina flexo da coluna cervical sobre a coluna torcica e hiperlordose, com condio de que a coluna cervical no esteja rgida pela contrao do msculo longo do pescoo. Sua contrao unilateral determina inclinao e a rotao da coluna para o lado da contrao (SALOMO, 2001).
29
Movimento de Inclinao Lateral da Cabea. (Fonte: KAPANDJI, 2001).
O msculo trapzio o msculo mais importante em relao ao posionamento da coluna cervical, na contrao bilateral simtrica determina uma extenso da coluna e da cabea com acentuao da lordose cervical e na contrao unilateral ou assimetria do trapzio determina uma extenso da cabea e da coluna cervical com hiperlordose, uma inclinao para o lado e uma rotao da cabea para o lado oposto. O Trapzio sinergista do ECOM do mesmo lado (KAPANDJI, 2000).
Movimento de Rotao da Cabea. (Fonte: KAPANDJI, 2001).
30
A contrao simultnea de todos estes grupos musculares determina uma retificao da coluna cervical na sua posio mdia. Deste modo, estes msculos se comportam como se fossem cabos de suporte situados no plano sagital e nos planos oblquos; eles desempenham um papel primordial no equilbrio da cabea e no transporte de cargas sobre ela (FRICTION, 2003). Como visto anteriormente os esternocleiodomastideos quando se contraem de maneira isolada no agem eficazmente para manter o equilbrio da cabea e a esttica da coluna cervical. Para isto, a ajuda dos msculos flexores da cabea e os msculos supra e infra-hideos, que estes ltimos agem a distncia sobre um grande brao de alavanca situado pela frente da coluna cervical com a condio do maxilar superior (KAPANDJI, 2000). O equilibrio das conexes musculares entre o crnio, a mandbula, o osso hiode inferior e o esterno seu efeito resultante sobre a postura da cabea atravs dos msculos do pescoo por sobre o fulcro das vrtebras cervicais encontra-se esquematizado. Um desequilbrio entre e/ou estruturas pode causar uma acomodao muscular do grupo antagosnista ou dando a estrutural dentio, ATM ou a ambos (SALOMO, 2001).
Relao entre a movimentao da coluna cervical superior e inferior e da cabea. (Fonte: KAPANDJI, 2001).
O equilbrio esttico da coluna cervical sobre o plano sagital depende de um equilbrio dinmico permanente entre a ao extensora dos msculos da nuca (esplnio, transverso do pescoo, sacrolombar, torcico longo e trapzio) e dos msculos anteriores e antero-externos (longo do pescoo e pelos msculos cervical, quando sua ao no estiver compensada pelo longo do pescoo e pelos msculos supra e infra-hiides. Todos eles fornecem tenses parcias ou totais na concavidade da lordose cervical Em resumo, todos os msculos da nuca so extensores da coluna cervical a cabea e aumentam sua lordose; a contrao unilateral determina, alm disso, a inclinao e a rotao para o lado de sua contrao (KAPANDJI, 2000).
31
Interveno do tnus muscular no equilbrio craniano (Fonte: GRIEVE, 1994)
2.4 Hbitos Parafuncionais
Atividades parafuncionais so situaes em que o sistema estomatogntico ativado sem propsito funcional. So exemplos: bruxismo, apertamento, morder lbios ou objetos, chupar dedo, roer unhas, mascar objetos, haste de culos, cachimbo, postura anormal craniocervical, entre outras (MACIEL, 1998).
32
CAPITULO III
FISIOLOGIA DA DOR
Paiva, Vieira, Costa, Maia (1993) relatam que uma vez que os sintomas nem sempre so restritos articulao tmporomandibular, alguns autores acreditam que um termo mais coletivo deveria ser usado, passando ento a existir a expresso Desordens
Craniomandibulares. De modo semelhante terminologia e etiologia, muito diversificada tambm tem sido a classificao das disfunes temporomandibulares.Com base na literatura, a classificao que parece estar sendo mais aceita aquela proposta por Bell (1990), que divide as desordens temporomandibulares em: desordens musculares agudas (espasmo muscular, miosite); desordens do complexo cndilo-disco; desordens inflamatrias da ATM; alteraes da mobilidade mandibular; alteraes de crescimento -desenvolvimento.
Disfuno da articulao temporomandibular ou Desordens Tmporomandibulares, dependendo de quem est discutindo esta doena. De fato, a confuso que gira em torno destes nomes, simplesmente, reflete a dificuldade de tratamento nestas articulaes o que um fator que contribui para a necessidade de padronizar o atendimento, (ROCABADO, 1979). O desequilbrio em um ou mais componentes do sistema estomatogntico pode provocar sintomas dolorosos e ou inflamatrios que geram modificaes funcionais refletindo nas atividades dirias do paciente. Essas desordens provocam rudos articulares, dor na regio da articulao temporomandibular, desvios, dificuldade no abrir a boca, alteraes posturais e de esquema corporal, (OKESON, 1998; MINORU, 1995; MOLINA, 1995). A diferena entre homens e mulheres encontradas em estudos epidemiolgicos no pode explicar tabulaes clnicas que apresentam propores de mulheres-homem de 3:1 a 9:1 em indivduos que procuram o tratamento para Disfuno Temporomandibular, as mulheres por terem maior conscincia em relao sade procuram o tratamento geralmente na fase inicial quando os sintomas aparecem, (OKESON, 1998; STEENKS & WIJER, 1996).
33
Segundo NICOLAS (2001), tenta-se explicar esta alta incidncia, devido ao fato da mulher estar exposta ao estresse emocional, s mudanas hormonais durante o ciclo menstrual, a gravidez e s alteraes anatmicas que produziriam uma m relao do cndilo com o disco articular. Em relao idade, pode ocorrer em qualquer faixa etria, mas mais comum dos 30 aos 40 anos. Isso alerta para que no haja meros tratadores de sintomas, pois muitos so os autores que relatam que pacientes portadores de desordens tmporomandibulares queixam-se de cervicalgia com maior freqncia que indivduos sem tais disfunes. Da a grande importncia de saber a verdadeira fonte da origem dos sintomas, para que haja uma correta abordagem teraputica sobre o paciente, levando a uma reduo ou ausncia de sintomas com maior rapidez e conseqentemente uma diminuio do tempo de restrio deste frente a sua patologia, (MINORU, 1995; STEENKS & WIJER, 1996). Takahashi & Arajo (1995) verificaram que os principais sinais e/ou sintomas da DTM so: dores nos msculos da mastigao ou nas articulaes tmporomandibulares ou em reas vizinhas. As dores so espontneas ou mastigao. Apresentam tambm rudos articulares, limitao de abertura, incoordenao de movimentos mandibulares, abrases dentrias acentuadas ou fraturas freqentes de dentes e/ou de restauraes. Rhoden, Nicolini, Sordi, Rambo (1992) referem que os principais sinais e sintomas so: na regio auricular, podendo irradiar-se para o ngulo mandibular; sensibilidade muscular em nvel do temporal, pterigideo e masseter; clic e estalido na articulao tmporomandibular; limitao do movimento da mandbula; sensibilidade em toda musculatura do sistema estomatogntico e cervical.
Sovieiro, Abreu, Castro, Bastos, Souza (1997) relatam que o sintoma inicial mais comum a dor localizada nos msculos mastigatrios ou na regio da ATM, geralmente agravada durante a mastigao ou durante movimentos mandibulares. Outros sintomas incluem dores de ouvido, cefalia e dores na face. Rudos na articulao e limitaes durante os movimentos mandibulares representam os sinais clnicos mais frequentemente observados. Outros sinais incluem a tenso dos msculos mastigatrios e travamento ou luxao mandibular. Aguiar (1988) enfatiza que os principais sinais e sintomas so: dor de cabea, dificuldade para deglutir, desvios da mandbula durante abertura, modificao no encaixe dos dentes, pequenos estalos ao abrir e fechar a boca, sensao de travamento da mandbula, dores
34
na articulao, face, ombros e pescoo, assimetria da mandbula, assimetria da face, macrognatismo (mandbula grande) e micrognatismo (mandbula pequena). O mesmo autor afirma que, muitas vezes, as disfunes na ATM no causam dores no local lesionado, mas sim em outras reas da cabea. Isto acontece porque o crebro no consegue interpretar qual a origem do problema e provoca reaes nas musculaturas mais comprometidas. Considera ainda que dores nas tmporas e atrs da cabea podem ser provocadas pela musculatura fatigada do msculo do pescoo usado em excesso devido s DTMs. Dores atrs dos olhos e no topo da cabea podem ser provocadas pela musculatura fatigada da parte posterior da cabea. As dores de cabea na lateral do crnio, provocadas por contratura dos msculos da mastigao, tm uma ocorrncia em torno de 70 a 80 % na populao. Para Rhoden, Nicolini, Sordi, Rambo (1992), os sintomas cruciais so dor nos msculos mastigadores (mialgia) e disfuno mastigatria. A dor, geralmente unilateral, descrita pelo paciente como dor surda nas regies temporal, pr-auricular, gonaca e cervical. Pode ser relativamente constante, porm mais frequentemente o paciente relata que a dor pior pela manh, outros relatam que relativamente suave pela manh e aumenta gradativamente tarde, exacerbando-se na hora das refeies. Barros & Rode (1995) afirmam que a dor decorrente dos distrbios da ATM decorrem da inervao do nervo trigmio. O nervo trigmio tem componentes motores e sensoriais. Apresenta trs ramos com fibras aferentes para o gnglio trigeminal (Gasser): oftlmico, maxilar e mandibular. As fibras de dor e temperatura tm neurnios secundrios que procedem do gnglio para os ncleos sensrio e espinal. A aferncia central desses neurnios no crtex sensorial cerebral (giro ps-central e sistema reticular ativador ascendente). Essa associao enfatiza os inexplicveis componentes fsicos e emocional que caracterizam a dor. Segundo os mesmos autores, as outras estruturas so inervadas pelas segunda e terceira divises do trigmio: dura mater, rbita, seios paranasais, membrana timpnica, cavidade oral e dentio, o que explica a dor irradiada apresentada pelos pacientes. Czlusniak & Feres (1993) relatam que os sintomas otolgicos vistos em DTMs so provavelmente devido s relaes anatmicas, uma vez que o ouvido mdio e externo esto separados da ATM somente pela lmina timpnica. Muitas vezes o paciente confunde dor na ATM com otalgia, j que otalgia muito mais freqente e reconhecida. Garcia, Madeira, Oliveira (1995) demonstraram que os sinais e sintomas da ATM so variveis de acordo com o grupo de indivduos estudados, o que justifica a existncia de resultados diferentes, encontrados nos vrios estudos descritos na literatura.
35
3 DIAGNSTICO DAS CONDIES CLNICAS
Segundo Cabezas (1997), a seguir esto apresentados os principais diagnsticos de acordo com a American Academy of Oral Pain (1993). As DTMs compreendem dois grandes grupos de pacientes: os que apresentam patologias da ATM propriamente dita e os que apresentam distrbios relacionados aos msculos da mastigao. A ATM passvel s mesmas patologias que as outras articulaes do corpo: anormalidades congnitas e do desenvolvimento como deslocamentos, trauma, anquilose, artrites, tumores e alteraes do disco intraarticular.
36
CAPITULO IV
TRATAMENTO FISIOTERPICO
Barros & Rode (1995) O tratamento destas disfunes varia enormemente, tanto quantas so as especialidades envolvidas. Necessita-se de uma abordagem multidisciplinar por especialidades como Odontologia, Medicina, Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia, e dentro delas as suas subdivises. Os objetivos so diminuir a dor e a carga adversa, recuperar a funo e restaurar as atividades normais dirias. As disfunes dos msculos da mastigao, assim como outras disfunes musculoesquelticas, podem ser transitria ou episdica ou autolimitantes, e frequentemente a resoluo destas desordens tem efeitos a pequenos e instveis (GREENWOOD, 2000). A interveno fisioteraputica indicada quando existe dor e/ou restries dos movimentos mandibulares que afetem a qualidade de vida do indivduo ou interfiram em suas atividades da vida diria ou, ainda, quando houver uma instabilidade articular grave. O fisioterapeuta cuida tambm da instabilidade articular, em especial da hipermobilidade, para prevenir leses (CARNEIRO, 2003). Quanto necessidade de tratamento, Oliveira (2002) descreve trs nveis. Os pacientes com sinais e sintomas de DTM de moderados a graves possuem necessidade ativa de tratamento. Quando os sinais e sintomas so leves ou flutuantes, h necessidade passiva de tratamento, isto , a atuao do profissional da sade consiste em observar o paciente, atentando para um possvel diagnstico precoce no caso de evoluo para a disfuno. Por fim, h os pacientes que no tm necessidade de tratamento, por no apresentarem nenhum sinal ou sintoma. As mulheres apresentam uma necessidade ativa duas a trs vezes maiores que os homens. Destacam-se como mtodos teraputicos mais utilizados o calor mido, a estimulao eltrica transcutnea, a acupuntura, a reflexologia, as correntes galvnicas e o laser de baixa potncia, entre outros (LON, SOLANA e GARCA, 1998). Independente do meio teraputico escolhido para o tratamento, deve-se considerar que os pacientes portadores de DTM so pessoas normalmente carentes de ateno e de cuidados especiais (PAIVA e VIEIRA, 1997).
37
Tambm vale lembrar que o principal parmetro para saber se a terapia est dando resultado a resposta subjetiva do paciente. Se a dor diminui, o caminho est certo e se a dor aumenta, necessrio revisar a terapia ou os mtodos utilizados (CARREO, 1995).
4.1 Relaxamento
Pode-se atuar na hiperatividade muscular causada pelo estresse e pela tenso, que leva o indivduo a apertamento dental diurno ou noturno, lanando mo de manobras relaxantes que promovero grande melhora na sintomatologia, principalmente nas crises lgicas. O aprendizado do paciente de quando sua musculatura entra em estresse e o que ele deve fazer para melhorar essa condio pode ser alcanado atravs do condicionamento muscular e da conscientizao, pelo mecanismo proprioceptivo (LOPES e RODE, 1995).
4.2 Ultra-som
O ultra-som consiste de ondas sonoras de alta freqncia que, aplicadas aos tecidos, promovem efeitos trmicos e no-trmicos. O efeito trmico consiste no aquecimento profundo dos tecidos, e capaz de aumentar a atividade celular e o calibre dos vasos, levando ao acrscimo da irrigao sangnea e a melhora da eliminao de catablitos, reduzindo o processo inflamatrio e a dor. O incremento na capacidade de extenso do colgeno tambm ocorre. Seu efeito mecnico til para aumentar a permeabilidade das membranas, o que acelera as trocas de fludos e a absoro celular (LON, SOLANA e GARCA, 1998; LOPES e RODE, 1995). Os efeitos no-trmicos incluem a cavitao (formao de pequenas bolhas gasosas nos tecidos como resultado da vibrao do ultra-som), as correntes acsticas (fluxo circulatrio constante devido ao torque da radiao) e a micromassagem. Alm disso, a separao das fibras colgenas pode liberar as aderncias musculares (LOW e RED, 2001).
4.3 Termoterapia
A termoterapia consiste no emprego da temperatura como recurso teraputico. Quanto s formas de aplicao do calor, h uma gama de meios a serem empregados para obter seus benefcios. Os efeitos da elevao da temperatura nos tecidos, bastante conhecidos, incluem a
38
acelerao das trocas qumicas e do metabolismo, aumento da irrigao sangnea pela vasodilatao, aumento da oxigenao e efeito sedante sobre os nervos sensitivos (LOPES e RODE, 1995). De acordo com Okeson (2000), a terapia fsica para DTMs abrange uma variedade de tcnicas, eficazes em uma combinao de terapias. Para o autor, a termoterapia tem o calor como mecnica principal e se baseia na premissa de que o calor aumenta a circulao para a rea aplicada. Cria uma vasodilatao nos tecidos comprometidos e conduz reduo dos sintomas. A terapia de esfriamento favorece o relaxamento do msculo que est em espasmo e assim alivia a dor associada. O relaxamento muscular ocorre com mais facilidade quando os tecidos esto quentes, o que tambm auxilia na contrao muscular e mobilidade articular. A aplicao do calor sobre as terminaes nervosas superficiais determina um efeito sedante nestas estruturas, diminuindo a dor (LOPES e RODE, 1995). Para Szuminiski (1999), Favero (1999), as autoras, a aplicao de calor contra-indicada em casos agudos, na ocorrncia de processos inflamatrios, bem como em casos de alteraes neurolgicas; e a crioterapia tem sua indicao nos casos de limitaes articulares, relaxamento de espasmos e processos dolorosos agudos. A aplicao do calor teraputico pode ser empregada como meio teraputico auxiliar. O estudo de Salomo (2001) verificou a remisso da sintomatologia dolorosa de seus pacientes associando-se esse recurso cinesioterapia. A crioterapia consiste no emprego de baixas temperaturas com finalidade teraputica (LOPES e RODE, 1995). Promove a diminuio do aporte sangneo, aumento da viscosidade do lquido sinovial, atenuao do processo inflamatrio, vasoconstrio e analgesia.
4.4 Laser de Baixa Potncia
A terapia com laser de baixa potncia tem sido empregada para fins analgsicos, antiinflamatrios, estimulao celular e modulao do tecido conjuntivo na regenerao e cicatrizao de diferentes tecidos, efeitos provocados diretamente pela radiao, e no pelo aquecimento. Sua importante funo na cicatrizao provavelmente ocorre pelo aumento da proliferao de fibroblastos (CARVALHO, 2003). O laser frio acelera a sntese de colgeno, aumenta a vascularizao tecidual, diminui do nmero de microorganismos e diminui a dor. (OKESON, 2000). Os efeitos teraputicos
39
so: efeito analgsico, efeito anti-inflamatrio, efeito anti-edematoso e efeito cicatrizante. (FAVERO, 1999). Ainda para a autora, a primeira etapa do tratamento consiste no alvio da dor, sendo o efeito buscado pelo terapeuta. Seu poder de penetrao se restringe a milmetros, e de acordo com o comprimento de onda utilizado a energia do laser absorvida de forma particular pelos tecidos e transformada em calor. Os quais induzem o aumento da produo de ATP e so comumente usados no tratamento de feridas abertas, leses de tecidos moles e dor (CARVALHO, 2003).
4.5 Estimulao Eltrica Nervosa Transcutnea (TENS)
O TENS um recurso eficaz no controle da dor miofascial em pacientes portadores de DTM, e tem sido recomendada como analgsico local (MARTINS et al., 2004). Esse recurso tambm pode ser empregado na realizao de contrao isomtrica, trazendo como resultados a melhora do trofismo e da circulao local, bem como no treinamento cintico, importante para a manuteno do trofismo muscular (LOPES e RODE, 1995). A utilizao de correntes eltricas possui a finalidade de analgesia, aumento da capacidade de regenerao, aumento da circulao local, atravs da aplicao de Laser e TENS, na regio da ATM, h melhora na funo da articulao. uma tcnica onde se utiliza onda eletromagntica com o objetivo de se obter relaxamento muscular e melhora das condies circulatrias. (FAVERO, 1999). De acordo com Bassanta (2005), dentre os efeitos fisiolgicos e teraputicos do uso do TENS, se encontram: o bloqueio de conduo nervosa, contrao isomtrica, massagem de corrente excitante, e treinamento cintico.
4.6 Massoterapia As tcnicas de massoterapia constituem-se basicamente de um conjunto de manipulaes teraputicas no tecido conjuntivo que tm como base o movimento e a presso. Seus efeitos fisiolgicos so causados pelo contato suave do estmulo ttil, que estimula as terminaes nervosas e produz uma ao reflexa sobre as estruturas profundas. A ao mecnica da presso e da compresso influencia a circulao linftica e sangnea, bem como os tecidos contraturados e retrados. Esse incremento da circulao melhora a nutrio muscular e favorece a eliminao de produtos txicos. Tambm vlido observar que todo tratamento bem aplicado favorvel mente do paciente (LOPES e RODE, 1995).
40
Liberao dos Msculos Escalenos e ECOM. (Fonte: CLAY; POUNDS, 2003).
Schmitt e Gerrits (1996) tambm citam a vibrao e a massagem delicada da ctis ou dos msculos como forma de combater a dor. De acordo com Lopes e Rode (1995), os massoterapeutas podem lanar mo de vrias tcnicas. O deslizamento consiste em passar a mo superficial ou profundamente sobre a rea a ser tratada, com uma presso constante, enquanto que o amassamento realizado prensando ou comprimindo um grupo muscular, um msculo ou parte dele. A percusso e a vibrao tambm podem ser empregadas.
Liberao dos Msculos Trapzio e Escalenos. (Fonte: CLAY; POUNDS, 2003). Outra forma de massagem a frico, que auxilia na liberao de aderncias e na absoro de derrames locais ao redor das articulaes. Gerritsen (1996) afirma que o tratamento dos pontos dolorosos consiste na aplicao sitemtica de frico transversal. Especificamente para a DTM, pode-se orientar a massagem para o alvio da dor que se origina nos msculos e restaurao da funo muscular alterada (LOPES e RODE, 1995).
41
Liberao dos Msculos Masseter e Zigomtico. (Fonte: CLAY; POUNDS, 2003).
4.7 Cinesioterapia
O tratamento cinesioterpico tem por finalidade alongar, fortalecer, promover propriocepo e coordenao. Os pacientes realizam breves movimentos de abertura a partir da posio postural, enquanto uma resistncia exercida, com o punho ou a palma da mo, a fora excessiva no necessria. O exerccio pode durar por alguns segundos e devem ser repetido vrias vezes, em alternncia, com breves perodos de relaxamento. Esse exerccio baseado no princpio de que a contrao severa de um grupo muscular pode induzir relaxamento dos msculos antagonistas. Deve ser enfatizado que, se corretamente realizado, esse exerccio pode ser benfico para funo articular (algumas vezes, isso pode levar a uma melhora do estalido), (MONGINI, 1998; CARLSSON, 1991).
Liberao da Musculatura Infra-Hiidea. (Fonte: CLAY; POUNDS, 2003).
42
Segundo Lopes e Rode (1995) a cinesioterapia o conjunto de procedimentos dirigidos proteo e recuperao das funes das estruturas mveis, mediante o emprego de propriedades profilticas e teraputicas dos movimentos passivos ou ativos. Os exerccios passivos, ativos e ativo assistidos ou resistidos abaixo do limiar da dor podem ser aplicados em forma de distenso passiva, trao e translao, alm da combinao de movimentos de translao e em ngulo. Os exerccios isomtricos leves podem ser aplicados em posio que no provoque dor (SCHMITT e GERRITS, 1996). Os principais benefcios desse recurso o aumento da amplitude articular, o relaxamento muscular e o aumento da circulao local, alm de sua influncia sobre os sistemas cardiovascular e respiratrio (LOPES e RODE, 1995).
Liberao da Musculatura Occipital. (Fonte: CLAY; POUNDS, 2003).
Carneiro (2003) argumenta que tcnicas de conscientizao e equilbrio e de mobilizao articular tm o objetivo de estirar o tecido conjuntivo, aumentar a abertura bucal, diminuir a irritao intra-capsular, realinhar as fibras de colgeno e descomprimir a articulao. Para a musculatura que se encontra em hiperatividade, pode-se aplicar tcnicas articulares, musculares e fasciais, osteopatia, alongamento, fortalecimento e energia muscular. O tratamento deve iniciar com a reeducao postural, mesmo que o paciente no esteja apresentando dor.
43
4.7.1 Exerccios de Contrao Isomtrica
Fazer o exerccio alternadamente contra a resistncia oposta abertura, ao fechamento, excurso lateral com a mandbula com abertura leve de mais ou menos 2 cm e a protruso, aumentam o fluxo sangneo dos msculos e a conscincia do paciente em relao musculatura (propriocepo). O exerccio de abrir repetitivamente a boca, com a lngua acoplada ao "cu da boca", serve para treinar os msculos e melhorar a nutrio das estruturas articulares e ao mesmo tempo controlar o grau de abertura. Esse exerccio capaz de prevenir as conseqncias nocivas da imobilidade e promover o relaxamento dos msculos mastigatrios. (OKESSON, 1992) Da discusso precedente, fica claro que a fisioterapia pode aumentar o instrumental teraputico do dentista, em certos distrbios dolorosos e disfuncionais do sistema mastigatrio. (CARLSSON, 1991)
4.7.2 Exerccios de Contrao Isotnica
Abaixamento e Elevao mandibular; Lateralidade; Protuso; Retruso. Todos estes movimentos podem ser realizados de forma ativa ou contra resistida se o objetivo for fortalecimento muscular (em uma segunda fase de tratamento), podem ser desenvolvidos com a ajuda de uma resistncia manual, com artefatos como por exemplo o hiperbolide, etc, (OKESSON, 1992).
44
4.8 Mecanoterapia
Pode-se ainda utilizar aparelhos com a inteno de limitar ou ampliar os movimentos mandibulares, conforme descrevem Lopes e Rode (1995): cones rosqueveis,
automobilizadores, guias sagitais e at solues simples, como pregadores de roupa ou abaixadores de lngua.
4.9 Acupuntura
Para Okeson (2000), a acupuntura usa o prprio sistema proprioceptivo do corpo e parece causar liberao de endorfina, que reduz as sensaes dolorosas, bloqueia a transmisso de impulsos nocivos e reduz as sensaes de dor. Ainda para o autor, existem diversos tipos de aparelhos que devem oferecer possibilidades de controle de voltagem, da intensidade, da freqncia, da formada onda e possibilitar a interposio de intervalos de repouso. A acupuntura um timo auxlio no estabelecimento do diagnstico correto, pois ajuda na eliminao de dores provenientes destes fenmenos secundrios, determinando uma teraputica adequada para cada caso. (FAVERO, 1999).
45
CONCLUSO Como relatado, os aspectos anatmicos e funcionais da ATM so muito complexos, mais ainda suas disfunes, que quando no tratadas, seguem uma seqncia lgica, progressiva e agravante do problema. Podendo apresentar dor local e reflexas (cabea, pescoo e ouvido), desconforto, sons articulares, deslocamento do disco articular com ou sem reduo, aderncias e alteraes estruturais da ATM. Atravs dos casos estudados e acompanhados, pudemos concluir que as placas oclusais so muito eficientes na eliminao dos sintomas, alcanando uma ocluso funcional e confortvel para o paciente, desde que tenha sido feito o correto diagnstico, indicao e o uso; lanando mo dos mtodos auxiliares de diagnstico, e terapias de apoio; total credibilidade e colaborao do paciente, criando-se um timo relacionamento
paciente/profissional, o que auxilia muito o tratamento e o prognstico. Possui funes de suporte e movimentao da cabea, alm de proteo para as estruturas vasculares e do sistema nervoso. Justamente por ser uma rea de bastante mobilidade, a coluna cervical merece cuidados especiais, que proporcionem um adequado equilbrio entre a flexibilidade e a fora muscular do pescoo. bastante freqente a ocorrncia de dores, tenses e rigidez no local onde est localizada a coluna cervical.A cervicalgia (cervical = regio do pescoo + algia = dor), cuida-se de uma queixa comum nos consultrios. No podemos esquecer que tambm contribumos para aliviar o estresse, diminuir a ansiedade e aumentar o conforto do paciente nos aspectos emocional, social, familiar e no trabalho, melhorando sua satisfao pessoal e qualidade de vida.
46
REFERNCIAS BIBLIOGAFICA
AGUIAR, A.P. - Introduccion al diagnostico y terapia miofuncional su integracion tratamiento ortopedico maxilofacial. Odont. Postgrado, 2 (1):3-20, 1988; BARROS, J. J.; RODE, S. M. Tratamento das Disfunes Craniomandibulares ATM. Editora Santos Ltda, 1995; BASSANTA, A. D. et al. Estimulao eltrica neural transcutnea. TENS: sua aplicao nas disfunes temporomandibulares. Rev Odontol Univ So Paulo, v.11, n.2, p.109-116, abr./jun. 1997; BUTLER, D. S. Mobilizao do Sistema Nervoso. So Paulo: Manole, 2003; CABEZAS, N.T. - Desordens temporomandibulares. In: FILHO, O.L. - Tratado de Fonoaudiologia. So Paulo, Roca, 1997. p. 805-20. CARLSSON, G. et al. Fundamentos de Ocluso, Rio de Janeiro: Quintessence Book, 1991. CLAY, J. H.; POUNDS, D. M. Massoterapia Clnica Integrando anatomia e tratamento. So Paulo: Manole, 2003. CARNEIRO, L. M. Ao integrada nas articulaes da mandbula. O COFFITO, n. 20., p. 16-19, set. 2003. CARREO, M. R. Placa neuromiorrelaxante: confeco e manuteno (passo a passo). 2. ed. So Paulo: Santos, 1995. CARVALHO, S. Anlise histolgica das diferentes fases de cicatrizao induzida por radiao laser diodo GaAs de 904 nm. So Jos dos Campos, 2003. 83 f. Dissertao (Mestrado em Cincias Biolgicas) Setor de Biologia. Universidade do Vale do Paraba. CZLUSNIAK, G.S. & FERES, M.A.L. - Avaliao radiogrfica da posio condlea em pacientes portadores de ms-ocluses classe II diviso 1 e classe diviso 2 de Angle. Ortodontia, 26 (2):37-45, 1993. FAVERO, K. Disfunes da articulao temporomandibular: Uma viso etiolgica e teraputica multidisciplinar. Dissertao (Mestrado) - CEFAC: Centro de Especializao em Fonoaudiologia Clnica Motricidade Oral. So Paulo, 1999. Disponvel em: <> Acesso em 12 de abr. 2006. FRICTION, J. R.; DUBNER, R. Dor Orofacial e Desordens Temporomandibulares. So Paulo: Santos, 2003. 335- 336 p. GARCIA, A.R.; MADEIRA, M.C.; OLIVEIRA, J.A. - Avaliao clnica e radiogrfica da articulao tmporomandibular em indivduos com perda de dentes posteriores e
47
interferncias oclusais, antes e aps tratamento oclusal. Rev.Odontol. UNESP, 24 (1):12535, 1995. GERRITSEN, G. W. J. Fisioterapia na disfuno somtica do aparelho mastigatrio devida m-funo miognica. In: STEENKS, M. H.; WIJER, A. Disfunes da articulao temporomandibular do ponto de vista da fisioterapia e da odontologia diagnstico e tratamento. So Paulo: Santos, 1996. p.133-142. GOULD, A. J.; Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. 2.ed. So Paulo, 1993. GREENWOOD, Francs L. Disfunes do msculo da mastigao. In: Disfuno dos msculos da mastigao. In: ZARB, George A.; CARLSON, Gunnar E;SESSLE, Barry J. et al. 2 ed. So Paulo: Santos, 2000. p.256-264. GRIEVE, G. P. Moderna Terapia Manual da Coluna Vertebral. So Paulo: Editora Panamericana, 1994 KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular v.3,5 Editora: So Paulo Panamericana, 2000. KAPANDJI. I. A. O tronco e a coluna vertebral. So Paulo: Manole, 2001. Kendall, F.P.; McCreary.K.; Provance, P.G.; Msculos Provas e Funes. 4ed. Editora Manole LTDA, 1995. LON, I. G.; SOLANA, L. S.; GARCA, J. Corrientes diadinmicas y ultrasonido en el tratamiento de las disfunciones temporomandibulares. Revista Cubana de Estomatologia, v.35 , n. 3, p. 80-85, 1998. LOPES, M. G. P.; RODE, S. M. Meios fisioterpicos no tratamento das disfunes da ATM. In: BARROS, J. J.; RODE, S. M. Tratamento das disfunes Temporomandibulares ATM. So Paulo: Santos, 1995. p. 183-204. LOW, J.; REED, A. Eletroterapia explicada princpios e prtica. 3. ed. So Paulo: Manole, 2001. MACIEL, R. N. Ocluso e ATM. Procedimentos Clnicos. So Paulo: Editora Santos, 1998. MADEIRA, M. C. Anatomia da face Bases Antomo Funcionais para Prtica Odontolgica. 2.ed. So Paulo: Editora Sarvier, 1998. MARTNS, J. M. R. Eletroterapia. Disponvel em: <http://www.electroterapia.com> Acesso em: 14 ago. 2004. MONGINI, F. ATM e Msculos Crnio Cervicofaciais Fisiopatologia e Tratamento. So Paulo: Santos, 1998. MINORU, A. Disfuno Temporomandibular. ATM, diagnstico e tratamento. So Paulo: Santos.
48
MOLINA, O. F. Fisiopatologia Craniomandibular: ocluso e ATM. 2.ed. So Paulo: Editora Pancast, 1995. MOLINA, O. F.; BIELENCKI, C. O Teste de Provocao Sobre A Dor e Fadiga: um estudo preliminar e implicao diagnsticas. JBO, v.3, n. 17, p. 61-79, 1998. NICOLAS, F. Compreendendo as Desordens Temporomandibulares (DTM). Disponvel em: < http://www.wmulher.com.br/template.asp?canal=saude&id_mater=1268>. Acesso em: 01 jan. 2001. OKESON, J. P. Dores Bucofaciais de Bell. So Paulo: Quintessence, 1998. OKESON, J. P. Fundamentos de Ocluso e DTM. So Paulo: Artes Mdicas, 1992. OKESON, J.P. Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Ocluso. 4.Editora So Paulo: Artes Mdicas, 2000. OLIVEIRA, W. Disfunes Temporomandibulares. So Paulo: Editora Arte. Mdicas, 2002. PAIVA, H.J.; VIEIRA, A.M.F.; COSTA, H.C.C.; MAIA, K.M.F. - Disfunes do sistema mastigatrio e da articulao temporomandibular: uma cartilha para o paciente. Revista Periodontia, 2 ( 3 ):65-72, 1993. PAIVA, H.J. Ocluso: Noes e Conceitos Bsicos. So Paulo: Editora Santos, 1997. RHODEN, R.M.; NICOLINI, I.; SORDI, N.N.; RAMBO, M.S.C. - Disfuno muscular da articulao tmporomandibular. Rev. Mdica HSVP, 3 ( 8 ):15-18, 1992. ROCABADO, M. Cabeza Y Cuello Tratamento Articular. Buenos Aires: Inter-Mdica, 1979. SALOMO, E. C. et al. Atendimento multidisciplinar em paciente portadora de disfuno muscular. Reabilitar, ano 3, n. 12, p. 18-22, jul./set. 2001. SCHMITT, M. A.; GERRITS, M. Fisioterapia dos pacientes com sintomas de disfuno articular do aparelho mastigatrio. In: STEENKS, M. H.; WIJER, A. Disfunes da articulao temporomandibular do ponto de vista da fisioterapia e da odontologia diagnstico e tratamento. So Paulo: Santos, 1996. p. 143-157. SIQUEIRA, J.T.T.; TEIXEIRA, M.J. Dor orofacial e disfuno tmporomandibular: abordagem clnica atual. JBO. V.3, n.17, p.36-50, 1998. SOBRAL, A. C. S. et al. Acupuntura e dry needle no controle das dores orofaciais. Disponvel em: <http://www.oclusao.com.br/monitores/acupuntura.pdf> Acesso em: 10 set. 2004. SOVIEIRO, V.M.; ABREU, F.V.; CASTRO, L.A.; BASTOS, E.P.S.; SOUZA, I.P.R. Disfuno da articulao tmporomandibular em crianas: reviso de literatura. Jornal Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Maxilar, 2 ( 9 ):49-52, 1997.
49
STEENKS, M.H; WIJER, A. Disfunes da articulao temporomandibular do ponto de vista da Fisioterapia e Odontologia diagnstico e tratamento. So Paulo: Santos, 1996.
SZUMINSKI, Stela Maris. A Fonoaudiologia e as Disfunes da Articulao temporomandibular. Dissertao (Mestrado) - CEFAC: Centro de Especializao em Fonoaudiologia Clnica Motricidade Oral. So Paulo, 1999. Disponvel em: <> Acesso em 17 de nov. 2006. VIANNA, K. A Dana, em Colaborao com Marco Antnio de Carvalho, 2.ed. 1990. TAKAHASHI, F.E. & ARAJO, M.A.M. - Distrbios funcionais da ocluso e sua correlao com radiografias transcranianas da articulao tmporomandibular em pacientes portadores de fissuras labiopalatais. Rev. Odontol. UNESP, 24 ( 1 ):137-51, 1995.
Você também pode gostar
- Osteopatia EstruturalDocumento32 páginasOsteopatia Estruturalgamafisio92% (12)
- Capovilla 3Documento29 páginasCapovilla 3Bárbara PassosAinda não há avaliações
- Sistemas Hidráulicos E Pneumáticos: Elmo Souza Dutra Da Silveira FilhoDocumento18 páginasSistemas Hidráulicos E Pneumáticos: Elmo Souza Dutra Da Silveira FilhoEduardo Santos100% (1)
- A Dieta Keto Ou CetogénicaDocumento2 páginasA Dieta Keto Ou CetogénicaCláudia De SenaAinda não há avaliações
- Gunther Teubner - o Direito Como Sistema AutopoiéticoDocumento271 páginasGunther Teubner - o Direito Como Sistema Autopoiéticotiagocallado100% (1)
- Sist EndocrinoDocumento58 páginasSist EndocrinoThati BotoAinda não há avaliações
- Miriam Alves - Conto Olhos Verdes de EsmeraldaDocumento457 páginasMiriam Alves - Conto Olhos Verdes de EsmeraldaMarla Bispo SantosAinda não há avaliações
- Taser - CFSD 2011Documento149 páginasTaser - CFSD 2011Vinícios Munari100% (1)
- 05 - Dodge Dakota - Manual de Manutenção - SuspensãoDocumento26 páginas05 - Dodge Dakota - Manual de Manutenção - SuspensãomozartnevesAinda não há avaliações
- Biogeo11!20!21 Teste1 SolucaoDocumento2 páginasBiogeo11!20!21 Teste1 Solucaogermano machadoAinda não há avaliações
- Abordagem SensorialDocumento7 páginasAbordagem SensorialReinaldo Dos AnjosAinda não há avaliações
- Contra Indicação para Posição SupinoDocumento2 páginasContra Indicação para Posição SupinoReinaldo Dos AnjosAinda não há avaliações
- PSF A Construção de Um Novo Modelo de AssistênciaDocumento8 páginasPSF A Construção de Um Novo Modelo de Assistênciacristianoarruda7Ainda não há avaliações
- Mecanismos de LesaoDocumento4 páginasMecanismos de LesaoReinaldo Dos AnjosAinda não há avaliações
- Lista 2Documento6 páginasLista 2Maria Victoria Pereira SilvaAinda não há avaliações
- Angulo Solido RadiometriaDocumento26 páginasAngulo Solido RadiometriajbatnAinda não há avaliações
- Dicas de Defeitos Da Marca SharpDocumento14 páginasDicas de Defeitos Da Marca Sharploverboy_profissaoamor7727100% (1)
- A Felicidade - ADocumento1 páginaA Felicidade - AGuilherme PereiraAinda não há avaliações
- V 21 N 4 A 12Documento10 páginasV 21 N 4 A 12Daniel SilvaAinda não há avaliações
- Io d2 Lista EnemDocumento7 páginasIo d2 Lista Enemsorellaguiliani1660Ainda não há avaliações
- LajesDocumento16 páginasLajesJordy NascimentoAinda não há avaliações
- Revisão de BiologiaDocumento4 páginasRevisão de BiologiaCleiton OsvaldoAinda não há avaliações
- Manual Usuário ModeladoraDocumento11 páginasManual Usuário ModeladorasabrinaflorAinda não há avaliações
- Mariana-Dutra,+vol21n1 Split 3Documento31 páginasMariana-Dutra,+vol21n1 Split 3Davidson FariaAinda não há avaliações
- Informativo - Procedimento para Ajuste Mrm3-IeDocumento20 páginasInformativo - Procedimento para Ajuste Mrm3-IeArimatéia FilhoAinda não há avaliações
- Como Ler e Estudar A Bíblia SOZINHODocumento3 páginasComo Ler e Estudar A Bíblia SOZINHOJoão David Auache PereiraAinda não há avaliações
- Agregado: MedianaDocumento2 páginasAgregado: MedianaRafael BorgesAinda não há avaliações
- Aula 01 - Administração Financeira - Visão Geral (Modo de Compatibilidade)Documento58 páginasAula 01 - Administração Financeira - Visão Geral (Modo de Compatibilidade)Higino ZarsAinda não há avaliações
- Resumo Treinamento Resgate Basico AlturaDocumento21 páginasResumo Treinamento Resgate Basico AlturaDennis Dem100% (1)
- Trabalho ImpressorasDocumento8 páginasTrabalho ImpressorasTiago Afonso0% (1)
- As Tramas Da Implementação Da Energia Eólica Na Zona Costeira Do Ceará: Legitimação e Contestação Da "Energia Limpa"Documento194 páginasAs Tramas Da Implementação Da Energia Eólica Na Zona Costeira Do Ceará: Legitimação e Contestação Da "Energia Limpa"Julio HolandaAinda não há avaliações
- AP1X Tópicos Sobre A Diversidade Na EducaçãoDocumento4 páginasAP1X Tópicos Sobre A Diversidade Na EducaçãoFelipe Sousa dos SantosAinda não há avaliações
- Bingo Bio - Texto de OrientacaoDocumento4 páginasBingo Bio - Texto de OrientacaoladossantosAinda não há avaliações
- Propriedade IndustrialDocumento30 páginasPropriedade IndustrialjfpchauqueAinda não há avaliações
- Fichamento - BauhausDocumento1 páginaFichamento - BauhausLucas MarquesAinda não há avaliações